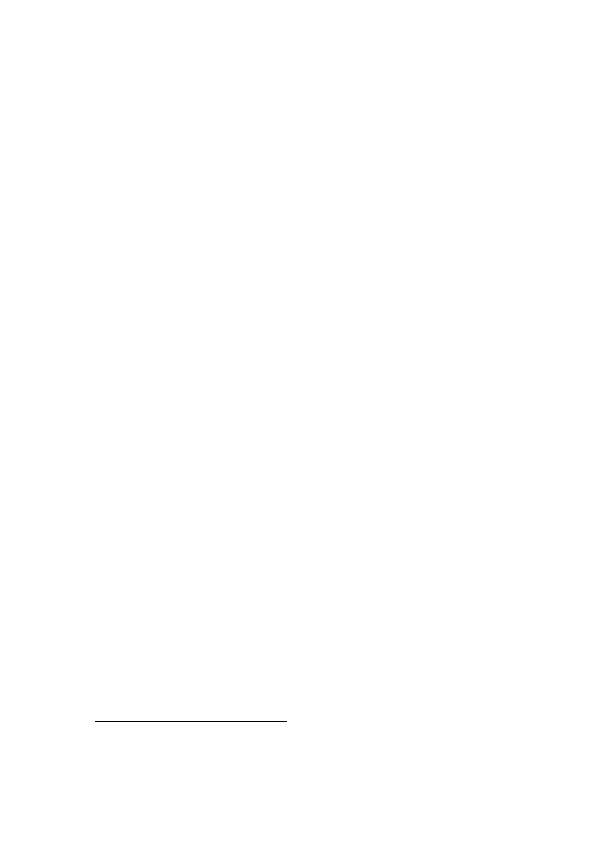
A ética ambiental dos direitos humanos
João Paulo Miranda*
1. Verdes também são os direitos dos homens
Os Direitos Humanos também possuem sua faceta verde, que se
materializa no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
enquanto direito fundamental no plano constitucional, e direitos humanos
na esfera internacional. Neste sentido, é importante ressaltar que, não
obstante, alguns autores entendam que as expressões direitos humanos e
direitos fundamentais são sinônimos, parte dos doutrinadores entende que
existem entre estes termos algumas diferenças, como, por exemplo, as
esferas constitucionais e internacionais comentada anteriormente.
Portanto, é importante esmiuçar estes conceitos, a fim de deixar claro o
objeto deste trabalho, que busca investigar a ética do direito ao meio
ambiente enquanto direito humano.
Assim, doutrinadores mais ligados a correntes jusnaturalistas
entende que os direitos humanos são aqueles frutos da própria
qualidade de pessoa humana, pelo simples fato dela pertencer a essa
espécie. Contudo, esta concepção pode gerar uma restrição temporal e
específica. Temporal, uma vez que exclui aqueles direitos decorrentes
da evolução histórica, social, político e econômica que a civilização
humana experimenta ao longo do tempo. Específica, pois não admite
direitos inter-espécies, que a doutrina e jurisprudência começam a
entender relevantes em algumas situações, principalmente relacionadas
* Professor Assistente da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário do
Araguaia. Mestre em Direito Agroambiental pela UFMT. Doutorando em Direitos
Humanos e Meio Ambiente pela UFPA. Pesquisador do CNPq.
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.
141

aos direitos dos animais, estendendo a dignidade além da pessoa
humana. Portanto, o conceito de direitos humanos deve reconhecer que
estes direitos não foram revelados para a humanidade, mas que são
frutos de uma construção histórica da humanidade, mas não,
necessariamente, exclusiva a esta.
Neste sentido, comenta o doutrinador espanhol Antonio Enrique
Pérez Luño (1999, p. 48):
Los derechos humanos aparecen como un conjunto de facultades e
instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias
de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser
reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel
nacional e internacional.
Quanto à relação entre direitos humanos e direitos
fundamentais, estes nascem a partir do processo de positivação dos
direitos humanos, a partir do reconhecimento, pelas legislações
positivas de direitos considerados internacionalmente como direitos
humanos. Neste sentido alude o ilustre constitucionalista lusitano José
Joaquim Gomes Canotilho (1998, p. 259):
As expressões direitos do homem e direitos fundamentais são
frequentemente utilizadas como sinônimas. Segundo a sua origem e
significado poderíamos distingui-las da seguinte maneira: direitos do
homem são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos;
direitos fundamentais são os direitos do homem, jurídico-
institucionalmente garantidos e limitados espacio-temporalmente. Os
direitos do homem arrancariam da própria natureza humana e daí o seu
caráter inviolável, intertemporal e universal; os direitos fundamentais
seriam os direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta.
De igual forma comenta o jurista brasileiro Ingo Wolfgang
Sarlet (2005, p. 35 e 36):
[...] o termo direitos fundamentais se aplica para aqueles direitos do ser
humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional
positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão direitos
humanos guardaria relação com os documentos de direito internacional,
por referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser
humano como tal, independentemente de sua vinculação com
determinada ordem constitucional, e que, portanto aspiram à validade
universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um
inequívoca caráter supranacional.
Destarte, os direitos humanos referem-se aos direitos inerentes à
pessoa humana na ordem internacional, enquanto que os direitos
142
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.

fundamentais dizem respeito a ordenamentos jurídicos internos,
geralmente garantidos em normas constitucionais frente a um Estado.
Uma vez demonstrada a relação entre os direitos humanos e
fundamentais, resta mostrar como o direito ao meio ambiente no
ordenamento jurídico brasileiro é revestido de jusfundamentalidade.
Neste sentido, na Constituição brasileira, embora o direito ao meio
ambiente não esteja disposto no Título II da Carta Magna, que trata dos
direitos e garantias fundamentais, também é considerado um direito
fundamental, através da via interpretativa, justamente por ser essencial à
sadia qualidade de vida, e, portanto, imprescindível à vida digna.
Desta forma, comenta o professor da Universidade Federal de
Mato Grosso, Carlos Theodoro J. Hugueney Irigaray (2004, p.82), que
“A Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e
equilibrado como um direito fundamental impondo, sobretudo ao Poder
Público, um elenco de tarefas, visando a concretização desse direito.”
No mesmo sentido, aborda, o também professor da
Universidade Federal de Mato Grosso, Patryck de Araújo Ayala (2007,
p. 371), sobre as decisões pioneiras do Supremo Tribunal Federal
brasileiro que reconhecem o meio ambiente como bem jurídico e
direito fundamental:
A relevância das decisões está no fato de se ter definida a condição
especial do meio ambiente como bem jurídico, e em saber qual é o
significado do direito fundamental protegido pela Constituição.
Conquanto o julgamento do RE 134297-8/SP tenha inaugurado a
afirmação constitucional do direito fundamental ao meio ambiente, o
desenvolvimento do seu significado diferenciado somente foi realizado
no julgamento do MS 22.164/DF, no qual, pela primeira vez, o STF
reconheceria expressamente características essenciais do bem
ambiental, tal como proposto pela Constituição brasileira [...]
Não é diferente a posição de Paulo de Bessa Antunes (2009,
p. 17), professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro,
ao abordar o direito ao meio ambiente como uma res comune omnium1
e essencial a sadia qualidade de vida, e, portanto, como um direito
humano fundamental:
No regime constitucional brasileiro, o artigo 225 da CF impõe a conclusão
de que o direito ao ambiente prístino é um dos direitos humanos
1 Coisa comum a todos
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.
143
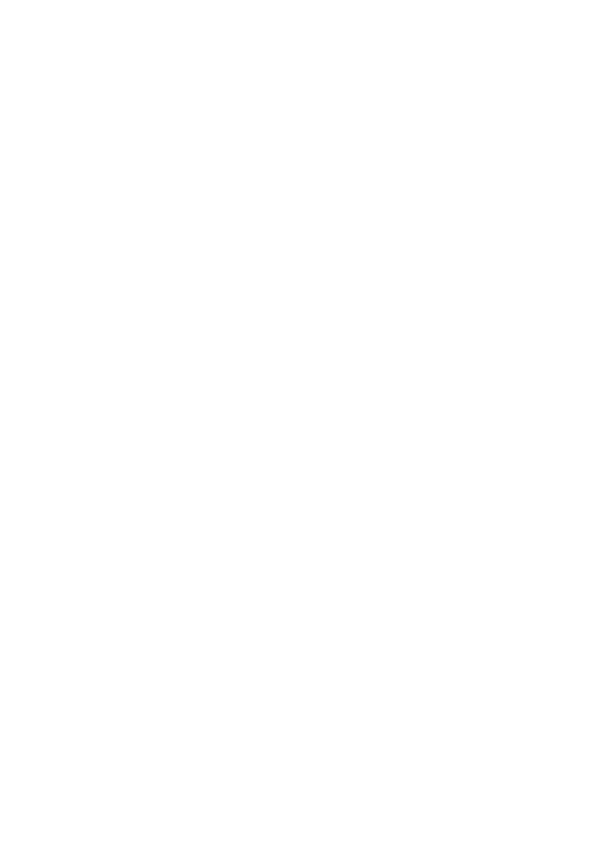
fundamentais. É, o meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, portanto,é res comune omnium, interesse comum
[...] Uma conseqüência lógica da identificação do direito ao ambiente como
um direito humano fundamental, conjugada com o princípio constitucional
da dignidade da pessoa humana, é que no centro gravitacional do DA se
encontra o Ser Humano.
Neste mesmo sentido comenta o professor aposentado da
Universidade de São Paulo, José Afonso da Silva (2009, p. 58):
A proteção ambiental, abrangendo a preservação da Natureza em todos
os seus elementos essenciais à vida humana e à manutenção do
equilíbrio ecológico, visa a tutelar a qualidade do meio ambiente em
função da qualidade de vida, como uma forma de direito fundamental
da pessoa humana.
De igual forma aborda a doutrina lusitana, conforme se verifica
na argumentação de Vasco Pereira da Silva (2000, p. 17) ao ligar a
proteção ecológica à dignidade humana:
Ao fazer radicar a protecção da ecologia na dignidade da pessoa humana,
mediante a consagração de direitos fundamentais, é devidamente
reconhecida a dimensão ético-jurídica das questões ambientais. Mas,
simultaneamente, tal opção implica ainda o afastamento de visões
ambientalistas `totalitárias´, viradas para a protecção maximalista do
ambiente mesmo à custa do sacrifício de outros direitos fundamentais. [...]
a realização do Estado de Direito Ambiental vai obrigar à conciliação dos
direitos fundamentais em matéria de ambiente com as demais posições
jurídicas subjectivas constitucionalmente fundadas, quer se trate de direitos
de primeira geração, como a liberdade e a propriedade, quer se trate de
direitos fundamentais da segunda geração, como os direitos económicos e
sociais [...].
Em consonância com a doutrina brasileira, Vasco Pereira da
Silva (2000, p. 22) também relaciona os direitos fundamentais e
humanos ao meio ambiente, ao afirmar que “[...] verdes são também os
direitos do Homem”:
Do que fica dito se pode concluir que o recurso ao direito fundamental ao
ambiente e a utilização da técnica da relação jurídica (bilateral e
multilateral) permitem-nos enquadrar todo o universo das ligações
jurídicas neste domínio, as quais podem ser estabelecidas apenas entre
sujeitos privado, apenas entre sujeitos públicos, entre um sujeito público e
um sujeito privado, ou ainda entre múltiplos sujeitos privados e públicos.
Assim, verdes são também os direitos do Homem, pois eles constituem o
fundamento de uma protecção adequada e completa do ambiente,
respondendo aos `novos desafios´ colocados pelas modernas sociedades,
sempre em busca da realização da dignidade da pessoa humana.
144
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.

Ainda na doutrina portuguesa, José Joaquim Gomes Canotilho
(2008, p. 184-185) reconhece o direito ao ambiente como um direito
subjetivo fundamental:
Esta definição permitirá, sem mais delongas, defender que o direito ao
ambiente será um direito subjectivo nos ordenamentos constitucionais
da Espanha e de Portugal [...] qual a natureza desse direito subjectivo?
Pela localização sistemática do direito ao ambiente na Constituição
Portuguesa, ele é um direito subjectivo do tipo dos direitos econômicos,
sociais e culturais.
Por fim, a doutrina alemã segue o mesmo caminho, ou melhor,
Robert Alexy (2008, p. 443) vai mais além ao afirmar que o direito
fundamental ao meio ambiente corresponde a um direito fundamental
completo:
Especialmente claro é o caso do intensamente debatido direito ao meio
ambiente, que não raro é classificado como um direito fundamental
social, ou ao menos como algo a ele próximo. Uma análise mais detida
demonstra que esse direito, não importa se introduzido como um novo
direito fundamental no catálogo de direitos ou atribuído por interpretação
a um dispositivo de direito fundamental existente, tem uma estrutura
muito diferente daquela de um direito como o direito à assistência social,
que essencialmente se esgota em um simples direito a uma prestação
fática. Um direito fundamental ao meio ambiente corresponde mais
àquilo que acima se denominou de direito fundamental completo. Ele é
formado por um feixe de posições de espécies bastante distintas. Assim,
aquele que propõe a introdução de um direito fundamental ao meio
ambiente, ou que pretende atribuí-lo por meio de interpretação a um
dispositivo de direito fundamental existente, pode incorporar a esse feixe,
dentre outros, um direito a que o Estado se abstenha de determinadas
intervenções no meio ambiente (direito de defesa), um direito a que o
Estado proteja o titular do direito fundamental contra intervenções de
terceiros que sejam lesivas ao meio ambiente (direito a proteção), um
direito a que o Estado inclua o titular do direito fundamental nos
procedimentos relevantes para o meio ambiente (direito a procedimentos)
e um direito a que o próprio Estado tome medidas fáticas benéficas ao
meio ambiente (direito a prestação fática).
Assim, é relevante observar que Robert Alexy (2008, p. 252)
define o direito fundamental completo como sendo “[...] um feixe de
posições definitivas e prima facie2, relacionadas entre si por meio das
três formas apresentadas e que são atribuídas a uma disposição de
2 Posições principiológicas.
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.
145

direito fundamental.”
Desta maneira, é possível verificar que o Art. 225 da Carta
Magna brasileira liga, diretamente, o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado ao princípio da dignidade da pessoa humana,
enquanto princípio da República Federativa do Brasil, disposto no Art.
1º, III, bem como ao direito fundamental à saúde, conforme Art. 6º,
ambos da CF/88. Assim, somando-se a este feixe de direitos, se verifica,
no dispositivo constitucional que trata do meio ambiente, todos os
direitos elencados por Robert Alexy, tais como os direitos a defesa, a
proteção, a procedimentos e a prestação fática, entre outros.
Destarte, tendo o meio ambiente ecologicamente equilibrado
como um direito fundamental completo no ordenamento jurídico
brasileiro, e, portanto, como direitos humanos na ordem internacional,
fica definida a primeira parte desta investigação. Resta, neste momento,
portanto, investigar os modelos éticos de proteção do meio ambiente,
enquanto direitos humanos.
2. O meio ambiente: conceitos e modelos éticos de proteção
O estudo científico do meio ambiente, tanto nas ciências
biológicas, quanto na jurídica, é recente, como aponta os professores
José Rubens Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala:
A preocupação jurídica do ser humano com a qualidade de vida e a
proteção do meio ambiente, como bem difuso, é tema recente. [...] os
estudos atinentes à relação entre seres vivos e o meio ambiente é ramo
recente da biologia, por meio da ecologia. (LEITE; AYALA, 2004, p. 49)
No campo biológico, o termo ecologia, enquanto ciência que
estuda as interações entre os organismos e seu ambiente é
historicamente recente, tendo surgido em meados do século XIX.
Assim, a ecologia surge da fusão entre as palavras de origem grega,
oiko, e logos, que significam, respectivamente, casa e estudo, isto é, o
estudo da casa. Desta maneira, a partir da publicação, em 1866, do
livro Morfologia geral dos organismos, do biólogo alemão Ernest
Heinrich Haeckel, é fundado este ramo da biologia, como comenta
João Carlo Nucci:
Um dos divulgadores das idéias de Darwin, o biólogo alemão, Ernest
Heinrich Haeckel (1834-1919), observou em seus estudos que as
espécies variavam de acordo com a localização na qual se encontravam
146
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.

e, ao publicar em 1866 o livro “Morfologia Geral dos Organismos”,
sugeriu o termo “oecologia” para o estudo das relações dos animais e
plantas com o ambiente, como um novo campo de pesquisa. Haeckel
considerava a Ecologia como uma ciência que se preocupava em
estudar a fisiologia das relações, que seria a história natural científica,
e a distinguia da Biogeografia que, para ele, deveria se preocupar com a
corologia, ou distribuição dos organismos. Além disso, Haeckel
também sugeriu que se prestasse atenção na forma como animais,
plantas e humanos são dependentes de seus respectivos ambientes.
Essas considerações acabaram por se transformar em uma nova
disciplina científica para a qual ele propôs o nome de Ecologia.
(NUCCI, 2007, p. 82)
Desta forma, após “[...] surgir como ciência, a Ecologia procurou
se definir perante aos outros campos do saber e, ao fazer isso, restringiu
seu campo de ação [...]”(NUCCI, 2007, p. 82). Assim, apesar dos
estudos de Haeckel prever a influencia do meio ambiente sobre os
animais, plantas e humanos, “[...] nos estudos iniciais da ecologia,
prevalecia uma abordagem denominada auto-ecologia, isto é, sem incluir
o homem”(LEITE; AYALA, 2004, p. 49). Desta maneira, o conceito de
ecologia, cunhado por Haeckel, “[...] não conseguiu deslanchar e, na
passagem do século XIX para o século XX, ainda permanecia com uma
visão mais analítica do que sistêmica” (NUCCI, 2007, p. 83).
Contudo, durante o século XX, os ecólogos procuraram transpor
a concepção analítica desta nova ciência, conferindo-lhe uma
característica sistêmica. Nesta busca, em meados do século passado,
destacaram-se, entre várias, duas correntes ecológicas, a ecologia
profunda (deep ecology) e a ecologia sistêmica. A primeira teve seu
marco originário no ensaio A Land ethic, publicado no livro A sand
county almanac (LEOPOLD, 2011), de Aldo Leopold, em 1949, um
ano após a sua morte. A segunda teve seu início em 1968, com a
publicação do livro a Teoria Geral dos Sistemas, de Ludwig Von
Bertalanffy (BERTALANFFY, 2009).
Enquanto a deep ecology era criticada pelo seu radicalismo, a
teoria geral dos sistemas era acusada de estar transformando a ecologia
em uma ciência exata, através de excessivos modelos matemáticos. Não
obstante as duras críticas, a comunidade científica acolheu a teoria dos
sistemas e a incorporou à ecologia. Assim, em 1974, no 1º Congresso
Internacional de Ecologia, em Haia, ficou definido que o objeto de
estudo precípuo da ecologia seria as comunidades em um enfoque
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.
147
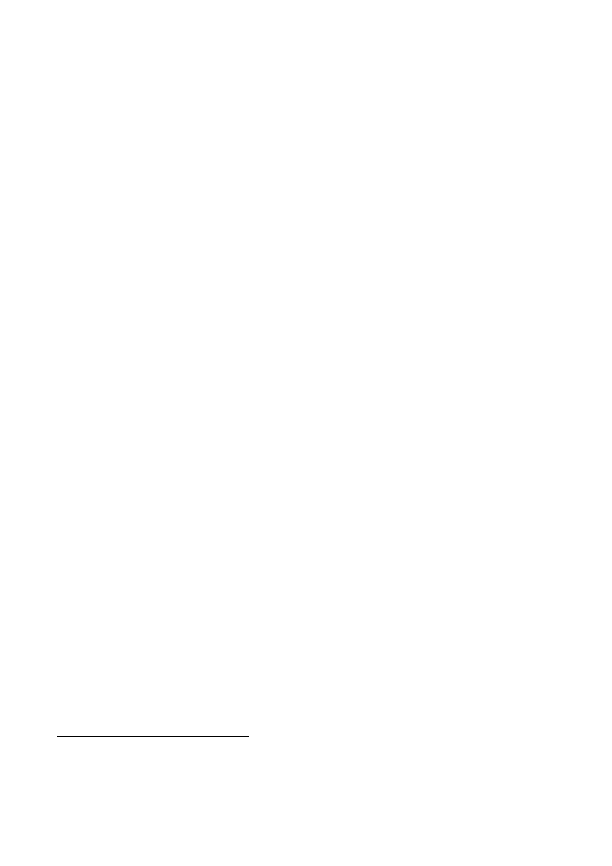
sistêmico, isto é, a sinecologia3.
Em 1968, após 40 anos de estudos, Bertalanffy apresentou sua Teoria
Geral dos Sistemas que, apesar de ter suas raízes na concepção
organísmica da Biologia, mostrou-se com amplas possibilidades de
aplicação em vários campos do conhecimento. [...] Apesar da Teoria
dos Sistemas ter fornecido uma abrangência com um enfoque
interdisciplinar e, portanto, com uma possibilidade de se relacionar
teoria social e econômica às teorias física e biológica, a abordagem
empregada na Ecologia durante a segunda metade do século XX, foi a
de utilização de sistemas capazes de especificação, análise e
manipulação de maneira rigorosa e quantitativa, com modelos
matemáticos prometendo transformar a ecologia em uma ciência exata.
[...] No 1º Congresso Internacional de Ecologia em Haia ocorrido em
1974, ficou estabelecido que o verdadeiro escopo da Ecologia seria o
estudo das comunidades ou sinecologia [...] (NUCCI, 2007, P. 84-85).
Destarte, diante da sinecologia, observa-se “[...] que, para obter
um conceito mais amplo de meio ambiente, há necessidade de
integração e interação de várias áreas do saber” (LEITE; AYALA,
2004, p. 49). Não é por acaso que, igualmente recente, a tutela jurídica
do meio ambiente, em um contexto da biologia analítica, surge em um
concepção extremamente antropocêntrica, a qual vai, aos poucos, sendo
mitigada, certamente por influência do avanço da sinecologia. Destarte,
há uma relação intrínseca entre a ecologia e a tutela jurídica ambiental,
uma vez que o direito ambiental é um direito de interações, que possui
um forte caráter horizontal, como comenta o professor Michel Prieur
apud Paulo Affonso Leme Machado (2009, p. 53-54):
O Direito Ambiental é Direito de caráter horizontal, que recobre os
diferentes ramos clássicos do Direito (Direito Civil, Direito
Administrativo, Direito Penal, Direito Internacional), e um Direito de
interações, que se encontra disperso nas várias regulamentações. Mais
do que um novo ramo do Direito com seu próprio corpo de regras, o
Direito Ambiental tende a penetrar todos os sistemas jurídicos
existentes para os orientar num sentido ambientalista.
Desta maneira, a tutela ambiental interage não apenas com
outros ramos do direito, mas também com as ciências biológicas,
sociais, ambientais, entre outras. Assim, qualquer definição de meio
ambiente pressupõe, ou pelo menos deveria pressupor, uma visão
3 Divisão da ecologia que estuda as relações entre comunidades animais ou vegetais e
o meio ambiente
148
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.

holística, de forma que qualquer conceito devesse englobar “[...] sem
dúvida, o homem e a natureza, com todos os seus elementos” (LEITE;
AYALA, 2004, p. 49).
Não foi diferente com a definição de meio ambiente disposta no
Art. 3º, I, da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente:
Art 3º – Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e
interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e
rege a vida em todas as suas formas; [...] (BRASIL, 1981)
Percebe-se que o dispositivo legal se refere a interações de
ordem física, química e biológica, demonstrando a concepção sistêmica
desta definição de meio ambiente. De igual sorte, levanto em conta este
conceito, dispôs o legislador constituinte, no Art. 225, caput, da Lei
Maior, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é “[...]
essencial à sadia qualidade de vida [...]” (BRASIL, 1988), ficando
evidente a característica sistêmica do meio ambiente no ordenamento
jurídico brasileiro.
No entanto, não é possível uma visão totalmente afastada do
antropocentrismo, uma vez que a tutela jurídica do meio ambiente é
uma ação humana. Somando-se a isso, o primeiro princípio da
Declaração do Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento ressalta que
os seres humanos estão no centro das preocupações com o
desenvolvimento sustentável (LEITE; AYALA, 2004, p. 52). Apesar
disso, o antropocentrismo, embora seja o modelo vigente, não é o único
modelo ético possível para a proteção ambiental. Assim, a construção
da tutela ambiental ao redor do mundo perpassa por pelo menos três
modelos éticos, desde o biocentrismo, passando pelo antropocentrismo
puro, até chegar ao antropocentrismo mitigado e intergeracional, sendo
este último o fundamento ético da sustentabilidade. No momento, é
possível resumir estes três modelos éticos que orientam as normas de
proteção ambiental: não-antropocentrismo; antropocentrismo puro; e
antropocentrismo mitigado.
No primeiro modelo se enquadram correntes que propõem uma
alteração ontológica na visão humana da natureza. Entre estas correntes
é possível destacar: a ecologia profunda; o biocentrismo; o
ecofeminismo; os direitos dos animais não-humanos; entre outras
(BENJAMIN, 200-?, p. 4-5).
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.
149

O segundo modelo representa os primeiros esforços de proteção
ambiental. Assim, o inicio da tutela jurídica do meio ambiente se deu
segundo um modelo puramente antropocêntrico. Portanto, as primeiras
convenções internacionais ambientais possuíam forte caráter utilitarista,
uma vez que procuravam proteger recursos naturais, e, não,
propriamente, o meio ambiente.
Já o terceiro modelo representa o atual status de proteção
ambiental dos principais países ocidentais, inclusive do Brasil. Modelo
este que fundamenta o desenvolvimento sustentável, entendido este
como “[...] como aquele que atende as necessidades do presente sem
comprometer as possibilidades das gerações futuras atenderem às suas
próprias necessidades”. Assim, diante da crise mundial ambiental, o
antropocentrismo reformado decorre da mitigação do antropocentrismo
puro, garantindo os direitos das gerações futuras, em uma ética
intergeracional de sustentabilidade, ao mesmo tempo em que incorpora
uma ética do bem-estar dos animais.
2.1 As correntes não-antropocêntricas
O não-antropocentrismo agrega uma variedade de correntes
contrárias ao antropocentrismo e que não prevêem uma linha divisória
rígida entre o vivo e o inanimado, bem como, entre os animais não
humanos e os humanos. Assim, juridicamente, o principal efeito da adoção
de uma ética não antropocêntrica consistiria em um ordenamento jurídico
mais protetor do meio ambiente, e, possivelmente, que reconhecesse os
animais não humanos como sujeitos de direito. Neste sentido comenta o
Ministro Antonio Herman Benjamin:
Por "não-antropocentrismo", queremos significar todas as correntes que
criticam ou rejeitam por insuficiência a doutrina antropocêntrica (inclusive
o antropocentrismo mitigado). É uma visão do mundo informada por um
modelo ecológico de inter-relacionamento interno, um rico sistema de
circulação permanente entre o "eu" e o mundo exterior, e que advoga ser a
Natureza mais complexa do que a conhecemos e, possivelmente, mais
complexa do que poderemos saber (Teoria do Caos). [...] Nessa vasta e
heterogênea família, incluímos o biocentrismo e o ecocentrismo (ou
holismo). Algumas dessas tendências são comumente associadas aos
movimentos de contracultura, incluindo ainda a teoria dos "direitos dos
animais" (animal liberation), tendo Peter Singer à sua frente, o
ecofeminismo, a ecologia social e a cosmologia animística dos povos
indígenas. Todas essas correntes propõem uma alteração ontológica na
150
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.

nossa visão da Natureza e do nosso relacionamento com ela (BENJAMIN,
200-?, p. 16-18).
Assim também comenta Luc Ferry que as correntes que
contrapõem o antropocentrismo se enquadravam na órbita da
contracultura:
Fica claro, com efeito, que a idéia de um direito intrínseco dos seres da
natureza se opõe de modo radical ao humanismo jurídico que domina o
universo liberal moderno. De resto, a maior parte dos ecologistas profundos
não se enganou, considerando seu próprio projeto como pertencente à
órbita do que nos anos 1970 se chamava de “contracultura” em relação ao
modelo ocidental dominante (FERRY, 2009, p. 135).
Importante ressaltar que as correntes que rejeitam o
antropocentrismo não são contrárias ao homem, mas supõem “[…] uma
verdadeira desconstrução do “chauvinismo humano” onde se enraíza o
preconceito antropocentrista por excelência” (FERRY, 2009, p. 122).
As correntes que rejeitam o antropocentrismo não são misantrópicas,
isto é, anti-homem; o que elas combatem é o chauvinismo humano, a
ficção insistente – negada pela Ciência – de enxergar os seres humanos
como entidades apartadas da Natureza. Ambos – Natureza e homem –
podem viver e prosperar em um mesmo planeta de que
incontestavelmente partilham (BENJAMIN, 200-?, p. 18).
Desta maneira, entre estas correntes que rejeitam o
antropocentrismo serão destacadas algumas, de forma exemplificativa,
sem objetivar esgotar o assunto. Assim, se destacam o biocentrismo, a
libertação dos animais, o ecocentrismo ou holismo, e a ecologia
profunda. Contudo, há quem englobe biocentrismo, ecocentrismo e
ecologia profunda em uma única corrente, conforme trata François Ost
ao comentar sobre a deep ecology:
É geralmente identificada sob o nome deep ecology, que deveria
traduzir-se literalmente por ecologia profunda; ecologia radical seria,
no entanto, mais indicado. Outras etiquetas, são por vezes
reivindicadas, tais como biocentrism, ecocentrism, ou ainda ecological
egalitarianism (OST, 1997, p. 174-175).
Não obstante haja esta divergência classificatória, Antonio
Herman Benjamin afirma que o biocentrismo tem como seu marco
inicial a Ética da Reverência pela Vida, exposta pela primeira vez, pelo
prêmio Nobel da paz em 1952, Aibert Schweitzer (BENJAMIN, 200-?,
p. 17). Sua origem etimológica está na fusão dos termos gregos βιος
(bios), que significa vida, e κέντρον (kentron), que significa centro.
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.
151

Assim, em oposição ao antropocentrismo, é uma concepção onde a
vida, e não o homem, está no centro. Isto é, uma visão segundo a qual
todas as formas de vida são igualmente importantes.
Já a corrente da libertação animal, também conhecida como
dos direitos animais ou abolicionismo animal, constitui um movimento
que luta contra qualquer uso de animais não-humanos que os transforme
em propriedades de seres humanos, ou seja, meios para fins humanos
(MICHAEL, 2004). Desta forma se distingue da corrente do bem-estar
animal, que é antropocêntrica, e que será abordada mais adiante.
A ideia precursora de um movimento libertário animal teve sua
origem histórica no final do século XVIII, quando o filósofo Thomas
Taylor ao criticar satiricamente o ideal libertário feminino, afirmou que
tais idéias poderiam ser aplicadas em prol da libertação animal também,
como comenta Peter Singer:
A expressão “Libertação Animal” pode soar mais como uma paródia de
outros movimentos de libertação do que um objeto sério. Defato, a ideia
dos “Direitos dos Animais” foi usada, anteriormente, para parodiar a defesa
dos direitos das mulheres. Quando Mary Wollstonecraft, uma precursora
das feministas atuais, publicou seu livro Vindication of the Rights of
Woman [Em defesa dos Direitos das Mulheres], em 1972, suas opiniões
eram consideradas bastante absurdas. Pouco tempo depois, surgiria
anônima intitulada A Vindication of the Rights of Brutes [Em defesa dos
Direitos dos Brutos]. O autor dessa obra satírica (que agora se sabe ter sido
Thomas Taylor, um eminente filósofo de Cambridge), tentou refutar os
argumentos de Mary Wollstonecraft, mostrando que eles poderiam ser
levados um pouco mais longe: se o argumento a favor da igualdade valia
quando aplicado às mulheres, por que não o seria para o caso de cães, gatos
e cavalos? (SINGER, 2004, p. 2)
Entretanto, foi Jeremy Bentham, com a publicação do livro An
introduction to the principles of morals and legislation, em 1780, “[...]
no seu seguimento a corrente utilitarista, quem conferiu a primeira
expressão estruturada à tese favorável ao direito dos animais” (OST,
1997, p. 255). Neste sentido, comenta Rita Leal Paixão em sua tese de
doutorado:
Jeremy Bentham, filósofo e jurista inglês, foi quem cunhou o termo
“utilitarian”, origem do termo utilitarismo, sendo ele mesmo
considerado o seu fundador, ou pelo menos, o primeiro a expor de
forma sistemática a teoria do utilitarismo. O pensamento de Bentham
iria confrontar-se com a visão dos animais imposta pelo cartesianismo e
pela visão tomista que até então eram predominantes. E seu desafio
152
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.

encontra-se na sua obra An Introduction to the Principles and Morals of
legislation (PAIXÃO, 2001, p. 54).
Assim, Jeremy Bentham apud François Ost (1997, p. 255-256),
advoga em favor dos direitos dos animais em sua celebre passagem da
obra Introduction to the principles of morals and legislation:
Talvez chegue o dia em que o restante da criação animal venha a adquirir
os direitos dos quais jamais poderiam ter sido privados, a não ser pela
mão da tirania. Os franceses já descobriram que o escuro da pele não é
motivo para que um ser humano seja abandonado, irreparavelmente, aos
caprichos de um torturador. É possível que algum dia se reconheça que o
número de pernas, a vilosidade da pele, ou a terminação do sacrum são
motivos igualmente insuficientes para se abandonar um ser sensível ao
mesmo destino. O que mais deveria traçar a linha insuperável? A
faculdade da razão, ou, talvez, a capacidade de falar? Mas, para lá de toda
comparação possível, um cavalo ou um cão adulto são muito mais
racionais, além de bem mais sociáveis, do que um bebê de um dia, uma
semana, ou até mesmo um mês. Imaginemos, porém, que as coisas não
fossem assim; que importância teria tal fato? A questão não é, eles
raciocinam? Eles podem falar? Mas sim, eles podem sofrer?
Desta forma, para Jeremy Bentham todos os animais, humanos
ou não, merecem igual consideração, deslocando o foco da razão para o
sofrimento, sem deixar de ter uma visão utilitarista.
Bentham procura enfatizar com suas palavras que todos os seres
humanos mereciam igual consideração e, conforme ele questiona, por
que não estender a mesma consideração para com os animais? Embora
Bentham sustentasse a idéia da racionalidade para o cão e o cavalo,
conforme se observa no trecho acima, a sua principal abordagem é
deslocar o foco da “razão” para a questão do “sofrimento”. Este, de
fato, exercerá um papel relevante na sua visão utilitarista, segundo a
qual a ação deve propiciar o máximo de felicidade para o maior número
de seres. De acordo com Bentham, é possível saber se uma determinada
conduta é certa ou errada, levando-se em conta a felicidade ou
infelicidade de todos os que foram afetados pela ação, sendo que a
felicidade está relacionada ao prazer e a infelicidade à dor. Com isso, o
fato dos animais também serem capazes de sentir dor e prazer torna-se
relevante para a consideração moral. A visão de Bentham desafiou o
antropocentrismo [...] (OST, 1997, p. 256).
Desta maneira, embora a corrente de libertação animal tenha
suas origens nos século XVIII, e, no seu início, tenha estado ligado ao
utilitarismo, atualmente, está mais voltada para o reconhecimento do
valor intrínseco dos animais não-humanos, independente de qualquer
aspecto utilitário destes. Assim, esta corrente é um movimento
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.
153

contemporâneo, que tem ganhado força com a ideia de abolicionismo
animal, que, em paródia com a libertação dos escravos, coloca o
homem em uma posição moralmente indefensável e apela ao altruísmo
da humanidade, conforme comenta Peter Singer, autor do livro Animal
liberation, publicado em 1975, considerado um dos principais marcos
teóricos deste movimento no século XX.
Não obstante, o movimento de Libertação animal vai exigir mais
altruísmo da parte dos seres humanos do que de qualquer outro
movimento. Os animais, eles mesmos, são incapazes de exigir sua
própria libertação ou de protestar contra as condições com votos,
demonstrações ou boicotes. Os seres humanos têm o poder de continuar
a oprimir outras espécies para sempre, ou até tornarmos este planeta
inadequado para os seres vivos. [...] Ou nos ergueremos ante o desafio e
provaremos nossa capacidade de genuíno altruísmo pondo fim à cruel
exploração das espécies sob nosso poder, não porque sejamos forçados
a isso por rebeldes ou terroristas, mas porque reconhecemos que nossa
posição é moralmente indefensável? (SINGER, 2004, p. 281).
Já para o ecocentrismo ou holismo os seres vivos e ecossistemas
merecem igual respeito, e só podem ser tratados conjuntamente.
Segundo o Ministro Antonio Herman Benjamin os holistas englobam
várias as correntes, como a Ética da Terra (Land Ethic), apresentada
por Aldo Leopold, que transforma o papel do Homo Sapiens, de
conquistador da comunidade da terra a seu membro, como também a
Ecologia Profunda, também denominada ecologia transpessoal ou
naturalismo ecológico (SINGER, 2004, p. 281).
Quanto à “[...] deep ecology, que deveria traduzir-se
literalmente por ecologia profunda; ecologia radical seria, no entanto,
mais indicado” (OST, 1997, p. 174-175), percebe-se uma certa
divergência doutrinária. Enquanto o Ministro Antonio Herman
Benjamin entende que a deep ecology foi originalmente proposta pelo
filósofo norueguês Arne Naess, que atribuiu valor intrínseco à
biodiversidade, Luc Ferry considera que esta corrente foi fundada por
“[...] Aldo Leopold, aquele que muitos consideram o pai da `ecologia
profunda´, nos convida a derrubar paradigmas que dominam as
sociedades ocidentais [...]” (FERRY, 2009, p. 121). Já François Ost ao
comentar sobre a deep ecology afirma que o marco divisório desta
corrente está no princípio da Reverence of life, o qual Antonio Herman
Benjamin entende ser o marco teórico do biocentrismo, como
anteriormente comentado. Quanto à ética da terra, de Aldo Leopold,
154
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.

François Ost entende ser a bíblia da ecologia profunda:
A deep ecology tem a sua divindade (Gaia), os seus profetas (H. D.
Thoreau, que apelava a uma oversoul, ou força moral de caráter divino
que impregna toda a natureza, ou ainda A. Schweitzer, cujo famoso
princípio Reverence for life funciona como divisa do movimento), a sua
bíblia (o Sand County almanac, de Aldo Leopold, publicado em 1949,
cujo capítulo Land ethic exprime pela primeira vez, a extensão da
comunidade ética ao conjunto da biosfera) [...] (OST, 1997, p. 175).
Neste sentido, Luc Ferry comentando a quebra dos paradigmas
que dominam as sociedades ocidentais afirma que “[...] depois que
conseguimos rejeitar a escravatura, precisamos dar um passo
suplementar, levar finalmente a sério a natureza e considerá-la dotada
de um valor intrínseco que exige respeito” (FERRY, 2009, p. 122).
Assim, Luc Ferry comenta que a deep ecology estaria a propor um novo
contrato social, na verdade um contrato natural:
Por isso a idéia de um “contrato natural”, análogo ao famoso contrato
social dos filósofos do século XVIII: assim como eles propuseram reger
pelo direito as relações entre os homens, seria preciso agora considerar
sob os mesmos auspícios as relações com a natureza. Mais
concretamente talvez, fazer um contrato com ela significaria
restabelecer uma certa justiça (FERRY, 2009, p. 138).
Contudo, apesar do importante contraponto que a ecologia
profunda faz ao antropocentrismo, Luc Ferry denuncia as contradições
desta corrente de pensamento, questionando se a deep ecology, ao querer
ditar o melhor para a natureza, não estaria sendo antropocêntrica?
Na verdade, os ecologistas profundos não estão sendo eles mesmos
“antropocentristas” ao pretenderem saber o que é melhor para o meio
natural? [...] Existe, no próprio princípio dos raciocínios que alimentam
o fundamentalismo, um insuperável erro lógico. Ele tem um nome: a
“contradição performativa” (FERRY, 2009, p. 223).
Não obstante haja sérias críticas à ecologia profunda, não se
deve valer destas para fundamentar discursos falaciosos em prol do
antropocentrismo puro, pois “[...] a ecologia profunda coloca
verdadeiras questões [...] Ninguém fará a opinião pública acreditar que
o ecologismo, por mais radical que seja, é mais perigoso do que as
dezenas de Chernobyl que nos ameaçam” (FERRY, 2009, p. 217).
2.2 O antropocentrismo puro
Conforme abordado anteriormente, os “[...] primeiros esforços
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.
155

de tutela jurídica do meio ambiente foram estritamente
antropocêntricos”(BENJAMIN, 200-?, p. 10). Assim, o início da
proteção jusambiental se dá acompanhando os primeiros passos da
ecologia, que, até então, ainda não era capaz de explicar o ambiente de
forma holística.
Desta maneira, é importante definir tal conceito. Assim, a
professora Robyn Eckersley apud Antonio Herman Benjamin (200-?,
p. 10), define antropocentrismo como sendo:
[...] a crença na existência de uma linha divisória, clara e moralmente
relevante, entre a humanidade e o resto da Natureza; que o ser humano
é a principal ou única fonte de valor e significado no mundo e que a
Natureza-não humana aí está com o único propósito de servir aos
homens.
Portanto, percebe-se que o antropocentrismo liga-se a uma ideia
de utilitarismo para a espécie humana.
Há, na base do pensamento antropocêntrico, uma percepção
cosmológica muito própria e estreita, conectada ao “chauvinismo de
uma espécie", ao utilitarismo, que remonta a Jeremy Bentham, e ao
liberalismo de Locke, este e aquele pregando o individualismo e o
atomismo social (BENJAMIN, 200-?, p. 10).
Assim, a tutela ambiental, que se inicia internacionalmente, se
desenvolve a partir de uma proteção “[...] com forte aspecto utilitarista
e/ou comercial para uma tutela ambiental de caráter geral, que abrange
a proteção da fauna e flora enquanto integrantes de ecossistemas, bem
como a biodiversidade neles inserida” (MIRANDA, 2011, p. 340).
Destarte, o desenvolvimento da tutela ambiental no plano
internacional vai mitigando seu caráter antropocêntrico, e assim é
internalizado nos ordenamentos jurídicos nacionais nas últimas décadas
do século passado.
2.3 O antropocentrismo mitigado
O antropocentrismo mitigado, também conhecido como
antropocentrismo reformado (BENJAMIN, 200-?, p. 10) ou alargado
(LEITE; AYALA, 2004, p. 57), é fruto de um processo de mitigação do
antropocentrismo puro. Assim, este processo surge “[...] pela cruel
necessidade de sobrevivência do planeta, que sofre com o aquecimento
global, com a elevação dos níveis dos oceanos, com o aquecimento do
156
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.

atlântico, com os tsunamis, furações e demais catástrofes ambientais”
(MIRANDA, 2009, p. 25). Neste sentido comenta o Ministro Antonio
Herman Benjamin:
Ninguém duvida de que nossas atividades de hoje – esgotamento das
reservas de petróleo, destruição das florestas tropicais e dos recursos
marinhos, costeiros ou não, contaminação do lençol freático e das águas de
superfície, desaparecimento de espécies – repercutirão no futuro, ou seja,
no tipo, qualidade, quantidade e acessibilidade dos recursos que as gerações
vindouras terão à sua disposição; o hoje, pois, determina a estrutura
econômica, as oportunidades recreativas, as opções ambientais e até as
preferências do amanhã. São preocupações dessa ordem que levam a um
abrandamento do antropocentrismo tradicional, originando aquilo que
chamamos antropocentrismo mitigado ou reformado, que ora se curva
perante as gerações futuras (= antropocentrismo intergeracional), ora
incorpora um sentimento de bondade no relacionamento com os animais,
principalmente os domésticos (= antropocentrismo do bem-estar dos
animais) (BENJAMIN, 200-?, p. 10-11).
Desta forma, o antropocentrismo mitigado pode ser dividido em
antropocentrismo do bem-estar dos animais, incorporando um
sentimento de benevolência para com os animais domésticos, mas no
interesse humano, e em antropocentrismo intergeracional, garantido os
direitos das gerações futuras (BENJAMIN, 2009, p. 11). Portanto, este
modelo ético intergeracional sustenta a noção de desenvolvimento
sustentável, uma vez que prevê a tutela de gerações ainda nem mesmo
gestadas, e que, portanto, ainda não são sujeitos de direito, mudando a
ótica civilista que outrora preponderou. Neste sentido comentam
Fernando Scaff e Lise Vieira da Costa Tupiassu (2005, p. 103 e 104):
Passam a ser considerados também os direitos dos que ainda não
nasceram. A dimensão da pessoa humana é projetada no futuro, não
mais apenas como a dimensão civilista do nascituro, mas de toda uma
futura (e ainda nem mesmo gestada) geração de pessoas humanas. [...]
Não é mais um interesse do indivíduo contra o Estado, ou inerente
apenas a certa coletividade, mas um interesse difuso e que abrange não
apenas as atuais, mas as futuras gerações [...]
Destarte, o antropocentrismo intergeracional, uniu a questão dos
interesses difusos ao conceito de futuras gerações, surgindo assim uma
nova compreensão dos direitos fundamentais calcados na sustentabilidade.
2.4. Antropocentrismo interespécies e intergeracional
Desta forma, do antropocentrismo mitigado derivam dois tipos
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.
157

de antropocentrismo, entre espécies, humana e não-humana, e entre
gerações distintas, presente e futuras, como será abordado a seguir.
2.4.1 Ética do bem-estar dos animais
A Ética do bem-estar dos animais (animal welfare) é
considerada uma forma de mitigação do homocentrismo puro, porém
sem cair no não-antropocentrismo. Desta maneira, esta corrente protege
o meio ambiente, especialmente os animais domésticos, mas não deve
ser confundida a libertação dos animais, que é uma concepção não-
antropocêntrica. Isto porque, esta concepção do animal welfare entende
a necessidade de proporcionar níveis de bem-estar aos animais, máxime
os domésticos e de estimação, mas com um certo enfoque utilitarista, se
necessário ao homem, como comenta Antonio Herman Benjamin:
[...] a corrente da Ética do Bem-Estar dos Animais (Animal Welfare), que,
mesmo contentando-se com a summa divisio humanos x não-humanos,
advoga um tratamento mais "humanitário'' para os outros seres vivos, com
relevo para os animais domesticados e de estimação. Nessa corrente, aceita-
se, de uma maneira geral e, conforme as circunstâncias, a possibilidade de
eliminação de animais, desde que estes sejam tratados da forma mais
humana possível. Ou seja, inexistiria qualquer interesse animal que não
possa sucumbir em função de benefícios de vulto para os seres humanos
(BENJAMIN, 200-?, p. 15).
Desta maneira, esta corrente não reconhece o valor intrínseco
dos animais, e os dividem em humanos e não humanos. Além disso, os
interesses animais são condicionados aos dos homens, os quais
prevalecem, por isso seu caráter homocêntrico.
2.4.2 O antropocentrismo alargado ou intergeracional
Esta corrente de antropocentrismo mitigado “[...] enfatiza
obrigações do presente para com os seres humanos do futuro”
(BENJAMIN, 2009, p. 11). Assim, “[...] derrubando a concepção
civilista do nascituro e projetando-a em gerações futuras, ainda nem
mesmo gestadas” (SCAFF; TUPIASSU apud MIRANDA, 2009, p. 14),
o homocentrismo intergeracional garante os direitos, mesmo que
futuros, das gerações vindouras, alargando, assim, o antropocentrismo
puro e fundamentando a noção de sustentabilidade.
Vale frisar que o antropocentrismo intergeracional como “[...]
158
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.

fundamento ético para a tutela jurídica do meio ambiente, é,
atualmente, o paradigma dominante nos principais países” (Benjamin,
200-?, p. 11). Neste sentido comentam os professores José Rubens
Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala:
No direito positivo brasileiro, conforme relatado, a proteção jurídica do
meio ambiente é do tipo antropocêntrica alargada, pois nesta verifica-se um
direito ao meio ambiente equilibrado, como bem de interesse coletivo e
essencial à sadia qualidade de vida. Além disso, esta tutela do meio
ambiente no Brasil está vinculada não a interesses imediatos e, sim, aos
citados interesses intergeracionais. (LEITE; AYALA, 2004, p. 57).
Assim, o Art. 225 da Lei Maior, que é considerado “[...] o
centro nevrálgico do sistema constitucional de proteção ao meio
ambiente [...]” (ANTUNES, 2009, p. 64), e que garante a todos um
meio ambiente ecologicamente equilibrado, o qual é essencial à sadia
qualidade de vida, é a base constitucional da corrente antropocêntrica
intergeracional. Não obstante possa haver interpretações de cunho
biocentrico diante dos vocábulos todos e vida, estas não prosperam
diante do princípio da dignidade da pessoa humana e do
desenvolvimento sustentável. Isto porque o princípio da
sustentabilidade, também presente neste dispositivo constitucional, se
refere a gerações humanas, presentes e futuras, dando a conotação
intergeracional. Note, ainda, que, apesar do referido artigo
constitucional não especificar que esta vida é humana, uma exegese
sistêmica demonstra que a proteção à sadia qualidade de vida é
mediata, coletiva e refere-se à vida humana, conforme argumenta Paulo
de Bessa Antunes:
A leitura irracional e apressada do vocábulo tem levado à interpretação
de que todos teria como destinatário todo e qualquer ser vivo. A
hipótese não se justifica. A Constituição tem como um de seus
princípios reitores a dignidade da pessoa humana e, portanto, a ordem
jurídica nacional tem como seu centro o indivíduo humano. A proteção
dos animais e o meio ambiente é estabelecida como uma conseqüência
de tal princípio e se justifica na medida em que é necessária para que o
indivíduo humano possa ter uma existência digna em toda a planitude
(ANTUNES, 2009, p. 65).
Desta maneira, diante da garantia ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações,
vislumbra-se um novo quadro ético, fundado sobre os princípios da
solidariedade e da sustentabilidade, que varia no espaço e no tempo,
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.
159

isto é, no espaço individual e coletivo, e no tempo presente e futuro.
Contudo, não há como negar que a solidariedade intergeracional não
deixa de ser antropocêntrica, uma vez que vincula a proteção ambiental
aos interesses humanos, porém, não apenas presentes, mas também
futuros. Assim, o ministro Antonio Herman Benjamin comenta que esta
corrente está entre o antropocentrismo puro e o biocentrismo:
No plano dos fundamentos que buscam moralmente justificar a
proteção do meio ambiente, a estratégia das gerações futuras está a
meio caminho entre o antropocentrismo radical (o ser humano como
centro do universo e senhor de tudo o que nele há) e o
nãoantropocentrismo (biocentrismo ou ecocentrismo) (BENJAMIN,
200-?, p. 12).
Assim, parodiando um ditado popular4, nem antropocentrismo
puro, nem biocentrismo, o direito foi capaz de evoluir e absorver novas
concepções axiológicas, conforme passagem de François Ost:
Passo a passo, o direito faz, assim, a aprendizagem do ponto de vista
global. Num século, a evolução é significativa, conduzindo de uma
posição estreitamente antropocêntrica a uma maior tomada de
consideração lógica em si mesma; evolução que é, também, a do ponto
de vista local para o ponto de vista planetário, e do ponto de vista
concreto e particular (tal flor, tal animal) para a exigência abstrata e
global (por detrás da flor ou do animal, o patrimônio genético). Se nos
primeiros tempos da proteção da natureza, o legislador se preocupava
exclusivamente com tal espécie ou tal espaço, beneficiado dos favores
do público (critério simultaneamente antropocêntrico, local e
particular), chegamos hoje à proteção de objetos infinitamente mais
abstratos e mais englobantes, como o clima e a biodiversidade (OST,
1997, p. 112).
Entretanto não há uma incompatibilidade total entre a tutela das
gerações futuras e o reconhecimento de que os animais não-humanos
devem ter um status jurídico, não necessariamente como sujeito de
direito, mas que vá além da coisificação (BENJAMIN, 200-, p. 13).
Assim, a ética intergeracional confere à proteção do meio ambiente
uma maior importância, e talvez, até mesmo, maior legitimidade, pois
preconiza que os interesses das gerações vindouras sejam somados aos
da presente, fundamentando, assim, a sustentabilidade.
Destarte, a ética intergeracional só faz sentido fora da
dicotomia, outrora existente, entre bens públicos e privados. Isto
4 nem oito, nem oitenta
160
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.

porque o direito ao meio ambiente sustentável, ao mesmo tempo em
que é integeracional, também é transindividual, não cabendo na lógica
pública, nem, muito menos, na privada, devido a sua natureza difusa e
de direito fundamental, sem o qual, não há como se falar em
desenvolvimento sustentável.
Conclusão
Diante do exposto, ficou patente que o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado consubstancia-se na ordem jurídica nacional
como um dos direitos fundamentais elencados pela Carta Magna, se não
expressamente, por via interpretativa. Desta maneira, o direito à saúde e a
dignidade da pessoa humana ligam o meio ambiente aos direitos
fundamentais constitucionais, conferindo-lhe sua jusfundamentalidade. O
que representa na esfera internacional dos Direitos Humanos a inserção da
esfera ambiental aos outrora direitos econômicos, sociais e culturais,
agora, também ambientais. Assim, caracterizando o direito ao meio
ambiente enquanto direito fundamental, no plano interno, e direitos
humanos, no externo, foi possível analisar os fundamentos éticos do
ambiente enquanto direitos humanos.
Desta forma, ficou evidente que os modelos éticos de proteção
legal do meio ambiente evoluíram de uma vertente não antropocêntrica,
passando pelo biocentrismo, pela libertação dos animais, pelo
ecocentrismo e pela ecologia profunda, até um antropocentrismo,
inicialmente puro, mas depois mitigado por aspectos intergeracionais.
Tal modelo ético é inerente à natureza difusa do bem ambiental, sendo
portanto, o fundamento vigente para a tutela jurídica do meio ambiente,
no Brasil, e na maior parte dos países. Assim, o antropocentrismo
intergeracional consubstancia-se em um direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, como bem de interesse difuso e essencial à
sadia qualidade de vida, vinculado não a interesses imediatos e
particulares, mas sim a interesses das presentes e futuras gerações, que
configura o fundamento constitucional para o desenvolvimento
sustentável, previsto na constituição pátria.
Destarte, o antropocentrismo intergeracional é o modelo ético
que garante o meio ambiente, enquanto direitos humanos,
ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Vale
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.
161
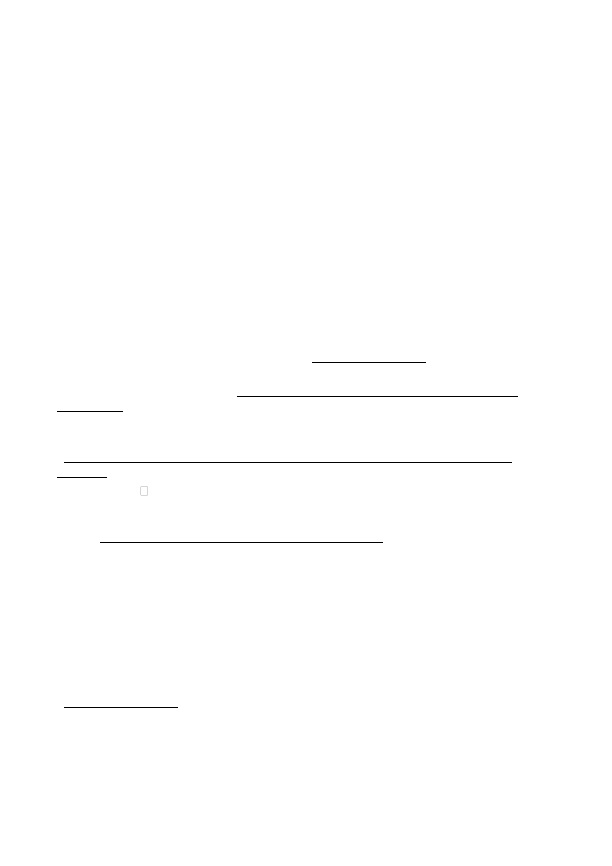
ressaltar ainda que este modelo é uma construção filosófica, fundada
sobre os princípios da solidariedade intergeracional e do
desenvolvimento sustentável, que varia no espaço e no tempo, isto é, no
espaço individual e coletivo, e no tempo presente e futuro.
Referencias
ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 5 ed. alemã, tradução de Virgílio
Afonso da Silva, São Paulo: Malheiros, 2008. ISBN 85-7420-872-8.
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 12 ed., rev. e ampl., Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009. ISBN978-85-375-0616-5.
AYALA, Patryck de Araujo. O novo paradigma constitucional e a jurisprudência
ambiental no Brasil. CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens
Morato (Org.). Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007.
ISBN 978-85-020-6152-1.
BENJAMIN, Antonio Herman. A Natureza no Direito Brasileiro: coisa, sujeito ou
nada disso. BDJur, [200-?]. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br>. Acesso em 24
ago 2011.
BERTALANFFY, Ludwig von. General system theory : foundations, development,
applications. 17 ed., rev., New York: Braziller, 2009.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília,
DF:
Senado,
1998.
Disponível
em:
<http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/const/con1988/CON1988_05.10.1988/CON
1988.htm>. Acesso em: 23 mar 2010.
BRASIL. Lei n 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2 setembro de 1981. Disponível
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. Acesso em: 13 out.
2008.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. 1 ed., 3
tir., São Paulo: Revista dos tribunais; Portugal: Coimbra, 2008. ISBN 978-85-203-
3297-9; ISBN 978-972-32-1593-9.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da
Constituição. 3 ed. Coimbra: Almedina, 1998.
ECKERSLEY, Robyn, Environmentalism and Political Tbeory: Toward an
Ecocentric Approach. In: BENJAMIN, Antonio Herman. A Natureza no Direito
Brasileiro: coisa, sujeito ou nada disso. BDJur, [200-?]. Disponível em:
<http://bdjur.stj.gov.br>. Acesso em 24 ago 2011.
FERRY, Luc. A nova ordem ecológica: a árvore, o animal e o homem. Tradução de
Rejane Janowitzer, Rio de Janeiro: Difel, 2009. ISBN: 978-85-7432-102-8.
IRIGARAY, Carlos Teodoro J. Hugueney. Aspectos constitucionais da proteção de
162
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.

unidades de conservação. In: FIGUEIREDO, Guilherme J. Purvin (org.). Direito
Ambiental em Debate. Vol. 2. Rio de Janeiro: Esplanada, 2004.
LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na
sociedade de risco. 2 ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense Universitária,
2004. ISBN 85-218-0358-3.
LEOPOLD, Aldo. A sand county almanac:with essays on conservation. New York:
Oxford University Press, 2011. ISBN 0-19-514617-4.
LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Derechos Humanos, Estado de Derecho y
Constitucion. 6 ed. Madrid: Tecnos, 1999.
MICHAEL, Steven. Animal personhood: a threat to research? The Physiologist,
volume 47,n° 6, dez. 2004.
MIRANDA, João Paulo Rocha de. A moderna proteção internacional da fauna, flora,
biodiversidade e florestas: utilitarista ou preservacionista? In MAZZUOLI, Valerio de
Oliveira (org.). O novo direito internacional do meio ambiente. Curitiba: Juruá, 2011.
ISBN 978-85-362-3391-8.
MIRANDA, João Paulo Rocha de. Fundamentos do Direito Ambiental Aplicados às
Ciências Agrárias, Ambientais e Jurídica. Juina-MT: Amazoon, 2009, p. 25. ISBN:
978-85-61876-03-6.
NUCCI, João Carlos. Origem e desenvolvimento da ecologia e da ecologia da
paisagem. Revista Geografar, Revista do programa de pós-graduação em geografia da
UFPR, Curitiba, v. 2, n. 1, p.77-99, jan./jun. 2007. ISSN 1981-089X.
OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Lisboa:
Instituto Piaget, 1997. ISBN 972-8407-24-6.
PAIXÃO, Rita Leal. Experimentação animal: razões e emoções para uma ética. 2001,
189 f. Tese (Doutorado em Saúde Pública)- Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional
de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2001.
PRIEUR, Michel. Environmental Law. In: MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito
ambiental brasileiro. 17 ed., rev. atual. e ampl., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 53-54.
ISBN 85-7420-925-2.
SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 5 ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2005.
SCAFF, Fernando Facury; TUPIASSU, Lise Vieira da Costa. Tributação e políticas
públicas: o ICMS ecológico. Revista de Direito Ambiental, ano 10, n° 38, São Paulo,
Revista dos Tribunais: abril-junho de 2005, p. 103 e 104. ISSN 1413-1439.
SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 7 ed., atual., São Paulo:
Malheiros, 2009. ISBN 85-7420-898-1.
SILVA, Vasco Pereira da. Verdes são também os direitos do homem:
responsabilidade administrativa em matéria ambiental. Lisboa: Principia. Coimbra:
Coimbra, 2000. ISBN: 972-8500-31-9.
SINGER, Peter. Libertação animal. Tradução de Marly Winckler, Porto Alegre:
Lugano, 2004. ISBN 85-89958-01-9.
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.
163

WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT. Report of
the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. UN
Documents Cooperation Circles, New York, 1985. Disponível em: <http://www.un-
documents.net/ocf-02.htm> Acesso em: 31 dez. 2008.
Resumo
Este trabalho visa abordar os modelos éticos de proteção jurídica do meio
ambiente, desde a análise do biocentrismo ao antropocentrismo mitigado e
intergeracional que fundamenta o conceito de sustentabilidade.
Inicialmente é abordado a natureza jusfundamental e de direitos humanos
do meio ambiente. Em seguida, são apresentados três modelos éticos de
proteção do meio ambiente, que orientam as normativas de proteção
ambiental, o não-antropocentrismo; antropocentrismo puro; e
antropocentrismo mitigado. A partir disto, é analisado a evolução da
vertente não antropocêntrica, passando pelo biocentrismo, pelo
ecocentrismo, e pela ecologia profunda, até a um antropocentrismo,
inicialmente puro, que é mitigado pelos aspectos intergeracionais,
intrínsecos à natureza difusa do bem ambiental, como modelo atual
vigente.
Palavras-chave: Modelos éticos. Direitos humanos. Meio ambiente; Biocentrismo.
Antropocentrismo intergeracional.
Abstract
This paper aims to address the ethical models for legal protection of the
environment, from the analysis of the biocentrism mitigated and
intergenerational anthropocentrism underlying the concept of
sustainability. Initially it approached the nature jusfundamental and human
rights environment. They are then presented three models of ethical
environmental protection, guiding the regulations on environmental
protection,
non-anthropocentrism;
anthropocentrism
pure;
anthropocentrism and mitigated. From this, the development of non-
anthropocentric aspect is analyzed, through biocentrism at ecocentrism, and
the deep ecology, to a anthropocentrism initially pure, which is mitigated
by the intergenerational aspects intrinsic to the diffuse nature of the
environmental as well as model prevailing current.
Keywords: ethical models. Human rights. Environment; Biocentrism.
Anthropocentrism intergenerational.
164
JURIS, Rio Grande, v. 25: p. 141-164, 2016.
