
UNIJUÍ - UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO NAS
CIÊNCIAS
ELIANE GONÇALVES DOS SANTOS
A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NOS PROCESSOS FORMATIVOS DE PROFESSORES
DE CIÊNCIAS DA NATUREZA MEDIADA POR FILMES
Ijuí (RS)
2018

ELIANE GONÇALVES DOS SANTOS
A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NOS PROCESSOS FORMATIVOS DE PROFESSORES
DE CIÊNCIAS DA NATUREZA MEDIADA POR FILMES
Tese apresentada ao Curso de Doutorado em Educação
nas Ciências, da Universidade Regional do Noroeste do
Estado do Rio Grande Do Sul – UNIJUÍ, como requisito
parcial à obtenção do título de Doutora em Educação nas
Ciências.
Orientadora: Maria Cristina Pansera de Araújo.
Ijuí (RS)
2018

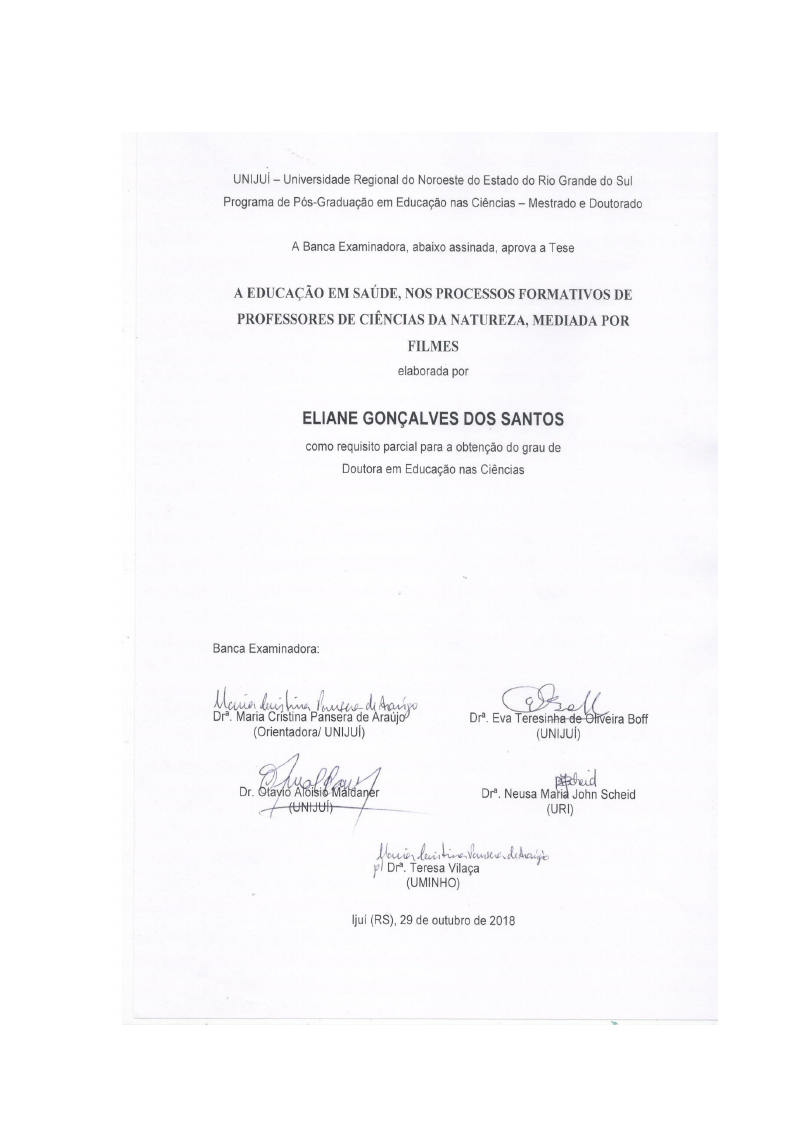

Dedicatória
A todos (as) os (as) professores (as) deste Brasil continental, que, mesmo diante das
incertezas do amanhã, continuam acreditando no poder transformador da Educação.

AGRADECIMENTOS
A Deus, por sempre estar presente em minha vida!
À minha querida professora orientadora, Maria Cristina Pansera de Araújo, por aceitar me
orientar, pelas leituras, orientações, pela força e incentivo tanto profissional quanto pessoal nos
diversos momentos desta caminhada acadêmica.
Aos professores membros da banca Eva Boff, Neusa Scheid, Otavio Maldaner e Teresa Vilaça,
pelas sugestões e contribuições dadas a este trabalho.
Às professoras Graça Carvalho e Teresa Vilaça, pela acolhida, orientações e discussões durante
o período do estágio-sanduíche em Portugal.
Aos bolsistas (licenciandos, professores supervisores e professores formadores) do Subprojeto
PIBID Ciências Biológicas-UFFS, que participaram do grupo. Pelo compartilhamento de
experiências e saberes. Sem vocês, este trabalho não teria acontecido. Às minhas alunas de
graduação, que me auxiliaram quando precisei de suporte técnico, Aline, Karine, Margiéle
Thamires, meu agradecimento.
Aos colegas de GEPECIEM, pelo apoio, amizade, incentivo, conselhos e encorajamento em
todos os momentos da minha formação pessoal e profissional.
Aos amigos (as) que o doutorado me proporcionou. Angéli, Adriana, Carla, Eliane, Silvana,
vocês foram fundamentais para minha constituição docente e de pesquisadora. Agradecimento
especial aos amigos que desbravaram comigo as terras lusitanas em busca de novos
conhecimentos: Solange, Marilandi e Rudião. Com a companhia de vocês, ficar longe de casa
foi mais tranquilo.
Aos novos amigos brasileiros que o PDSE me presenteou: Ciça, Raquel, Ronaldo, Michele,
Viviane e Raniere pela alegria, o carinho, os inúmeros diálogos sobre nossas pesquisas no
refeitório e nos gabinetes da Uminho, assim como a brasileiridade de vocês foram
fundamentais, obrigada pela convivência.
Aos meus pais, irmãos que sempre estiveram ao meu lado, dando apoio, amparo e acreditando
nos meus sonhos, obrigada!

À minha família, Eloi, Otávio, Marina e Felipe, pelo apoio, amor, compreensão, incentivo
incondicional nesta caminhada.
À Universidade Federal da Fronteira Sul, pela concessão do afastamento para capacitação
docente.
À CAPES, pela bolsa de Estágio Sanduíche, a qual possibilitou ampliar o olhar sobre a temática
desta investigação.

RESUMO
A formação de professores da área de Ciências da Natureza e a Saúde constitui, hoje, um campo
de discussão e desafios ao ensino, porque os professores têm, geralmente, pouco conhecimento
sobre as abordagens atuais em Saúde e em Educação em Saúde. Daí a importância de pensar e
repensar a formação em Educação em Saúde como uma necessidade na e para a educação à
cidadania. Esta investigação faz parte da linha de pesquisa sobre Currículo e Formação de
Professores do Programa de Pós-graduação em Educação nas Ciências, Unijuí. O objetivo foi
investigar as implicações decorrentes de um processo formativo de professores de Ciências da
Natureza, mediado pelo uso de filmes comerciais, para a constituição de aprendizagens de uma
visão ampliada de Educação em Saúde. O debate sobre o processo formativo está em constante
movimento, em decorrência das novas ideias que circulam no ensino, caráter conteudista ou
preocupação com a didática de ensino, priorizando apenas o como ensinar. Dessa forma,
amplia-se a discussão em torno da reestruturação dos currículos escolares de Ciências da
Natureza, assim como a questão do ensino de Saúde e a Educação em Saúde, tanto na escola
básica quanto no ensino superior. Esta reflexão promove repensar a temática Saúde e Educação
em Saúde, em que a visão biomédica, ainda, prevalece nos conteúdos escolares. A pesquisa é
de natureza qualitativa, e teve como aporte teórico a abordagem histórico-cultural de Vigotski
(2008), com a qual se buscou promover a elaboração, reelaboração e evolução conceitual do
conhecimento (saúde) com um grupo de professores em formação inicial e continuada. Desse
modo, foi criado o contexto de intervenção experimental proposto por Vigotski (2008, 1929),
a partir da constituição de um grupo formativo de professores, em que os integrantes eram os
bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, subprojeto PIBID
Ciências Biológicas da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus Cerro Largo.
Esse processo formativo ocorreu durante oito meses, em sessões com filmes comerciais
utilizadas para provocar a discussão e reflexão sobre saúde. Os dados descritivos foram
produzidos a partir dos questionários, diários de bordo, das gravações em áudio das discussões
das sessões fílmicas e do grupo focal, que posteriormente foram degravadas. Após as
transcrições e releituras dos registros obtidos, parte dos dados foi avaliada pela análise do seu
conteúdo e os demais pela análise microgenética, que possibilitou a organização em episódios,
identificados em três categorias, a saber: i) evolução das compreensões de Saúde e Educação
em Saúde, no diálogo com professores no grupo colaborativo; ii) filmes comerciais como
instrumento de reflexões sobre questões curriculares no processo formativo; iii) produção do
conhecimento científico. A partir dos resultados foi possível reconhecer os indícios das
implicações das interações vivenciadas pelos professores no grupo de trabalho colaborativo,
em que um novo conhecimento pedagógico do conteúdo de saúde foi significado e
(re)elaborado pelo grupo. Este contempla a saúde ligada aos determinantes sociais: a ética, a
saúde mental, as habilidades socioemocionais, a cidadania, o respeito mútuo, a tomada de
consciência para questões socioculturais ligadas à saúde (gênero, violência contra a mulher,
discriminação social, ...), o cuidado de si e a promoção da saúde, assim como a compreensão
mais adequada sobre a produção do conhecimento científico.
Palavras-chaves: Constituição docente, processos interativos, cinema e educação, ensino de
ciências, formação de professores.
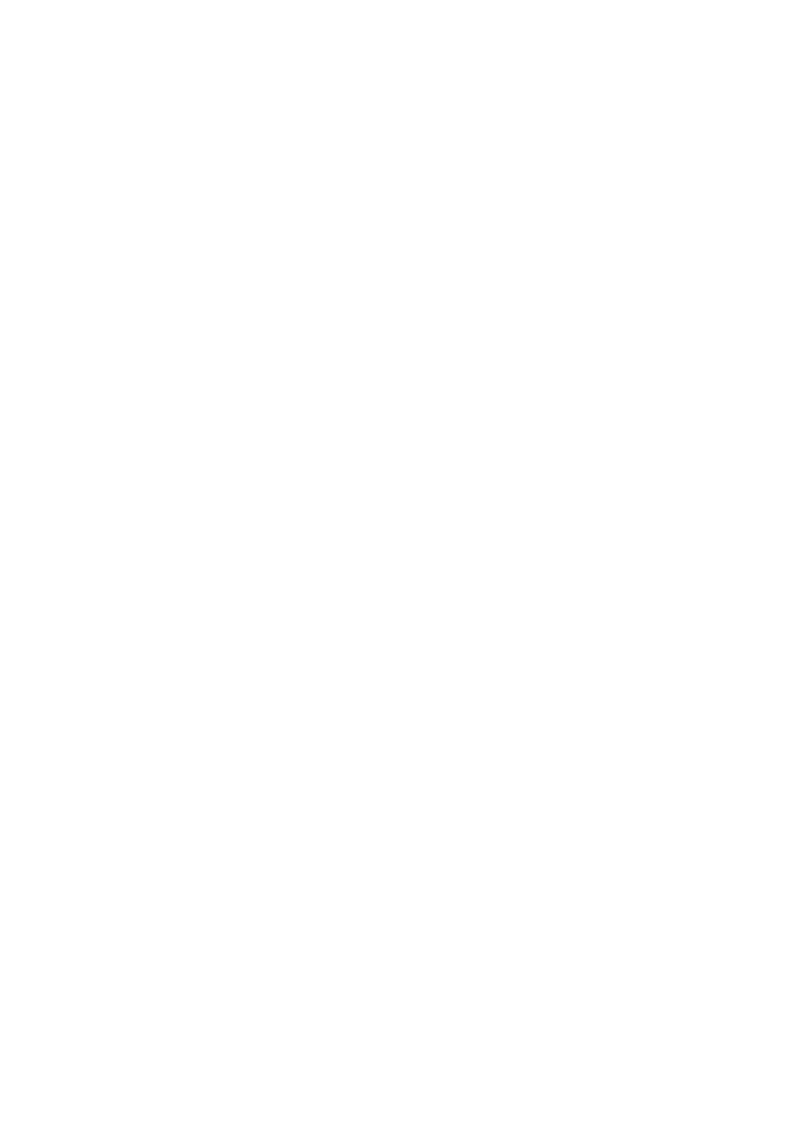
ABSTRACT
The training of teachers in the area of Natural Sciences and Health is now a field of discussion
and challenges to teaching, because teachers generally have little knowledge about current
approaches in Health and Health Education. Hence the importance of thinking and rethinking
education in Health Education as a necessity in and for citizenship education. This research is
part of the research line on Curriculum and Teacher Training of the Graduate Program in
Education in Sciences, Unijuí. The objective was to investigating the implications related to the
formation process of Nature Science teachers, intermediated by the use of advertisement movies
to the development of learning the big view of Education and Health. The debate about
formation process is something that is in permanent movement caused by new ideas that
circulate in teaching, content character or worries related to the teaching didactic, prioritizing
just how to teach. In this way, the discussion related to restructuring the school curriculum of
Nature Science, as well as, the issues of teaching Health and Education in Health, is not only
in basic education, but also in university education. This reflection foster rethink the theme
Health and Education in Health related to biomedical that is still predominated in school
content. This research is qualitative and the theoretical approach used is the historical-cultural
approach by Vigotski (2008). The aim was to promote the development, the rework and the
conceptual evolution of knowledge (health) with a group of teachers in initial and continuing
formation. In this way, the content of experimental intervention proposed by Vigostski (2008,
1929) was created through establishment of formation group of teachers that the participants
are part of a scholarship in Institutional Program of Teaching Initiation (PIBID) subproject
Biological Science from the Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), in the city of Cerro
Largo. This formation process took place during eight months in movies sections with
advertisement used to cause discussion and reflection about health. The descriptive data were
produced through questionnaires, logbook, audio record of the debates related to the movie
sections and the focal group that were recorded later. After the transcription and rereading the
register, parts of the data were evaluated in relation to content analysis and the other part in
relation to microgenetic analysis. This allow the organization in episodes, identified by three
categories; i) evolution of Health and Education in Health comprehension in dialogue with
teachers in the collaborative group; ii) advertisement movies as tools for reflection about
curriculum issues in the formation process; iii) production of scientific knowledge. Throughout
this result, it was possible to know the evidences of the implications in interaction experienced
by teachers in the group of collaborative work, in which the new pedagogical knowledge of
health content was significant and reelaborated by the group. This contemplate health connected
to the social dominants, ethic, mental health, socio emotional abilities and citizenship, the
respect, the consciousness to the sociocultural issues connected to genre, woman violence,
social discrimination, and the promotion of health, as well as the most adequate understanding
of the scientific knowledge production.
Key Words: Teachers Formation, Interaction Process, Cinema and Education, Science
Teaching, Teacher Training.

LISTA DE ABREVIATURAS
ANPED
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação
BNCC
Base Nacional Curricular Comum
CAPES
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CIENTEC
Fundação de Ciência e Tecnologia
CRE
Coordenadoria Regional de Educação
DB
Diário de Bordo
DCN
Diretrizes Curriculares Nacionais
EB
Educação Básica
EF
Ensino Fundamental
EM
Ensino Médio
ENDIPE
Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino
ENEBIO
Encontro Nacional de Ensino de Biologia
ENECIÊNCIAS Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente
ENEM
Exame Nacional do Ensino Médio
ENPEC
Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências
EpS
Educação para a Saúde - Educación para la Salud
EREBIO
Encontro Regional do Ensino de Biologia
ERIDOB
Conference of Europen Reserchers in Didactics of Biology (Conferência de
Investigadores Europeus em Didática da Biologia)
ES
Educação em Saúde
FZB
Fundação Zoobotânica
GEPECIEM Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino de Ciências e Matemática
GTs
Grupos de Trabalhos
IESA
Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo
IFF
Instituto Federal Farroupilha

INCE
IOSTE
LD
LDB
MEC
OMS
ONU
PARFOR
PCN
PEC
PEHE
PIBID
PL
RS
SC
SCIELO
SETREM
SISFOR
SISU
TCLE
TT
UBES
UFFS
UNB
UNIJUÍ
URI
Instituto Nacional de Cinema
Internacional Organization for Science and Technology Education (Organização
Internacional para a Educação em Ciência e Tecnologia)
Livro Didático
Lei de Diretrizes e Bases
Ministério da Educação e Cultura
Organização Mundial de Saúde
Organização das Nações Unidas
Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica
Parâmetros Curriculares Nacionais
Proposta de Emenda Constitucional
Programa Educando com a Horta Escolar
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
Projeto de Lei
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Scientific Electronic Livrary Online
Sociedade Educacional Três de Maio
Sistema de Gestão e Monitoramento da Formação Continuada
Sistema de Seleção Unificado
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Temas Transversais
União Brasileira de Estudantes Secundaristas
Universidade Federal da Fronteira Sul
Universidade de Brasília
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões

USP
WHO
ZPD
Universidade de São Paulo
World Health Organization (Organização Mundial da Saúde)
Zona de Desenvolvimento Proximal

LISTA DE QUADROS
Quadro 1 –
Quadro 2 –
Formação das professoras supervisoras do PIBID Ciências Biológicas da 33
UFFS - Campus Cerro Largo....................................................................
Cronograma das sessões fílmicas.............................................................. 35
Quadro 3 – Sinopse dos filmes comerciais propostos nas sessões fílmicas................. 36
Quadro 4 – Organização mensal das ações pedagógicas dos Subprojetos PIBIDs da 39
UFFS - Campus Cerro Largo.....................................................................
Quadro 5 – Teses e dissertações com a temática Educação em Saúde no Ensino......... 46
Quadro 6 – Artigos com a temática Educação em Saúde no Ensino............................. 49
Quadro 7 – Teses e dissertações sobre o uso de filmes no Ensino de Ciências e/ou 58
Biologia.....................................................................................................
Quadro 8 – Artigos sobre o uso de filmes no Ensino de Ciências e/ou Biologia........... 58
Quadro 9 – Saberes docentes, segundo Tardif (2002).................................................. 70
Quadro 10 - Etapas e descrição do Modelo de Raciocínio Pedagógico e Ação 74
(MRPA), conforme Shulman...........................................................
Quadro 11 - Síntese dos períodos históricos e compreensões de saúde...................... 107

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 –
Figura 2 –
Figura 3 –
Figura 4 –
Figura 5 –
Cenas dos filmes comerciais propostos para discussão do tema saúde na 37
pesquisa.....................................................................................................
Modelo de Raciocínio Pedagógico e Ação (MRPA)................................ 74
Modelo de Conhecimento Profissional de Professor de Grossmann
76
(1990)........................................................................................................
Modelos de conhecimento de professor de Gess-Newsome (1999), 78
adaptado de Ussa (2007)...........................................................................
Estrutura trifásica do desenvolvimento cultural da 101
criança...............................................................................................

LISTA DE EPISÓDIOS
Episódio 1- A compreensão de saúde na formação inicial
Episódio 2 – Memórias dos licenciandos acerca dos conteúdos de saúde na escola
Episódios 3 – Compreensões dos modelos de saúde pelos licenciandos
Episódio 4 – Modelos de saúde: conhecimento ressignificado desde o processo interativo nas
sessões fílmicas
Episódio 5 – Questões sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis
Episódio 6 – Divertida Mente na formação inicial e continuada de professores
Episódio 7 – Diálogos constitutivos da compreensão de saúde no processo formativo
Episódio 8 – Diálogos sobre vida e morte no livro didático
Episódio 9 – As reflexões provocadas pelos filmes no processo formativo
Episódio 10 – Filme: instrumento para tomada de consciência das questões socioculturais
Episódio 11 – Reflexões sobre a produção do conhecimento científico e a ética nas pesquisas
Episódio 12 – A não neutralidade da Ciência
Episódio 13 - O pesquisador, o valor do conhecimento e o financiamento das pesquisas científicas
Episódio 14 - Saúde: não pensamos na complexidade do indivíduo, há várias questões interligadas

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO........................................................................................................................... 18
2 DELINEAMENTO DA PESQUISA.......................................................................................... 28
2.1 A VIAGEM NAS ÁGUAS FORMATIVAS: O PERCURSO DA PESQUISA........................ 28
2.1.2 O movimento das águas: cenário......................................................................................... 30
2.1.3 Participantes e percurso da pesquisa................................................................................... 33
2.1.4 Análise Microgenética e o paradigma indiciário - a busca pelos fragmentos e minúcias 40
do processo formativo....................................................................................................................
2.1.5 Preceitos éticos da pesquisa.................................................................................................. 42
2.2 EDUCAÇÃO EM SAÚDE E O USO DO CINEMA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 44
ÁGUAS QUE SE DESLOCAM......................................................................................................
2.2.1 Breve Revisão da Educação em Saúde e uso do cinema na formação de professores de 44
Ciências..................................................................................................................
3 REFERENCIAL TEÓRICO: PROCESSO FORMATIVO DE PROFESSORES DE
CIÊNCIAS DA NATUREZA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE MEDIADA PELO CINEMA:
ÁGUAS QUE SE ENCONTRAM................................................................................................ 63
3.1. PROCESSOS FORMATIVOS EM CONTEXTO: A FORMAÇÃO DOCENTE................... 63
3.1.1 Shulman: a relevância do conhecimento pedagógico de conteúdo no processo de 72
formação de professores................................................................................................................
3.1.2 Docência: águas que se deslocam.......................................................................................... 79
3.1.2.1 O professor reflexivo: limites e possibilidades no processo formativo............................... 82
3.1.2.2 Formação continuada e inicial de professores: a constituição de grupos de trabalho 85
colaborativo......................................................................................................................................
3.2 FORMAR É ENSINAR A LUTAR PELOS SEUS DIREITOS: 2016 - LUTAS E 91
CONQUISTAS NA EDUCAÇÃO...................................................................................................
3.2.1 O fluir das águas – processo formativo................................................................................. 97
3.3 O CONCEITO DE SAÚDE, AO LONGO DOS ANOS, NA ESCOLA.........
103
3.3.1 Saúde e promoção da saúde.................................................................................................. 109
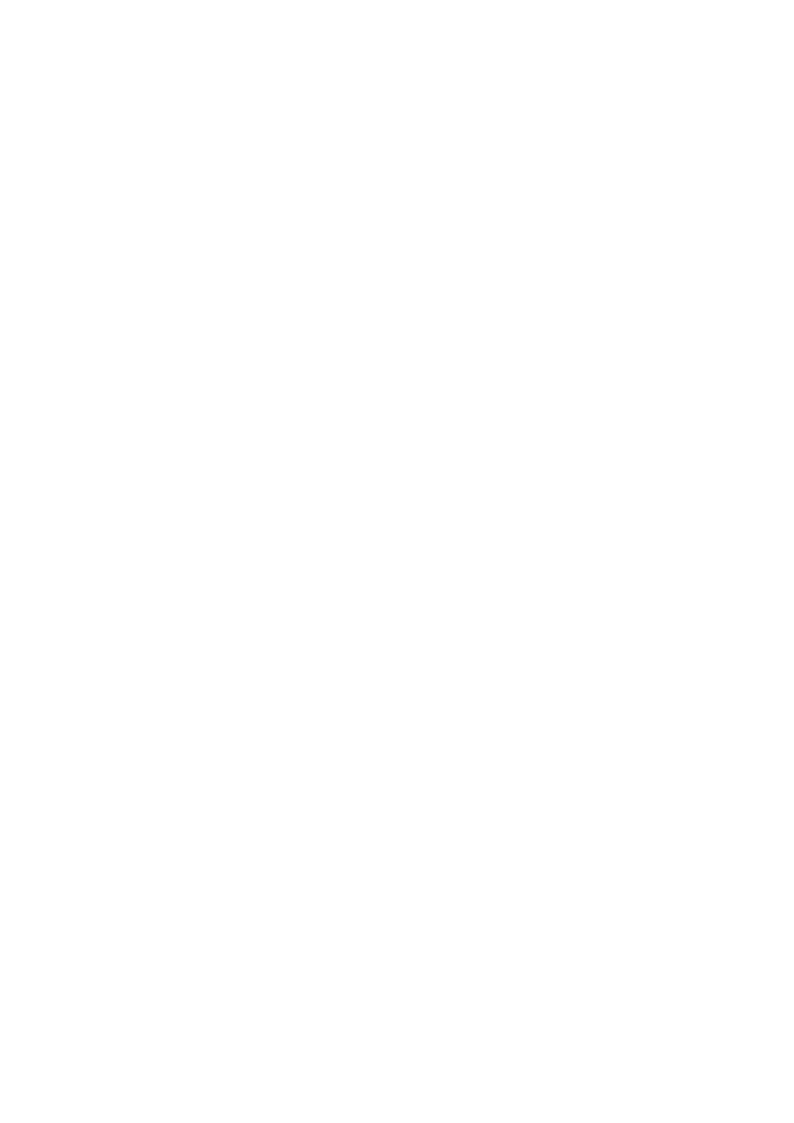
3.3.2 Educação em Saúde e a formação de professores.............................................................. 111
3.4 O CINEMA E EDUCAÇÃO: UM INSTRUMENTO DESAFIADOR NO PROCESSO 115
FORMATIVO DE PROFESSORES...............................................................................................
3.4.1 A relação entre cinema e ensino.......................................................................................... 117
4 ANÁLISE DAS APRENDIZAGENS PRODUZIDAS NAS SESSÕES FÍLMICAS PARA
EDUCAÇÃO EM SAÚDE, EM PROCESSOS FORMATIVOS: ÁGUAS QUE SE
MOVIMENTAM............................................................................................................................ 124
i – Evoluções das compreensões de Saúde e de Educação em Saúde no diálogo com os professores 125
em formação.....................................................................................................................................
ii) Filmes comerciais como instrumento de reflexões sobre questões curriculares no processo 146
formativo..........................................................................................................................................
iii - A produção do conhecimento científico e ética na pesquisa...................................................... 154
5 A CONSTITUIÇÃO DA DOCÊNCIA E SEUS IDEÁRIOS: CAMINHOS E
DESCAMINHOS DAS ÀGUAS, NA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE,
MEDIADA PELOS FILMES COMERCIAIS........................................................................... 160
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: O FINDAR DA VIAGEM PELAS ÁGUAS FORMATIVAS 174
REFERÊNCIAS............................................................................................................................. 179
ANEXOS........................................................................................................................................... 199
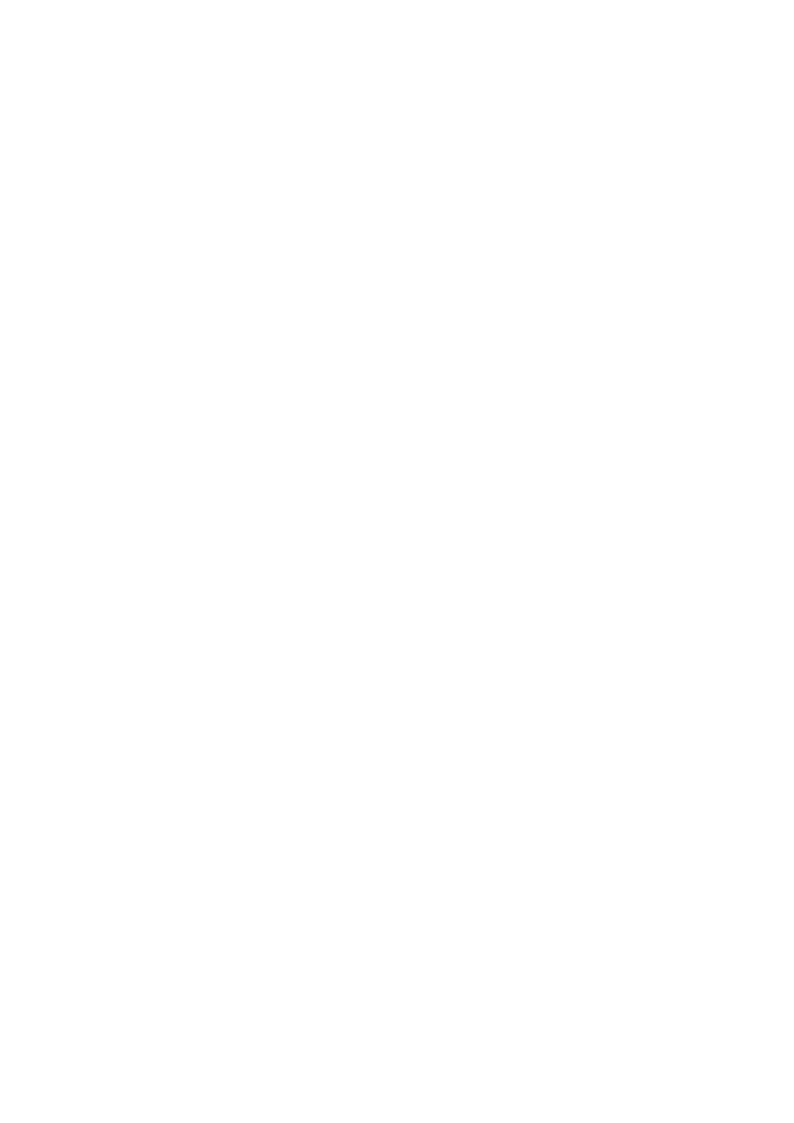

1 INTRODUÇÃO
A CONSTRUÇÃO DE UM OBJETO DE PESQUISA: A CONFLUÊNCIA DAS ÁGUAS
Ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez,
Pois quando isso acontece já não se é o mesmo,
Assim como as águas que já serão outras.
Heráclito de Éfeso
Justifico a escolha desta epígrafe para abrir minha escrita, por acreditar que, assim como
as águas de um rio1 nunca são as mesmas, nós, sujeitos professores, ao ingressarmos em um
processo de formação continuum2, ao estabelecermos diálogos com nossos pares, já não somos
mais os mesmos, pois nas interações postas ou determinadas pelo processo, emanam novas
possibilidades formativas estimuladas pelas experiências vivenciadas.
Assim, falar da formação de professores implica reconhecer as expectativas e os
desafios contidos na docência, e remete a pensar nos limites de um ensino pautado nas
necessidades reais dos professores e dos alunos. Significa repensar um ensino que rompa com
a perspectiva reproducionista, linear, dicotômica e do isolamento profissional. A docência é um
campo que enseja debates, transformações e tomada de decisões. Nesse aspecto, além de
reflexões sobre a profissão, as práticas pedagógicas, há de se pensar os conteúdos curriculares.
No ensino de Ciências, como apontam Martins (2017), Mohr (2002), Zancul e Costa (2012),
uma temática que merece estudos e reflexões é Saúde e a Educação em Saúde (ES).
A questão central da abordagem da ES na escola refere-se a sua apresentação como
mera ausência de doenças, numa visão biomédica, que pouco contribui com uma formação de
“hábitos saudáveis e na consolidação de uma visão mais ampla e crítica de saúde, no entanto,
para isso, os educadores necessitam ter formação e conhecimento suficientes” (ZANCUL;
1 Nesta tese a metáfora das águas será utilizada para articular reflexões em torno do tema da pesquisa. Águas
formam arroios, lagos, lagoas, rios e oceanos, se deslocam, são delimitadas, se relacionam, trazem sedimentos,
galhos, permitem deslocamentos humanos, alimentam, arrebatam e acalmam... Esta metáfora tem como intuito
provocar reflexões acerca dos caminhos, trajetos, dos lugares por onde passamos, nos espaços em que nos
constituímos professores, assim como águas de arroios, de riachos, que se encontram e desaguam em um rio maior;
nesses encontros e desencontros, as águas vão delineando um curso e, ao longo desse processo, encontram
obstáculos, turbulências, escassez de fauna e flora, calmarias, e águas repletas de vida. Como os rios, a docência
percorre um longo trajeto até encontrar o oceano e, durante essa viagem, é necessário para continuar o caminho
sinuoso: estudos, reflexões, pesquisas, interações entre pares para (re)pensar, (re)inventar e (re)encontar a docência
(CHAVES, 2013), pois, assim como as águas de um rio fluem, nada persiste nem permanece igual.
2 Ao pensar a formação de professores, tomo emprestada a expressão “continuum”, de Donald Schön (1983), que
concebe que a formação de professores é um processo contínuo, que está sempre acontecendo, e não acaba ao
concluirmos a graduação.

19
COSTA, 2012, p. 68). Nesse sentido, essa temática tem sido referência nas pesquisas de âmbito
nacional e internacional, nos últimos anos (CARVALHO; JOURDAN, 2014; MARTINS, 2017;
MOHR, 2002; VILAÇA, 2007).
Sobre o assunto, podemos inferir que a questão da ES precisa ser discutida e repensada
não só na escola, mas na universidade, pois o que há hoje são “professores mal preparados para
tratar a temática, pouca preocupação das Universidades e dos cursos de licenciatura na
formação dos licenciandos e falta de incentivo das escolas de ensino fundamental e médio”
(ZANCUL; COSTA, 2012, p. 68). Tais indicadores não permitem um entendimento de saúde
que perpassa pelas dimensões: biológica, social, econômica, política e ambiental.
Considerando o que foi explanado sobre os desafios da docência e da ES no ensino de
Ciências, busco apoio em Imbernón (2016, p. 19), quando discorro que para a qualidade no
campo educacional é necessário repensarmos nossa docência, a partir de um caráter mais
colaborativo e coletivo na formação, a fim de desenvolver “uma comunidade de prática
formativa, mediante os processos de investigação coletiva entre o professorado”.
Assim, para começar a viagem nas águas formativas que ora proponho nesta tese, não
poderia deixar de apresentar minha trajetória profissional, bem como minhas vivências,
crenças, experiências e indagações. Concordo com Nóvoa (1995, p. 26), ao afirmar que o
“diálogo entre professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da prática
profissional. Mas, a criação de redes colectivas de trabalho constitui, também, um fator decisivo
de socialização profissional”, e o “desenvolvimento de uma nova cultura profissional dos
professores passa pela produção de saberes e valores que deem corpo a um exercício autónomo
da profissão docente” (Id. Ibid.).
É nesse sentido que o trajeto formativo é sempre permeado por dúvidas,
questionamentos e incertezas. Quando ingressei na Universidade Federal da Fronteira Sul -
UFFS como professora, realizei atividades como: discussões com os pares, experiências como
formadora, Ciclos Formativos para o Ensino de Ciências e Matemática - UFFS, interações com
o PIBID, palestras para professores em formação continuada, trabalho nas escolas em interação
com os licenciandos e professores. Esse processo encontrou, nas marcas formativas da minha
atuação como professora da Educação Básica, questões que provocaram o alargamento da
discussão sobre Educação em Saúde. Esse tema mobilizou meus estudos para um referencial
pertinente, que propiciasse novas reflexões sobre a caminhada docente. Assim, identifiquei-me

20
com a matriz histórico-cultural de Vigotski3 (2008) para pensar, refletir e constituir-me como
professora, mas principalmente para compreender como ocorre a apropriação, significação e
construção do conhecimento pelos alunos (professores em formação), vislumbrando a
mediação, a interação entre e com o outro como constitutiva dos processos de aprendizagem.
Minha relação formativa com a Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS e o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) teve início muito antes de
ser docente na Instituição. Ainda como professora da Educação Básica, já participava da
formação continuada por meio dos Ciclos Formativos em Ensino de Ciências e Matemática
(atualmente na sua oitava edição), ação vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino
de Ciências e Matemática (GEPECIEM). Em 2012, atuei como supervisora voluntária do
PIBID Ciências. Após o ingresso na UFFS, auxiliei, na condição de professora colaboradora,
nas ações pedagógicas do referido subprojeto. De 2014 até janeiro de 2016, juntamente com
outro colega do Ensino de Biologia, passei a coordenar o subprojeto PIBID Ciências Biológicas
- UFFS.
Dentre os questionamentos e dúvidas no processo da minha constituição de professora
de Ciências e Biologia, um referia-se ao uso dos filmes nas salas de aula. Sobre esse tema,
algumas questões permearam meu pensamento. Por que um número significativo de professores
tem uma visão negativa acerca do trabalho pedagógico com filmes? Quais foram as
experiências com filmes durante minha formação inicial? Os filmes podem contribuir com o
ensino? Ao pensar sobre essas questões, percebi que elas têm um ponto em comum: a ausência
da discussão e do trabalho didático com esse instrumento durante a minha formação inicial.
Ao resgatar as memórias de estudante da Educação Básica, recordo que os professores
usavam os filmes em suas aulas, mas não havia um planejamento, uma discussão; após assisti-
los, eles eram utilizados para “tapar buraco” (MORAN, 1995), em virtude da ausência de um
professor ou para recuperar aulas em turno inverso; não havia proposição de debates ou
reflexões, apenas elaboração de uma síntese do que havíamos assistido. Durante a graduação,
não recordo de práticas pedagógicas com filmes. Nos primeiros anos de docência, na Educação
Básica, raramente utilizava filmes em minhas aulas, pela experiência que havia tido com eles
3 De acordo com Silva (2013, p. 12), “na literatura encontramos várias formas de escrever o nome de Vigotski
(Vigotski, Vigotskii, Vygotsky ou Vygotskij), essas variações estão relacionadas com a obra consultada”. Na tese
usarei a forma Vigotski.

21
como aluna e pelo pouco crédito que atribuía ao cinema 4, no processo de ensinar, pois entendia
que os filmes não tinham finalidades didáticas; e, quando o fazia, era para ilustrar um dado
conteúdo que estava sendo ministrado aos alunos.
Como águas que correm de arroios e riachos para um rio, que possibilitam novos
percursos e descobertas, o cinema atravessou o meu caminho. Esse encontro ocorreu quando
ingressei no mestrado de Ensino Científico e Tecnológico. A experiência com os filmes
comerciais possibilitou outro olhar e entendimento da mídia cinematográfica no ensino. Desde
então, os filmes têm sido na minha vida profissional um caminho cheio de maravilhas a
descobrir e entender.
Apoio-me em Larrosa (2015, p. 28), para expressar como esse encontro foi significativo
em minha formação, pois “podemos ser assim transformados por tais experiências, de um dia
para o outro ou no transcurso do tempo". O contato com o cinema é uma experiência única e
marcante, entendendo que experiência é “aquilo que ‘nos passa’, ou que nos toca, ou que nos
acontece, e, ao nos passar, nos forma e nos transforma. Somente o sujeito da experiência está,
portanto, aberto a sua própria transformação” (Id. Ibid.).
Foi a partir da experiência proporcionada durante as aulas da disciplina História da
Ciência Aplicada ao Ensino, que os filmes ganharam um novo significado na minha prática
docente, primeiramente para analisar e discutir as concepções de Ciência e dos cientistas
presentes nos enredos dos filmes, e agora para pensar a Educação em Saúde no contexto da
formação inicial e continuada de professores. Desde 2010, venho pesquisando o potencial de
filmes no Ensino de Biologia, desenvolvendo trabalhos com eles nas aulas de Práticas de Ensino
e Estágios, assim como oficinas em eventos científicos da área de ensino e em formações
continuadas.
A partir de então, busquei nos filmes comerciais um instrumento para o trabalho
pedagógico, pelo seu potencial em possibilitar debates e reflexões sobre vários aspectos de um
tema em sala de aula. Os filmes, geralmente, apresentam um contexto histórico-social, aspectos
éticos, presença de conceitos das diversas áreas do conhecimento, numa inter-relação dinâmica.
Não se trata, portanto, de mais uma “metodologia de ensino” fragmentada, linear, mas um meio
4 Ao longo do texto usarei a expressão cinema com a conotação para filmes comerciais.

22
que propicia novas abordagens e compreensões de situações complexas, potencializando a
percepção dos acontecimentos e contribuindo para a construção de significados.
Mas, outra questão também me incomodava no ensino de Ciências e Biologia: os temas
referentes à Saúde. Ao trabalhar a temática da educação sexual nas aulas, entre risos, cochichos
e olhares curiosos, os alunos estavam atentos para as explicações, era nítido o entusiasmo e
interesse deles. Porém, passados alguns meses, sentia-me frustrada ao deparar-me com alunas
adolescentes (14 - 16 anos) grávidas. Além dessa situação, havia as questões relativas à
alimentação saudável, que, apesar do esforço, parecia sensibilizar pouco os alunos para
melhorar seus hábitos. Ao vivenciar essas situações, um misto de sentimentos tomava conta de
mim, sentia-me arrasada e impotente. Onde estava o erro? Por que, mesmo com dedicação e
planejamento cuidadoso das aulas sobre saúde, os alunos permaneciam com seus
comportamentos iniciais?
Passados os anos, o contato com a literatura sobre Educação em Saúde e as discussões
com os pares permitiram uma nova compreensão do problema. A questão era maior, pois não
era restrita às minhas práticas, mas repercutia na minha formação. A minha base de
conhecimentos em saúde estava ancorada no modelo biomédico, em que saúde era
simplesmente a ausência de doenças. Desta maneira apresentava aos alunos a doença, sua
etiologia, tratamento e profilaxia, sem estabelecer conexões com outras questões como os
determinantes de saúde, o ambiente e o entorno em que viviam, ou seja, esse conhecimento
apresentado na escola não tinha sido significado pelos meus alunos, eles não compreendiam
todas aquelas informações como algo próximo da realidade deles. Minhas práticas estavam
centradas em prevenir doenças e não em promover a saúde. Dessa maneira, compreendo que o
que ensinava para eles não era interessante e pouco significado tinha para suas vidas. Nesse
contexto, fui percebendo pela literatura e diálogos com os alunos da licenciatura que não havia
essa preocupação de discutir e ensinar saúde pelo viés da promoção da saúde. Dessa forma,
decidi que, para contribuir com o processo formativo, era necessário investigar as compreensões
de saúde dos professores e instigá-los à tomada de consciência sobre outro ponto de vista de
saúde, mais amplo e complexo. E que uma forma de propiciar essas discussões era constituir
um grupo formativo, do qual participassem professores em formação inicial, em exercício e
formadores.
Portanto, para dar conta desse complexo objeto de pesquisa referente às compreensões
de Saúde e visão ampliada de Educação em Saúde, o processo formativo de professores torna-
se importante campo de análise, pois é durante esse período que os licenciandos, em interação

23
com os professores da escola e os formadores da universidade, têm contato com os
conhecimentos científicos, pedagógicos e socioculturais exigidos para a atividade docente.
Nessa perspectiva, reflito sobre a necessidade de mudanças e desenvolvimento de um
processo de formação inicial mais atento e crítico à prática docente, visto que é durante esse
momento que os futuros professores estarão em contato com os conhecimentos da sua futura
área de trabalho. Assim, torna-se importante que eles reconheçam e compreendam seus
entendimentos de Ciência e de Saúde, as quais irão nortear seu trabalho.
Assim, compartilho o pensamento de Carvalho e Gil-Pérez (2011), no sentido de que
é necessário rompermos com a educação transmissiva, descontextualizada e simplista do ensino
de Ciências, para avançarmos em direção a uma formação que contemple a reflexão
epistemológica e a autonomia profissional, que possibilite a apropriação do caráter social,
cultural e histórico da construção do conhecimento. Tomada por algumas angústias e na busca
de uma direção, sintetizo a problemática desta pesquisa na pergunta: Que aprendizagens de
educação em saúde são evidenciadas no processo formativo de professores de Ciências da
Natureza, mediadas pelo uso de filmes comerciais?
Desse modo, alguns objetivos foram delineados neste estudo:
Objetivo geral:
Investigar as implicações decorrentes de um processo formativo de professores de Ciências
da Natureza, mediado pelos filmes comerciais, para a constituição de aprendizagens sobre uma
visão ampliada de Educação em Saúde.
Objetivos Específicos:
- Identificar compreensões de saúde apresentam licenciandos e professores de Ciências
da Natureza em processo formativo.
- Caracterizar o trabalho colaborativo desenvolvido por professores de Ciências durante
uma formação em Educação em Saúde baseada no uso de filmes comerciais.
- Descrever a evolução das compreensões de professores de Ciências sobre Saúde e
Educação em Saúde durante uma formação em Educação em Saúde baseada no uso de filmes
comerciais.
- Analisar a evolução do desenvolvimento profissional docente durante uma formação
em Educação em Saúde baseada no uso de filmes comerciais.
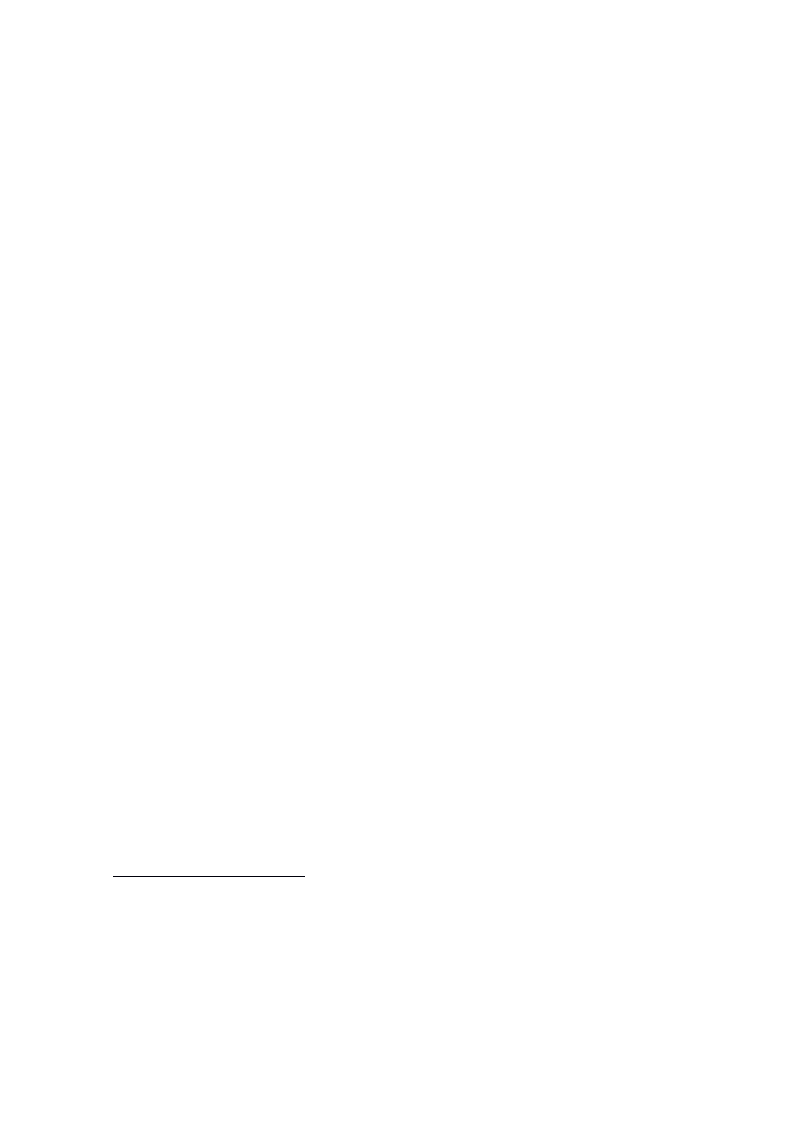
24
- Avaliar o papel da metáfora das águas, na constituição da pesquisadora reflexiva sobre
sua prática profissional.
Dessa forma, pensei nos filmes comerciais para criar situações de Educação em Saúde
em contextos formativos, a fim de investir numa formação articuladora e propiciadora de
diálogos ampliados e ressignificados na formação inicial e continuada, considerando a
constituição de docentes autônomos e autores do currículo da escola e da universidade.
No movimento de navegar e buscar outros caminhos formativos, a correnteza das águas
propiciou novas partidas e chegadas. Navegando pelo Rio Uruguai5, acabei chegando ao
Oceano Atlântico, afastei-me das águas próximas a Cerro Largo - RS, e iniciei uma nova
jornada, num estágio de Estudos Avançados (doutorado-sanduíche), na Universidade do Minho
(Braga - Portugal), buscando conhecer e compreender as políticas públicas sobre Saúde e ES
no ensino português, assim como as práticas pedagógicas sobre Saúde desenvolvidas nas
escolas.
De acordo com Mota (2011), Portugal integra a Rede Europeia de Escolas Promotoras
de Saúde (REEPS), desde 1994. A REEPS tem como princípio incluir a Educação para a Saúde
(EpS) no currículo e nas atividades de saúde escolar, a partir da premissa de que a promoção e
os estilos de vida saudáveis têm uma abordagem privilegiada no ambiente escolar, e os serviços
de saúde um importante papel na promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento, no que se
refere à saúde das crianças e à escolarização. No ano de 1997, Portugal iniciou suas atividades
para EpS com um projeto piloto, em que os Ministérios da Educação e da Saúde decidiram
alargar, criando condições, nomeadamente legislações e estruturas de apoio, para que os
profissionais de saúde e educação pudessem assumir a promoção da saúde na escola como um
investimento capaz de ser traduzido em ganhos para a saúde.
Para promover a EpS no espaço escolar, e fortalecer ações e o compromisso com a
formação de crianças e jovens, o governo português promulgou leis6 e decretos que visam
favorecer ações e tomadas de posições sobre atividades de EpS nas escolas, tendo como
5 O rio Uruguai separa os estados brasileiros de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de demarcar a fronteira
do Brasil com a Argentina e também desta com a República Oriental do Uruguai. Ele nasce no Brasil, com o nome
de rio Pelotas, e corre em direção ao interior do continente. Depois de receber as águas do rio Canoas, seu mais
caudaloso afluente, toma o nome de rio Uruguai. Dos seus 1.600 quilômetros de extensão, mais de 1.000 são em
território brasileiro. O rio Uruguai faz parte, com os rios Paraná e Paraguai, do sistema hidrográfico da bacia do
Prata. Disponível em: <https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/rio-Uruguai/483623 >. Acesso
em: 10 fev. 2018.
6 A EpS é referida pela primeira vez na Lei n°46/86 - Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE).
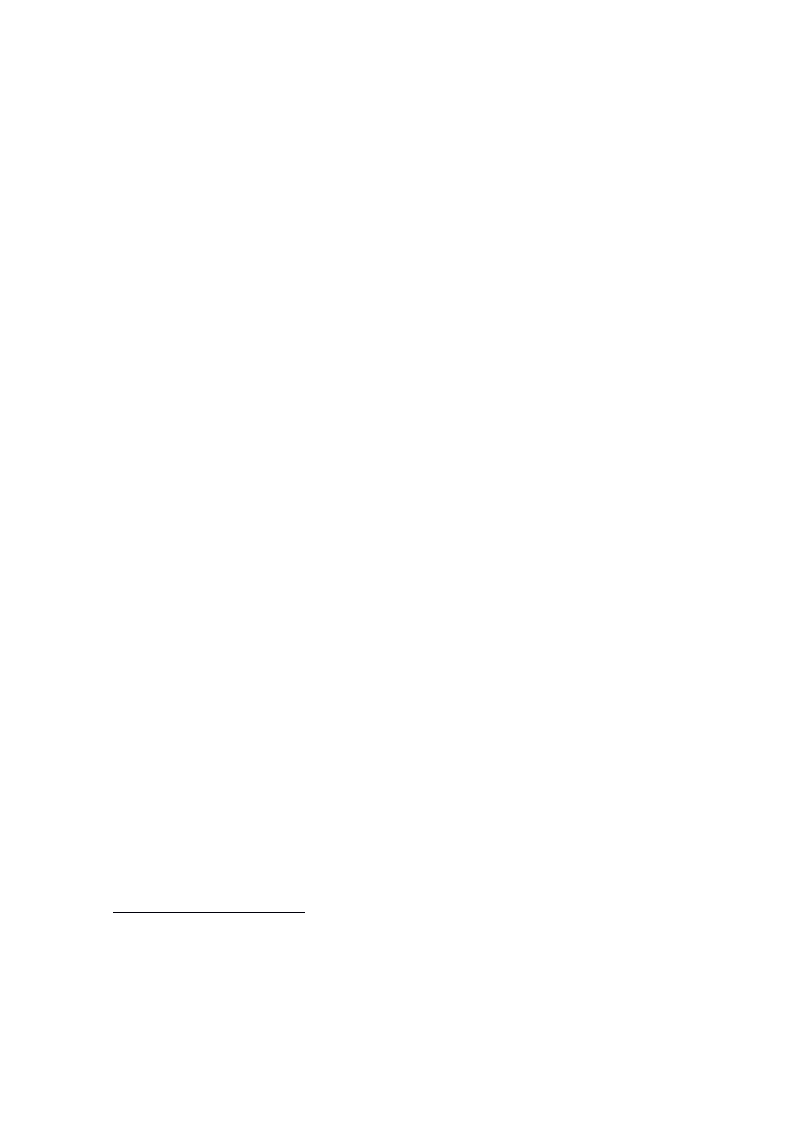
25
documento orientador o Health for all in the 21st century, documento da Organização Mundial
de Saúde (OMS). Assim, no Decreto-Lei n° 6/20017, é enunciado que a área da Educação para
a Saúde se enquadre nos princípios e prioridades definidos nos Projeto Educativos de Escola,
nos Projetos Curriculares de Escola e nos Projetos Curriculares de Turma. Nesse âmbito, devem
ser incluídas as seguintes temáticas nos Projetos Educativos da Escola: alimentação e atividade
física, consumo de substâncias psicoativas, sexualidade, infecções sexualmente
transmissíveis/VIH-SIDA, violência no meio escolar.
No Brasil, em 2007, foi instituído, pelo Decreto n° 6.286, o Programa de Saúde8 na
Escola (PSE), constituindo-se como proposição de uma política intersetorial entre os
Ministérios da Saúde e da Educação, que tem como objetivo ampliar as ações específicas de
saúde aos alunos da rede pública de ensino: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Rede Federal
de Educação Profissional e Tecnológica, Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2008b),
conforme expresso no documento Orientações sobre o Programa Saúde na Escola, para a
elaboração dos Projetos Locais (BRASIL, 2010). “O PSE será implantado por meio da adesão
dos municípios que já tiverem equipes de Saúde da Família, conforme as normas preconizadas
pela Política Nacional de Atenção Básica, articulados com os Estados e o Distrito Federal”
(BRASIL, 2009, p. 01).
Uma das metas do PSE é “tornar as escolas públicas brasileiras acessíveis a crianças e
adolescentes com deficiência, além da pertinência da participação solidária dos profissionais de
saúde na consecução desse objetivo” (BRASIL, 2009, p. 11). O PSE aponta algumas ações
estratégicas, a fim de proteger a saúde dos estudantes a partir da promoção: da alimentação
saudável, da atividade física, da educação para a saúde sexual e reprodutiva, da prevenção ao
uso do álcool, tabaco e outras drogas, da cultura de paz e prevenção das violências e acidentes.
A partir dessa breve abordagem, denota-se que ambos os programas têm perspectivas
diferentes, o que me faz pensar nas necessidades formativas e de um trabalho entre
Universidade, Escola Básica e governo (políticas públicas) que primem pela Educação em
Saúde no âmbito escolar, a partir de um trabalho conjunto e articulado entre escolas e equipes
7 PORTUGAL. Ministério da Saúde. Despacho nº 12.045, de 7 de junho de 2006. Diário da República, [S.l.], n.
110, 7 jun. 2006. Programa Nacional de Saúde Escolar.
8 Disponível em: <http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/21_12_2010_14.15.58.c850ebcbad4cb
38d23cd38a98b56b15c.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2017.

26
de saúde, numa perspectiva da promoção da saúde. Neste primeiro capítulo, foram
apresentadas: a problemática da pesquisa, os objetivos, a questão de pesquisa e as motivações
para o desenvolvimento da tese.
No segundo capítulo, é apresentada a metodologia, os instrumentos e o trajeto
percorrido na realização da tese. No item 2.2, é apresentada a revisão bibliográfica que realizei
acerca das pesquisas em âmbito nacional e internacional sobre Saúde, Educação em Saúde e
Cinema. Essa parte se justifica pela importância de (re) conhecer o que foi pesquisado e
publicado sobre o trabalho pedagógico com filmes comerciais para discutir e propor a ES, assim
como a preocupação dos pesquisadores em apontar os avanços ou não na apresentação e
desenvolvimento de práticas pedagógicas, que tratem a saúde como promoção e qualidade de
vida, ou ainda os fatores limitantes que contribuem para ausência de uma abordagem sistêmica
de Saúde na prática pedagógica docente.
Os referenciais teóricos sobre a formação de professores, Saúde e Educação em Saúde
e cinema para refletir e compreender as preocupações e desafios do processo formativo na
atualidade são apresentados no capítulo três. Dois dos temas escolhidos, ainda de acordo com
a literatura da área, são poucos explorados no ensino de Ciências da Natureza numa perspectiva
crítica e reflexiva, visto que o entendimento da comunidade escolar ainda é equivocado quanto
ao uso de filmes em sala de aula, assim como prepondera o ensino da Saúde com enfoque
biomédico. Outra questão abordada neste capítulo é referente às necessidades formativas dos
professores, que perpassam por questões como conhecimentos pedagógicos de conteúdos,
constituição de grupos colaborativos de trabalho, autonomia profissional e luta por uma
Educação de qualidade, a importância da constituição docente a partir de processos interativos
e mediados na perspectiva histórico-cultural.
No quarto capítulo, investi na pesquisa empírica, momento em que, como pesquisadora
integrante do processo com os demais, inicio a viagem pelas águas formativas. Neste capítulo,
discuto os indícios da compreensão de Saúde e Educação em Saúde no processo formativo, a
constituição docente em processos mediados pelos filmes comerciais, em sessões assistidas por
todos os participantes.
No quinto capítulo, A docência, seus ideários e constituição: caminhos e descaminhos
da formação em Educação em Saúde mediada pelos filmes, retorno às principais ideias, em
cada um dos pontos que me propus analisar e faço uma reflexão sobre os dados produzidos
nesta investigação. Apresento manifestações que revelam a emergência da compreensão

27
ampliada de Saúde e Educação em Saúde nos processos formativos e a importância do trabalho
colaborativo na formação de professores.

28
2 DELINEAMENTO DA PESQUISA
2.1 A VIAGEM NAS ÁGUAS FORMATIVAS: O PERCURSO DA PESQUISA
Apresento, neste capítulo, o percurso metodológico, ou seja, a viagem realizada no rio
formativo, que caracterizou a pesquisa no campo empírico e permitiu a organização das
ferramentas de investigação. Os percursos sinuosos e os espaços, em que a formação docente
ocorre, demarcaram os cursos escolhidos, a fim de impulsionar a busca de novos trajetos e
respostas para a questão de pesquisa. Desta forma, retomei as intenções do trabalho, pois, assim
como Vigotski (2008), compreendo que o processo de se constituir professor, as demandas e os
caminhos para aprimorar o fazer docente perpassam pela tomada de consciência do indivíduo
e das relações que ele estabelece com seus pares, na busca “de conhecimentos e saberes
existentes no acervo cultural da humanidade” (CHAVES, 2013, p. 44).
A investigação desenvolvida é uma pesquisa em Educação, com recorte na Educação em
Ciências, de cunho qualitativo, conforme subsídios teóricos de Lüdke; André (2001),
assumindo a perspectiva histórico-cultural (VIGOTSKI, 2008), como base teórica e
metodológica do estudo.
Uma pesquisa qualitativa em educação, de acordo com Lüdke; André (2001), é aquela
que parte do estudo da experiência humana, da interação, da interpretação e dos sentidos
atribuídos pelas pessoas aos dados. Para elas, a pesquisa qualitativa tem cinco características:
a) a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o
pesquisador como seu principal instrumento; b) os dados coletados são
predominantemente descritivos; c) a preocupação com o processo é muito maior do
que com o produto; d) o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são
focos de atenção especial pelo pesquisador; e) a análise dos dados tende a seguir um
processo indutivo ( LÜDKE; ANDRÉ, 2001, p. 12).
Bogdan; Biklen (1994, p. 16) propõem que a investigação qualitativa agrupa diversas
estratégias de pesquisa, em que os dados são designados por qualitativos, porque são “ricos em
pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e de complexo tratamento
estatístico. As questões a investigar não se estabelecem mediante a operacionalização de
variáveis”. Neste tipo de trabalho investigativo, o objetivo da pesquisa está na sua
complexidade, na compreensão dos comportamentos a partir das perspectivas dos sujeitos.
Tanto Bogdan; Biklen (1994) quanto Lüdke; André (2001) consideram que a observação e a

29
entrevista em profundidade constituem um dos principais instrumentos de coleta de dados, por
permitir ao investigador um maior contato e interação com os sujeitos.
Compreendendo a importância da pesquisa qualitativa em Educação e da investigação e
análise do processo nos seus pormenores, busquei, no arcabouço teórico, a matriz de Vigotski
(1929, 2008). Esta escolha considerou a afirmação de que o homem é um ser que se constitui,
se apropria e elabora conhecimentos, sempre mediados pelo outro, na e pela linguagem e
interações sociais, que perpassa tanto a sua obra quanto a de seus seguidores contemporâneos,
no Brasil, como: Goés (2000, 1995), Fontana (1995), Maldaner (2000), Pino (2005), Silva
(2013) e Smolka (2000,1995).
Dessa maneira, optei pelo método experimental de Vigotski (1929, 2008), que propõe três
princípios: (1) processo, em que a análise implica considerar as mudanças do desenvolvimento
humano, partindo da história das funções mentais superiores; (2) abordagem metodológica
explicativa e não meramente descritiva, para revelar as relações dinâmicas, reais das relações
internas constitutivas dos fenômenos humanos e, (3) comportamentos automatizados, que têm
na análise das origens um papel fundamental, visto que o processo é histórico e cultural. Assim,
“Vigotsky estabelece dois processos básicos desta metodologia: a unidade de análise e o
princípio explicativo, processos esses que articularão teoria e método” (MARTINS; 1994, p.
289). Vigotski define que os conceitos não são “uma formação isolada, fossilizada e imutável,
mas uma parte ativa do processo intelectual, constantemente a serviço da comunicação, do
entendimento e da solução de problemas. O novo método centra na investigação e nas condições
funcionais da formação de conceito” (2008, p. 67).
Fundamentada nesses princípios, Fontana (1995, p. 128-129) denominou esse método de
intervenção experimental, em que “uma nova questão surgiu a partir dessa opção: como
encaminhar a vivência experimental da mediação pedagógica que é espaço próprio do professor
na ‘relação de ensino?” E ainda, “como adentrar as ‘relações de ensino’ em curso na sala de
aula, tornar-se parte dela e participar [...]”. Diante desses questionamentos, Fontana (1995)
apresenta a necessidade de uma atuação conjunta entre a professora da turma e a pesquisadora,
para pensar uma prática pedagógica compartilhada, pois compreende que a interação, nesse
movimento, para ser pesquisada e analisada, precisa da intervenção do pesquisador.
Para tanto, busquei trazer à tona os entendimentos de Saúde e Educação em Saúde
apresentados pelos professores em processo formativo, nas respostas ao questionário
semiestruturado, dimensionado em dois tópicos principais: i) caracterização dos sujeitos quanto
à idade, sexo, nível de estudo, tempo de trabalho, entre outras informações pessoais; ii) questões

30
relativas às compreensões dos sujeitos sobre saúde e Educação em Saúde (ANEXO 01). Ao
final do oitavo mês da pesquisa, após as sete sessões fílmicas com o grupo, um questionário foi
novamente respondido pelos participantes (ANEXO 03). Ainda foi realizado um encontro focal,
a fim de triangular as compreensões iniciais e os conhecimentos produzidos nas interações
ocorridas nas intervenções no grupo.
Assim, foi criado o contexto do método experimental, descrito por Vigotski (1929,
2008), por meio da constituição de um grupo de estudos, para estabelecer interações entre
professores-pesquisadora, professores-licenciandos, pesquisadora-licenciandos, que permitiu
“uma atuação sobre a realidade para conhecê-la e transformá-la em suas condições de
produção” (FONTANA, 1995, p. 128).
No próximo tópico, apresento uma contextualização do cenário que compõe a amostra
e os sujeitos participantes desta pesquisa, pibidianos do Subprojeto PIBID Ciências Biológicas
da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Cerro Largo – RS, que contribuíram para o
deslocamento das águas do rio (pesquisa).
2.1.2 O movimento das águas: cenário
Busco construir, neste tópico, alguns caminhos que julgo relevantes para contextualizar
o leitor acerca da Instituição, do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura e do Subprojeto
PIBID Ciências Biológicas da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Cerro Largo/RS.
A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), instituição multicampi, nos três
estados do Sul (Rio Grande do Sul - RS, Santa Catarina - SC e Paraná - PR), é resultado do
acúmulo de lutas dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada e foi implantada por
meio da Lei Federal nº 12.029/2009. Legitima-se como instituição pública estatal e consolida-
se no contexto das políticas de expansão e interiorização do Ensino Superior. Nesse contexto,
a IES assume o compromisso de ser uma Universidade Pública e Popular, buscando integração
orgânica em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, ofertando graduações nos seis
campi: Cerro Largo/RS, Erechim/RS, Passo Fundo/RS; Chapecó/SC, Laranjeiras do Sul/PR e
Realeza/PR.
Destaca-se que essa região apresenta um déficit na formação de professores que atuam
na Educação Básica; em decorrência, os cursos de licenciatura oferecidos pela UFFS foram
criados a partir dessa demanda e, para supri-la, em todos os campi são oferecidas licenciaturas
(PPI - UFFS, 2011).

31
Quando iniciaram as atividades da UFFS na cidade de Cerro Largo, ofereceu-se o curso
de graduação era em Ciências: Biologia, Física e Química - Licenciatura. No segundo semestre
de 2012, o referido curso foi objeto de reestruturação curricular. Dessa forma, ocorreu a
separação em três outros cursos de licenciatura: Ciências Biológicas, Física e Química. Em
2013, houve o ingresso da primeira turma do curso integral de Ciências Biológicas -
Licenciatura, com oferta de sessenta vagas para a graduação. O curso tem como demanda
alunos oriundos de camadas populares, essencialmente egressos de escolas públicas de Ensino
Médio; o processo de seleção de candidatos para provimento de vagas ocorre via Sistema de
Seleção Unificada (SISU), do Ministério da Educação (MEC), que é efetuado exclusivamente
com base nos resultados obtidos pelos candidatos no ENEM - Exame Nacional do Ensino
Médio (PCC - UFFS, 2012).
Em 2011, visando atender à Política Nacional de Formação Profissional do Magistério
da Educação Básica, houve a institucionalização do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID) 9na UFFS, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES). Assim, em 2011-2014, iniciaram no Campus Cerro Largo
as atividades do PibidCiências e, em 2014-2018, o PibidCiências Biológicas. Desde sua
primeira edição, o programa de iniciação à docência tem apresentado excelentes resultados
formativos (GÜLLICH; BOSZKO, 2014; DATTEIN et al., 2014), pois, além de se configurar
como uma estratégia de permanência e garantia de formação qualificada de professores,
possibilitou aos acadêmicos bolsistas a iniciação à docência na área de formação, desde o início
de graduação, assim como o conhecimento do contexto escolar, além de articular e estreitar as
relações com a Escola Básica (PIBIDCIÊNCIAS BIOLÓGICAS - UFFS, 2014).
Na literatura nacional despontam pesquisas que buscam identificar os impactos do
PIBID na formação de professores, e investigar as contribuições do programa na construção da
prática docente de futuros professores e dos professores em exercício. Falcão; Medeiros e Farias
(2014) afirmam que as experiências vivenciadas no programa estão contribuindo com o
processo formativo de professores em formação inicial e continuada. Os autores destacam,
ainda, que não há estudos que indicam o PIBID como “possibilidade de formação para o
professor de nível superior” (2014, p. 03089). Os resultados da pesquisa de Dominschek; Alves
(2017, p. 624) apresentam o PIBID como uma “política pública estruturada que valoriza e
9 Lançamento da primeira Chamada Pública MEC/CAPES/FNDE no 01/2007, publicado no DOU, em 13/12/2007.
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=15944>. Acesso em: 20 mar. 2018.
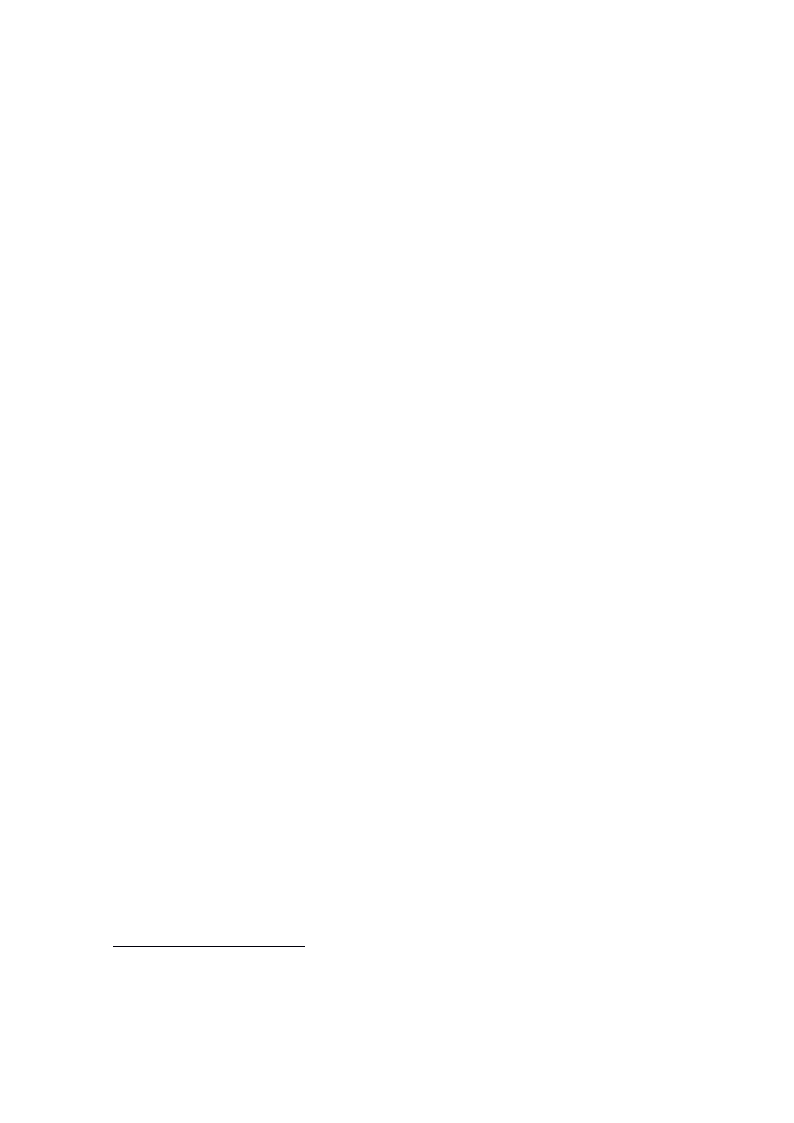
32
fortalece a formação docente, traz melhorias em relação à qualidade nas escolas de rede pública,
integrando as universidades e escolas, propicia a formação continuada dos professores da IES
e dos Supervisores”. Nesta pesquisa de Dominschek; Alves (2017), já se identifica um novo
dado, que é a discussão do processo formativo do professor das IES, professor coordenador do
projeto PIBID. Costa (2017) cita que a inserção de licenciandos (as) no programa possibilita
reflexão, investigação e construção de conhecimentos próprios da docência. A participação no
PIBID é apontada como uma experiência que contribui com a identificação profissional,
aproximação do contexto escolar, com a formação e atuação profissional (CAVALCANTE,
2018). Em ambas as pesquisas são apresentados os pontos positivos do programa em relação à
formação docente, mas também alguns aspectos negativos, como: falta de espaço para
acomodar os bolsistas na escola, supervisores sem contribuir nas ações dos projetos;
planejamento reduzido ou inadequado com a proposta formativa a ser desenvolvida nas escolas
parceiras, entre outras questões. Porém, os autores são unânimes em afirmar que o PIBID é uma
política pública, que valoriza e fortalece a formação docente e a construção da identidade do
futuro professor.
Essas relações estabelecidas por meio do PIBID e a escola se caracterizam como uma
via de mão dupla, por possibilitar uma troca de conhecimentos e saberes entre os sujeitos
envolvidos no processo; nesse sentido, destaco a afirmação garimpada no diário de bordo de
dois licenciandos acerca do programa: “[...] comecei então a refletir... Como era a Lis10
professora antes do PIBID e a Lis professora depois do PIBID? Foi aí que percebi as mudanças
que o programa ocasionou, não só na educação dos lugares em que ele está inserido, mas as
mudanças que o programa ocasionou em mim, no meu modo de pensar, nas minhas ações” (Lis
- DB, 2016). A inserção no PIBID, as práticas de ensino e as ações pedagógicas demandadas
pelo programa foram as molas propulsoras da escolha da docência como caminho profissional
almejado por Lorenzo: “[...] hoje, sem sombra de dúvida, pela primeira vez na vida sinto muito
orgulho do que estou fazendo. Apesar de ter pensado apenas na biologia, num primeiro
momento, é a licenciatura, o PIBID e as práticas de ensino que detêm maior fascínio e é por
elas que eu mais me dedico” (Lorenzo - DB, 2016).
10 Nesta tese, os participantes da pesquisa foram nomeados com nomes fictícios, a fim de resguardar o anonimato
e a sua identificação. Os licenciandos bolsistas receberam nomes que iniciam com a letra “L”, como por exemplo:
Lis, Luan, Larissa, Lucas. A forma como são indicadas as falas, os turnos e a identificação estão explicitados neste
subcapítulo no item 2.1.5.
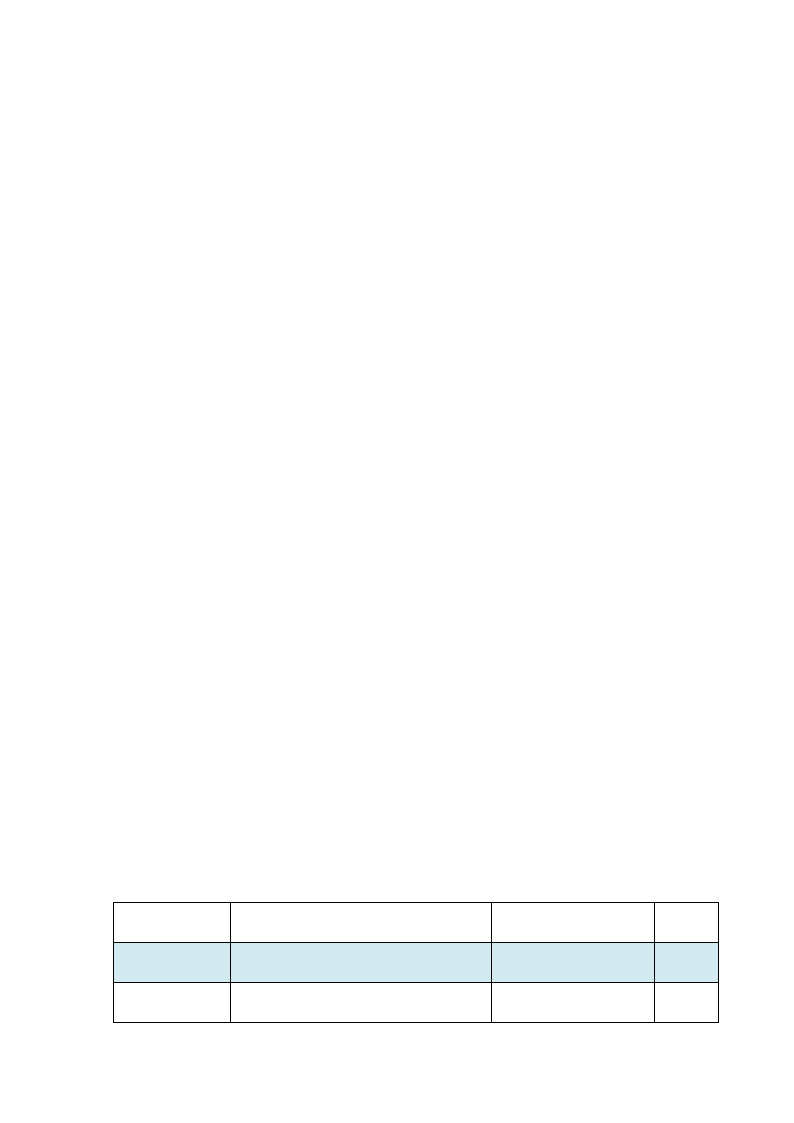
33
Por meio desses registros, afirmo a importância do PIDIB na vida acadêmica e pessoal
dos bolsistas, das escolas e da universidade. Na leitura dos diários de bordo, são encontradas
minúcias desse processo de formação, que expressam as marcas nos sujeitos que participam do
PIBID, as quais contribuem significativamente para um fazer e saber mais comprometido com
um ensino de qualidade.
2.1.3 Participantes e percurso da pesquisa
Uma pesquisa não se faz sozinha, sem colaborações e interações, como um estuário que
é composto pelo encontro das águas e é rico em nutrientes. Essa investigação contou com a
participação de um grupo de estudos, constituído em processo colaborativo, por professores em
formação: vinte e seis licenciandos do curso de graduação em Ciências Biológicas da
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus Cerro Largo, que integram o Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, subprojeto PIBID Ciências Biológicas; três
professores formadores (2 coordenadores do projeto e um professor voluntário no
acompanhamento das ações do Pibid), cinco (05) professoras supervisoras do PIBID da escola
pública de ensino.
Em relação ao perfil dos sujeitos da pesquisa, os três professores formadores atuam no
curso de graduação em Ciências Biológicas - Licenciatura na área de Prática de Ensino e
Estágio Supervisionado, em regime de 40 horas com dedicação exclusiva, dois doutores e
um doutorando, todos com experiência docente na Educação Superior de 1 a 15 anos. As
professoras supervisoras do PIBID atuam em Escolas da Educação Básica do município, no
nível fundamental e médio, nos componentes curriculares de Ciências e Biologia, em regime
de trabalho que varia de 20 a 40 horas semanais. Três delas atuam em apenas uma escola, uma
leciona em duas e a outra em três escolas. Todas possuem especialização, sendo professoras
que exercem a atividade docente em sala de aula de 13 a 28 anos. A formação das professoras
supervisoras é apresentada no Quadro 01.
Quadro 01 – Formação das professoras supervisoras do PIBID Ciências Biológicas da
UFFS - Campus Cerro Largo
Professoras
supervisoras
Formação inicial
Especialização – lato
sensu
Tempo
serviço
Supervisora 1
Licenciatura curta em Ciências e plena em Interdisciplinaridade
Matemática
13 anos
Supervisora 2
Licenciatura plena em Ciências Biológicas
Biologia da Conservação 17 anos
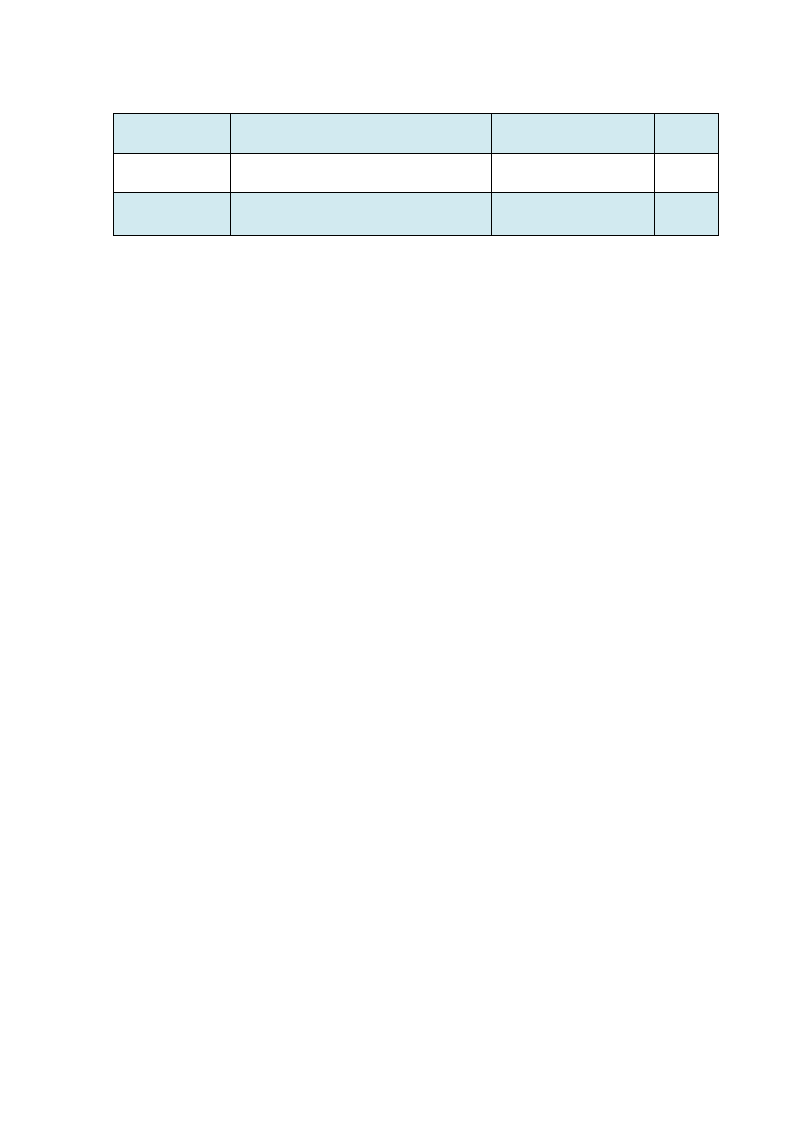
34
Supervisora 3
Supervisora 4
Supervisora 5
Licenciatura e Bacharelado em Ciências Educação Ambiental
Biológicas
Licenciatura curta e plena em Ciências Biologia
Biológicas
Licenciatura curta em Ciências Biológicas e Interdisciplinaridade
Matemática, Plena em Ciências Biológicas.
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
23 anos
26 anos
28 anos
Os licenciandos bolsistas PIBID pertencem a diferentes fases do curso de Ciências
Biológicas (3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª), o grupo era composto por 17 participantes do sexo feminino
e 9 do sexo masculino, com idades entre 18 e 25 anos. Dos 26 bolsistas, 5 eram do PPC de
2012, quando as vagas do curso eram ofertadas no período noturno e os outros 21 estão no PPC
de 2014, quando o curso passa a ser turno integral.
Quanto à organização dos diferentes instrumentos coletados, nomeio: o questionário
inicial por QI e o questionário final por QF, o Diário de Bordo por DB, o grupo focal por GF,
as sessões fílmicas por 1ª SF, 2ª SF e assim sucessivamente. Ainda, os episódios são descritos
por turnos T1, T2, etc. No decorrer da tese, as reflexões dos encontros e as escritas dos diários
de bordo dos participantes estão apresentadas em itálico e entre aspas, com letra em tamanho
11.
Conforme Ana Maria Pessoa de Carvalho (2011, p. 35), há divergências entre os
pesquisadores da área em relação à correção dos erros de concordância. Nesse sentido há um
grupo que defende um posicionamento ético em que “um profissional estar analisando outro
profissional, quase sempre colegas, e ainda a diferença existente entre linguagem falada e a
escrita, acha necessário que pequenas correções gramaticais sejam feitas na apresentação dos
dados”, já que não devemos expor ao ridículo os participantes. Dessa forma, nas transcrições,
foram preservados os conteúdos e realizadas pequenas correções ortográficas referendadas
como obrigatórias, na norma culta da Língua Portuguesa.
O percurso da pesquisa ocorreu da seguinte maneira: realização de sessões fílmicas, em
que foram apresentados e debatidos filmes comerciais, os quais abordavam o tema saúde, para
compreender e tensionar os entendimentos de Saúde e Educação em Saúde dos participantes da
pesquisa. Para tanto, foram propostos, inicialmente, seis filmes para as discussões e obtenção
dos dados.
Nos três primeiros encontros, um em cada mês subsequente, a pesquisadora ficou
responsável pela escolha dos filmes a serem assistidos; os três encontros seguintes ficaram sob
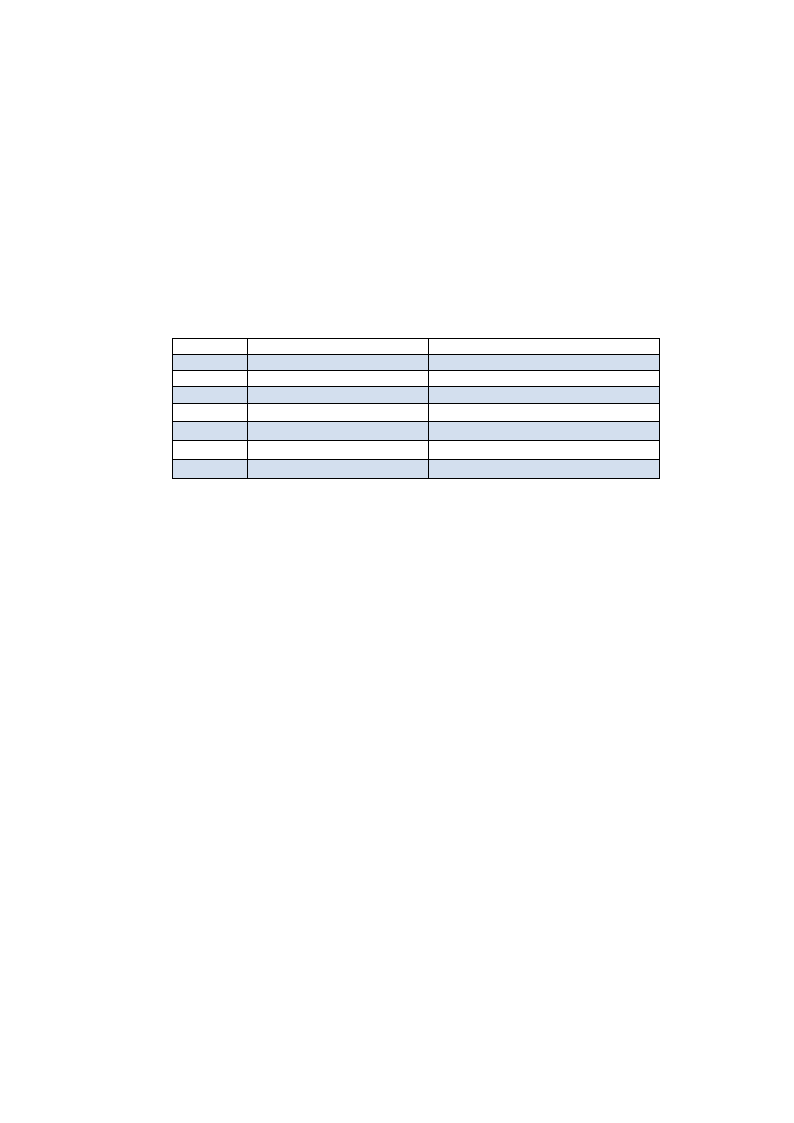
35
responsabilidade do grupo, que selecionou e encaminhou a atividade com os filmes. A intenção
desse encaminhamento foi motivar e instigar a interação. Após cada exibição, o grupo discutia
os seus entendimentos acerca da temática em questão (saúde e educação em saúde), as
possibilidades e dificuldades do trabalho pedagógico com filmes, entre outras questões. Estas
questões foram audiogravadas e posteriormente transcritas. No Quadro 02, observa-se o
cronograma de organização das sete sessões fílmicas. Inicialmente, apenas seis tinham sido
programadas.
Quadro 02 – Cronograma das sessões fílmicas
Data
19/04/2016
17/05/2016
21/06/2016
05/07/2016
16/08/2016
18/10/2016
22/11/2016
Filme selecionado
A vida de Louis Pasteur (1937)
O Curandeiro da Selva (1992)
O Óleo de Lorenzo (1993)
O Jardineiro Fiel (2005);
O Físico (2013)
Uma Prova de Amor (2009)
Divertida Mente (2015)
Responsável pela escolha
Pesquisadora
Pesquisadora
Pesquisadora
Professores Formadores
Professores Supervisores Bolsistas Pibid
Licenciandos Bolsistas Pibid
Pesquisadora
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
Em decorrência das discussões e provocações emergidas, no grupo formativo, senti a
necessidade de realizar mais uma sessão, em que escolhi um filme, que trata da saúde mental e
das emoções na formação da criança e do adolescente, o que poucas vezes é tematizado na
escola. Para esse encontro, selecionei a animação Divertida Mente (2015), que é um “convite à
reflexão na medida em que possibilita a percepção de sentimentos, emoções e conflitos
inerentes ao processo de desenvolvimento psíquico do sujeito”, assim como, “[...] desperta
emoções e ao mesmo tempo aponta para discussão de princípios e valores presentes na
educação” (SCHORN; SANTOS, 2016, p. 7). No Quadro 03, ainda apresento as sinopses dos
filmes propostos para estudo, assistidos e analisados pelos participantes do grupo. Na sinopse,
é possível identificar do que trata cada filme, pois em cada um deles aspectos diferenciados da
saúde são abordados, tais como: história da ciência, identificação dos microrganismos como
causadores de doenças e forma de diminuir a infecção; relação entre conhecimento tradicional
e científico, manipulação de informações e monopólio da indústria farmacêutica, descaso com
a vida e o direito à saúde pública de qualidade no continente africano, AIDS, a história da
medicina, direito à vida e morte, relações familiares e determinantes sociais, saúde mental e
emocional.
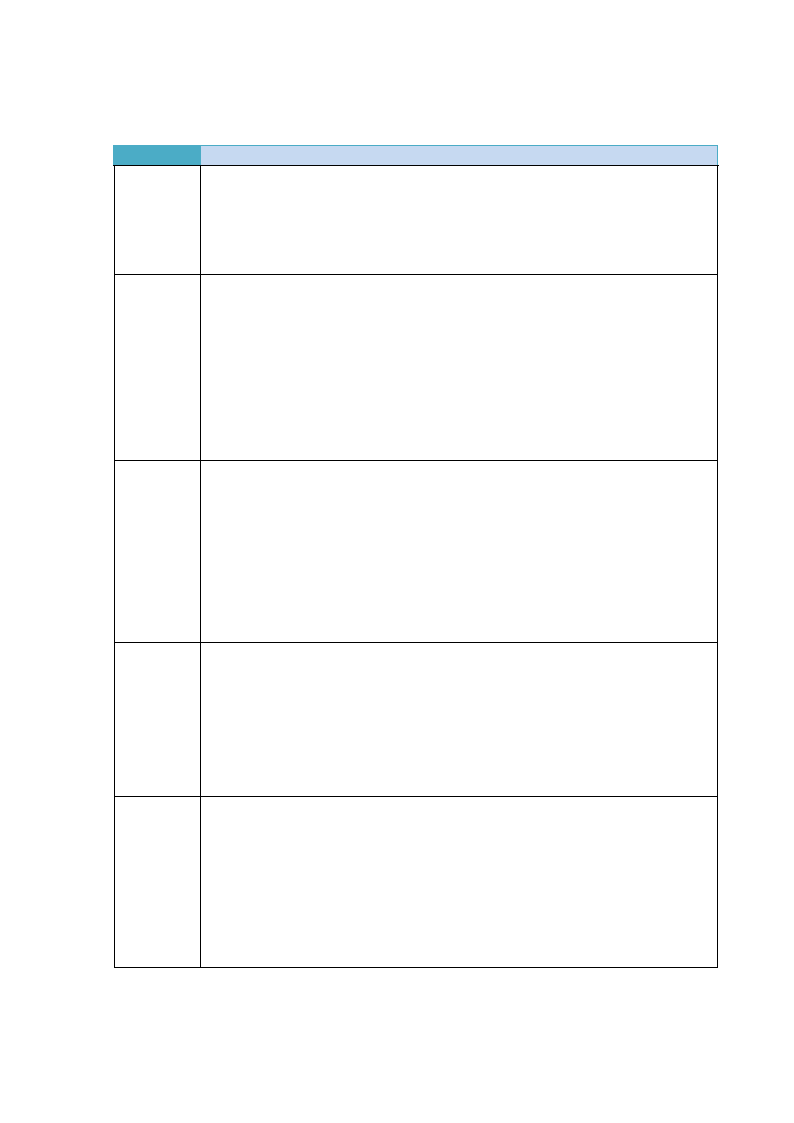
36
Quadro 03 – Sinopse dos filmes comerciais propostos nas sessões fílmicas
Filme
Sinopse
A vida de
Louis
Pasteur
(1937)
O filme aborda a vida e pesquisas do químico Louis Pasteur na área da microbiologia. Pasteur
estabeleceu noções básicas de esterilização e assepsia, como prevenção de contaminações e
infecções nas cirurgias e obstetrícia, pois ao final do século XIX, as mulheres morriam de febre
do parto, decorrentes da falta de assepsia das parteiras e médicos. Teve papel importante no
controle do “carbúnculo”, no rebanho ovino da França, e contribuiu com pesquisas na cura e
tratamento da hidrofobia.
O
Curandeiro
da Selva
(1992)
O filme aborda a pesquisa de Robert Campbell (Sean Connery), um cientista, que transfere seu
laboratório para o interior da floresta amazônica. Depois de três anos de total silêncio, ele pede
uma assistente e um cromatógrafo a gás, sem dar maiores explicações. Na verdade, ele
aparentemente encontrou a cura do câncer, mas não consegue duplicá-lo em laboratório. A
chegada de Rae Crane (Lorraine Bracco), uma bioquímica que veio dos Estados Unidos para
auxiliá-lo em seu trabalho e tentar entender o que acontece. O Laboratório Aston, que patrocina
o projeto, nunca recebe relatório de gastos e descobertas e Crane torna-se juiz e júri, que pode
acabar com a verba para a pesquisa de Campbell. Esta situação provoca choque de
personalidades, que gradativamente é transformado em respeito mútuo. Juntos eles tentam
entender por qual motivo o soro, que aparentemente tem origem na bromélia, uma flor que só
cresce lá há trinta metros do solo, não consegue ser sintetizado.
O Óleo de
Lorenzo
(1993)
O filme apresenta a história real da família Odone. O casal descobre que seu filho Lorenzo de
oito anos de idade, tem uma doença rara e degenerativa, diagnosticada como
adrenoleucodistrofia (ADL), que provoca uma incurável degeneração do cérebro, levando o
paciente a morte em pouco tempo. Após a descoberta dessa doença em Lorenzo, seus pais
acabam vivenciando a frustração da falta de medicamentos para a doença e o fracasso dos
médicos. A partir dessa constatação eles começam a estudar e pesquisar sozinhos na esperança
de encontrar alguma substância que pudesse amenizar ou conter o avanço da doença. Depois de
muitos estudos, os pais de Lorenzo descobriram um óleo, que não curava efetivamente a doença,
mas que estagnava a mesma. Com o uso desse óleo, Lorenzo não voltou ao seu estado normal,
apenas paralisou a doença e através de diversos tratamentos conseguiu melhoras significativas.
O Jardineiro
Fiel (2005);
O filme conta uma história de amor entre um diplomata britânico, Justin Quayle (Ralph
Fiennes), e uma defensora dos direitos humanos, Tessa (Rachel Weisz). Justin está de partida
para a África (Quênia), um continente afetado por uma pobreza terrível, e Tessa pede pra ir
junto, partem rumo à outra realidade. Lá, logo faz amizades, engravida e começa a se envolver
com questões delicadas: empresas farmacêuticas que atuam no continente usando africanos
como cobaias de um novo remédio e que pode estar matando milhares de pessoas. Ao descobrir
o esquema e os envolvidos da rede, Tessa acaba sendo morta. Justin com ajuda de amigos
continua as investigações da esposa e desmantela o esquema, mas tem o mesmo destino de
Tessa.
O Físico
(2013)
O filme o Físico é baseado no livro do jornalista Noah Gordon. Na Inglaterra, no século XI, o
pequeno Rob vê sua mãe morrer vítima da “doença do lado”. O garoto cresce sob os cuidados
de Bader (Stellan Sarsgard), o barbeiro local, que vende bebidas para cura de doenças. Ao
crescer, Rob (Tom Payne) aprende tudo o que Bader sabe sobre cuidar de pessoas doentes, mas
ele sonha aprender muito mais. Então descobre que, na Pérsia, há um médico famoso, Ibn Sina
(Ben Kingsley), que coordena um hospital. Algo impensável na Inglaterra. Para aprender com
ele, Rob aceita fazer uma longa viagem rumo à Ásia e para isso esconde o fato de ser cristão, já
que apenas judeus e árabes podem entrar na Pérsia. Rob chega ao seu destino e fica ainda mais
fascinado com o que vê. Quando conhece o grande médico Ibn Sina, a afinidade acontece de
imediato e logo se torna seu seguidor constante.
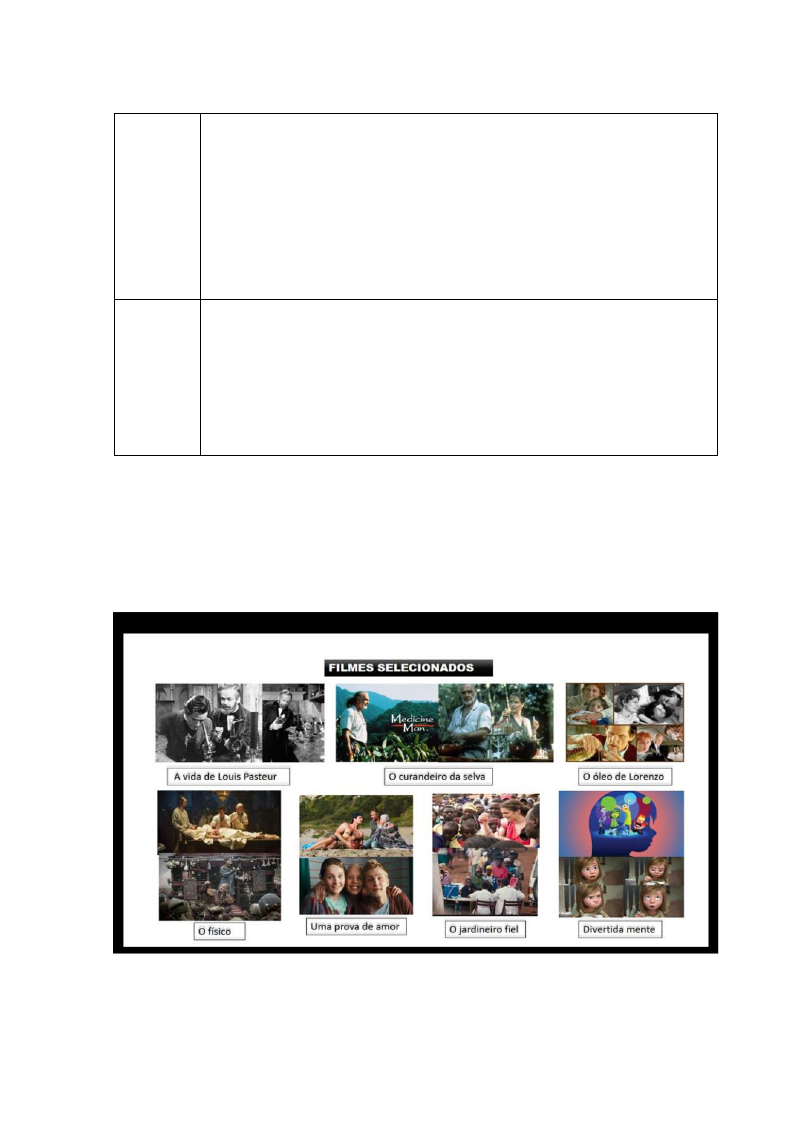
37
Uma Prova
de Amor
(EUA, 2009)
Filme lançado, em 2009, e dirigido por Nick Cassavetes, com Cameron Diaz, Jason Patrick,
Abigail Breslin, Sofia Vassilieva, Evan Elligson e Alec Baldwin, no elenco. O filme apresenta
um drama e o desgaste da relação familiar dos Fitzgerald, em que a filha mais velha tem uma
doença muito grave - leucemia. Cansada de lutar contra a leucemia há anos, dos infindáveis
tratamentos e agora de um provável transplante de rim Kate decide morrer e pede ajuda para
sua irmã caçula, a qual foi projetada e concebida para salvá-la. A pedido de sua irmã Kate,
Anna vai aos tribunais e reivindica o direito sobre seu corpo (emancipação médica), com isso
o direito de não transplantar o rim para a irmã. Kate não aguentaria ver sua irmã sofrer mais
uma vez todos os procedimentos médicos, como por exemplo, a cirurgia para o transplante para
tentar prolongar sua vida. Mas, Sara (mãe) não consegue entender o porquê de Anna não querer
salvar a irmã.
Divertida
Mente (EUA,
2015)
Lançado em 2015, o filme narra a história de Riley, uma menina de 11 anos que vive na cidade de
Minnesota (EUA) em plena alegria com seus pais, amigos e colegas da escola até o momento em que a
família decide deixar essa cidade para viver em San Francisco (EUA), buscando novas oportunidades de
trabalho. Nesse momento, o universo das relações de Riley sofre significativa transformação, uma vez que
essa transição é sentida como ameaçadora e vivida com dificuldade perturbando-a emocionalmente. O
filme intercala dois momentos simultâneos - o mundo real e o mundo mental - como um sistema detalhado
onde as experiências de vida são transformadas em memórias esféricas que criam as bases da personalidade
e do desenvolvimento psíquico, ao mesmo tempo em que Alegria, a emoção dominante, passa a ser
acompanhada por outras emoções: Tristeza, Raiva, Nojo e Medo que têm o papel de orientar as decisões e
relações de Riley no mundo exterior.
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
Na figura 1, encontra-se uma seleção de cenas marcantes dos filmes estudados, que
permite reconhecê-los e desencadear as discussões pelos sujeitos da pesquisa.
Figura 1 – Cenas dos filmes comerciais propostos para discussão do tema saúde na pesquisa
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
Após a realização das sete sessões fílmicas, foi solicitado ao grupo responder um
questionário (ANEXO 03), a fim de buscar indícios das mudanças e apropriações dos

38
entendimentos dos professores em formação sobre o conceito Saúde e ES. Por fim, foi realizado
um encontro de grupo focal, que consistiu em uma “coleta de dados por meio das interações
grupais ao se discutir um tópico especial sugerido pelo pesquisador” (GONDIM, 2003, p. 151).
Dessa maneira, foi organizado, no mês de dezembro de 2016, um encontro com um grupo
menor de sujeitos, em que foram convidados a participar treze sujeitos (cinco licenciandos,
cinco professoras supervisoras e três professores formadores). Compareceram sete deles:
pesquisadora, dois licenciandos bolsistas, um professor formador e três supervisoras PIBID
(professoras de escola). O encontro teve duração de uma hora e quinze minutos e foi
audiogravado. Para Iervolino; Pelicioni (2001, p. 116):
A coleta de dados através do grupo focal tem como uma de suas maiores riquezas
basear-se na tendência humana de formar opiniões e atitudes na interação com outros
indivíduos. Ele contrasta, nesse sentido, com dados colhidos em questionários
fechados ou entrevistas individuais, onde o indivíduo é convocado a emitir opiniões
sobre assuntos que talvez nunca tenha pensado anteriormente. As pessoas, em geral,
precisam ouvir as opiniões dos outros antes de formar as suas próprias, e
constantemente mudam de posição (ou fundamentam melhor sua posição inicial)
quando expostas à discussão em grupo. É exatamente este processo que o grupo focal
tenta captar.
Para conduzir a discussão em um grupo focal, Iervolino; Pelicioni (2001, p. 118)
orientam que o pesquisador tenha um “roteiro de tópicos relacionados com as questões de
investigação, que o projeto em pauta visa responder”, considerando que a “proposta do
método é desenvolver uma discussão focada em um tema específico” (Id. Ibid.). As
questões que nortearam o debate no grupo focal foram:
1) Que aprendizagens foram possibilitadas nos encontros formativos sobre Educação
em Saúde, em 2016?
2) Como as discussões atravessaram sua prática de sala de aula e/ou a elaboração dos
planejamentos das aulas de estágios?
3) A partir das interações produzidas nos encontros formativos sobre a Educação em
Saúde, como promover um saber e um fazer docente mais comprometido com os desafios
implicados em educar em saúde, no contexto sociocultural da escola e da comunidade?
As intervenções, que constituem o objeto de investigação desta tese, foram
desenvolvidas durante oito meses, de abril a dezembro de 2016, e aconteceram no cenário da
Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, universidade pública do interior do Rio Grande
do Sul. Os encontros formativos aconteciam na terceira terça-feira de cada mês, dia reservado
para ações formativas com os bolsistas do subprojeto PIBID Ciências Biológicas.
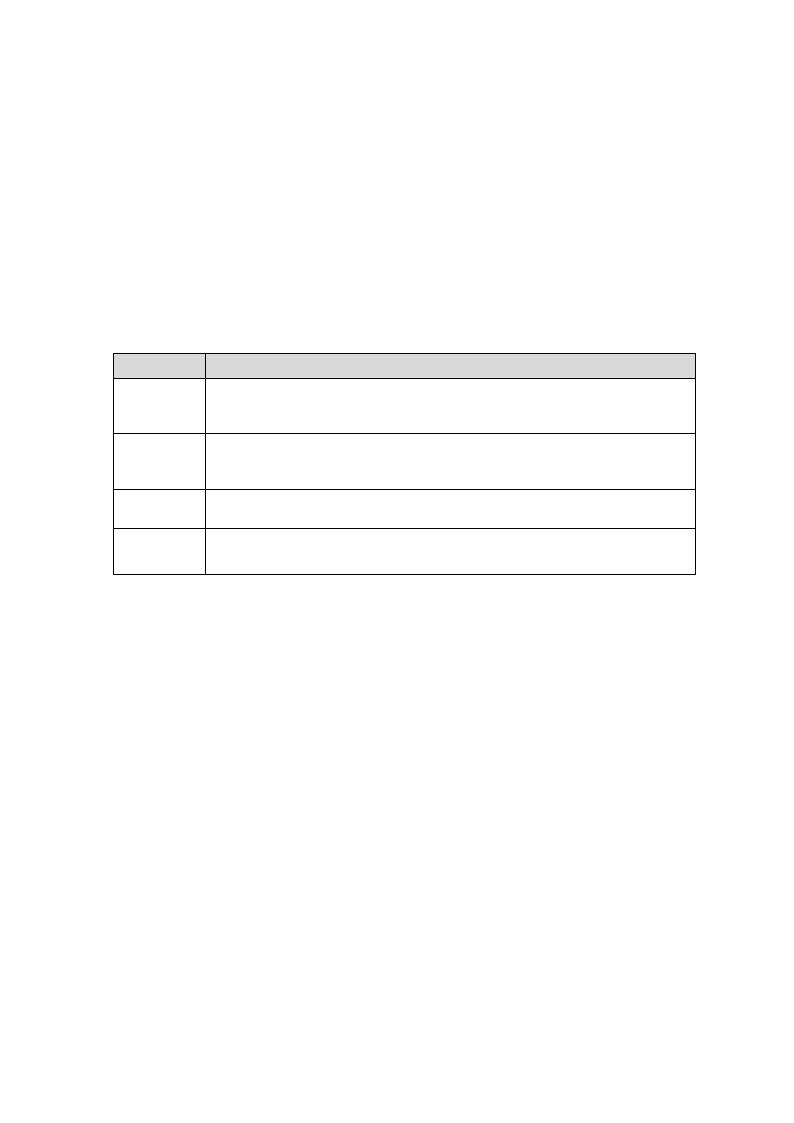
39
Desde o ano de 2014, a UFFS - Campus Cerro Largo conta com quatro (4) subprojetos
do PIBID na área das Ciências da Natureza: o de Ciências Biológicas, o de Física, o
Interdisciplinar e o de Química, além do Programa de Educação Tutorial – PETCiências. Todos
desenvolvem ações conjuntas e colaborativas na Instituição. No Quadro 04, são apresentadas
as ações formativas do PIBID Ciências Biológicas, ao longo de um mês, cujas reuniões ocorrem
nas dependências do Campus Cerro Largo, no Laboratório de Ensino e Aprendizagem, pela
parte da manhã. Essas atividades também ocorrem separadamente em cada grupo de PIBID.
Quadro 04 – Organização mensal das ações pedagógicas dos Subprojetos PIBIDs da UFFS - Campus Cerro
Largo
Mês/ Semana
Ações formativas
1ª terça-feira
do mês
Supervisoras e licenciandos bolsistas planejam atividades por escolas; e realizam escritas
nos diários de bordo. Reunião dos coordenadores dos subprojetos para planejar e organizar
ações para o mês.
2ª terça-feira
do mês
Reunião entre professores coordenadores, professores supervisores e licenciandos
bolsistas para leitura e discussão: de textos acadêmicos, dos diários de bordo;
planejamento de atividades, entre outras.
3ª terça-feira Ações formativas: seminários de apresentação de livros; feiras de ciências; exposições;
do mês
palestras; saídas de campo; oficinas; sessões fílmicas; etc.
4ª terça-feira Participação no projeto de extensão denominado de Ciclos formativos – Formação
do mês
continuada em que participam todos os integrantes dos Pibids.
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
A intenção de trabalho com esse grupo de professores da instituição é devido ao contato
da pesquisadora, que atua nesse espaço acadêmico, como docente no curso de graduação em
Ciências Biológicas - Licenciatura, nos componentes curriculares de Prática de Ensino e
Estágio Supervisionado em Ciências e Biologia. Assim, a organização das atividades propostas
na pesquisa inseriu-se no planejamento institucional de atividades do PIBID.
As discussões realizadas nas sessões fílmicas e no grupo focal foram audiogravados em
gravador eletrônico e, posteriormente, degravados. As audiogravações, depois de degravadas e
transcritas, foram organizadas em episódios, conforme referencial de Análise Microgenética.
Os episódios foram organizados em categorias (BARDIN, 2004), que emergiram ao longo do
processo de análise. Ana Maria Pessoa de Carvalho e Gonçalves (2000) alertam sobre a
necessidade de planejar o processo de gravação, que significa o que e como gravar, para
posteriormente ser realizada a transcrição dos episódios das interações ocorridas no grupo, “os
‘episódios de ensino’, isto é, momentos extraídos de uma aula, em que fica evidente uma
situação a ser investigada” (CARVALHO; GONÇALVES, 2000, p. 75). Para tanto, “outro
aspecto importante da transcrição é a possibilidade de não se perder informações sobre

40
entonações, pausas, humor, grau de certezas nas afirmações, entre outros” (CARVALHO, 2011,
p. 35).
Ana Maria Pessoa de Carvalho (2002, p. 36) destaca que, no processo de transcrição
das audiogravações, é necessário seguir algumas normas já acordadas pelos pesquisadores da
área, a fim de que os leitores possam entender e traduzir os significados das linguagens: “para
marcar qualquer tipo de pausa, devem-se empregar reticências no lugar dos sinais tipos da
língua escrita, como ponto final, vírgula, ponto de exclamação, dois pontos e ponto e vírgula.
O único sinal de pontuação a ser mantido é o ponto de interrogação”.
Para perceber os movimentos formativos, procedi também à análise dos diários de bordo
(DB) dos professores em formação inicial e continuada, escritos ao longo do processo
vivenciado. Para Porlán; Martín (1997), o DB permite que os professores reflitam sobre os
elementos mais significativos da situação em que estão imersos, assim como estabeleçam
conexões entre os conhecimentos prático e disciplinar, permitindo desta maneira uma
investigação e reflexão da sua prática docente, a fim de melhorá-la e qualificá-la. Colaborando
com este entendimento, Zabalza (2004) cita que os diários são recursos eficientes para
compreensão da subjetividade dos professores, por conservar um caráter histórico-longitudinal
e possibilitar a organização de um processo de aprendizagem que se dá em cinco etapas: tomada
de consciência, aproximação analítica em relação às práticas profissionais; a compreensão do
significado das ações; a possibilidade de tomar iniciativa e decidir fazer mudanças e melhorias
possíveis e válidas e a consolidação das mudanças introduzidas.
2.1.4 Análise Microgenética e o paradigma indiciário - a busca pelos fragmentos e
minúcias do processo formativo
O percurso investigativo escolhido perpassou pela análise dos registros dos diários de
bordo (DB), das respostas aos questionários, das discussões desencadeadas nas sessões fílmicas
e dos diálogos no grupo focal, em que busquei investigar as compreensões de Saúde e ES, as
interações entre os sujeitos, as relações intersubjetivas e as condições sociais da situação. Uma
análise minuciosa dos acontecimentos foi realizada. O movimento de análise efetivou-se, a
partir do ato de garimpar nos DB dos participantes (utilizados pelos sujeitos da pesquisa para
registro de suas reflexões sobre o processo no decorrer dos encontros) os fragmentos, as
experiências vivenciadas no contexto formativo, pois, como propõem Pórlan; Martín (1997, p.

41
20), “o diário de bordo é um guia para a reflexão sobre a prática, que favorece ao professor a
consciência sobre seu processo de evolução e sobre seus modelos de referência”.
Utilizei, para análise dos episódios das interações dos professores, a metodologia
proposta por Smolka; Goes (1993) e Goes (2000) denominada como Análise Microgenética.
Essa análise busca identificar, a partir de microeventos, as questões referentes à subjetivação,
por meio da dinâmica interativa ou no plano das interações com o(s) outros(s), em processos
mediados socialmente (SILVA, 2013).
Compreendo que a análise é genética, no sentido de ser histórica, por focalizar o
movimento durante processos e relacionar condições passadas e presentes, em uma tentativa de
explorar aquilo que, no presente, está impregnado de projeção futura (GOES, 2000). Deste
modo, parto do princípio de que a Análise Microgenética (GOES, 2000) e o Paradigma
Indiciário (GINZBURG, 1987) apresentam possibilidades promissoras para a investigação
pretendida, ao possibilitar o estudo dos detalhes e das minúcias das relações intersubjetivas e
das práticas pedagógicas desenvolvidas no grupo formativo, sem perder a dimensão histórica,
uma vez que relaciona presente, passado e futuro aos acontecimentos.
Por meio da Análise Microgenética, é possível fazer “uma construção de dados que
requer a atenção a detalhes e o recorte de episódios interativos, sendo o exame orientado para
o funcionamento dos sujeitos focais, as relações intersubjetivas e as condições sociais da
situação, resultando num relato minucioso dos acontecimentos” (GOES, 2000, p. 9). Assim,
“os episódios se constituem em recortes, mecanismos de apreensão e análise do
percurso/movimento que sinalizam transformações pormenorizadas que sem contexto ficam
impossíveis de serem compreendidas/aprendidas” (Id. Ibid). Goes (2000) enfatiza que o
“micro” diz respeito às minúcias indiciais de determinada interação e sua repercussão na
totalidade do processo de ensino e aprendizagem. Dessa maneira, para encontrar os fragmentos
do processo vivenciado a partir da análise microgenética, os dados “são recortados em poucos
ou em muitos episódios que se tornam significativos ao estudo, de modo a propiciar melhor
explicação dos processos formativos/constitutivos dos sujeitos” (GÜLLICH, 2013, p. 155).
Ginzburg (1987, 1989) propõe, ao final do século XIX, o Paradigma Indiciário, que busca
como o próprio autor cita, remontar a uma realidade complexa, a partir de dados aparentemente
negligenciáveis, para reconhecer/identificar fragmentos, minúcias que extrapolam os simples
relatos, apontando para novos indícios, redesenhando um complexo quadro de realidades e
possibilidades. Assim, usei o Paradigma Indiciário para compreender como os indícios, as

42
minúcias e os microprocessos se tornam marcas dialógico-discursivas do processo de
constituição docente (GOES, 2000; GÜLLICH, 2013).
Silva (2013) explica que, nessa abordagem, a busca de indícios de aprendizagem
considera a linguagem verbal (falas, entonações, enunciados) e não verbal (gestos,
comportamentos e atitudes), preferencialmente face a face, numa perspectiva dialógica. Além
do que, “nos episódios recortados/escolhidos para análise, há que se interpretar todos os
aspectos das interações, tanto aqueles considerados positivos quanto aqueles considerados
negativos” (SILVA, 2013, p. 28).
Assim, a partir da análise dos dados empíricos, realizei os recortes para a construção dos
episódios, fundamentados na busca de indícios da sistematização conceitual vigotskiana, a
partir de conceitos que evidenciam um entendimento ampliado de Saúde, permitindo, desta
maneira, identificar a evolução conceitual do grupo de professores em formação. Alguns dos
episódios apresentam excertos de diferentes instrumentos na sua estrutura como: questionários
(QI e QF), diários de bordo (DB), das discussões nas sessões fílmicas (SF) e do grupo focal
(GF), em virtude da temática que compõe a(s) unidade(s) de conteúdo analisada(s) ser (em)
recorrente (s) nos discursos e escritas dos participantes da pesquisa. As falas dos episódios
foram colocadas em fonte 11 e em itálico. Da análise emergiram as seguintes categorias: i –
Evoluções das compreensões de Saúde e de Educação em Saúde no diálogo com os professores
em formação; ii) Filmes comerciais como instrumento de reflexões sobre questões curriculares
no processo formativo e iii) A produção do conhecimento científico. Essas categorias
apresentam os entendimentos iniciais e a evolução das compreensões dos professores acerca da
Saúde e da Educação em Saúde em contextos formativos, as quais serão abordadas no capítulo
quatro (04) desta tese.
2.1.5 Preceitos éticos da pesquisa
Os encontros iniciaram trinta dias após a aprovação do projeto no Comitê de Ética. Antes
de iniciar o trabalho, os participantes da pesquisa: professores formadores, professoras
supervisoras bolsistas e licenciandos bolsistas, que integram o PIBID Ciências
Biológicas/UFFS, depois de esclarecidos e informados sobre os objetivos da investigação e
sobre a forma como os dados poderiam ser utilizados, foram consultados sobre sua disposição
em participar da pesquisa. Aqueles que concordaram em participar assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido -TCLE, o qual apresenta os preceitos éticos da pesquisa e
garante, entre outros, o anonimato dos sujeitos participantes e autoriza-me a fazer uso dos dados

43
coletados no decorrer do processo de formação. A pesquisa foi submetida e aprovada no Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), pelo Parecer n°
53646216.7.0000.5564 e cadastrado junto ao Conselho Nacional da Saúde do Ministério da
Saúde. O número de participantes da pesquisa pode ser maior ou menor, dependendo da adesão
ao grupo. Trinta e quatro foram convidados a participar, porém nem todos participaram da
investigação. Ao longo do processo houve trocas de bolsistas licenciandos do PIBID Ciências
Biológicas, decorrentes da conclusão do prazo de 24 meses de cada bolsista, no PIBID, e
também pela troca da bolsa de iniciação à docência pela de iniciação científica. Foram
realizados sete encontros presenciais, um por mês, a partir da aprovação do projeto no Comitê
de Ética na Pesquisa.
Para resguardar o anonimato e o sigilo dos participantes, nomes fictícios foram utilizados,
conforme segue: os professores supervisores foram designados por nomes com a letra “S”
(Susana, Sabrina, Sofia, Sara e Selma), os formadores com a letra “H” (Helena, Heitor, Hugo);
os licenciandos com a letra “L” (Leandro, Lúcio, Lia, ..., Luana).
No próximo subitem, apresento o trajeto percorrido e reflexões para estabelecer uma
breve revisão da Saúde e Educação em Saúde e o cinema na formação de professores de
Ciências.

44
2.2 EDUCAÇÃO EM SAÚDE E O USO DO CINEMA, NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES: ÁGUAS QUE SE DESLOCAM
A formação inicial e continuada de professores constitui, hoje, um vasto campo de
discussão e desafios, decorrentes das mudanças sociais e culturais a nível mundial, assim como
da emergência da cultura midiática e dos avanços científicos e tecnológicos presenciados nos
últimos anos. Nesse contexto de transformações da sociedade do século XXI, é iminente a
necessidade de as instituições de ensino reverem seus currículos e (re) pensarem o que é ser
professor na atualidade, quais temáticas emergentes no ensino contribuem para a formação
cidadã dos alunos. Conforme Imbernón (2011, p. 12), “essa nova renovação da instituição
educativa e esta nova forma de educar requerem uma redefinição importante da profissão
docente e que se assumam novas competências profissionais no quadro de um conhecimento
pedagógico, científico e cultural revistos”. É com essa finalidade que descrevo, neste capítulo,
uma breve revisão das pesquisas sobre Saúde, Educação em Saúde e Cinema, a fim de
identificar na produção científica o que está sendo pesquisado, as preocupações e os indicativos
acerca dos temas desta investigação.
2.2.1 Breve Revisão da Educação em Saúde e o uso do cinema na formação de professores
de Ciências
Ao iniciar uma pesquisa, é provável que o assunto a ser investigado já tenha sido
abordado por outros pesquisadores; assim, é importante ampliar o conhecimento da área. O
contato com diferentes fontes, como periódicos, anais de eventos, bancos de teses e dissertações
contribui no delineamento do objeto de investigação, evitando, desta forma, leituras que não
tratem especificamente do objeto de estudo.
Nesta investigação, compreendo ser indispensável identificar as fontes de conhecimento
acerca da Educação em Saúde, cinema e formação de professores e em que medida essas
discussões contribuem para a aprendizagem dos futuros professores. Para tanto, foi realizada
uma breve revisão de estudos anteriores sobre o tema a partir do encaminhamento proposto por
Morosini (2015, p. 102) na busca da “identificação, registro e categorização que levam à
reflexão e síntese sobre a produção científica de uma determinada área, em um determinado
espaço de tempo, congregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre uma temática
específica”.

45
Assim, para estabelecer o estado do conhecimento até 2017 sobre Saúde e Educação em
Saúde e cinema no ensino de Ciências foram realizadas buscas no Portal de Teses e Dissertações
da Capes/MEC, repositórios da Universidade de Brasília (UNB), com um recorte temporal de
2006-2017, bem como revisão das publicações no âmbito da Scientific Electronic Livrary
Online (SCIELO). Os descritores utilizados foram: saúde, educação em saúde, formação de
professores e cinema, educação em saúde e cinema, ensino de ciências e cinema e/ou filmes;
seguindo esse percurso e atendendo aos objetivos deste estudo, localizei um total de vinte e
cinco trabalhos, entre teses e dissertações, que tratam do assunto Saúde e Educação em Saúde;
já em relação às pesquisas que abordam filmes no Ensino de Ciências, foram localizadas catorze
investigações, entre teses e dissertações.
Na base de dados (SCIELO), realizei buscas sistemáticas a fim de identificar, a partir
da leitura dos títulos, resumos e\\ou palavras-chaves, artigos que apresentassem discussões
sobre: “ES, formação de professores de ciências”. Foram localizados seiscentos e doze artigos.
Com os descritores: “cinema ou filmes, formação de professores de ciências”, foram
identificados dez trabalhos, desta forma a busca foi expandida para os eventos da área de ensino
ou educação como Associação Nacional de Pós-Graduação (ANPED), Encontro Nacional de
Ensino de Biologia (ENEBIO), Encontro Regional de Ensino de Biologia\\Região Sul
(ENEBIOSUL) e Congresso Internacional de Ensino Científico e Tecnológico (CIECITEC). A
primeira análise dos dados coletados considerou a leitura dos títulos, autores e resumos, que
permitiu excluir os textos repetidos e aqueles publicados em sítios eletrônicos de acesso restrito.
Assim, foram selecionados sessenta e cinco trabalhos sobre saúde e ES no ensino de Ciências
e vinte e um sobre cinema, para compor o corpus de análise. Os trabalhos de Educação em
Saúde e uso de filmes no ensino de ciências enquadraram-se, nos seguintes critérios: i)
investigação de documentos oficiais, materiais didáticos; ii) desenvolvimento de ações\\práticas
sobre saúde e educação em saúde no processo formativo, iii) propostas didáticas para o uso de
filmes no ensino, iv) abordagem do uso de filmes para a Educação em Saúde .
A análise qualitativa do material pautou-se na Análise de Conteúdo de Bardin (2004),
que compreende as seguintes etapas: pré-análise, exploração do material, tratamento dos dados,
sistematização e interpretação dos resultados. Para Bardin (2004, p. 37), este processo de
análise consiste em:
[...] um conjunto de técnicas de análises das comunicações, visando obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção\\ recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.
(BARDIN, 2004, p. 37).
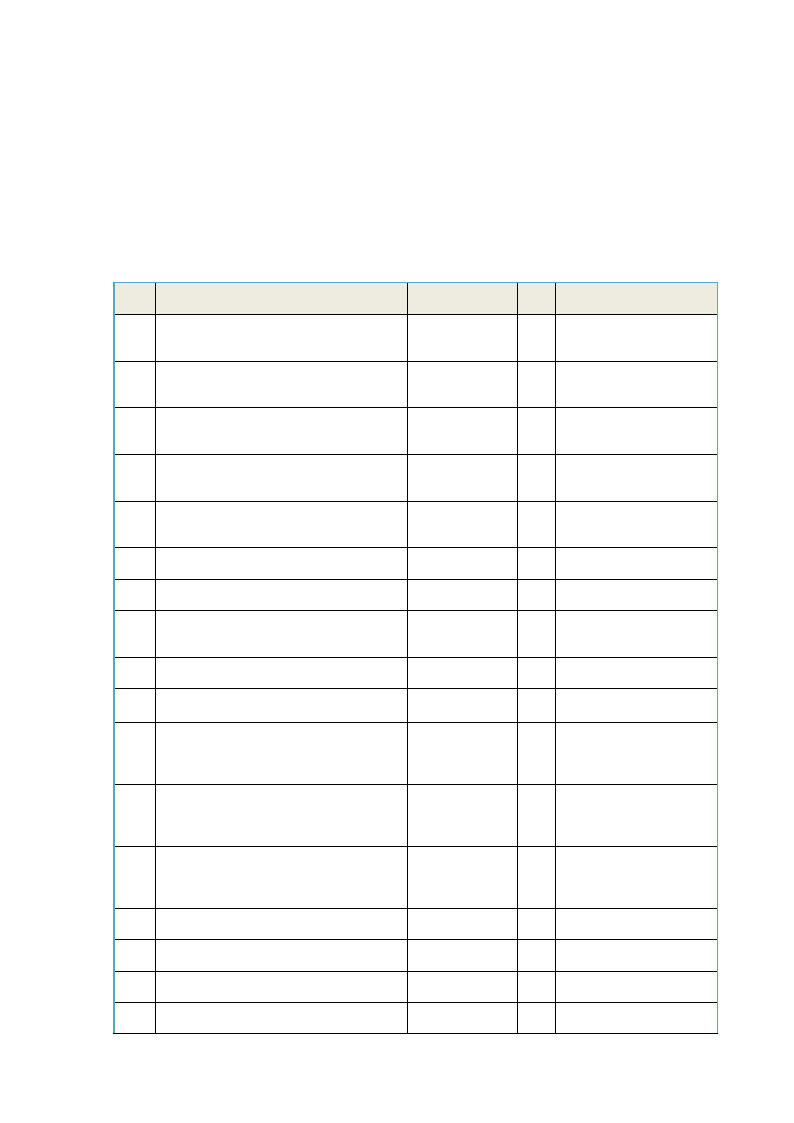
46
Assim, para organizar os textos sobre Saúde e Educação em Saúde a serem analisados,
criou-se um código específico: dissertações “DS”; teses “TS” e artigos “AS”, seguido de
números arábicos correspondentes à ordem cronológica de publicação. Já os trabalhos sobre
cinema foram codificados: dissertações “DC”; teses “TC” e artigos “AC”, seguido de número
arábico correspondente à ordem cronológica de publicação.
Quadro 05 – Teses e dissertações com a temática Educação em Saúde no Ensino
N°
DS01
DS02
DS03
DS04
TS05
DS06
DS07
DS08
DS09
DS10
DS11
DS12
DS13
DS14
TS15
TS16
DS17
Título
Formação de sanitaristas: cartografias de
uma pedagogia de educação em saúde
coletiva
Sexualidade na adolescência: trabalhando a
Pesquisa-Ação com referenciais teórico-
metodológicos de Paulo Freire
Educação, Empowerment no Campo da
Promoção da Saúde: revisão da literatura
brasileira no período de 1997 a 2008
Educação em saúde das adolescentes na
periferia urbana: estudo de caso em Novo
Hamburgo – RS
Educação Sexual, Corpo e Sexualidade na
visão dos alunos e professores no Ensino
Fundamental
Representação Social de Saúde, Doença e
Dengue para alunos do Ensino Fundamental
Gênero e sexualidade na educação de jovens
e adultos: um estudo de caso
A Temática Sexualidade no Contexto
Escolar: Diagnóstico Situacional da Região
Leste de Goiânia, Goiás
Educação Sexual no Ensino de Ciências: Um
Estudo com Foco nos Professores
Alimentação Saudável na Escola: Uma
Construção Coletiva?
Tuberculose uma Conversa Necessária entre
Saúde, Ambiente e Educação
Educação em Saúde: Avanços e Dilemas na
Trajetória de Formação Contínua do
Programa de Educação em Saúde do Rio do
Sul, SC
A formação continuada de professores
desenvolvida no projeto Educando com a
Horta Escolar e suas implicações na
promoção da alimentação saudável na escola
A concepção de professores sobre saúde na
escola
As Imagens da Saúde em Livros Didáticos de
Ciências
O Aborto como um Problema de Saúde
Pública: Contribuições de Saúde e Educação
Educação Sexual na Escola Pública como
Estratégia de Promoção da Saúde
Autor
Armani, Teresa
Borgert
Pereira, Kely
Cristina
Pereira, Mônica
Rodrigues Saraiva
Chamis, Niva
Maria Almeida
Moizés, Julieta
Seixas
Szukala, Claudia
Medeiros
Oliveira, Karina
Fürstenau de
Chaveiro, Laine
Gomes
Silva, Otoniel
Alvaro da.
Camozzi, Aida
Bruna Quilici
Donato Junior,
Giuseppe
Francesco
Antonio
Sebold, Rosita
Oliveira, Miriam
Sampaio de
Ferraro, Maísa
Rezende de Melo
Souza, Lucia
Helena Pralon de
Carpilovsky,
Cristiane Kohler
Brilhante, Aline
Veras Morais
Ano
2006
2007
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
Tese (T), Dissertação (D) e
Instituição
Universidade Federal do
Rio Grande do Sul –
UFRGS
Universidade de São Paulo –
USP
Escola Nacional de Saúde
Pública Sérgio Arouca/RJ
UFRGS
USP
Universidade Católica Dom
Bosco – UCDB/ MS
UFRGS
Universidade Federal de
Goiás – UFG
Universidade Federal do
Paraná – UFPR
D – UFG
Instituto Fed. de Educ.,
Ciência e Tecnol. do Rio de
Janeiro/Nilópolis
Universidade Regional de
Blumenau – FURB
Universidade Federal de
São Paulo – UNIFESP
USP
Universidade Federal do
Rio de Janeiro – UFRJ
UFRGS
Universidade de Fortaleza –
Unifor
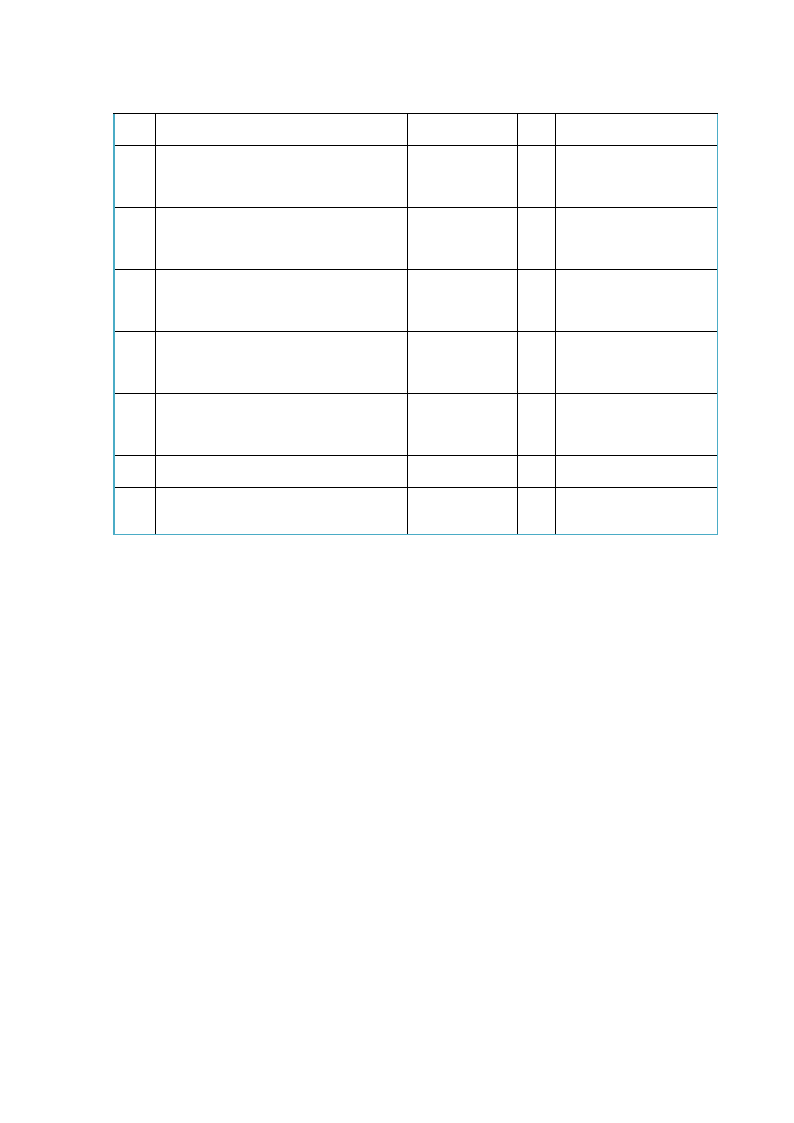
47
DS18
DS19
DS20
DS21
DS22
Educação em Saúde no Ensino Fundamental:
Uma Reflexão acerca da Promoção da Saúde
Educação em Saúde nas Escolas: Elaboração
de Material Paradidático sobre doenças
viróticas Aids, Dengue e Gripe a partir da
Análise dos Livros Didáticos de Biologia
Formação de Professores de Ensino
Fundamental para Educação em Saúde: Uma
proposta de Educação Popular em
saúde através da Intersetorialidade
Uso de Textos de Divulgação Científica
como Estratégia de Trabalho com Temas de
Educação em Saúde na Escola para Educação
de Jovens e Adultos (EJA)
Os modos de estruturação da educação em
saúde na escola: das concepções e do
currículo às práticas educativas e à
aprendizagem
Damiani, Ana
Paula Macan
Barcelos, Mariana
de Oliveira
Pereira, Patricia
Carla Gandin
Oliveira, Lidiane
Loiola de
Marinho, Julio
Cesar Bresolin
2012
2012
2012
2013
2013
Universidade do Extremo
Sul Catarinense – UNESC
PUC/MG
Universidade do Vale do
Itajaí
Universidade de Brasília –
UNB
Universidade Federal do
Rio Grande – FURG
DS23 Educação em Saúde na Escola: Investigando Venturi, Tiago
Relações entre Professores e Profissionais de
Saúde
2013 Universidade Federal de
Santa Catarina – UFSC
TS24
DS25
Temas Transversais no Ensino Fundamental:
Educação para a Saúde e Orientação Sexual
Estilos e Coletivos de Pensamento das
Pesquisas de Educação em Saúde na Escola
(2005 a 2015)
Zarth, Silvana
Maria
Greter, Tatiane
Cristina Possel
2013
2016
PUC/RGS
Universidade Regional do
Noroeste do Estado do Rio
Grande do Sul – UNIJUI
Fonte: Autora, 2016.
A partir da análise dos dados, foram identificadas seis grandes temáticas de
investigação: (i) Educação e Sexualidade; (ii) Educação em Saúde e o Processo Formativo de
Professores; (iii) Saúde e Educação; (iv) Educação e Hábitos Alimentares; (v) Educação em
Saúde nos Livros Didáticos; (vi) Educação e Promoção da Saúde.
Na temática Educação e sexualidade, nove investigações (DS02, DS04, TS05, DS07,
DS08, DS09, TS16, DS17 e TS24) resultantes de projetos, estudos de caso e desenvolvimento
de oficinas com alunos e professores sobre sexualidade na escola foram encontradas. Os
pesquisadores citam que o conhecimento sobre educação sexual e sexualidade de professores e
alunos continua apresentado numa visão preventiva, com muitos tabus e mitos sobre o tema.
Defendem que as escolas devem trabalhar na perspectiva da educação e da sexualidade com
discussões da dimensão biológica, psicológica, cultural, comportamental, etc. Portanto, é
fundamental investir em formações e problematizações, no trabalho coletivo e em diálogos para
promover entendimento desse tema. As discussões e reflexões sobre a ES e Processo Formativo
de Professores (DS12, DS20, DS22, DS23) revelam a ausência de um trabalho formativo, que
invista em outra perspectiva de Educação em Saúde na escola. Os autores evidenciam formação
centralizada nas questões biológicas com identificação das causas e do modo de eliminar as
doenças, com pouca ênfase na promoção da qualidade de vida dos sujeitos.

48
As questões sobre o ensino da saúde foram agrupadas na categoria Educação e Saúde
(DS06, DS11, DS21). Os três documentos analisados apresentam os conhecimentos de
professores e alunos da Educação Básica acerca da tuberculose e da dengue. Afirmam, ainda,
que os textos de divulgação científica possibilitam o ensino de ES. Dois estudos apontam que
o conceito biomédico de saúde se sobrepõe ao entendimento dos sujeitos. Os três autores
defendem a discussão de temas relacionados à educação em saúde como campo profícuo para
ações e trabalho pedagógico nessa área.
Na categoria Educação e Hábitos Alimentares (DS10, DS13), a promoção da saúde pela
alimentação saudável e conscientização dos benefícios de uma mudança de padrão alimentar
na escola e na vida dos sujeitos foram tematizados. Sob esse viés, Loureiro (2004) expressa que
educar para comer bem é um desafio. A mudança de comportamentos alimentares deve ser
focalizada mais em melhorar o nível de saúde do que na redução de riscos, considerando
comportamentos positivos por meio da aquisição de conhecimentos e de atitudes gerais para se
cuidar.
Educação e Saúde, nos Livros Didáticos (LD), foi tratada nos documentos TS15 e DS19
pela análise da saúde nas imagens e textos. Os autores apontam que nos livros há diferentes
abordagens de ES: biomédica, comportamental ou socioambiental. A autora de TS15 sinaliza
para a produção de materiais paradidáticos com outra abordagem de saúde como caminho no
ensino da ES. Pois, como a autora DS19 expressa em sua análise, a abordagem das viroses nos
livros didáticos apresentou uma concentração de informações “nos aspectos biológicos dos
vírus sendo, portanto, insuficientes quando se almejam ações de educação para a saúde” (DS19,
2012, p. 07).
As dissertações DS03 e DS18 de Educação e Promoção da Saúde propõem tessituras
que conduzem a população a um estado de saúde. As pesquisas realizadas na escola apresentam
uma visão de saúde curativa, longe do que é esperado na promoção da saúde. Entendimento
fruto de um conhecimento de natureza da ciência utilitarista. De acordo com os autores, os
sujeitos investigados mantêm uma visão ingênua das questões de saúde, o que os afasta de uma
condição de sujeitos críticos com direitos e escolhas autônomas. Esse cenário é decorrente da
falta de formação, que aborde esta perspectiva, políticas públicas mais eficazes e planejamento
conjunto entre escolas e demais segmentos da sociedade, como expressa o seguinte excerto:
“não paramos para refletir sobre nossas ações, não nos planejamos, não questionamos o que
nos é imposto, apenas repetimos e massificamos, tornando nossos educandos dependentes na
escola, ou nas unidades de saúde” (DS18, 2012, p. 75).
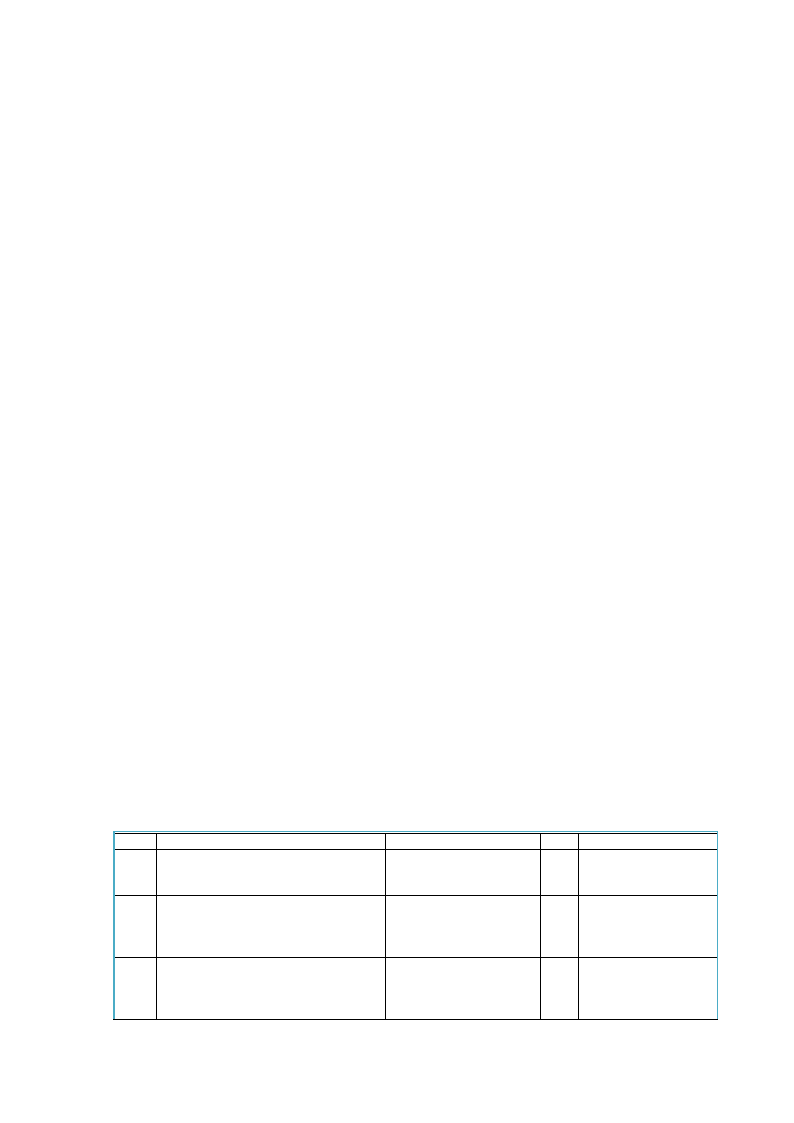
49
O autor da dissertação DS25 investigou a educação em saúde no âmbito escolar,
buscando estabelecer os estilos e coletivos de pensamento das pesquisas em Saúde na Escola
(2005 a 2015), e o da DS01 explorou a pedagogia da Educação em Saúde Coletiva como
potência de composição de cenários de ensino e aprendizagem na formação de sanitaristas.
Estas problematizações excluíram os trabalhos das categorias supracitadas.
A preocupação dos pesquisadores centra-se em questões como aquelas relativas à
formação dos licenciandos de Ciências Biológicas, apontando aspectos que devem ser
considerados pelos cursos de formação de professores. A análise e produção de material
didático com outra perspectiva de saúde, assim como o desenvolvimento de um ensino tanto na
universidade como na escola que contemple o debate e a reflexão de temas emergentes como a
educação em sexualidade pautada em uma prática pedagógica, além da abordagem biológica,
no sentido da defesa da felicidade e dignidade humana; a alimentação saudável; a drogatização;
a sustentabilidade e o ambiente pelo viés da promoção da saúde e do bem-estar. Com base nesta
análise, aponto que é essencial propiciar um ensino para o desenvolvimento da cidadania e de
uma aprendizagem significativa, fundamentadas sociocultural, ética e politicamente na
realidade.
Para compor esta análise, valho-me de Mohr (2002), na tese intitulada “A natureza da
educação em saúde no ensino fundamental e os professores de ciências”, em que analisou a
atividade didática na área da Educação em Saúde de professores de ciências nos 3° e 4° ciclos
das redes de ensino público de Florianópolis, quanto aos objetivos propostos, conteúdos
desenvolvidos e estratégias didáticas utilizadas. A referida investigação, apesar de estar fora do
escopo temporal, foi analisada por ser pioneira na abordagem do tema ES e formação de
professores e constituir referência na área de ensino de Biologia e Ciências. No quadro 09, estão
os artigos que tratam da Educação em Saúde.
Quadro 06: Artigos com a temática Educação em Saúde no Ensino
N°
AS01
AS02
AS03
Título
Capacitação de professores para a
promoção e educação em saúde na
escola: relato de uma experiência
Educación para la Salud.
A estética do grotesco e a produção
audiovisual para a educação em saúde:
segregação ou empatia? O caso das
leishmanioses no Brasil.
Autor(es)
Iervolino, S. A.; Peliocini,
M. C. F.
Ramos, R.
Pimenta, D.N; Leandro, A;
Schall, V.T.
Ano
2005
2005
2006
Publicação
Rev Bras Cresc Desenv
Hum
Memorias de las VI
Jornadas Nacionales de
Enseñanza de la
Biología
Cad. Saúde Pública
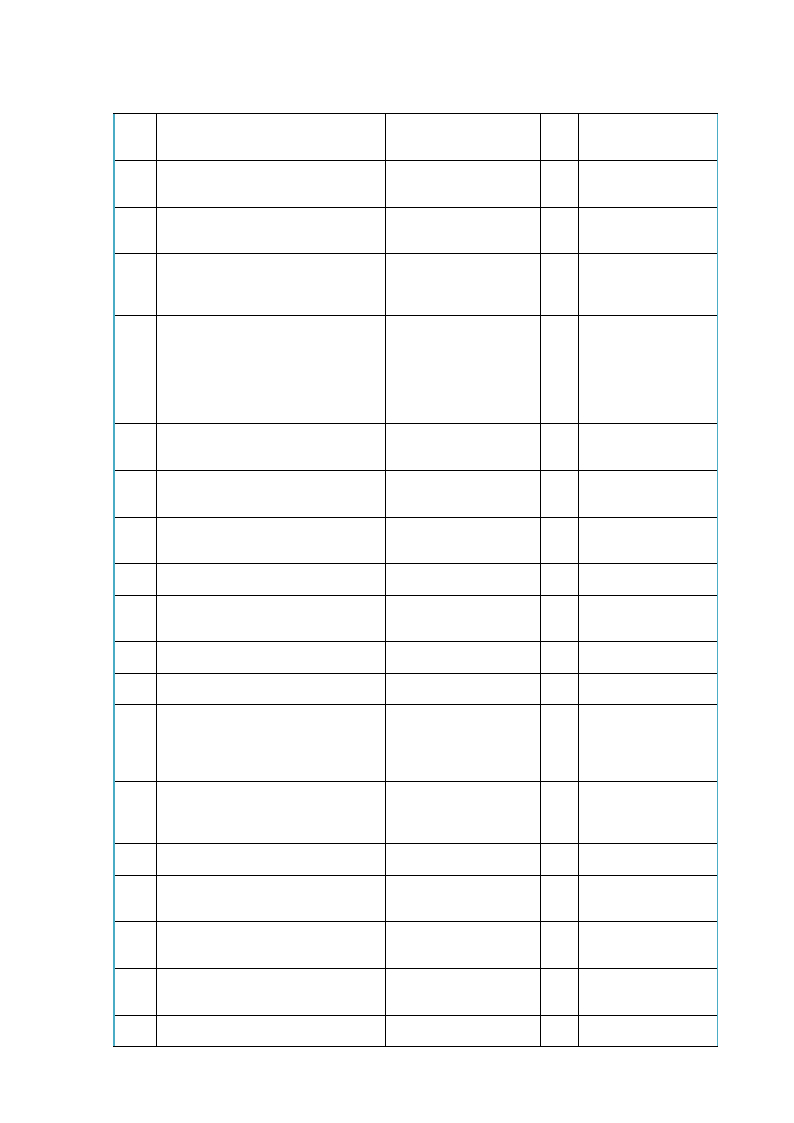
50
AS04
AS05
AS06
AS07
AS08
AS09
AS10
AS11
AS12
AS13
AS14
AS15
AS16
AS17
AS18
AS19
AS20
AS21
AS22
Habitação saudável e ambientes
favoráveis à saúde como estratégia de
promoção da saúde
Redução de danos do uso indevido de
drogas no contexto da escola promotora
de saúde
Tabaco, álcool e outras drogas entre
adolescentes em Pelotas, Rio Grande do
Sul, Brasil: uma perspectiva de gênero
Didactic Transposition and KVP Model:
Conceptions as Interactions Between
Scientific knowledge, Values and Social
Practices.
Projecto “Educação em biologia,
educação para a saúde e educação
ambiental para uma melhor cidadania”:
análise de manuais escolares e
concepções de professores de 19 países
(europeus, africanos e do próximo
oriente)
A alimentação orgânica e as ações
educativas na escola: diagnóstico para a
educação em saúde e nutrição.
A percepção de educadores sobre a
escola promotora de saúde: um estudo de
caso
Aids, sexualidade e atitudes de
adolescentes sobre proteção contra o
HIV
Compreendendo a violência doméstica a
partir das categorias de gênero e geração
Desenvolvimento e análise de jogo
educativo para crianças visando à
prevenção de doenças parasitológicas
Educação em saúde: uma reflexão
histórica de suas práticas
O adolescente e as drogas: consequências
para a saúde
Eficácia do paradigma democrático de
educação para a saúde no
desenvolvimento da acção e competência
de acção de adolescentes em educação
sexual.
A escola promovendo hábitos
alimentares saudáveis: uma proposta
metodológica de capacitação para
educadores e donos de cantina escolar
A promoção da saúde na educação
infantil
A saúde na escola: um breve resgate
histórico.
Adolescência, álcool e drogas: Uma
revisão na perspectiva da promoção de
saúde
Educação em saúde na escola: Estratégia
em enfermagem na prevenção da
desnutrição infantil
Escolas promotoras de saúde
Cohen, S.C. et al.
Moreira, F.G; Silveira,
D.X; Andreoli, S.B.
Horta, R.L. et al.
Clément, P.
Carvalho, G. S.; Clément,
P.
Cunha, E; Souza, A.A;
Machado, N.M.V.
Santos, K.F.dos; Bógus,
C.M.
Camargo, B.V; Botelho,
L.J.
Gomes, N.P. et al.
Toscani, N.V. et al.
Silva, C.M.C. et al.
Filho, A.J.A. et al.
Vilaça, T.
Schmitz, B.A.S. et al.
Gonçalves, F.D. et al.
Figueiredo,
T.A.M;
Machado, V.L.T; Abreu,
M.M.S.
Cavalcantes, M.B.P.T;
Alves, M.D.S; Barroso,
M.G.T.
Vasconcelos, V.M. et al.
Cardoso, V; Reis,
A.P; Iervolino, S.A.
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Rev Ciência & Saúde
Coletiva
Rev Ciência & Saúde
Coletiva
Cad. Saúde Pública
ESERA Summer
School
Revista Brasileira de
Pesquisa e Educação
em Ciências
Rev Ciência & Saúde
Coletiva
Rev Bras Crescimento
Desenvolv Hum.
Rev Saúde Pública
Rev Acta Paulista
de Enfermagem
Interface comunicação
saúde educação
Rev Ciência & Saúde
Coletiva
Esc Anna Nery Rev
Enferm
Revista
Galego-
Portuguesa
de
Psicoloxía e Educación,
Cad. Saúde Pública
Interface comunicação
saúde educação.
Rev Ciência & Saúde
Coletiva
Esc Anna Nery Rev
Enferm
Ciência Cuidado e
Saúde
Rev Bras Crescimento
Desenvolv Hum.
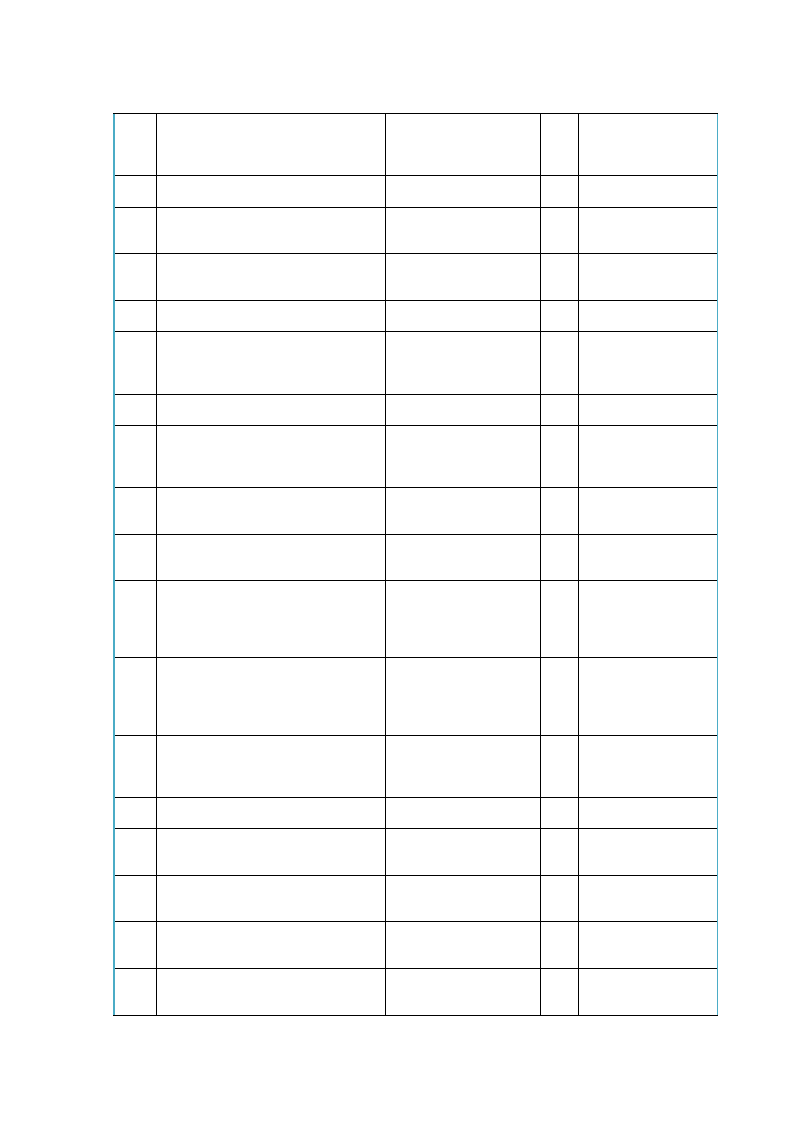
51
AS23
AS24
AS25
AS26
AS27
AS28
AS29
AS30
AS31
AS32
AS33
AS34
AS35
AS36
AS37
AS38
AS39
AS40
Oficinas sobre sexualidade na
adolescência: Revelando vozes,
desvendando olhares de estudantes do
ensino médio
Percepções de professores portugueses
sobre educação sexual
Uso de álcool, tabaco e outras drogas por
adolescentes escolares em município do
Sul do Brasil
Comparing Health Education
Approaches in Textbooks of Sixteen
Countries
A promoção da saúde na educação
infantil
Educar em Salud: innovaciones em la
formación del professorado de Biología
Automedicação na adolescência: um
desafio para a educação em saúde
Conhecimentos e práticas de
adolescentes acerca das DST/HIV/AIDS
em duas escolas públicas municipais do
RJ
Desenvolvimento da promoção da saúde
no Brasil nos últimos vinte anos (1988-
2008)
Modelos aplicados às atividades de
educação em saúde Modelos aplicados às
atividades de educação em saúde
Projeto Aprendendo Saúde na Escola: a
experiência de repercussões positivas na
qualidade de vida e determinantes da
saúde de membros de uma comunidade
escolar em Vitória, Espírito Santo
La educación para la salud en los libros
de textos escolares – un estudio de caso:
el mal de Chagas
Contribuições da educação ambiental e
horta escolar na promoção de melhorias
ao ensino, à saúde e ao ambiente
Promoção de saúde do adolescente em
âmbito escolar
Efeito da formação nas concepções de
saúde e de promoção da saúde de
estudantes do ensino superior
Éducation á la santé et à la sexualité:
qu’en pensente les enseignants? Étude
comparative dans 15 pays
In search of a health education model:
teachers’ concepcions in for
Meditarrenean countries
Saúde sexual dos adolescentes segundo a
Pesquisa Nacional de Saúde dos
Escolares
Soares, S.M. et al.
Ramiro,L; Matos. M.G.
Vieira, P.C. et al.
Carvalho, Graça Simões et
al.
Gonçalves, Fernanda
Denardin et al.
Pastorino,
Isabel
Cecilia et al.
Silva, I.M. et al.
Oliveira, D.C. et al.
Buss, P.M; Carvalho, A.I.
Figueiredo, M.FS; Neto,
J.F.R; Leite, M.T.S.
Maciel, E.L.N. et al.
Sosa, C.; Crocco, L..
Cribb, S.L.S.P.
Gomes, C.M; Horta, M.C.
Carvalho,
A.A.S;
Carvalho , G. S.
Berger, D. et al.
Carvalho e colaboradores
Malta, D.C. et al.
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
Esc Anna Nery Rev
Enferm
Rev Saúde Pública
Cad. Saúde Pública
ICASE
Interface
Memorias del II
Congreso Nacional de
Producción y Reflexión
sobre Educación
Rev Ciência & Saúde
Coletiva
Esc Anna Nery Rev
Enferm
Rev Ciência & Saúde
Coletiva
Revista Brasileira de
Enfermagem
Rev Ciência & Saúde
Coletiva
IX Jornadas Nacionales
y IV Congreso
Internacional
de
Enseñanza de la
Biología
Rev. Eletrônica do
Mestrado Profissional
em Ensino de Ciências
da Saúde e do Ambiente
Rev. APS
Revista Portuguesa de
Saúde Pública
Carrefours
de
l´éducation
Global
Promotion
Health
Rev
Bras
Epidemiologia
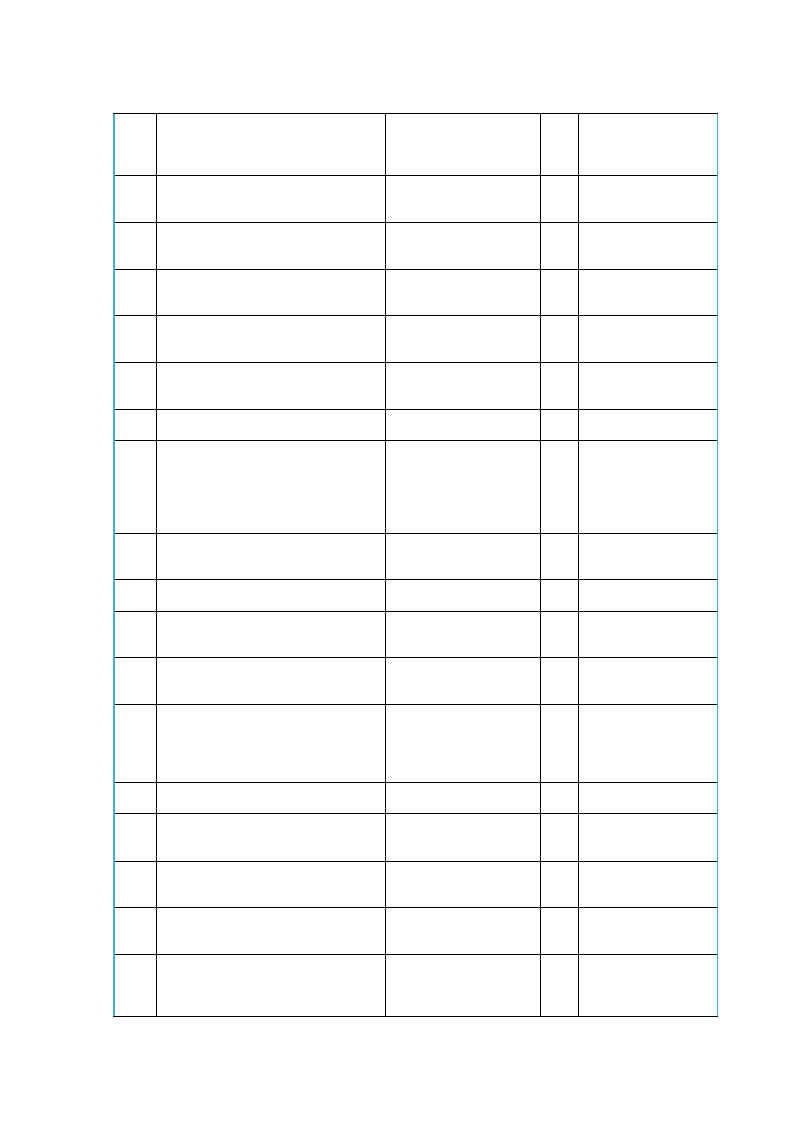
52
AS41 A formação de licenciados em Ciências Zancul, M.S..; Gomes, P. 2011 Revista Ensino, Saúde e
Biológicas para trabalhar temas de H. M.
Ambiente
Educação em Saúde na escola
AS42
AS43
AS44
AS45
AS46
AS47
AS48
AS49
AS50
AS51
AS52
AS53
AS54
AS55
AS56
AS57
AS58
Educação em Saúde na escola na
concepção de professores de Ciências e
Biologia
Concepções de professores de Ciências e
de Biologia a respeito da temática
Educação em Saúde na escola
Factors influencing teachers’ views of
healths and health education: A study in
15 coutriens
Abordagens de saúde em um livro
didático de biologia largamente utilizado
no ensino médio brasileiro
Diferentes abordagens sobre o tema
saúde e ambiente: desafios para o ensino
de ciências
Educação em saúde e suas perspectivas
teóricas: Algumas reflexões
Levantamento sobre Uso de Álcool e
Outras Drogas e Vulnerabilidades
Relacionadas de Estudantes de Escolas
Públicas Participantes do Programa
Saúde do Escolar/Saúde e Prevenção nas
Escolas no município de Florianópolis
Programas de intervenção nas escolas
brasileiras: uma contribuição da escola
para a educação em saúde
Educação em saúde, Ensino de Ciências
e Formação de professores
Educação em Saúde na Escola a partir de
uma perspectiva pedagógica: discussões
acerca da formação de professores.
Análise da Educação em Saúde nos
Parâmetros Curriculares Nacionais a
partir de uma nova perspectiva
A experiência da Oficina Permanente de
Educação Alimentar e em Saúde
(OPEAS): formação de profissionais
para a promoção da alimentação
saudável nas escolas.
Educação alimentar e nutricional em
escolares: uma revisão de literatura
Educação em saúde para adolescente de
uma escola municipal: A sexualidade em
questão
Prácticas de enseñanza en educación para
la salud en egresados del profesorado en
biología de la UNaM
Promover saúde na escola: reflexões a
partir de uma revisão sobre saúde escolar
na América Latina
Saúde sexual e reprodutiva de
adolescentes: interlocuções com a
Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar
(PeNSE)
Costa, S. S.; Gomes,
P.H.M.; Zancul, M. S.
Zancul, M. S..; Costa, S. S.
Jourdan, D.; Pironom M,
J.; Berger, D.; Carvalho,
G. S.
Martins, L.; Santos, G. S.;
El-Hani, C. N.
Pinhão, F..; Martins, I.
Salci, M.A. et al.
Giacomozzi, A.I. et al.
Brito, A.K.A; Silva, F.I.C;
Franças, M.N.
Knaut,V.T.; Pontarolo,
A.R.; Carletto, M. R.
Venturini,T.; Pedroso, I.;
Mohr, A.
Venturini, T..; Mohr, A.
Juzwiak, C.R; Castro,
P.M; Batista, S.H.S.S.
Ramos, F.P; Santos,
L.A.S; Reis, A.B.C.
Pinto, M.B. et al.
Morawicki, P.M; Ramos,
R; Meinardi, E.
Casemiro, J.P; Fonseca,
A.B.C; Secco, F.V.M.
Campos, H.M; Schall,
V.T; Nogueira. M.J.
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
VIII ENPEC
Experiências em Ensino
de Ciências
Health
Journal
Education
Investigações
em
Ensino de Ciências
Revista Ciência &
Educação
Texto
Contexto
Enferm.
Saúde Sociedade
Saúde em Debate
IX ENPEC
VI Encontro Regional
de Ensino de Biologia –
SUL (EREBIOSUL)
IX ENPEC
Rev Ciência & Saúde
Coletiva
Cad. Saúde Pública
ciência cuidado e saúde
Rev. Cienc. Tecnol.
Rev Ciência & Saúde
Coletiva
Saúde em Debate
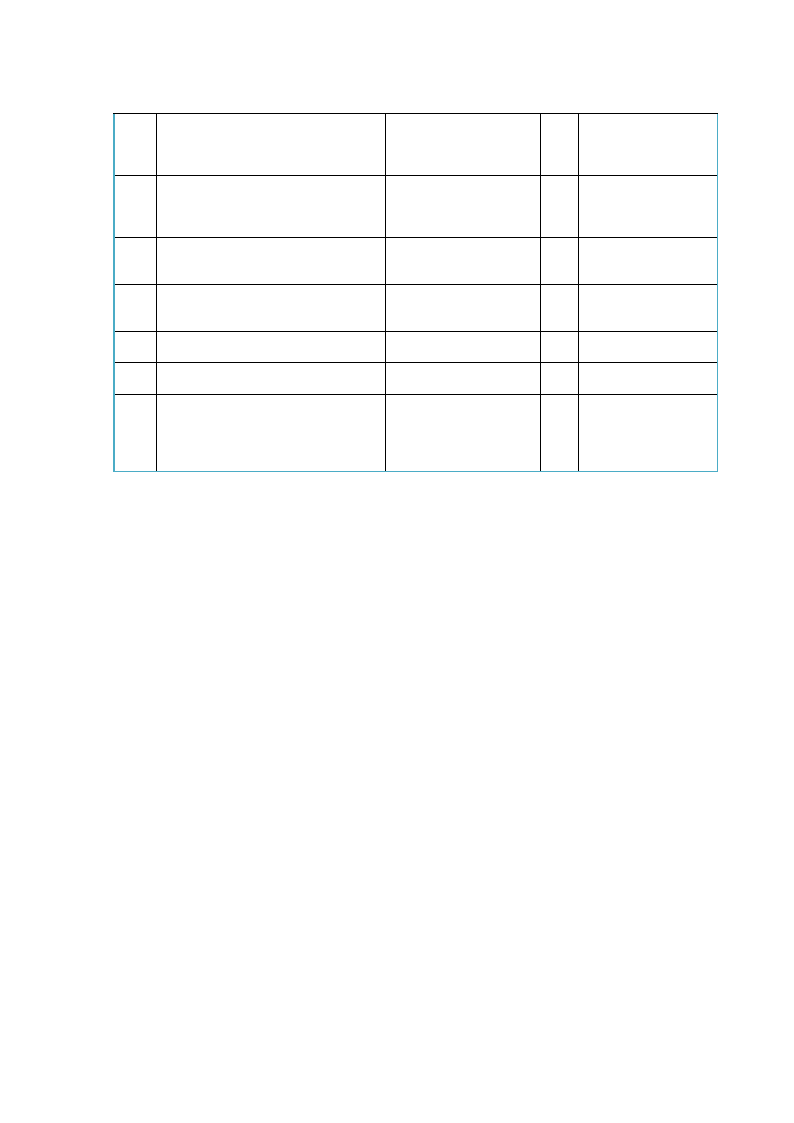
53
AS59
AS60
AS61
AS62
AS63
AS64
AS65
A educação em saúde como proposta
transversal: analisando os Parâmetros
Curriculares Nacionais e algumas
concepções docentes.
A saúde na escola: análise dos
documentos de referência nos quarenta
anos de obrigatoriedade dos programas
de saúde, 1971-2011.
Educação em Saúde na formação de
professores de Ciências Naturais
Evaluación de sitios web sobre Chagas
Evaluation of Websites about Chagas
Disease
Possíveis abordagens de saúde nos
enredos de filmes comerciais.
A velhice no século XXI e o cinema -
relações com o ensino de biologia.
Aportes para una didáctica de la
Educación para la Salud en la formación
inicial de professores de Biología:
diálogos divergentes, concepciones y
prácticas.
Marinho,J.C.B; Silva, J.
A. ; Ferreira, M.
Monteiro, P. H. N; Bizzo,
N.
Sampaio, A. F.; Zancul,
M. S.; Gomes Rotta, J. C.
Crocco, L. et al.
Rudek, K.; Santos, E. G.
Santos,E. G.; Pansera-de-
Araújo, M. C.
Pastorino,
Isabel;
Aatudillo,
Carola
Soledad.; Rivarosa, Alcira
Susana
2014
2015
2015
2015
2016
2016
2016
História, Ciências,
Saúde – Manguinhos
História, Ciências,
Saúde – Manguinhos
Revista Electrónica de
Investigación
en
Educación en Ciencias
Revista de Educación
en Biología
Revista da REnBio
Revista da REnBio
Revista Educación en
Biología
Fonte: Elaborado pela autora, 2017
No levantamento realizado, os artigos AS14, AS41, AS43, AS56, AS61, AS63, AS64 e
AS65 configuram um bloco, que trata da Educação em Saúde no processo de formação inicial
e continuada de professores, e apontam sobre as necessidades de uma formação que busque o
desenvolvimento conceitual, metodológico e atitudinal da temática, em virtude do
desconhecimento de professores e alunos de um entendimento mais amplo da promoção da
saúde. As publicações sinalizam que os professores têm sua formação na área da saúde
embasada no modelo biomédico, enfatizando os aspectos fisiológicos dos processos de saúde-
doença, que se refletem em sua prática de sala em aula.
Os trabalhos AS09, AS17, AS53 e AS54 versam sobre a necessidade de maiores ações
e discussões sobre a educação alimentar. Os autores de AS19 e AS57 abordam as questões de
saúde na escola; de AS03 uma análise de vídeos educativos e institucionais distribuídos no
Brasil sobre leishmanioses; de AS14 uma reflexão sobre as práticas de educação em saúde; já
no AS32 explicitou-se a compreensão dos modelos educacionais aplicados às atividades de
educação em saúde, a partir de uma revisão da literatura.
No que tange às discussões sobre a Educação em Saúde visando à promoção da saúde,
os autores de AS50 e AS51 indicam que a formação de professores em Ciências para trabalhar
a temática ES e a promoção da saúde na escola são incipientes, e há necessidade de
aprofundamento de estudos e pesquisas nesse campo. Os autores de AS27 (2008, p. 182)

54
destacam que a “promoção da saúde parte de uma visão integral e multidisciplinar do ser
humano, que considera as pessoas no seu contexto familiar, comunitário, social e ambiental”.
Em AS01 (2005), reitera-se que a capacitação de professores para ensinar e aprender promoção
e Educação em Saúde deve ser permanente. O ensino de ES na escola possibilita que os alunos
possam ter um entendimento e uma visão alargada do assunto, contribuindo para o
desenvolvimento de conhecimentos e hábitos para adoção de um estilo de vida mais saudável.
Essa temática também é discutida e abordada nos textos AS10, AS18, AS19, AS21, AS22,
AS31, AS33, AS47 e AS49.
A incorporação da saúde como objeto escolar é definida pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), a partir de objetivos e conteúdos que devem ser desenvolvidos de forma
transversal no currículo da escola. Sob esse aspecto, em AS59 identificam-se desafios de
políticas públicas e formativas para que a escola se torne um local de aprendizagem e para que
os alunos compreendam os diversos fatores que determinam as condições de saúde individual
e coletiva.
Os autores de AS60 (2015) apontam para a difícil ideia de transversalidade do tema
saúde nos PCN, assim como para a dificuldade dos professores em trabalhar com essa temática,
sem que a reconheçam como conteúdo de ensino ou como algo periférico no currículo escolar.
Porém, no artigo AS52, os PCN, em seus fundamentos, objetivos e conteúdos, ainda,
apresentam concepções de ES que se assemelham aos antigos Programas de Saúde
desenvolvidos na escola. O documento PCN é contraditório em alguns aspectos, pois “não
consegue diferenciar o trabalho de ES em uma perspectiva pedagógica e aqueles desenvolvidos
em campanhas emergenciais de saúde pública” (VENTURI; MOHR, 2013, p. 4-5).
Outras discussões sobre os PCN são explicitadas, pelos autores de AS46 (2012), que
verificaram as diferentes abordagens do tema saúde e ambiente em publicações e nos PCN. Os
autores sinalizam para a falta de pesquisas desenvolvidas de modo interdisciplinar, ressaltando
que o tema saúde e ambiente é mais pesquisado na área da Saúde do que na área da Educação.
Nos trabalhos AS04, AS35, AS62, são apresentadas discussões e reflexões sobre saúde, meio
ambiente e determinantes sociais. Nos artigos AS05, AS25 e AS47 são discutidas as temáticas
referentes a drogatização e uso de álcool por adolescentes; AS06 aborda a questão do consumo
de tabaco entre adolescentes e o trabalho AS29 discorre sobre o uso de medicamentos e suas
implicações à saúde.
Buscando o entendimento das questões que envolvem a ES na escola e seus
desdobramentos, são apresentadas pesquisas sobre as visões de saúde nos livros didáticos (LD).

55
Os resultados indicam a predominância da abordagem biomédica no texto principal, nos textos
complementares, nas atividades e nas imagens (AS45, 2012); esse resultado se assemelha aos
encontrados por AS08 e AS26 nas análises dos LD utilizados em 16 países. Os estudos de
Soares et al. (2008) referem-se às dificuldades e limitações do trabalho pedagógico das questões
referentes à sexualidade, em especial a orientação sexual a ser desenvolvida no ambiente escolar
pelos professores (AS16). Assuntos sobre sexualidade, saúde sexual, doenças sexualmente
transmissíveis e questões de gênero na escola são abordadas em AS11, AS12, AS23, AS24,
AS30, AS36, AS40, AS55 e AS57.
Pesquisas nacionais e internacionais têm sido publicadas em eventos da área de
Educação em Ciências, Ensino de Biologia e Ensino de Ciências, tais como: Conference on
Science and Technology Education, Conference of Europen Reserchers in Didactics of Biology
(ERIBOB), Internacional Organization for Science and Technology Education (IOSTE), Las
Jornadas Nacionales y Congreso Internacional de la Enseñanza de la Biología, Encontro
Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC); Encontro Nacional de Ensino de
Biologia (ENEBIO), Encontro Nacional de Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente
(ENECIÊNCIAS). Os resultados sinalizam para a urgência de compreendermos as relações da
formação de professores no desenvolvimento da Educação em Saúde, e entendermos a saúde
num contexto ampliado e sistêmico, considerando o indivíduo na sua integralidade, assim como
o desenvolvimento de atitudes e comportamentos que objetivam a promoção da saúde.
No cenário internacional, os trabalhos sobre Educação em Saúde apontam para a
necessidade de promover o sentimento de responsabilidade sobre a própria saúde e a saúde dos
outros, permitindo a cada um perceber criticamente cada situação real, para adotar o
comportamento mais adequado e eficiente. As atividades pedagógicas que têm como finalidade
a educação em saúde devem mobilizar conhecimentos, crenças, representações sociais,
comportamentos, interações com o ambiente físico e social, visando à prevenção de
comportamentos de risco, que estão associados ao conhecimento, atitudes e a valorização da
vida (CARVALHO; JOURDAN 2014). Em AS39, os autores investigaram as concepções de
saúde de professores do mediterrâneo.
As pesquisas decorrentes do European research project “Biohead – Citizen, publicadas
em AS08, AS26, AS37, AS38 e AS44, tratam das concepções de professores sobre saúde e seus
entendimentos relacionados à natureza e ao meio ambiente, bem como a análise da
multiculturalidade de ensino dos conteúdos dos livros didáticos utilizados nos países, onde a
pesquisa foi realizada, assim como a utilização do modelo KVP (AS07) para analisar as

56
interações entre o conhecimento científico (“K”, de Knowledge, em inglês), sistemas de valores
(V) e práticas sociais (P).
No cenário latino-americano, na Argentina, despontam os trabalhos que se referem à
construção e implementação de uma proposta formativa nacional no âmbito da formação de
professores de Biologia, referente à “Educación para la Salud (EpS)”, baseado no paradigma
da promoção da saúde (AS02, AS28). “A partir del año de 2002 la EpS se plantea como un
espacio curricular articulador de la formación biológica y la didáctica-pedagógica del
profesor, reconociéndose su esencia forzosamente interdisciplinar” (PASTORINO;
ASTUDILLO; RIVAROSA, 2016, p. 74).
As pesquisas de AS34 sobre el libro de texto (livro didático) indicam que eles deveriam
incluir a problemática da Educação em Saúde como um conjunto de conteúdos altamente
significativos para os alunos, e sinalizam que “para el Nivel Medio, existen textos
especializados sobre Educación para la Salud, no obstante para el Nivel Primario los temas
relativos a salud no tienen el peso y la importancia que tal vez deberían tener los textos o
manuales” (SOSA; CROCCO, 2010, p. 1). As análises dos artigos que compuseram o corpus
desta pesquisa permitiram identificar os diferentes aspectos, preocupações e finalidades com
que as questões de Saúde e da Educação em Saúde (2006-2017) estão sendo abordadas no
contexto da formação de professores e no espaço escolar.
Apresento a segunda parte do percurso realizado com o objetivo de identificar a
produção acadêmica (teses, dissertações, artigos) sobre o uso de filmes comerciais na formação
de professores e no Ensino de Ciência e/ou Biologia. Na seleção do material empírico, também
busquei identificar pesquisas que abordassem o uso de filmes para o ensino da educação em
saúde.
Desde as primeiras décadas do século XX, o cinema como instrumento de ensino transita
pelo espaço educativo brasileiro. Diante disto, torna-se importante refletir acerca dos
encaminhamentos que os professores propõem para o uso de filmes nas aulas. A busca dos
artigos teve início nos anais de eventos da área de Educação, Ensino de Ciências e Biologia no
Brasil (ANPED, EREBIOSUL, ENEBIO, CIECITEC). Os descritores e a metodologia
utilizados já foram mencionados no início do tópico (3.1). Apresento nos próximos parágrafos
algumas investigações sobre o assunto.
Discorrendo sobre o potencial dos filmes de ficção no ensino das Ciências, Piassi
(2007), Cunha; Giordan (2008) evidenciam as possibilidades deste instrumento para contribuir

57
com a percepção social da Ciência, ao apresentar como a ciência e os cientistas são abordados
em determinadas épocas nas telas do cinema.
Rezende-Filho; Pereira; Vairo (2011) realizaram pesquisa com o objetivo de identificar
como os recursos audiovisuais (RAVs), que englobam cinema, televisão e vídeo, estão sendo
apropriados pela área de Educação em Ciências no Brasil. Os resultados da pesquisa apontam
que “os dados encontrados com este levantamento não são suficientes para afirmar que a
temática de pesquisa RAVs tenha destaque na área de Educação em Ciências ou seja
considerado especialmente relevante” (REZENDE-FILHO; PEREIRA; VAIRO, 2011, p. 200).
Para os autores, os audiovisuais são utilizados como recurso de ensino-aprendizagem, na
perspectiva da instrumentalidade, não há uma preocupação nos trabalhos analisados em relação
às questões relacionadas às “condições de aprendizagem de ciências com vídeo, [...],a eficiência
da aprendizagem com os RAVs, parecem limitar-se à afirmação de que estes funcionam ou têm
o seu uso aprovado pela maioria dos alunos, tendo por base testes e questionários” (Id. Ibid, p.
201). Também se menciona a ausência de interdisciplinaridade entre a área da Educação em
Ciências e o referencial teórico-metodológico de audiovisual.
A dissertação de mestrado de Santos (2010) apresentou uma reflexão sobre o estado do
conhecimento das publicações do Encontro Nacional de Pesquisa e Educação em Ciências
(ENPEC), entre o período de 1997 a 2007, acerca do uso dos audiovisuais e o Ensino de
Ciências. A análise dos dados permitiu identificar a região Sudeste como a que mais publica
artigos sobre o uso de filmes no ensino. Os trabalhos desenvolvidos são voltados na sua maioria
para alunos do ensino médio, como complemento das aulas e exposição de conteúdos. A área
de ensino que mais utiliza filmes é a Física, seguida da Biologia e da Química. De acordo com
a autora, os professores utilizam filmes como auxílio pedagógico para complementar a aula.
Sobre este aspecto, Santos (2010) enfatiza que na graduação os professores precisam fazer uso
desse recurso, a fim de estimular a reflexão dos licenciandos e potencializar o ensino na
Educação Básica.
Santos, Pasini e Rudek (2015) analisaram os trabalhos apresentados no Encontro
Nacional do Ensino de Biologia- ENEBIO, entre 2005 e 2012, referentes ao uso de filmes
comerciais no Ensino de Ciências e Biologia. Os resultados indicam que os professores têm
desenvolvido atividades pedagógicas com os filmes em sala de aula, tendo objetivos diversos,
como sensibilizar os alunos durante a apresentação de conteúdos e conceitos biológicos,
motivá-los para aprender novos conteúdos, realização de rodas de discussão e reflexão sobre as
temáticas abordadas no filme, além do desenvolvimento de atividades didáticas pelos alunos a
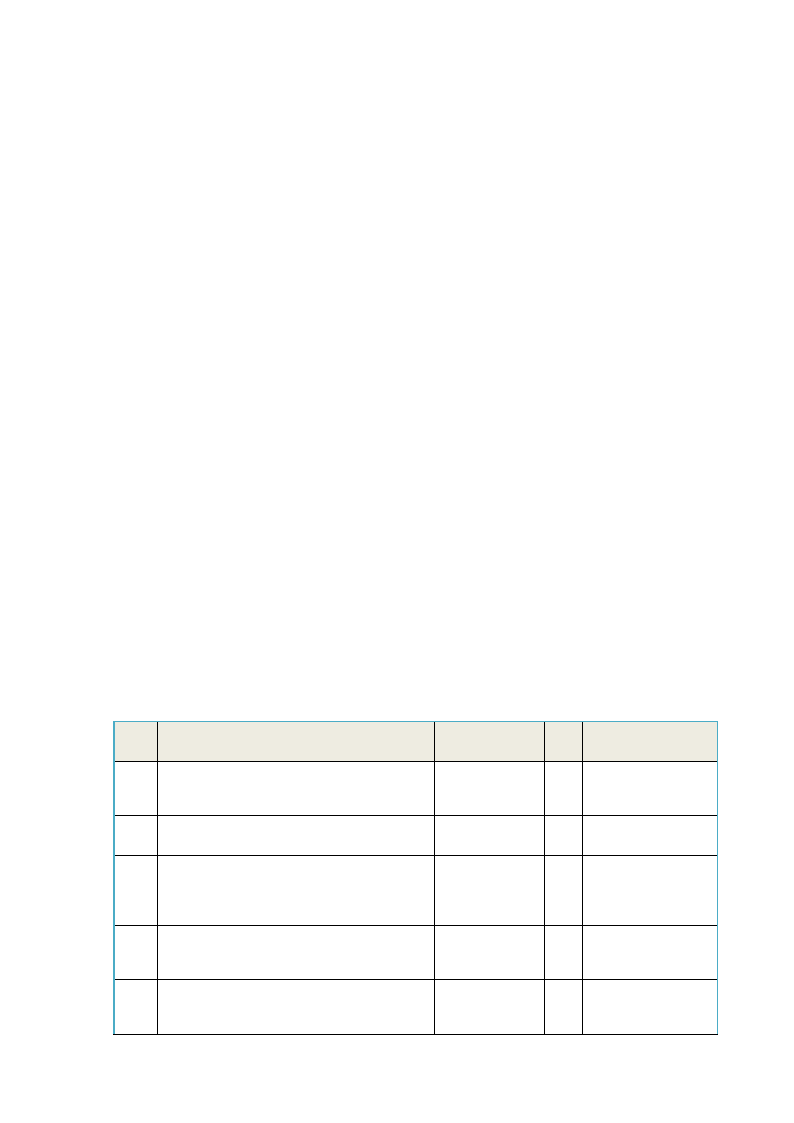
58
partir da exibição fílmica. Para as autoras, são singelas as publicações no ENEBIO sobre essa
temática, porém, a partir do ano de 2012 houve maior interesse dos pesquisadores da área para
o trabalho pedagógico com filmes no ensino de Ciências e Biologia.
Em 2016, Santos, Pasini e Anjos estenderam a análise sobre o uso dos filmes no ensino
de Ciências para os anais dos eventos da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Educação – ANPED e Congresso Internacional de Ensino Científico e Tecnológico –
CIECITEC, entre 2010-2014. Os resultados da pesquisa indicam que a sétima arte ainda não
está presente de forma abrangente nas salas de aula, pois dos 1676 artigos presentes em ambos
os eventos, seis abordaram o assunto investigado. Para as autoras, a ausência de trabalhos sobre
o uso dos filmes no ensino de Ciências ocorre em virtude de uma boa parte das escolas não
possuir infraestrutura que possibilite aos professores desenvolverem metodologias didáticas
relacionadas com a tecnologia, bem como ausência de uma formação inicial e continuada, que
trate e estimule o uso de filmes no ensino. As autoras acrescentam que as contribuições do
cinema, nos processos de ensino e de aprendizagem, incentivam a participação dos alunos nas
aulas, o que contribui para a constituição do conhecimento da relação professor-aluno.
O quadro 07 apresenta as teses e dissertações, que tratam do assunto elencado nesta
investigação, assim como o quadro 08, com artigos apresentados nos eventos ou publicados em
periódicos, dos portais de pesquisas supracitados (Item 2.2.1). O objetivo dessa busca foi
identificar quais abordagens e temáticas estão sendo trabalhadas no Ensino de Ciências e/ou
Biologia com o auxílio dos filmes comerciais.
Quadro 07 – Teses e dissertações sobre o uso de filmes no Ensino de Ciências e/ou Biologia
N° Título Tese (T), Dissertação (D), Monografia
(M)
Autor
Ano
Instituição
DC01 A Ciência e o cientista através da janela mágica: Santos, Silvania 2007 Instituto Oswaldo Cruz
estudo de caso com o filme “Sonhos Tropicais” de Paula Souza
– Fiocruz
dos
TC01 Contatos: A ficção científica no ensino de ciências Piassi, Luís Paulo 2007 Universidade de São
em um contexto sócio cultural
de Carvalho
Paulo – USP
DC02 Filmes de ficção científica como um meio de Nishitani,
sensibilização para a ética planetária: Estudo de Eduardo
caso numa Escola Pública de Ensino Médio em Yoshikazu
São Bernardo do Campo (2006-2007)
2007 Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
DC03 O cinema como instrumento didático para a Dantas, Anielle 2008 Universidade Federal
abordagem de problemas bioéticos: uma reflexão Avelina
de Uberlândia- UFU
sobre a eutanásia
DC04 Não é fita, é fato: tensões entre instrumento e Cipolini, Arlete
objeto – um estudo da utilização do cinema na
Educação
2008 USP
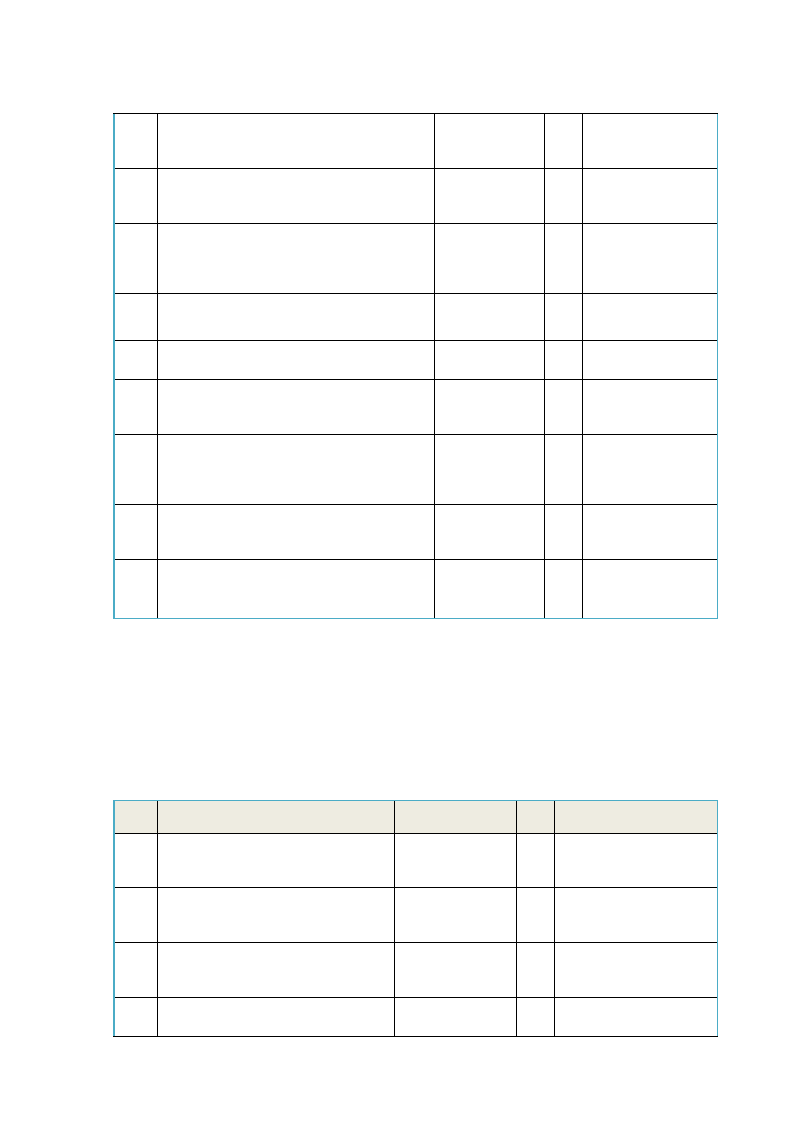
59
TC02 Os filmes de ficção científica nos ensinando a Bicca, Angela 2010 Universidade Federal
viver em uma civilização cibernética
Dillmann Nunes
do Rio Grande do Sul –
UFRGS
TC03 Educação audiovisual: uma proposta para a Rizzo Junior, 2011 USP
formação de professores de e Ensino Fundamental Sérgio Alberto
e Ensino Médio no Brasil
DC05 A História da Ciência no Cinema: contribuições Santos, Eliane 2011 Universidade Regional
para a problematização da concepção de natureza Gonçalves dos
Integrado do Alto
da ciência.
Uruguai e Missões –
URI
DC06 O uso do vídeo como ferramenta no ensino de Machado, Maria 2012 Universidade de Volta
genética
Helena
Redonda – UniFOA
DC07 O cinema como tecnologia educacional: Friedrich, Simoni 2012 URI do Alto Uruguai e
contribuições para a Educação Ambiental
Priensnitz
Missões –
DC08 História da Ciência e Formação de Professores: Tiago, Simone 2012 Universidade Federal
contribuições dos recursos audiovisuais a partir da Franco de São
do Rio de Janeiro –
análise de filmes científicos
UFRJ
DC09 Contribuições didático-pedagógicas do cinema Albuquerque,
2013 Universidade
de
para o Ensino de Ciências da Natureza da Ester Alves de
Brasília – UNB
Educação Básica por uma abordagem histórico- Faria de
filosófica das Ciências
TC04 Indústria cultural, natureza e educação: uma Santos, Janaina 2013 Universidade Federal
análise do uso de recursos midiáticos sobre a Roberta dos
de São Carlos -
temática ambiental na escola
TC05 Entre imagens cinema e imagens escola, Gomes, Larissa 2015 Universidade Federal
movimentando o pensamento com a formação de Ferreira
do Espírito Santo
professores
Rodrigues
Fonte: Autora, 2016.
Ao explorar os vários atributos dos filmes, como: imagens, sons, contextos,
personagens, histórias, os pesquisadores traçam diferentes percursos para defender e propor o
uso dos filmes no ensino, apresentando aos professores e alunos outra forma de intervenção
pedagógica com o cinema na sala de aula.
Quadro 08 – Artigos sobre o uso de filmes no Ensino de Ciências e/ou Biologia
N°
Título
Autor
Ano
Periódico/ Evento
Formação de professores mediada pela Coelho,C.S.;
2006 Revista do Departamento de
AC01 linguagem cinematográfica: filmes como Foganholi, M.E. N.
Psicologia – UFF.
recurso didático
A.; Ferreira, S. C.
AC02 Filmes de ficção científica como Machado, C.A.
mediadores de conceitos relativos ao meio
ambiente
2008 Revista Ciências &
Educação
AC03 Contribuições do cinema na formação Scheid, N. M. J.
inicial de professores de Ciências
Biológicas
2009 Revista Vivências
AC04 O currículo midiático na formação de Chaves, S. N.
professores de Biologia
2009 Revista Enseñanza de las
Ciencias
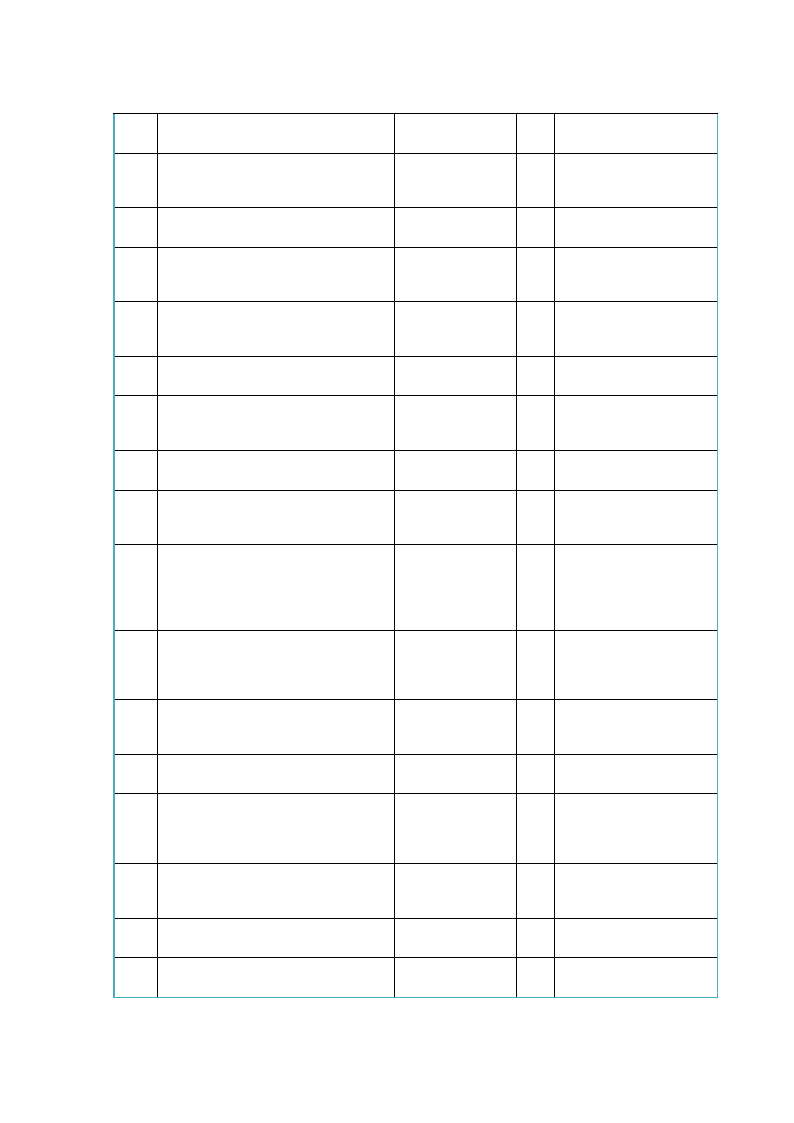
60
AC05 O uso do filme na formação de professores Varani, A.; Chaluh, 2008 Revista Educação Temática
L.N.
Digital
AC06 Questão de Sensibilidade: um filme para
conversar sobre a homossexualidade e
conceitos básicos da Genética
Scheid, N.M. J.;
Pansera-de-Araújo,
M.C.
2008 Revista Genética na Escola
AC07 Filmes na sala de aula: recurso didático, Christofoletti, R.
abordagem ou recreação?
2009 Revista Educação – UFSM
AC08 O cinema como instrumento didático para Dantas, A. A.; 2011 Revista Brasileira de
a abordagem de problemas bioéticos: uma Martins, C. H.;
Educação Médica
reflexão sobre a eutanásia
Militão, M.S. R.
AC09 A problematização da concepção de
Santos, E. G.;
natureza da ciência no ensino médio:
Scheid, N. M. J.
contribuições do filme 'E a vida continua'
2011 Ensino de Ciências e
Tecnologia em Revista
AC10 Filmes na formação de futuros
professores: educar o olhar
Chaluh, L. N.
2012 Educação em Revista
AC11 Cinema e educação: reflexões teórico-
metodológicas e didáticas
Ramos, M.A.R.;
Araújo, R. D.;
Souza, A.C. B.
2012 IV Fórum Internacional de
Pedagogia
AC12 Medicina e Cinema: aproximações para Mendonça, F.
uma filmografia
2012 INTERSEMIOSE – Revista
Digital
AC13 O uso do vídeo no Ensino de Biologia
como estratégia para discussão e
abordagens de temas tecnológicos
Machado, M. H.;
Vieira, V. S.;
Meirelles, R. M. S.
2012 III Encontro Nacional de
Ensino de Ciências da
Saúde e do Ambiente
AC14
O uso do cinema como estratégia
pedagógica para o ensino de ciências e de
biologia: o que pensam alguns
professores da região metropolitana de
Belo Horizonte
Barros, M. D. M.;
Girasole, M.;
Zanella, P. G.
2013 Revista Práxis
AC15
As mídias como ferramenta pedagógica
para o Ensino de Ciências: uma
experiência na formação de professores
de nível médio
Diório, A.I.; Rôças, 2013 Revista Práxis
G.
AC16 Luz, câmera, ação: o uso de filmes como
estratégia para o ensino de Ciências e
Biologia
Costa, E. C. P.;
Barros, M. D.M.
2014 Revista Práxis
AC17 Filmes nas salas de aula: as ciências em Souza, F. Ribeiro; 2013 Revista Textura
foco
Guimarães, L. B.
AC18
A utilização de produções
cinematográficas na formação de
professores: um novo olhar sobre o
trabalho educativo
Moura, M. R. L.
2014 Seminário Internacional de
Educação Superior 2014 –
Formação e conhecimento
AC19 Filmes como elementos motivadores para Silva, R.L.F.; Lahr, 2015 Textos FCC – Prêmio
repensar o ensino de Biologia:
D. J. G.; Pinto-da-
Professor Rubens Murillo
contribuições de uma disciplina
Rocha, R.
Marques 2015
AC20 Luz, câmera e educAÇÃO: o cinema em Trindade,L.L.;
2016 Revista Educação - UFSM
contextos educacionais
Rezende, P. C. M.
AC21 Cinema: instrumento pedagógico na
educação emocional
Schorn, S. C.;
Santos, E. G.
2016 Anais da XI Anped-Sul
Fonte: Autora, 2016.
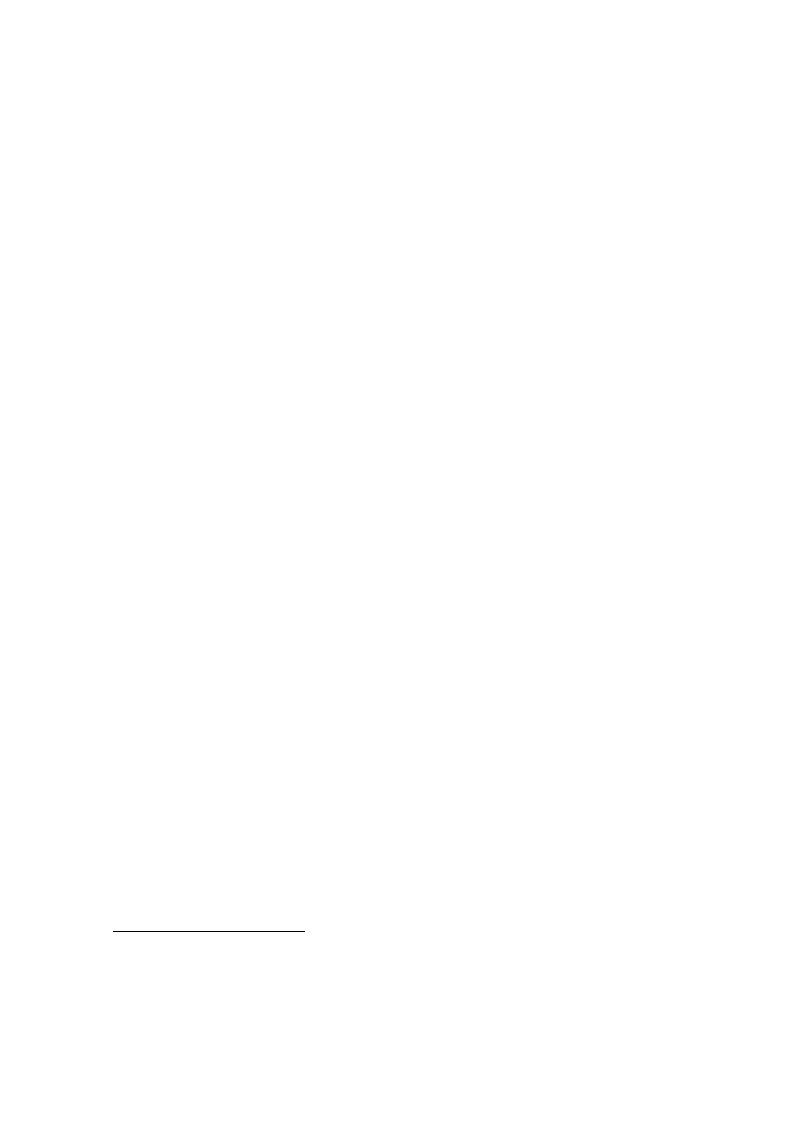
61
Ensinar Ciências utilizando como instrumento didático o cinema tem sido uma
preocupação emergente dos pesquisadores brasileiros, pois estes defendem que os filmes são
instrumentos de grande potencial para o ensino, seja pela proximidade dos contextos e das
histórias narradas com as questões reais da vida ou pela linguagem acessível que essa mídia
apresenta ao espectador, entre outros fatores.
Com base nos dados, foi possível sistematizar e analisar as linhas que os autores estão
propondo para o trabalho pedagógico com os filmes. Esses instrumentos estão sendo utilizados
no ensino nas seguintes perspectivas: formação inicial e continuada de professores e
dinamização das aulas com o auxílio de imagens e filmes (TC03, TC01); incentivo e proposição
de atividades pedagógicas com os filmes nas aulas (DC04); filmes como estratégias de ensino
dos conteúdos curriculares de ciências e biologia (DC01, DC06); questões sobre (bio)ética
profissional (DC03); questões de ética planetária, sustentabilidade e meio ambiente (DC02,
DC07, TCO4); problematização da natureza do conhecimento científico de professores e/ou
alunos (DC05, DC09); historiografia de filmes científicos como fontes históricas sobre a
natureza e a história da ciência (DC08); filmes como artefatos para refletir questões de ordem
social e cultural (TC02, TC05).
Na análise das publicações (Quadro - 08), foi identificada uma crescente preocupação
como o desenvolvimento de cursos e atividades de formação continuada de professores com o
uso do cinema, a fim de sensibilizar e incentivar a realização de atividades com esse instrumento
nas aulas, assim, como desenvolver nos alunos o olhar crítico sobre as informações veiculadas
por essa mídia. Os filmes mais utilizados nos trabalhos didático-pedagógicos propostos são os
do gênero de ficção científica, e os de animação, 11por abordarem de forma lúdica e instigante
questões como: meio ambiente e sustentabilidade, manipulação genética, relações de gênero,
entre outros.
No material analisado, observei ausência de trabalhos, que utilizam filmes para discutir
e refletir a educação em saúde na formação de professores. A exceção está na área da medicina,
onde se podem destacar os textos: DC03, A08 que utilizaram filmes do gênero drama para
propor questões sobre a saúde na formação. DC01 realizou um trabalho de investigação com o
filme ‘Sonhos Tropicais’, em que buscou promover em espaços formais e não formais de
11 Estes são alguns dos filmes utilizados ou que são sugestões para o trabalho pedagógico em sala de aula, conforme
os autores dos trabalhos do quadro 6. Filmes: E a vida continua (1993); Uma questão de sensibilidade (1996);
Contato (1997); Matrix (1999); A ilha (2005); Rei Leão (1994); Wall-E (2008); Vida de Inseto (1998); Procurando
Nemo (2003), Tá chovendo hambúrguer (2009); A era do gelo 1, 2, 3 e 4 ( 2001, 2005, 2009 e 2012); Rio 1 e 2
(2011, 2014); Divertida mente (2015).

62
ensino, discussões e reflexões sobre a: revolta da vacina, saúde pública, questões de gênero,
ações dos cientistas e relações entre ciência e sociedade, permitindo que os alunos pudessem
compreender as questões de saúde a partir de um dado contexto histórico.
O cerne das investigações de DC03 e A08 está na metodologia utilizada pelo(s)
professor(es) ao trabalhar com filmes comerciais para sensibilizar os alunos de medicina às
questões de saúde, relativos ao ensino da bioética, e, em particular, dos problemas morais
concernentes à eutanásia, ao (re)pensar e promover a autorreflexão e a reavaliação de valores e
práticas pessoais. Partindo desse pressuposto, os autores de P30 e P49 apontam que assistir e
discutir as cenas de um filme pode ser um “instrumento pedagógico significante para atingir
objetivos educacionais humanísticos dos currículos dos cursos de Medicina” (DANTAS;
MARTINS; MILITÃO, 2011, p. 69).
Ao refletir sobre o uso de filmes comerciais no ensino, observo a carência em produções
que tratem conjuntamente a formação de professores, a Educação em Saúde e o cinema como
um instrumento pedagógico de aprendizagem. Percebo a importância de pensar o processo
formativo de professores e as questões de Saúde e Educação em Saúde na busca de um
entendimento do instrumento pedagógico cinema, que permeie práticas em educação e
promoção da saúde no ambiente escolar.

63
3 REFERENCIAL TEÓRICO: PROCESSO FORMATIVO DE PROFESSORES DE
CIÊNCIAS DA NATUREZA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE MEDIADA PELO CINEMA:
ÁGUAS QUE SE ENCONTRAM
O debate sobre o processo formativo está em constante movimento, em decorrência das
novas ideias que circulam no espaço educacional, desde um caráter conteudista, ora uma
preocupação com a didática de ensino, priorizando apenas o “como ensinar”, quando o centro
das preocupações deveria estar no professor, na sua formação e prática docente. É nesse âmbito
que apresento neste capítulo discussões referentes às preocupações e aos desafios da formação
de professores na atualidade.
Utilizo os seguintes arcabouços teóricos para discutir a temática: professores em
processo formativo no cenário nacional: Chaves (2013), Güllich (2013), (2004) Maldaner
(1999, 2013); Pansera-de-Araújo (2012, 2013a, 2013b), Pimenta (2012), e internacional:
Alarcão (2011), Imbernón (2009, 2011), Nóvoa (1995), Shulman (2005), Vigotski (2008),
Zeichner (1998, 2008); compreensões de Saúde e Educação em Saúde: Carvalho (2014),
Candeias (1997), Mohr (2002), Vilaça (2006, 2007), Zancul e Gomes (2011), Pastorino et al.
(2008, 2016); cinema: Napolitano (2013), Duarte (2009), Santos (2011, 2014), Scheid (2008);
Moran (1995).
3.1 PROCESSOS FORMATIVOS EM CONTEXTO: A FORMAÇÃO DOCENTE
Os autores, que tratam da formação de professores no cenário nacional e internacional,
apontam a necessidade de discutir e re(pensar) a formação inicial e continuada de professores
reflexivos e pesquisadores de sua prática, questões referentes às melhorias nos processos de
ensino e de aprendizagem, a dicotomia entre a teoria e a prática, a iniciação à docência.
Para Schön (1983), essas questões sinalizam a emergência de um processo formativo
continuum na vida profissional do professor. Compartilhando do mesmo pensamento, García
(1995, p.54) aponta para a “necessidade de conceber a formação de professores sobre um
continuum”, que implica um ensino de melhor qualidade na licenciatura e, posteriormente, nos
demais níveis de ensino, pois para “manter a qualidade de ensino [...] é preciso criar uma cadeia
coerente de aperfeiçoamento, cujo primeiro nível é a formação inicial”(GARCÍA, 1995, p. 55).
No Brasil, desde 1990, o assunto formação de professores tem ganhado corpo, com a
promulgação da Lei n° 9394/1996 (LBD). Tanto universidades quanto faculdades empreendem
esforços no sentido de viabilizar alternativas para melhorar a formação inicial e a continuada

64
de professores. Contudo, o que se observa no contexto escolar e na literatura da área é que o
desenvolvimento profissional tem sido um processo desafiador nas últimas décadas, no que se
refere à prática profissional, aos fatores de ordem institucional e social, como: a racionalidade
técnica dos modelos formativos, a organização dos modelos de formação de cima para baixo
(IMBERNÓN, 2009), a formação ambiental (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011), as mudanças
curriculares, a inserção das novas tecnologias, o contexto social e as condições econômicas e
políticas da sociedade moderna.
Trafegar pelas águas turbulentas da formação de professores provoca questionamentos
dos modelos de ensino e aprendizagem, que circulam na academia, em especial na área das
Ciências da Natureza, alinhadas a práticas tecnicistas que conduzem o professor a uma atividade
pedagógica linear, fragmentada, “de rotinização e mecanização do trabalho” (IMBERNÓN,
2011). Maldaner (2013), ancorado em Schön (1992), chama a atenção que:
[...] currículos de formação profissional, com base na racionalidade técnica derivada
do Positivismo, tendem, exatamente, a separar o mundo acadêmico do mundo da
prática, e assim, manter o monopólio da pesquisa. Segundo Schön (1983, 1992), esses
currículos procuram proporcionar um conhecimento básico sólido no início do curso,
com subsequentes disciplinas de ciências aplicadas desse conhecimento para,
finalmente, chegarem à prática profissional, com os diferentes tipos de estágios. Como
vimos, os problemas abordados em tais currículos estão abstraídos das circunstâncias
concretas e da vivência, constituindo-se em problemas ideais e que não se aplicam às
situações práticas (MALDANER, 2013, p. 53).
Na atualidade, são muitas as críticas ao modelo de formação oferecido nas
universidades, um ensino transmissivo e distante do contexto da escola, em que teoria e prática
se encontram desarticuladas. Em relação a esse modelo formativo, Silva e Ferreira (2013)
corroboram com Maldaner (2013), quando citam que esses currículos segmentados
proporcionam aos licenciados conhecimentos relativos às ciências básicas pertinentes à sua área
de especialização, em seguida conhecimentos referentes às ciências aplicadas ou técnicas, para
posteriormente, nos estágios, os alunos aplicarem esses conhecimentos na prática profissional.
Tal situação formativa não contribui para o desenvolvimento profissional docente e para a
melhoria dos processos de ensino e aprendizagem.
Os pontos elencados só reforçam uma visão simplista de ensino, de que “basta um bom
conhecimento da matéria, algo da prática e alguns conhecimentos psicopedagógicos”
(CARVALHO, GIL-PÉREZ, 2011, p. 14) para ser um “bom” professor. Em geral, esse
entendimento compromete o processo formativo do futuro professor e não contribui para uma
compreensão dos diversos aspectos que envolvem o contexto de aprendizagem em sala de aula,

65
assim como, por exemplo, a necessidade de “(re)elaborar o conhecimento científico/acadêmico,
tornando-o acessível para ser apropriado e (re)elaborado pelos alunos, de acordo com os seus
níveis de escolaridade” (SILVA; FERREIRA, 2013, p. 427).
Outra questão preocupante que emerge no processo de formação é o despreparo
pedagógico dos professores formadores. Concordo com Maldaner (2013, p. 47), quando escreve
que “há um despreparo pedagógico dos professores universitários e isso afeta a formação em
Química”. Essa também é uma situação similar em outros cursos, como o de Ciências
Biológicas: “[...] professores universitários se comprometem pouco, muito aquém do
necessário, com essa questão da formação de professores e com sua autoformação pedagógica,
deixando para outro grupo, geralmente externo ao curso, a formação didático-pedagógica de
seus alunos” (Id. Ibid.)
Contrapondo-se à ideia de formação preconizada pela concepção positivista-tecnicista,
Carvalho e Gil-Pérez (2011) argumentam sobre as necessidades formativas dos professores de
Ciências e apontam nove aspectos a serem considerados: ruptura com visões simplistas sobre o
ensino de Ciências; conhecer a matéria a ser ensinada; questionar as ideias dos docentes de
“senso comum” sobre o ensino e aprendizagem das Ciências; adquirir conhecimentos teóricos
sobre a aprendizagem das Ciências; saber analisar criticamente o “ensino tradicional”; saber
preparar atividades capazes de gerar uma aprendizagem efetiva; saber dirigir o trabalho dos
alunos; saber avaliar e adquirir a formação necessária para associar ensino e pesquisa didática.
Nessa perspectiva formativa, que contempla os conhecimentos científicos, os
conhecimentos profissionais docentes e a realidade escolar, Maldaner; Frison (2014, p. 44)
citam que a “formação acadêmico-profissional crítica e reflexiva necessita estar articulada a
processos coletivos de formação contínua e de desenvolvimento curricular, de preferência pela
pesquisa educacional sobre os processos em curso”.
Nesse sentido, para compreender os desafios e os problemas da formação de professores
no Brasil na atualidade, em especial das Ciências da Natureza, é importante conhecer um pouco
da história deste processo. Para Gatti (2010), as Escolas Normais eram responsáveis pela
formação de docentes para trabalhar com a educação infantil e anos iniciais do ensino
fundamental (ensino primário) em cursos específicos. Esse fato perdurou até meados da década
de 90 do século XX, quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9.394/96 estipulou
que a formação destes professores deveria acontecer na Educação Superior.

66
Na primeira metade do século XX, os professores que exerciam a docência nos anos
finais do ensino fundamental e no ensino médio, antigo secundário, tinham sua formação em
cursos regulares e específicos, em que “a partir da formação de bacharéis nas poucas
universidades então existentes, acrescenta-se um ano com disciplinas da área de educação para
a obtenção da licenciatura”. Este processo atendia à formação “de docentes para o “ensino
secundário” (formação que veio a denominar-se popularmente “3 + 1”)” (GATTI, 2010, p. 02).
Neste modelo formativo, havia maior carga horária para a área das disciplinas específicas do
que para as de formação pedagógica.
Para Ayres; Selles (2012, p. 98), neste modelo “foram formados, conjuntamente, as
gerações de professores e de cientistas brasileiros dentro de um padrão direcionado para áreas
específicas. Isso explica, em parte, a tensão permanente existente entre bacharelado e a
licenciatura nas universidades brasileiras”. Este tipo de formação deixou marcas que
influenciam até hoje o processo formativo de professores, no sentido de que é notável a
dissociação da teoria e da prática, além de que em muitos cursos de licenciatura o currículo é
normativo, sendo que primeiro se apresentam os conhecimentos específicos e sua aplicação,
para depois, geralmente no último ano do curso de graduação, as práticas de ensino e os
estágios, ou seja, área pedagógica do ensino. Em virtude dessas tensões no processo de
formação, Ayres; Selles (2012, p. 98) consideram que “estas marcas expressam-se não somente
no modelo de preparação dos professores, mas igualmente nas disputas sobre as decisões
curriculares para o ensino de ciências”.
Outra questão importante acerca da formação de professores, em meados do século XX,
é a carência destes profissionais para lecionar nas escolas, situação que ocorreu em virtude da
expansão das escolas públicas de ensino primário, a fim de atender as demandas de
escolarização da população. Diante deste cenário, o governo federal normatizou decretos que
possibilitaram o processo formativo. Já em relação à formação de professores do secundário,
houve importantes mudanças advindas da reforma educacional de 1931, no primeiro governo
de Getúlio Vargas. Em 1930, foram criados cursos superiores para formação de professores
secundários no Brasil na Universidade de São Paulo (1934), na Universidade do Distrito Federal
(1935) e na Universidade do Brasil (1939) (ROMANELLI, 2007).
De acordo com Romanelli (2007), a reforma de 1931, além de influenciar a
profissionalização do magistério do ensino secundário no Brasil, introduziu modificações na
organização do ensino superior e promoveu a criação de cursos universitários para a formação
de professores secundários.

67
Ayres; Selles (2012) e Barolli; Villani (2015) apresentam que, nos últimos cinquenta e
cinco anos (1960 – 2015), a formação de professores da área de Ciências pode ser caracterizada
a partir de diferentes posições, na disputa de orientar o ofício de ensinar Ciências. No início da
década de 1960, os cientistas da área, a partir de sugestões e colaborações internacionais,
conduziram o processo de renovação do ensino de Ciências Naturais, o qual passou a ter
métodos de ensino mais ativos, com maior uso de laboratórios e aulas práticas. Um dos
objetivos do ensino neste período era o enfoque nas práticas experimentais, tendo como
intencionalidade formar “pequenos cientistas”.
Em 1961, a LDB instituiu a obrigatoriedade da disciplina de Ciências no Ensino
Fundamental. Outro marco do processo de formação de professores do Brasil, incluindo os de
Ciências, foi a implantação das licenciaturas curtas pelo Conselho Federal de Educação, em
1974. Barolli e Villani (2015, p. 80) citam que a implantação ocorreu de maneira autoritária,
sem consulta à comunidade universitária: “a licenciatura de curta duração nas universidades
estaduais e federais, que, na inspiração dos modelos de formação rápida sugeridos pelo Banco
Mundial, oferecia ao professor uma formação muito aligeirada nas disciplinas
científicas”. Esse modelo de formação provocou muitas críticas e questionamentos quanto a
sua natureza epistemológica. Na década de 1980, houve a dissolução das licenciaturas curtas e
a obrigatoriedade de ser plena, no Brasil. Ainda, esta década marcou o início do movimento em
prol de um ensino voltado à formação cidadã dos sujeitos.
Para Barolli e Villani (2015, p. 74), a história da Educação no Brasil é marcada a partir
de diferentes pressupostos, por vezes antagônicos: “certamente há razões de naturezas diversas
para que se tenham operado as mudanças na maneira de se compreender essa profissão e, mais
ainda, razões que justifiquem uma oscilação, não necessariamente regular, entre polos tão
antagônicos”. Tal situação acentua debates sobre políticas educacionais e reivindicações da
classe por uma formação de professores sólida com condições de trabalho dignas, salário e
carreira.
Em face da discussão, destaca-se um ponto positivo sobre a formação de professores na
década de 90 do século XX. Ações oficiais são propostas para introduzir uma nova
compreensão de professor e do processo formativo no Brasil. O Conselho Nacional de
Educação (CNE), em 2001, por meio do Parecer n° 009/2000, definiu as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de
licenciatura, de graduação plena (GATTI, 2010). Neste contexto, também emerge a
preocupação com a formação continuada de professores, porém não houve concepção formativa
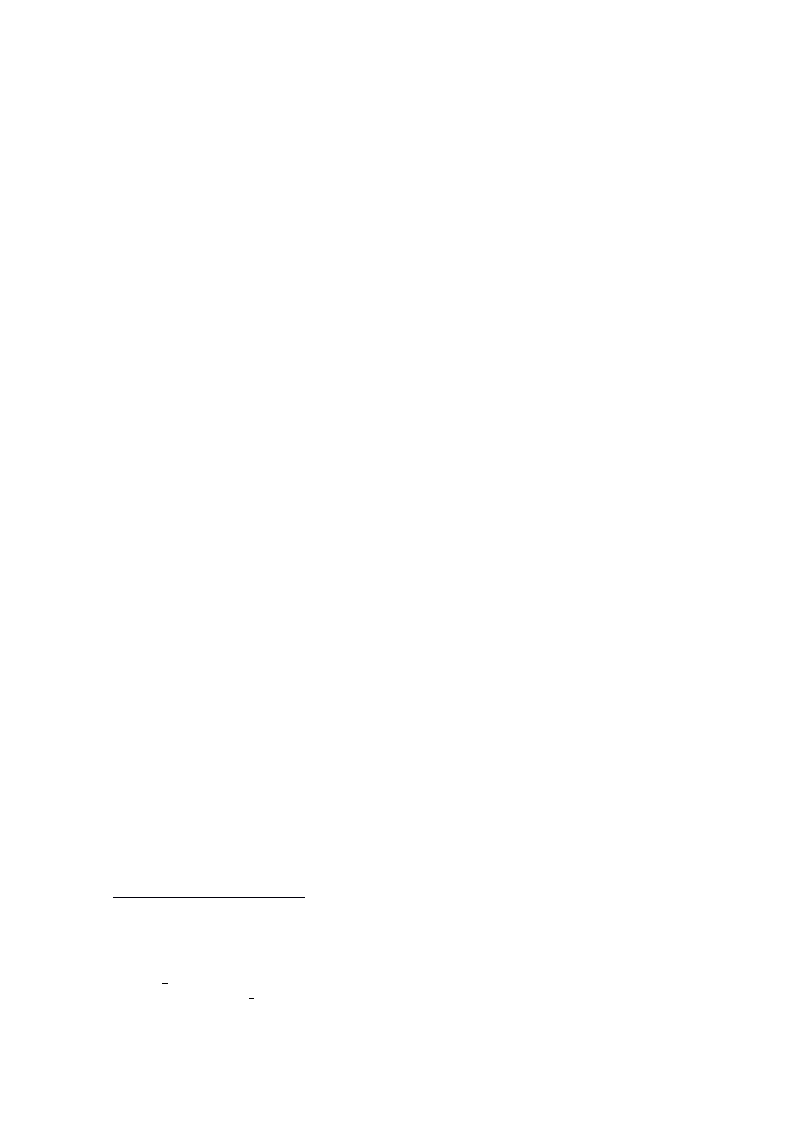
68
processual, sendo a formação concebida como uma espécie de “treinamento”, que apresentava
aos professores “técnicas/ receitas” de como ensinar. Neste contexto, não se identificava uma
preocupação com o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, com os reais problemas da
educação e da prática docente. Neste modelo de formação continuada, a qualificação
profissional do professor não era levada em conta (SAVIANI, 2011).
Nos anos 2000, a preocupação com a formação de professores ganha destaque, assim
como a melhoria do ensino. Para tanto, institui-se a Política Nacional de Formação de
Profissionais do Magistério da Educação Básica, regulamentada por meio do Decreto nº 6.755,
de 29/01/2009, e, por meio dele, a elaboração do Plano Nacional de Formação de Professores,
o qual ainda apresenta algumas fragilidades relativas ao trabalho e ao plano de carreira docente.
Neste movimento de pensar em políticas e práticas relativas à qualificação da educação, há de
se destacar os programas: o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica
(PARFOR), que tem como objetivo desenvolver ações conjuntas entre as secretarias de estados
e as municipais e as instituições de Ensino Superior para oferecer formação de licenciatura
conforme preconiza a LDB, ou segunda licenciatura e\\ou cursos de formação pedagógica para
bacharéis sem licenciatura; a Universidade Aberta do Brasil (UAB), que teve como objetivo
promover a capacitação inicial e continuada de professores da educação básica, com a utilização
de metodologias de Educação a Distância (EaD), a partir de parcerias entre as instituições
públicas de Ensino Superior; o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID), cuja finalidade é contribuir para a formação de professores em nível superior, tendo
como objetivos incentivar a formação de docentes para a educação básica; elevar a qualidade
da formação inicial de professores; inserir os licenciandos no cotidiano e na cultura escolar; e,
mais recentemente, o Programa Residência Pedagógica, lançado em fevereiro de 2018, cujo
objetivo é induzir o aperfeiçoamento do estágio curricular supervisionado nos cursos de
licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir da
segunda metade de seu curso12.
12 Portaria n° 38, de 28 de fevereiro de 2018, institui o Programa Residência Pedagógica. Que tem como público
alunos dos cursos de licenciatura ofertados na modalidade presencial ou no âmbito do Sistema Universidade Aberta
do Brasil (UAB), por Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas sem fins lucrativos. Disponível
em: <https://www1.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/01032018-portaria-n-38-de-28-02-2018-
residencia-pedagogica.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2018.
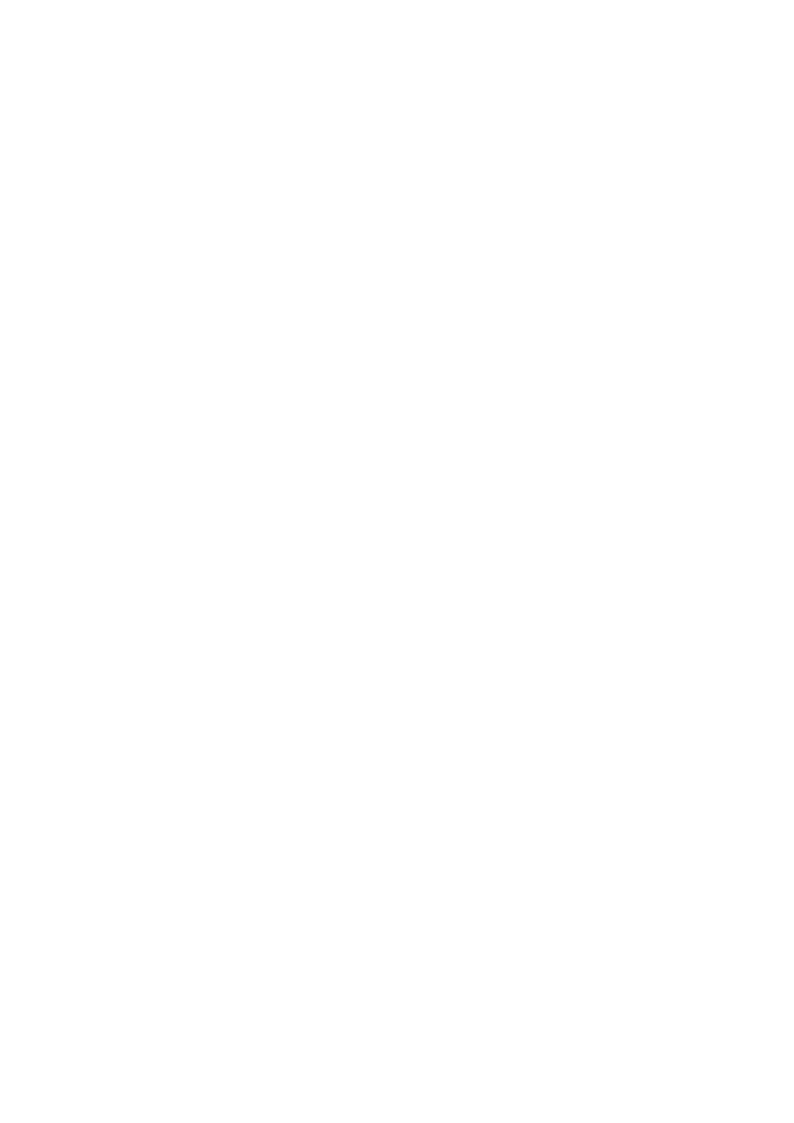
69
Ao apresentar esta breve contextualização da formação de professores no Brasil, é
possível reconhecer que esta discussão não é nova, porém desperta atenção devido à dicotomia
entre teoria e prática no processo formativo e na ação docente e outros entraves para o
desenvolvimento de um ensino comprometido com a qualificação profissional.
Para tanto, há que se considerar no processo formativo, como aponta Imbernón (2009),
a falta de inovação. Por sua vez, Nóvoa (1995, p. 25) afirma que “a formação não se constrói
por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou técnicas), mas através de um trabalho de
reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade
pessoal”. Zeichner (1998) acena para a criação de grupos formativos, pensando a prática na e
pela pesquisa como um importante processo da constituição do trabalho do professor.
Para Zeichner (1988), a reflexão da prática não pode ocorrer de maneira isolada. Ela
deve ser pensada em processos compartilhados, em relações dialógicas, de maneira que os
sujeitos envolvidos no processo possam apoiar-se mutuamente e encontrar caminhos para as
dificuldades encontradas em seu trabalho pedagógico, “à medida que refletem ‘na’ e ‘sobre’ a
ação, sobre o seu ensino e as condições sociais que o produzem, colocando em outro patamar a
relação entre teoria e prática” (GERALDI; MESSIAS; GUERRA, 1998, p. 256). Ghedin,
Oliveira e Almeida (2015, p.35) também têm esta preocupação com a formação e atuação
docente reflexiva, pois para esses autores “os professores recém-formados [...] rendem-se
facilmente à cultura da escola, na maioria das vezes abandonando os referenciais da ciência
que os formou”. Tal prática pode ser decorrente do “fato de que os processos formativos não
conseguem ser estruturantes dos processos cognitivos e perceptivos dos docentes” (GHEDIN;
OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015, p.36). O que impõe a inserção dos professores em processos de
formação continuada e em grupos colaborativos que reflitam e investiguem suas práticas
pedagógicas.
Partindo do entendimento apresentado no parágrafo anterior e ancorada no princípio da
tríade formativa (ZANON, 2003), constituí o grupo com os professores que integram o PIBID
Ciências Biológicas – UFFS, para discutir e problematizar a partir de filmes comerciais as
compreensões sobre temáticas referentes à Saúde e Educação em Saúde, buscando articular os
saberes formativos disciplinares com os aspectos práticos da atuação profissional, por meio da
parceria colaborativa entre os sujeitos da tríade.
Zanon assinala que a tríade formativa amplia as discussões sobre a prática docente, ao
longo da formação, e promove espaços de reflexão metacognitiva em que:
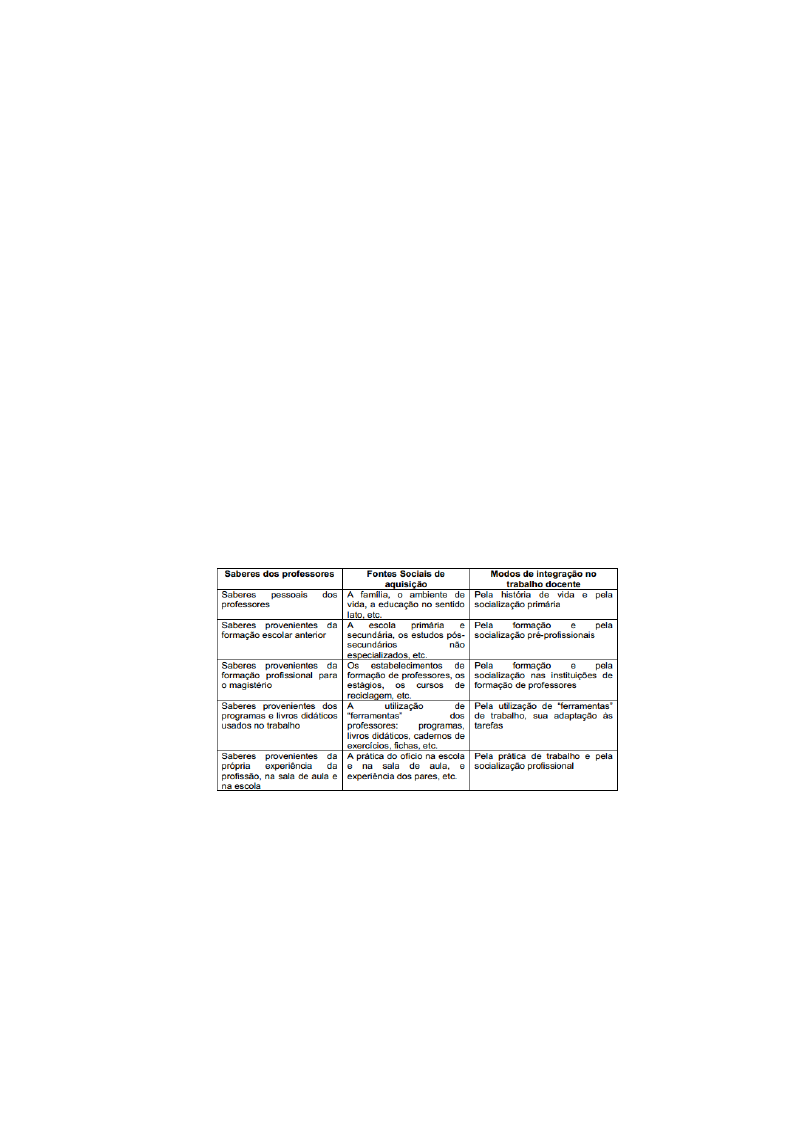
70
[...] professores do ensino médio, em química, atuam em parceria colaborativa com
formadores universitários, visando potencializar a formação profissional de
licenciando; como um espaço interativo onde discussões e reflexões sobre práticas
docentes, posturas, crenças e saberes profissionais experientes no ensino de química
são enfocadas levando em conta condicionantes reais do trabalho docente e estratégias
de enfrentamento de dificuldades, contrapondo-se, nesse sentido, aos moldes da
racionalidade técnica (ZANON, 2003, p. 20).
A intervenção formativa, descrita pela autora a partir da tríade, possibilita que os
licenciandos sejam colocados frente ao problema de ‘como ensinar’, a partir da interação
estabelecida com professores mais experientes, promovendo reflexões acerca da realidade da
escola, da sala de aula (ZANON, 2002) e da prática docente. Como cita Tardif (2002, p. 22):
“ensinar supõe aprender a ensinar, ou seja, aprender a dominar progressivamente os saberes
necessários à realização do trabalho docente”. Nesse sentido, Tardif; Lessard; Lahaye (1991)
expressam a necessidade de os professores serem detentores de um saber plural (Quadro 09), o
qual contempla os saberes da formação profissional, os saberes disciplinares, os saberes
curriculares e os saberes experienciais, sob a forma de habitus e habilidades (TARDIF, 2002)
para o desenvolvimento de sua prática pedagógica e o seu desenvolvimento profissional.
Quadro 09 - Saberes docentes, segundo Tardif (2002).
Para Tardif (2002), os saberes docentes são provenientes de diferentes fontes, e os
professores estabelecem distintas relações com eles. Nesse sentido, é necessário que professores
em formação inicial e continuada mantFeonnhtae:mTarddiiáf l(o20g0o2s). e trocas, a fim de incorporar
experiências e novos conhecimentos no exercício da docência. Pois,
[...] a atividade docente não se exerce sobre um objeto, sobre um fenômeno a ser
conhecido, ou uma obra a ser produzida. Ela se desdobra concretamente numa rede
de interações com outras pessoas, num contexto onde o elemento humano é
determinante e dominante, e onde intervêm símbolos, valores, sentimentos, atitudes
[...]. exigem, portanto, dos (as) professores (as), não um saber sobre um objeto de
conhecimento, nem um saber sobre uma prática e principalmente destinado a objetivá-

71
la, mas uma capacidade de se comportar enquanto sujeito, ator e de ser uma pessoa
em interação com outras pessoas (TARDIF; LESSARD; LAHAYE, 1991, p. 228).
Assim, quando os professores em interação com seus pares, e na reflexão da sua prática,
levam em consideração seus saberes docentes, as especificidades do seu trabalho, aliado aos
seus saberes experienciais (oriundos das suas vivências individuais e coletivas durante a sua
ação pedagógica), eles tomam consciência do seu papel no processo de ensino e de
aprendizagem dos alunos. Como afirma Tardif (2002), os saberes dos professores são plurais e
heterogêneos. Desta forma, neste movimento de partilha de saberes, de formação compartilhada
e articulada entre os sujeitos da tríade, acentuam-se as possibilidades de desenvolvimento
profissional do professor em formação inicial e do professor em exercício. Como afirma Nóvoa,
é relevante:
[...] articulação da formação inicial, indução e formação em serviço numa perspectiva
de aprendizagem ao longo da vida; atenção aos primeiros anos de exercício
profissional e à inserção dos jovens professores nas escolas; valorização do professor
reflexivo e de uma formação de professores baseada na investigação; importância das
culturas colaborativas, do trabalho em equipe, do acompanhamento, da supervisão e
da avaliação dos professores; etc. (NÓVOA, 2009, p. 14).
Assim, esses processos contribuem para a valorização do sujeito profissional, da
melhoria da prática docente e pedagógica e enfrentamento de situações complexas que estão
contidas no fazer docente. Daí a importância de desenvolver práticas reflexivas e colaborativas
entre os sujeitos da tríade, pois nesse movimento nas águas formativas os professores se apoiam
e colaboram com o crescimento uns dos outros, e quando “estamos pensando/refletindo sobre
nossas atividades de ensino cotidiano, estamos também criando saberes. Estamos teorizando”
(GERALDI; MESSIAS; GUERRA, 1998, p. 25)
Ao abordar o percurso da formação de professores no Brasil, entende-se o porquê de
algumas questões ainda se fazerem presentes na prática docente, como, por exemplo, a
dicotomia entre teoria e prática, decorrente de uma formação fragmentada e pouco
comprometida com a formação didático-pedagógica dos professores, assim como dos
conteúdos de ensino, fato que acarreta aos futuros professores dificuldades ao exercerem a
docência e apresentarem os conhecimentos científicos em sala de aula. Em relação à
qualificação profissional, observam-se alguns avanços em relação às políticas públicas de
formação de professores no Brasil, a partir da criação de programas como PARFOR, UAB,
PIBID, Residência Pedagógica. No próximo subitem, é apresentada uma contextualização sobre
o conhecimento pedagógico de conteúdo dos professores, que serve de base e fundamenta o ato
de ensinar em sala de aula.

72
3.1.1 Shulman: a relevância do conhecimento pedagógico de conteúdo no processo de
formação de professores
A formação de professores é um campo de inúmeras pesquisas, debates e reflexões,
dentre as quais destaco o trabalho de Lee S. Shulman, que investiga o conhecimento profissional
docente. Ele e sua equipe foram pioneiros nessa linha de pesquisa, buscando compreender como
os professores desenvolvem o conhecimento pedagógico de conteúdo (PCK ou CPC). Essa
expressão foi empregada por Shulman numa conferência realizada na Universidade do Texas,
em 1983. O PCK “é uma categoria específica do conhecimento dos professores dentro da
categoria do conhecimento prático” (FERNANDEZ, 2011, p. 2), referindo-se à intersecção
entre conteúdo e pedagogia.
Shulman (1987, 2005) aponta que, dentre os aspetos que definem a profissão docente,
está um conjunto de conhecimentos basilares para o seu exercício, que não se restringe ao
conhecimento do componente curricular ou área de estudo, mas se relaciona ao contexto de
trabalho onde esse profissional deverá atuar. Para tanto, é necessário que os professores
estabeleçam conexões entre o significado do conteúdo que estão ensinando e aquele
compreendido pelos alunos. Para distinguir “um professor de um especialista na matéria”
(FERNANDEZ, 2011, p. 2), devemos levar em consideração a capacidade do professor para
transformar o conhecimento do conteúdo que ele possui em formas pedagogicamente poderosas
e adaptadas às variações dos estudantes, levando em consideração as suas experiências
individuais e coletivas.
Por conseguinte, os professores devem ter uma ampla e profunda bagagem de
conhecimento (conhecimento de base) dos conteúdos que ensinam, para identificar as
necessidades formativas de seus alunos durante os processos de ensino e de aprendizagem dos
conteúdos curriculares. Para tanto, Shulman (1987) desenvolveu o que ele chamou de
conhecimento de base (Knowledge-base), o qual compreende o:
a) conhecimento do conteúdo, enfatizando não apenas o componente curricular em si,
mas seus aspectos filosóficos e históricos;
b) conhecimento pedagógico geral refere-se aos princípios e os métodos de gestão da
sala de aula;
c) conhecimento do currículo, compreensão dos programas do componente curricular
ministrado;

73
d) conhecimento pedagógico do conteúdo, como um amálgama entre o conteúdo e a
pedagogia, exclusiva do professor, revela a forma própria, única e especial do
entendimento profissional;
e) conhecimento do aluno e de suas características;
f) conhecimento do contexto educativo, da sala de aula, da gestão financeira dos
recursos escolares, da comunidade;
g) conhecimento do contexto e o conhecimento dos objetivos, das finalidades e dos
valores educativos, e dos seus fundamentos filosóficos e históricos.
Para Shulman (2005, p. 13), o ensino parte do entendimento do professor sobre o que
deve ser e como (meios e atividades) isso deve ser ensinado, porém a aprendizagem é do aluno.
Em “outras palavras, os princípios do ensino efetivo têm a ver com o fato de transformar as
salas de aula em lugares onde os alunos possam começar as tarefas de aprendizagem”, sendo
“orientados para a aprendizagem com o mínimo de interrupção e distração para receber uma
oportunidade justa e adequada para aprender”.
O conhecimento pedagógico de conteúdo é “[...] um novo tipo de conhecimento, que é
construído constantemente pelo professor ao ensinar a matéria e que é enriquecido e melhorado
quando se amalgamam os outros tipos de conhecimentos explicitados na base. É uma forma de
conhecimento do conteúdo” (MIZUKAMI, 2004, p. 39).
Em relação ao conhecimento pedagógico do conteúdo existem pelo menos quatro
fontes do conhecimento base para o ensino: a formação acadêmica da disciplina a ensinar; os
materiais e o contexto do processo educativo institucionalizado (por exemplo, o currículo, os
livros, a organização escolar, etc); a pesquisa sobre a escolarização, as organizações sociais, a
aprendizagem humana, o ensino e desenvolvimento e os demais fenômenos socioculturais que
influem no fazer dos professores; e a sabedoria da própria prática.
Destarte, o conhecimento pedagógico do conteúdo vai além daquele do componente
curricular em si e chega ao do conteúdo para o ensino, que tem profunda relação com o
planejamento e as abordagens metodológicas que o professor desenvolve sobre determinado
assunto em sala de aula. Desta maneira, o ensino termina com uma compreensão do aluno e
uma nova compreensão por parte do professor do assunto ensinado (SHULMAN, 1987, 2005).
“Essa transformação do conteúdo em formas didaticamente poderosas é o que Shulman
denomina de conhecimento pedagógico do conteúdo” (FERNANDEZ, 2011, p. 3).
Para chegar ao PCK, Shulman (1987, 2005) identificou o que denominou de raciocínio
pedagógico, que reúne processos complexos e reflexivos, inerentes à ação educativa. A partir
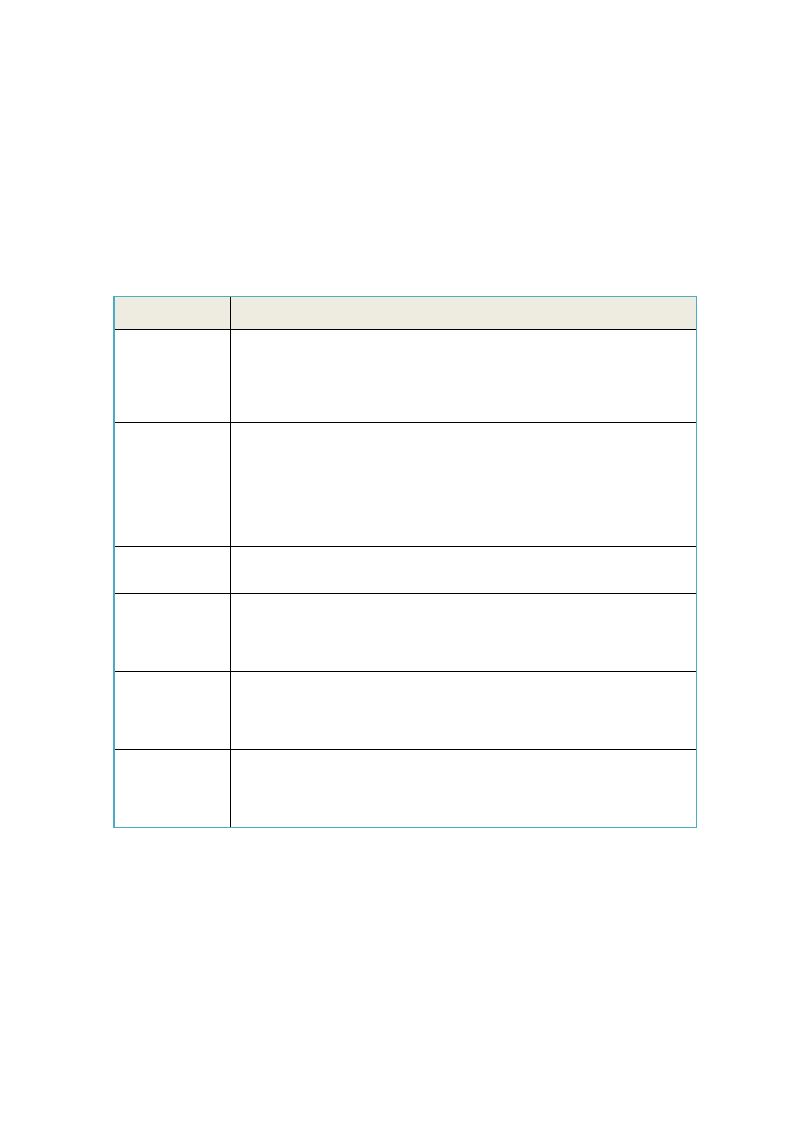
74
do trabalho investigativo realizado, o autor defende que os conhecimentos são acionados e
construídos durante o processo de ensinar e aprender, para o qual supõem um ciclo através das
atividades de compreensão, transformação, ensino, avaliação e reflexão, cujo ponto de partida
e a culminância do processo é o ato de compreensão. As etapas do modelo são descritas, no
Quadro 10.
Quadro 10 – Etapas e descrição do Modelo de Raciocínio Pedagógico e Ação (MRPA), conforme Shulman
Etapas
Compreensão
Transformação
Descrição
Engloba possibilidades de construir relações da matéria que ensina com o contexto
social e político, com outros pensamentos e objetivos do processo de ensino-
aprendizagem no contexto do curso ou instituição. Para isso é importante que o
professor compreenda o que ensina, e assim possa criar condições para que seus
alunos aprendam. Na compreensão estão envolvidos os seguintes indicadores:
objetivos de ensino, conteúdo de ensino, os alunos e outros conteúdos.
A partir da compreensão, o professor é capaz de realizar a transformação do que foi
compreendido para ser ensinado aos seus alunos. Para tanto, o professor prepara o
modelo pedagógico e os materiais a serem utilizados conforme julga mais adequado
ao ensino-aprendizagem. Esse processo parte de um entendimento pessoal para
possibilitar a compreensão de outros. A transformação compreende as seguintes
etapas: interpretação crítica, representação, seleção, adaptação e consideração de
características dos alunos.
Instrução
Está relacionada à prática docente do professor, as interações que desenvolve com
seus alunos e as características de ensino observáveis em sala de aula.
Avaliação
Ação que ocorre durante e após a instrução. Contempla o processo avaliativo do aluno
e do professor. Esse compreende as seguintes etapas: verificação e análise das
compreensões dos alunos, autoavaliação docente, adaptação das experiências surgidas
no percurso do ensino.
Reflexão
Momento de o professor refletir e avaliar o percurso pedagógico, identificando suas
potencialidades e fragilidades, a fim de obter uma nova compreensão da sua prática.
Esse momento inclui as seguintes etapas: revisão, reconstrução, representação e
análise crítica.
Nova Compreensão O professor tem uma nova compreensão – enriquecida dos propósitos, da matéria, do
ensino, dos alunos, do próprio professor, e de outros conhecimentos da base de
conhecimentos para o ensino, fruto do processo de ensinar e aprender desenvolvidos,
possibilitando a compreensão de novas compreensões e de aprendizagens.
Fonte: Adaptado de Mizukami (2004, p. 40-41) e Miranda (2015, p. 61-63).
O processo de MRPA é apresentado na representação gráfica a seguir (Figura 2).
Figura 2 – Modelo de Raciocínio Pedagógico e Ação (MRPA)
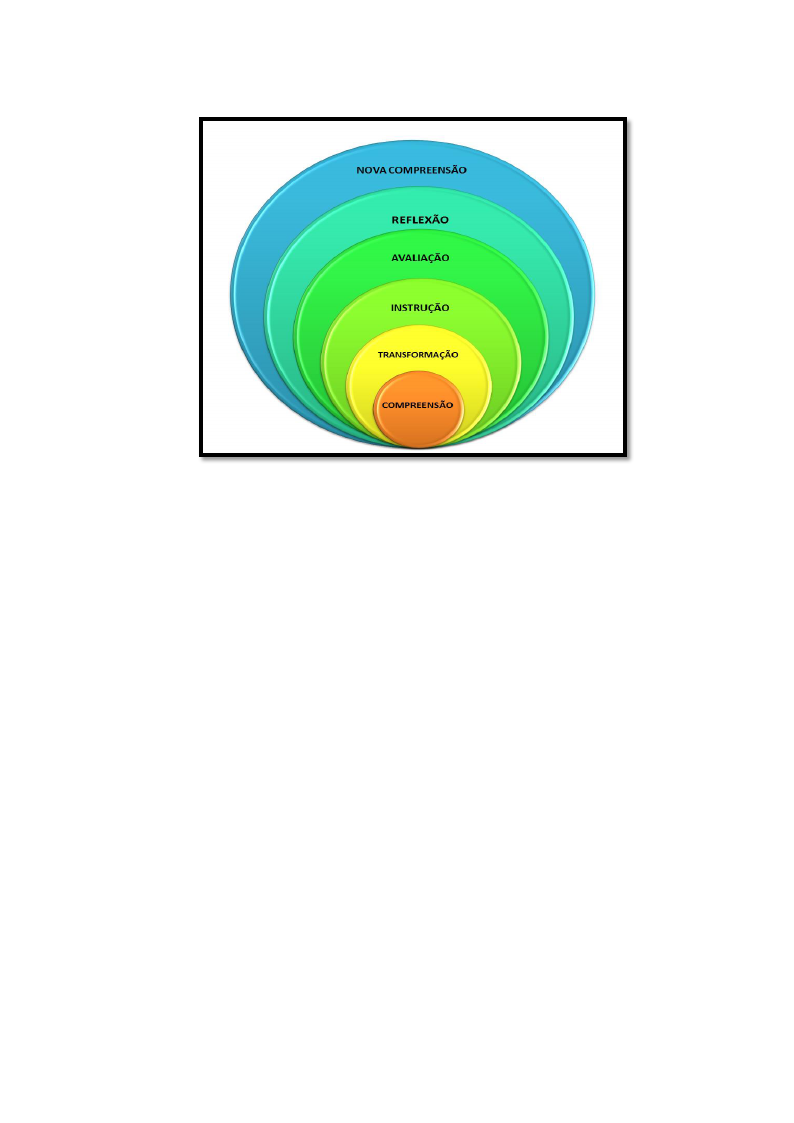
75
Fonte: Shulman (1987, 2005)
O Modelo de Raciocínio Pedagógico e Ação “abarca os conhecimentos que o professor
possui sobre o conteúdo e sobre as abordagens metodológicas que desenvolve sobre um
determinado assunto. Em cada etapa, uma série de conhecimentos e habilidades são
necessárias” (FERNANDEZ, 2011, p. 3). As mesclas desses conhecimentos ocorrem em um
movimento cíclico e contínuo e possibilitam ao professor refletir sobre sua prática docente e
compreender que esse conhecimento pode ter potencial transformador para a aprendizagem, de
forma que ela seja compreensível e significativa para seus alunos.
Shulman apresenta os elementos necessários ao desenvolvimento do PCK, porém seus
estudos não demonstram preocupação com os conceitos que permanecem e estruturam uma
disciplina escolar; suas pesquisas ficaram limitadas aos princípios e estratégias de organização
e gestão da sala de aula. Ramos; Graça e Nascimento (2008) citam que Shulman não mencionou
como esses conhecimentos foram entrelaçados e usados. Partindo deste ponto, como o professor
transforma o conteúdo específico em conteúdo didatizado, tornando-o compreensível e com
significado para os alunos? Que conhecimentos ele, professor, mobiliza para desencadear a
aprendizagem e apropriação conceitual dos discentes? Buscando compreender e aprimorar o
entendimento sobre o PCK, novas pesquisas foram e estão sendo realizadas acerca deste assunto
tão caro ao processo de formação de professores.
Grossmann (1990), aluna de doutorado de Shulman, foi quem primeiro sistematizou os
componentes do PCK (conhecimento do conteúdo específico, conhecimento pedagógico geral
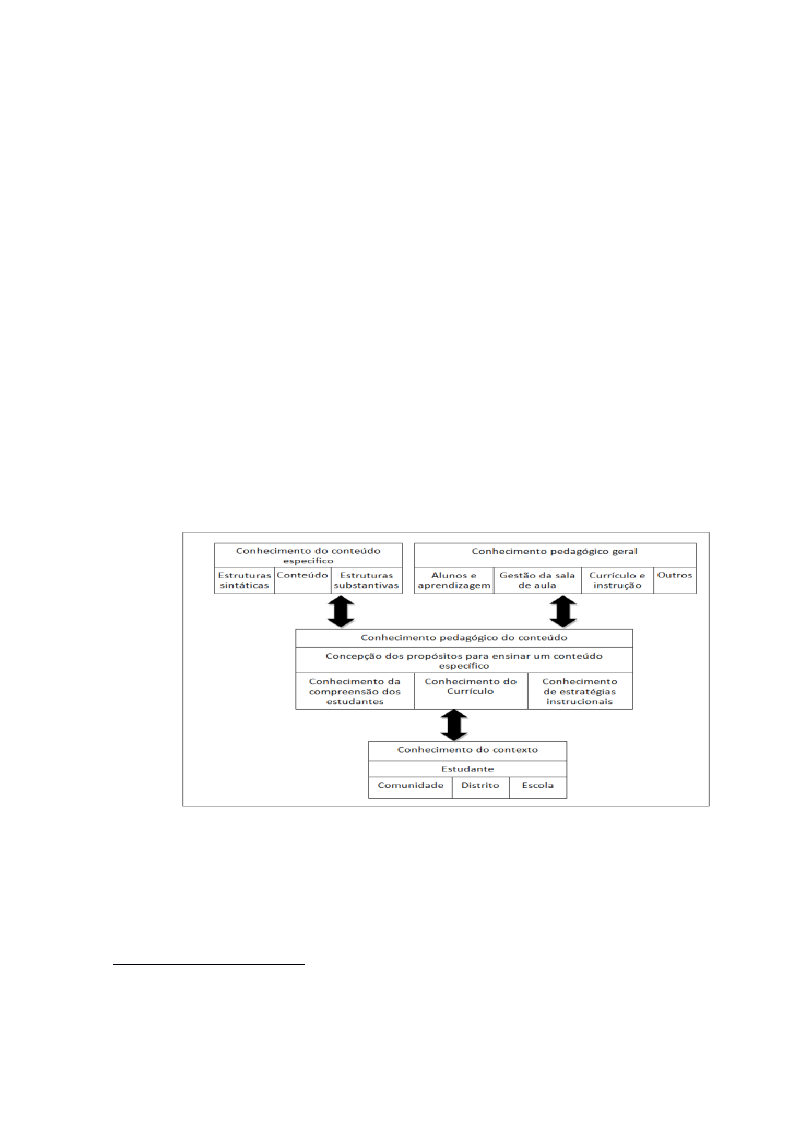
76
e conhecimento do contexto). Ela cita que o entrelaçamento desses conhecimentos forma o PCK
(Figura3), que é resultado da transformação de outros domínios do conhecimento. Para
Grossmann, o PCK é orientado pela compreensão dos objetivos para ensinar um conteúdo
específico e é constituído pelo conhecimento dos entendimentos dos estudantes, pelo
conhecimento do currículo e pelo conhecimento das estratégias instrucionais. Assim, esta é uma
compreensão nova e pessoal do professor, que contribui para que ele consiga identificar que
cada aluno aprende de forma diferente e em contextos singulares, portanto a importância desse
conhecimento que é pessoal de cada profissional da educação. Como Grossmann afirma, o PCK
é a soma das experiências pessoais, profissionais, acadêmicas e teóricas. Detentor deste
conhecimento, o professor estará mais atento ao sistema de avaliação das aprendizagens e terá
sensibilidade para planejar, elaborar sua aula e identificar o nível de dificuldade de um dado
conteúdo ao apresentá-lo aos alunos (FIGURA 3).
Figura 3 - Modelo da Conhecimento Profissional de Professor de Grossmann (1990),
adaptado de Ussa (2007, p.37).
Ussa (2007), em sua tese de doutorado sobre “O conhecimento didático do conteúdo
biológico: Estudo das concepções disciplinares e didáticas de futuros docentes da Universidade
Pedagógica Nacional (Colômbia)”, apresenta o percurso que diferentes autores realizaram sobre
novos elementos que se agregam e compõem o PCK. De acordo com Ussa, para Carlsen13
13 CARLSEN, W. (1999). Domains of Teacher Knowledge. In: GESS-NEWSOME, J. and LEDERMAN, N.
(Eds.). Examining Pedagogical Content Knowledge. The Construct and its Implications for Science Education.
Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers. pp. 133-144

77
(1999), o conhecimento profissional do professor não pode existir independente e isoladamente:
ele deve estar integrado e inter-relacionado para pensar o ensino. Carlsen; Magnusson et al.14.
(1999) incluem mais um elemento: a avaliação do conhecimento pedagógico de conteúdo para
o ensino de ciências. Magnusson et al. citam que neste plano estão o conhecimento e as crenças
dos professores sobre as finalidades e objetivos para o ensino de ciências. Acerca deste ponto,
Ussa (2007, p. 42) cita que15 “dados que las concepciones generalmente están arraigadas, son
difíciles de cambiar; como consecuencia, este hecho tiene transcendentales implicaciones en la
formación del professorado”.
Ramos; Graça e Nascimento apresentam que Gess-Newsome16 (1999) propôs dois
modelos de conhecimento de professor. “No modelo integrativo, de certo modo o PCK não
existe em si como um modelo de conhecimento. Este conhecimento elaborado depende do
contexto onde o conteúdo é usado e de determinada forma de instrução” (RAMOS; GRAÇA;
NASCIMENTO, 2008, p. 164). Neste modelo, o conhecimento pedagógico de conteúdo ocorre
a partir da integração dos conhecimentos: da matéria, do pedagógico e do contexto. Já no
modelo transformativo, o “PCK é a síntese de todos os conhecimentos necessários para se fazer
um ensino efetivo, ou seja, a transformação da matéria, do conhecimento pedagógico e do
contexto numa forma específica de conhecimento” (Id. Ibid.). Ambos os modelos (Figura 4)
têm suas características e peculiaridades: o integrativo tem um caráter mais simples; já o
transformador é mais complexo. De acordo com seu idealizador, Gess-Newsome, o modelo
integrativo “pode propiciar uma melhor compreensão e valorização dos conhecimentos que
constituem a base de construção do PCK” (Id. Ibid.).
Figura 4 - Modelos de conhecimento de professor de Gess-Newsome (1999), adaptado de
Ussa (2007, p. 38).
14 MAGNUSSON, S.; KRAJCIK, J. and BORKO, H. (1999). Nature, Sources, and Development of Pedagogical
Content Knowledge for Science Teaching. In: GESS-NEWSOME, J. and LEDERMAN, N. (Eds.). Examining
Pedagogical Content Knowledge. The Construct and its Implications for Science Education. Dordrecht, Boston,
London: Kluwer Academic Publishers. pp. 95-132.
15 “Dado que concepções são geralmente enraizadas, elas são difíceis de mudar; como consequência, este fato tem
implicações transcendentais na formação de professores” (tradução nossa).
16 GESS-NEWSOME, J. (1999). Pedagogical Content Knowledge: An introduction and orientation. In: GESS-
NEWSOME, J. and LEDERMAN, N. (Eds.). Examining Pedagogical Content Knowledge. The Construct and its
Implications for Science Education. Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers. pp. 3-17.
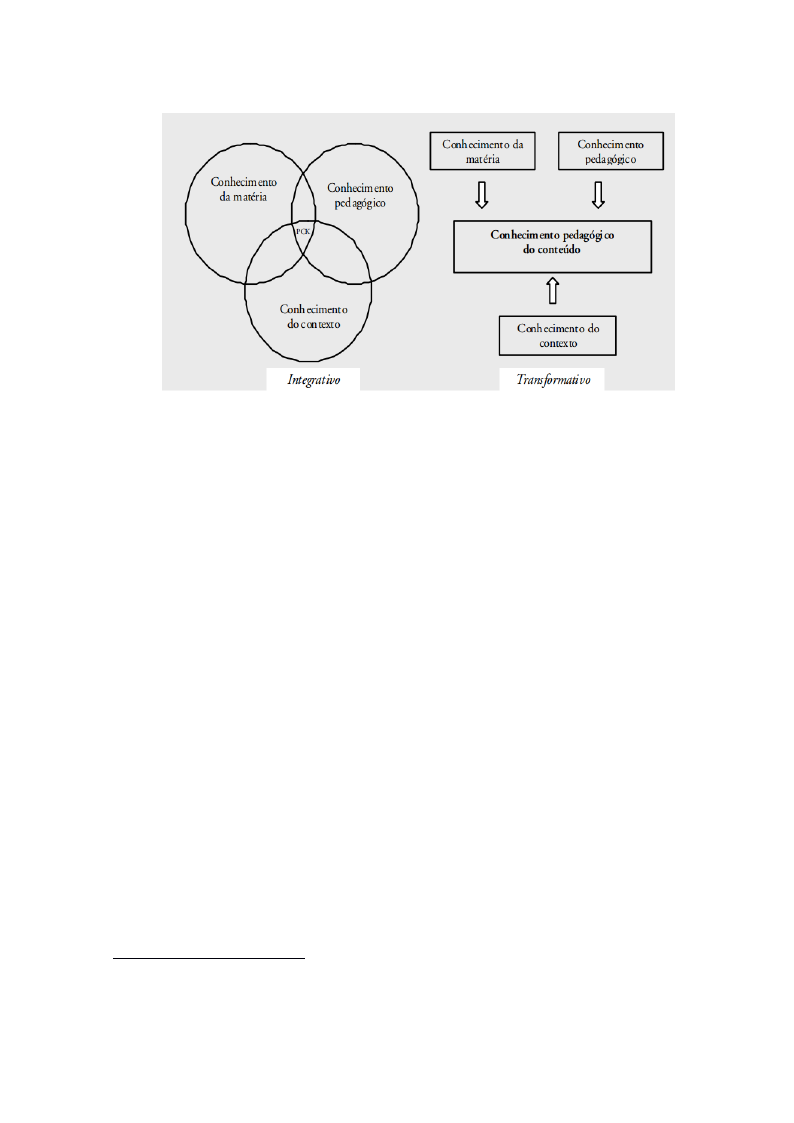
78
Fundamentada em Ussa (2007), chamo a atenção para os seguintes aspectos do PCK: é
um conhecimento docente de inter-relação e integração sistêmica e complexa de saberes, o qual
demanda um profundo processo de reelaboração e transformação epistemológica e didática, no
qual se consideram os “saberes externos e internos de diferentes procedências, os problemas da
aula, os obstáculos, interesses, fenômenos da realidade escolar, etc” (PÓRLAN et al., 2001, p.
22). Esse conhecimento tem como objetivo formular determinado conhecimento escolar, bem
como indicar os processos que facilitam sua construção (USSA, 2007). Ussa (2007), embasado
nos trabalhos de Morine, Dershimer Y Kent17 (1999), indica que há uma relação direta entre a
maneira como o professor planeja sua aula, organiza e distribui o tempo e a sequência dos
conteúdos, com a qualidade da aprendizagem dos alunos, além da estreita relação no diálogo
estabelecido entre aluno e professor, a cooperação entre colegas em sala, assim como a
linguagem empregada pelo docente são elementos que contribuem para os processos de ensino
e de aprendizagem.
Ao apresentar esta breve contextualização sobre o conhecimento pedagógico de
conteúdo dos professores, posso afirmar, ancorada nos autores citados, que este é um saber
plural, que congrega as experiências do cotidiano, as nossas crenças, nossos conhecimentos
acadêmicos, pedagógicos e didáticos, de gestão, da matéria que ensinamos, das concepções dos
alunos, das nossas relações com nossos pares. Portanto, esse é um conhecimento complexo que
17 MORINE-DERSHIMER, G. and KENT, T. (1999). The Complex Nature and Sources of Teachers’ Pedagogical Content
Knowledge. In: GESS-NEWSOME, J. and LEDERMAN, N. (Eds.). Examining Pedagogical Content Knowledge. The
Construct and its Implications for Science Education. Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers. pp. 21-50.

79
ainda precisa ser mais explorado e desenvolvido nos cursos de formação de professores, pois,
durante o processo formativo, a ênfase em muitos cursos recai nos conteúdos científicos e
específicos de cada área, e os formadores esquecem o essencial: ensinar/apresentar aos futuros
professores como este conteúdo é aplicado ao contexto escolar, como ele é didatizado de forma
que o aluno da Educação Básica abstraia, faça a significação e internalização deste
conhecimento. Este é um dos maiores desafios no processo formativo de professores. Assim, é
essencial que Universidade e Escola Básica dialoguem e estreitem relações para estabelecer
parcerias e articular grupos colaborativos de trabalho entre professores formadores, em
formação inicial e em exercício.
Para refletir acerca do conhecimento pedagógico do conteúdo dos professores que
participaram desta investigação, utilizei alguns dados que são muito significativos e ilustram a
questão sobre os conhecimentos teóricos do conhecimento de professor, temática que será
abordada ao longo deste texto-tese. No próximo subitem, a questão da reflexão e do trabalho
colaborativo entre professores será abordada, pois influenciam o desenvolvimento do
conhecimento profissional do professor e consequentemente do seu conhecimento pedagógico
de conteúdo, visto que estão relacionados a diferentes contextos da sociedade.
3.1.2 Docência: águas que se deslocam
O propósito de trazer Shulman (2005) e os demais pesquisadores, que investigam o
PCK, ocorre pelas pesquisas e preocupação que esses autores têm com a aprendizagem e
atuação docente dos professores novatos. Ao considerar a necessidade de reflexão da prática,
do compartilhamento e interação com outros professores mais experientes, identifico um ponto
comum entre Vigostki e os referidos autores para analisar e refletir sobre o processo formativo
desenvolvido nesta pesquisa, como um processo que converge para outra compreensão da
prática, caminhos e discussões que precisamos enfatizar na formação inicial.
Visto que, ao iniciarmos o exercício da navegação no rio (docência), trazemos
lembranças, marcas de como nos constituímos professores, forjadas a partir da nossa vivência
escolar, das brincadeiras de criança, da formação que recebemos na academia, da convivência
e espelhamento (atitudes, práticas) com outros professores, como expressa Maldaner (2013,
p.43): “é da formação cultural das pessoas a ideia do que seja um professor, sua forma de agir
e de se relacionar num processo intencional de ensinar algo a alguém”, e ainda, “que o conceito

80
ou ideia de professor, do profissional professor, está profundamente enraizado na vivência
cultural de cada pessoa”.
O entendimento de professor está enraizado na experiência/vivência cultural, por isso
também carrega consigo a ideia de docência simplista. Essa compreensão dificulta os processos
de ensino e de aprendizagem, ainda mais quando o professor não domina o conhecimento
pedagógico do conteúdo a ser ensinado. Maldaner (2013) advoga que o problema está na
proposição dos cursos de formação de professores, que não pensam o processo como um “todo”,
que há uma fragmentação nos cursos em relação aos conhecimentos específicos de cada área e
a formação pedagógica dos futuros professores. Essa separação cria uma sensação de vazio de
saber na mente do professor. Nessa perspectiva, o professor não saberá mediar adequadamente
a significação dos conceitos, com prejuízos sérios para a aprendizagem de seus alunos.
A compreensão de seu papel de professor está no âmbito da formação ‘ambiental’,
dentro do ‘senso comum’ da profissão docente e da tarefa de ensinar a educar. Não
houve em sua formação profissional a mediação do conhecimento pedagógico já
produzido nas pesquisas educacionais. São as questões pedagógicas que
acompanharam os conteúdos que estão ausentes e isso leva os professores a negarem
a validade de sua formação na Graduação, exatamente naquilo que os cursos de
licenciatura em Química e outras áreas mais prezam: dar uma boa base em conteúdos!
Isso não quer dizer que não saibam o conteúdo específico, mas a sensação que têm
diante de uma dificuldade que é de cunho pedagógico (MALDANER, 2013, p. 45).
Imbernón (2011, p. 30) afirma que “a profissão docente comporta um conhecimento
pedagógico específico, um compromisso ético e moral e a necessidade de dividir a
responsabilidade com outros agentes sociais, já que exerce influência sobre outros seres
humanos”. A maestria e a especificidade de conduzir a docência, conforme Grossmann (1990),
Imbernón (2011), Maldaner (2013), Pórlan et al. (2001), Shulman (1987, 2005) e Ussa (2007)
estão no conhecimento pedagógico utilizado pelos professores, o qual se (re)constrói
constantemente durante a sua vida profissional, em sua relação com a teoria e a prática.
Entendo que no processo de formação inicial algumas questões formativas necessitam
ser revistas e analisadas. Principalmente as que se referem às dificuldades de cunho pedagógico
que o futuro professor e o professor em exercício se deparam ao exercer seu métier, que, aliadas
com a ausência ou um enfoque simplista de conteúdos durante sua formação, comprometem o
seu fazer docente. Como exemplo de entendimento simplista de conteúdos, podemos citar os
correlatos à Saúde, que na maioria dos cursos de Ciências Biológicas encontra-se ancorado no
modelo biomédico, o que pouco ou nada contribui para que os professores desenvolvam sua
prática e trabalhem em uma perspectiva que permita “ao aluno a reflexão sobre o conhecimento

81
que está sendo desenvolvido para aproveitá-lo, de alguma forma, em sua própria rede
conceitual” (MOHR, 2002, p. 41).
Acerca dessas questões formativas, Galiazzi (2011, p. 140) compreende que “outro
problema nesses cursos é fato que as teorias curriculares tradicionais são ainda dominantes,
especialmente nos professores das disciplinas de conteúdos específicos”. Para a autora,
prevalece nos cursos de formação de professores um reducionismo epistemológico acadêmico,
no qual a ênfase do ensino centra-se nos conhecimentos disciplinares (específicos e da
educação), que resulta numa relação mecânica entre teoria e prática, e consequentemente na
transmissão de conteúdos que estão desconectados dos conhecimentos trabalhados nas
disciplinas pedagógicas (GALIAZZI, 2011). Refletindo sobre tal situação, compreendo que
sejam necessárias transformações curriculares nos cursos de licenciatura das Ciências da
Natureza, na qual se incluem as Ciências Biológicas, e na formação dos futuros professores,
para que o conhecimento pedagógico de conteúdo e a temática Saúde tenham outra
configuração nas suas práticas docentes.
Nesse deslocamento das águas, compartilho com os autores citados, que a base de
conhecimentos para o ensino deve propiciar ao futuro professor condições para o
desenvolvimento da docência, permitindo que ele compreenda o complexo processo de ensinar
e aprender. Assim ao adentrar nas águas formativas, ter coragem para enfrentar os medos e os
fantasmas do desânimo e do fracasso, compreendendo que a qualificação profissional passa
pelo processo de análise, reflexão e transformação da prática docente em movimentos de
interação com outros profissionais e também pela formação contínua, almejando aprendizagens
significativas do ensinar e do ser professor.
Ancorada em Alarcão (2011) e Zeichner (2008), parto do princípio de que, para o futuro
professor desenvolver a reflexão crítica sobre sua prática, ele necessita ser apresentado durante
sua formação inicial a este modelo de atuação pedagógica e futuramente estar articulado a
processos coletivos de formação continuada. Essa vivência possibilitará “sabermos o que
desejamos com nosso trabalho e onde queremos chegar com ele [...], assim como as implicações
e desdobramentos que propostas e medidas alheias têm sobre os resultados que esperamos dele”
(CHAVES, 2000, p. 80). A compreensão deste entendimento pelos professores em formação e
em exercício oportuniza que as escolas se tornem “comunidades práticas, com professores a
desenvolverem continuamente a sua proficiência em conjunto, teremos de ajudá-los a habituar-
se a formas de aprendizagem colaborativa ou cooperativa durante a formação de professores”
(KORTHAGEN, 2012, p. 145).
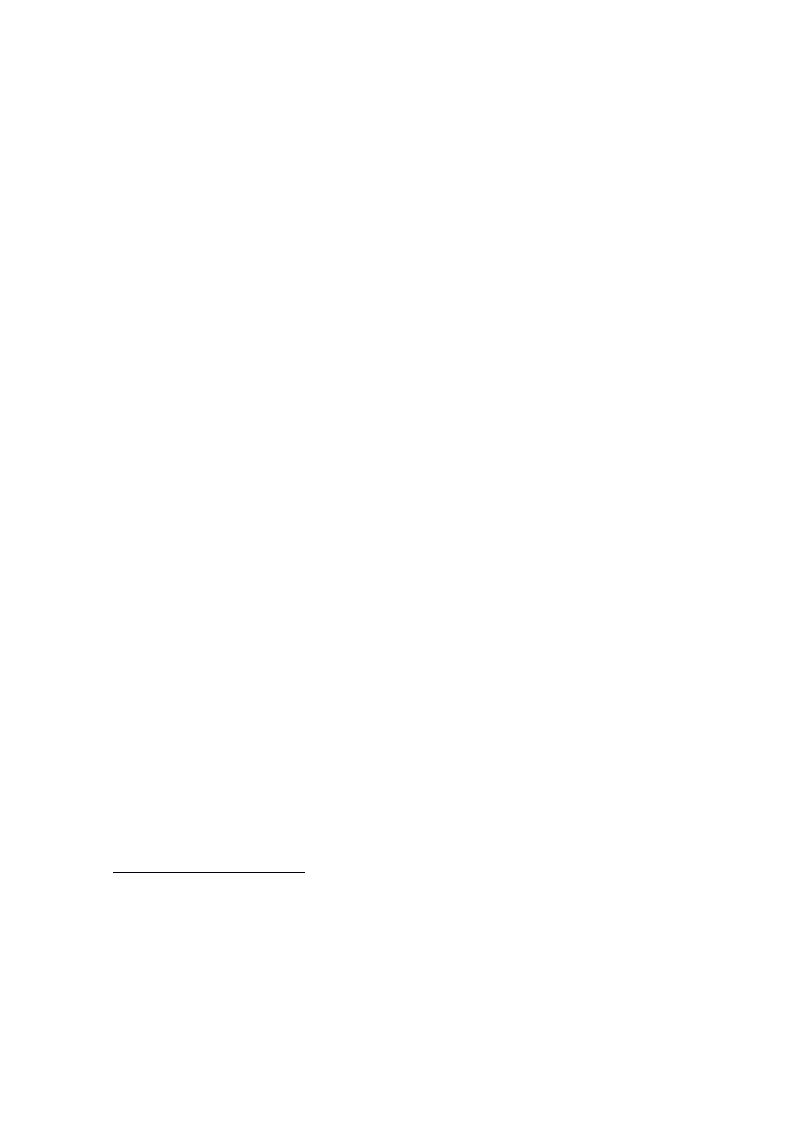
82
A partir dessas interações formativas de interpretação e reflexão sobre a prática, novos
significados serão dados à docência e o ser professor na atualidade. Na sequência, a importância
do professor como sujeito que pensa, analisa e reflete sobre seu fazer e inserir-se em grupos
colaborativos de trabalho, pois, como já discutido neste subitem, ainda precisamos avançar e
pesquisar mais sobre o PCK dos professores em vista da melhoria dos processos de ensino e de
aprendizagem.
3.1.2.1 O professor reflexivo: limites e possibilidades no processo formativo
O que compreendemos por “professor reflexivo”, quais são os limites e possibilidades
da prática pedagógica de um profissional reflexivo? Para Pimenta (2005), o processo de refletir
sobre a prática docente possibilita ao professor desenvolver competências e habilidades para
investigar a própria atividade docente e, a partir dela, constituir os seus saberes-fazeres
docentes.
A ideia de professor reflexivo ganha força com os trabalhos de Donald Schön, na década
de 1980, com base teórica em John Dewey. Schön questiona a formação de professores
embasada num currículo normativo, e cita que o professor formado nessa perspectiva não
consegue dar respostas às “situações que emergem no dia a dia profissional, porque essas
ultrapassam os conhecimentos elaborados pela ciência e as respostas técnicas que esta poderia
oferecer ainda não estão formuladas” (PIMENTA, 2012, p. 22).
Na década de 1970, Zeichner já desenvolvia na Universidade de Wisconsin pesquisas
sobre a formação de professores reflexivos, mas, em 1990, a partir do contato com os trabalhos
de Schön18, e com a literatura internacional19 produzida naquele momento sobre prática
reflexiva no ensino e na formação de professores, a metáfora professor reflexivo ganhou outra
conotação nas pesquisas e trabalhos sobre a formação inicial desenvolvidos por ele. O autor
cita, também, que nessa década houve o uso indiscriminado dos termos prático reflexivo e
18 Donald Schön defende uma formação profissional, baseada numa epistemologia da prática, ou seja, na
valorização da prática profissional, como momento de construção de conhecimentos, através da reflexão, análise
e problematização desta, e o reconhecimento do conhecimento tácito, presente nas soluções que os profissionais
encontram em ato (PIMENTA, 2005, p. 19).
19 Zeicnher, no artigo: Uma analise crítica sobre a ‘reflexão’como conceito estruturante na formação docente
(2008), cita que as pesquisas de Grimment & Erickson, 1988; Calderhead & Gates, 1993; Clift, Houston & Pugach,
1992; Laboskey, 1994; entre outros autores internacionais contribuíram para configurar o seu entendimento, suas
pesquisa e desenvolvimento do trabalho com a formação inicial acerca do professor reflexivo.

83
ensino reflexivo, em decorrência das reformas do ensino e da formação de professores em
diversos países. Como já dizia Zeichner (1995), o uso confuso desses termos atenta e colabora
com a ideia da “armadilha da ilusão do desenvolvimento docente através da reflexão e para a
vagueza com que esse termo é usado” (GERALDI, MESSIAS, GUERRA, 1998, p. 249).
Alarcão (2011, p. 47) destaca um ponto importante acerca do conceito de reflexão, se
relaciona às “dificuldades pessoais e institucionais para pôr em ação, de uma forma sistemática
e não apenas pontual, programas de formação (inicial e continuada) de natureza reflexiva”.
Portanto, há necessidade de estabelecer parcerias e desenvolver um processo continuum de
(auto)formação entre os sujeitos envolvidos no processo com a prioridade de (re)pensar e
transformar a prática profissional.
Mas, não devemos ser ingênuos em achar que qualquer reflexão é suficiente para
qualificar o ensino e a prática docente. Pois, como aponta Pimenta (2012), o saber do professor
não emerge só da prática, ele é alimentado pelas teorias da educação. Sob esse ponto, concordo
com a autora ao afirmar que a “teoria tem importância fundamental na formação dos docentes,
pois dota os sujeitos de variados pontos de vista para uma ação contextualizada” (PIMENTA,
2012, p. 28). Para tanto, torna-se necessário um processo de investimento e valorização
profissional para o desenvolvimento dos saberes dos professores, condições sociais de ensino e
de trabalho para que o professor pesquise e investigue sua prática, bem como maior
aproximação entre universidade e escola, numa perspectiva de trabalho colaborativo e
interativo.
A partir do momento que essa ação se tornar uma constante na formação e atuação dos
professores, possibilitará que eles questionem sua prática, a forma como ensinam e sobre o que
ensinam. Como os alunos aprendem. Como esse conhecimento tem impacto no
desenvolvimento intelectual e na vida dos alunos. Quando o professor refletir sobre esses
aspectos da sua docência, teremos grandes avanços no ensino e nas suas concepções educativas.
Pois o professor que reflete sobre sua prática e busca meios para qualificar e potencializar os
processos de ensino e de aprendizagem dos alunos evolui como profissional e cria
possibilidades para que seus alunos também sejam reflexivos, autônomos e críticos. Para
Zeichner e Liston (1996), essas são características que constituem o professor pesquisador e
reflexivo de sua prática.
No entendimento de Geraldi; Messias; Guerra (1998, p. 249), apoiados em Zeichner,
para que a formação reflexiva signifique um desenvolvimento real dos professores, é necessário
assumir alguns pressupostos como:

84
- a constituição de uma nova prática vai sempre exigir uma reflexão sobre a
experiência de vida escolar do professor, sobre suas crenças, posições, valores,
imagens e juízos pessoais;
- a formação docente é um processo que se dá durante toda a carreira docente e se
inicia muito antes da chamada formação inicial, através da experiência de vida;
- cada professor é responsável pelo seu próprio desenvolvimento;
- é importante que o processo de reflexão ocorra em grupo, para que se estabeleça a
relação dialógica;
- a reflexão parte da e é alimentada pela contextualização sociopolítica e cultural.
Assim, a formação inicial e continuada de professores necessita incorporar elementos
capazes de fomentar a reflexão sobre a prática docente, para que “o professor, por meio do
pensamento sobre sua prática, encontre soluções para os problemas enfrentados durante o
desenvolvimento de sua profissão” (GHEDIN; OLIVEIRA; ALMEIDA 2015, p. 138).
No processo de refletir sobre a sua prática, é necessário que o professor compreenda
que a reflexão deve estar “a serviço da emancipação e da autonomia profissional do
professorado”, pois é na “[...] ação refletida e na redimensão de sua prática que o professor pode
ser agente de mudanças na escola e na sociedade” (LIMA; GOMES, 2012, p. 194). A formação
reflexiva, que fomenta o desenvolvimento profissional, só deveria ser apoiada, conforme
Zeichner (2008, p. 245), “se ela estiver conectada a lutas mais amplas por justiça social e
contribuir para diminuição das lacunas na qualidade da educação disponível para estudantes de
diferentes perfis, em todos os países do mundo”.
Para Libâneo (2012, p. 89), o “programa reflexivo vem trazendo aportes valiosos para
a pesquisa como recusa do professor meramente técnico, a afirmação da prática docente como
uma ação consciente e deliberada”, para a qual “a correspondência entre teoria e prática nas
ações cotidianas, a aceitação da existência de pressupostos interpretativos e valorativos na
atuação e nas decisões profissionais” contribuem para que os professores se assumam como
autores e atores de suas práticas, que passam a ser revistas e recontextualizadas em processos
de interlocução colaborativa.
Contudo, o autor argumenta que os professores aprendem sua profissão por vários
caminhos, com a contribuição de teorias e da sua própria experiência, citando que o melhor
programa de formação de professores seria o que contemplasse, no currículo e na metodologia,
os princípios e processos de aprendizagem válidos para os alunos das escolas comuns. Ou seja,
o princípio dominante da formação não seria, em primeiro lugar, a reflexão, mas a atividade de
aprender. Para Libâneo (2012, p. 86):
O que sugiro a seguir é apenas o esboço de uma opção de estudos mais aprofundados
sobre a questão da reflexividade, no quadro da teoria histórico-cultural da atividade.

85
Mais especificamente, a aposta é de que as concepções de ensino e aprendizagem de
orientação vigotskiana, associadas às teorias da ação e da cultura, podem trazer sólidos
princípios de práticas educativas aplicadas à formação de professores. [...] A busca de
uma teoria mais abrangente para se pensar a formação profissional evitará a
estabilização dos educadores em visões reducionistas. Considerará a reflexividade que
se reporta à ação; a um saber-fazer; saber-agir impregnados de reflexividade, mas
tendo seu suporte na atividade de aprender a profissão; a pensar sobre a prática que
não se restringe a situações imediatas e individuais; a uma postura política que não
descarta a atividade instrumental.
Conforme o que foi exposto, podemos destacar que a reflexão é um dos caminhos no
processo formativo, que a interação e a mediação são importantes na constituição do professor;
portanto, existe a necessidade desta ação acontecer entre pares, em grupos colaborativos, nos
quais há a circulação de ideias, novos conhecimentos, além da confiança e apoio mútuo dos
participantes. A importância dos grupos colaborativos de trabalho e os resultados das atividades
realizadas neles no desenvolvimento profissional dos professores serão abordados no próximo
item.
3.1.2.2 Formação continuada e inicial de professores: a constituição de grupos de trabalho
colaborativo
Na escola ou em outra instituição de ensino, dificilmente trabalhamos sozinhos, sempre
contamos com a colaboração de nossos pares. Assim, considero que o professor, trabalhando
em sala de aula, isolado, sem estabelecer parcerias, diálogos com seus pares, não conseguirá
pensar, refletir e avançar em seu trabalho pedagógico. É, portanto, fundamental estabelecer
parcerias, inserir-se em programas de formação continuada, sem buscar receitas de atividades
para aplicar em sala de aula, mas para pensar os limites, desafios e caminhos para
aprimoramento de sua prática e apropriação de saberes rumo à autonomia profissional
(FALSARELLA, 2004).
Portanto, um elemento importante na discussão do trabalho docente refere-se ao
isolamento profissional, situação que muitas vezes é decorrente das crenças, hábitos e a maneira
de conduzir as ações pelos professores. Assim, “se quisermos compreender aquilo que um
professor faz e por que o faz, devemos, portanto, compreender a comunidade de ensino e a
cultura da qual ele faz parte. As culturas do ensino ajudam a conferir sentido, identidade aos
professores e ao seu trabalho” (HARGREAVES, 1998, p. 186). Neste contexto, vale destacar o
papel da universidade, quando durante a formação inicial oferece pouco incentivo ao
desenvolvimento de atividades colaborativas, de pesquisa sobre a ação docente, durante o

86
período de graduação. Tal situação não permite que o futuro professor reflita, planeje e busque
auxílio com seus pares e se enxergue como membro de uma comunidade profissional
(STHENHOUSE, 1975).
Sobre esse ponto, Zeichner (2009, p. 34) alerta que, para que a pesquisa-ação
colaborativa tenha certo avanço e impacto na formação docente, é necessário “ocorrer
mudanças culturais na academia, que encorajem o engajamento em pesquisa colaborativa de
parcerias”. Para tanto, o autor ressalta a importância de um programa que valoriza a ação de
ambos, os pesquisadores acadêmicos (professores universitários que trabalham com a formação
de professores) e os professores de escola (professores da EB e professores que estão em cursos
de pós-graduação atuando em pesquisas colaborativas com outros professores acadêmicos que
estão na escola fazendo suas investigações):
[...] como no projeto de matemática, professores e acadêmicos trabalharam juntos
como parceiros. Não há igualdade absoluta, uma vez que ambos trazem diferentes
conhecimentos para a colaboração, mas há paridade no relacionamento e cada um
reconhece e respeita a contribuição do outro (ZEICHNER, 1998, p. 222).
De acordo com Zeichner, deve-se transpor essa barreira existente entre professores e
pesquisadores acadêmicos, e a pesquisa colaborativa talvez seja um caminho para isso:
Os esforços para usar os produtos da pesquisa de professores dentro da academia não
deverão ser interpretados como uma glorificação acrítica do conhecimento dos
professores, pois, tanto quanto na academia, pode haver bons ou maus trabalhos de
professores. A glorificação acrítica seria um desrespeito à genuína contribuição que
estes podem proporcionar para a melhoria tanto das práticas dos professores quanto
do bem-estar social (ZEICHNER, 1998, p. 227).
A partir das colocações de Zeichner (2009, 1998), fica evidente a relação frutífera entre
a Universidade e a Escola para o desenvolvimento da pesquisa do professor. Dessa maneira, a
participação em grupos colaborativos que tenham como organizadora a pesquisa-ação,
compreendida como um modelo de referência para a transformação da realidade, por meio da
interação e intercomunicação de seus participantes, torna-se uma proposta formativa viável.
Pois, para o seu desenvolvimento, são consideradas as inquietações do grupo docente
(professores formadores, professores EB e licenciandos), que em parceria determinam as
perguntas investigativas, e em conjunto analisam, refletem e avaliam possíveis estratégias e
encaminhamentos de ações que propiciem processos de (re)significação da prática docente.
Para Diniz-Pereira (2011), diferentes termos são utilizados para referir-se à pesquisa
feita pelos professores a partir da sua própria prática na sala de aula: pesquisa-ação,
investigação na ação, pesquisa participante e práxis emancipatória. Atribui-se o processo da

87
pesquisa-ação a Kurt Lewin (1940), o qual apresenta três importantes características do
processo, como o “caráter participativo, seu impulso democrático e sua contribuição para as
ciências sociais e para a transformação da sociedade, simultaneamente” (DINIZ-PEREIRA,
2011, p. 12).
Em contrapartida, Tripp (2005, p. 447) chama atenção de que o termo pesquisa-ação
está sendo utilizado “de maneira tão ampla e vaga que está se tornando sem sentido”. Diante
dessa situação, ele define a pesquisa-ação como “uma forma de investigação-ação que utiliza
técnicas de pesquisa consagradas para informar a ação que se decide tomar para melhorar a
prática”. E complementa que:
[...] embora a pesquisa-ação tenda a ser pragmática, ela se distingue claramente da
prática e, embora seja pesquisa, também se distingue claramente da pesquisa científica
tradicional, principalmente porque a pesquisa-ação ao mesmo tempo altera o que está
sendo pesquisado e é limitada pelo contexto e pela ética da prática (TRIPP, 2005, p.
447).
Para o autor, há necessidade da tomada de consciência dos “princípios que nos
conduzem em nosso trabalho: temos de ter clareza a respeito tanto do que estamos fazendo,
quanto de por que o estamos fazendo”. Uma vez que “a maior parte das pessoas concorde que
essa orientação é essencial para a pesquisa-ação, ela é também fundamental para outros tipos
de investigação-ação, especialmente a prática reflexiva” (2005, p. 49). Tripp, embasado em
Elliot (1991), defende que a pesquisa-ação se refere ao estudo de uma situação social com vistas
a melhorar a qualidade da ação dentro dela.
Frison (2012, p. 70-72) discorre que a pesquisa-ação tem sido empregada “intensamente
no meio educacional e publicamente referida como uma atividade que se articula a processos
de mudanças em práticas e concepções, atingindo ao mesmo tempo a formação e a ação prática
de sujeitos que nela participam” e como um instrumento para o desenvolvimento profissional.
De acordo com a autora, essa atividade se torna um caminho alternativo para a prática e
qualificação do professor e do ambiente escolar.
Para tanto, é necessário enfatizar a importância das redes colaborativas para o
desenvolvimento das pesquisas do professor, a fim de que ele possa encontrar apoio e incentivo
para refletir e superar os modelos tradicionais de formação docente. Zeichner (2009, p. 15)
complementa ao referendar que “a pesquisa pode nos ajudar a pensar sobre a formação docente
de maneiras mais proveitosas e pode oferecer orientações quanto às práticas efetivas para atingir
determinados objetivos”.

88
Como resultado desse entendimento, Imbernón (2009, p. 39-40) argumenta que a
formação permanente (continuada) de professores deve apresentar novos elementos, como:
- reflexão sobre a prática num contexto determinado;
- criação de redes de inovação, comunidades de prática, formativas e comunicação
entre o professorado;
- possibilidade de uma maior autonomia na formação com a intervenção direta do
professorado;
- partir dos projetos da escola para que o professorado decida qual
formação necessita para levar adiante o desenho, a colocação em prática e a avaliação
do projeto;
- potencializar uma formação que seja capaz de estabelecer espaços de reflexão e
participação, para que ‘aprendam’ com a reflexão e a análise das situações
problemáticas das escolas e que partam das necessidades democráticas (sentidas) do
coletivo, estabelecendo um novo processo formativo, que possibilite o estudo da vida
na aula e na escola, os projetos de mudanças, o trabalho colaborativo como
desenvolvimento fundamental da instituição educativa e do professorado.
Para Nóvoa (1995) e Zeichner (2008), a formação continuada passa a ter como
perspectiva a reflexão dos professores sobre suas práticas. Imbernón (2009, p. 45) enfatiza que
a formação permanente deveria “fomentar o desenvolvimento pessoal, profissional e
institucional do professorado potencializando um trabalho colaborativo para transformar a
prática”. Dessa forma, a constituição de grupos colaborativos ou comunidades investigativas
(FIORENTINI; CRECCI, 2016) são movimentos importantes no processo formativo de
professores.
Fiorentini e Creci (2016), Hargreaver (1998), Carilho (2011) defendem a importância
da constituição de grupos colaborativos integrados por professores da escola e também da
universidade. Carilho (2011, p.37) parte do princípio de que o “trabalho colaborativo facilita o
ensino e a aprendizagem, mas é importante que cada professor dê o seu contributo devendo,
para tal, dispor de tempos e modos de trabalhos individuais que permitam preparar e apontar o
trabalho”.
Assim, é importante destacar, como esclarece Damiani (2008), que colaboração e
cooperação são termos com significados distintos. Apesar de terem o mesmo prefixo (co), o
significado dessas ações é diferente, pois cooperar é derivado de operare no latim, e
colaboração de labore, de modo que um refere-se a operar, executar, e o outro a trabalhar,
produzir. Desta forma, na cooperação as relações são desiguais entre os membros do grupo, ao
contrário do que ocorre na colaboração.
Assim, a constituição de grupos colaborativos enseja momentos de reflexão, diálogos
partilhados, nos quais os sujeitos envolvidos buscam, em conjunto, caminhos para trilhar. Para

89
Zeichner (1998), neste processo não se prioriza o produto, os resultados que a pesquisa venha
a oferecer. O fenômeno é concebido pelo autor como algo inacabado, em formação, dentro de
uma realidade complexa, dinâmica e mutável.
Na pesquisa-ação colaborativa, há possibilidades de interação, reformulação dos
questionamentos iniciais e mudança de organização, com vistas à melhoria das práticas
pedagógicas, como propõe Damiani (2008, p. 215), ao referir o apoio dos membros e o trabalho
conjunto, pois eles buscam “atingir objetivos comuns negociados pelo coletivo, estabelecendo
relações que tendem à não-hierarquização, liderança compartilhada, confiança mútua e
corresponsabilidade pela condução das ações”.
Como mencionado, o trabalho colaborativo permite maior interação entre os professores
envolvidos, a partir do compartilhamento de ideias, conhecimentos, confiança, atitudes por
meio das quais os sujeitos tenham uma significação mais complexa, por estar trabalhando em
pares e haver a circularidade de novos e diferentes pensamentos. Para Damiani (2008), esses
entendimentos compartilhados podem ser discutidos, examinados e aperfeiçoados como se
fossem objetos externos. Esta reflexão-ação conjunta permite aos professores envolvidos um
“espaço de aprendizagem, permitindo a identificação de suas forças, fraquezas, dúvidas e
necessidades de reconstrução, a socialização de conhecimentos, a formação de identidade
grupal e a transformação de suas práticas pedagógicas” (DAMIANI, 2008, p. 220).
Carrilho (2001, p. 41) afirma que a colaboração proporciona, aos envolvidos no
processo, experimentar novas estratégias e propostas de ensino, bem como enriquece a prática
profissional do professor, pois as “mudanças que surgem no seguimento do trabalho
colaborativo são mais duradouras, pois os professores estiveram implicados no trabalho,
discutiram aberta e reflexivamente as suas dificuldades, ansiedades e necessidades”. Ainda
apresentaram “estratégias, mudanças e soluções a implantar”, partindo do contexto e realidade
de cada um. Partindo deste pensamento, que compreendo que a colaboração é uma forma
importante do desenvolvimento profissional, aliada à reflexão.
No cenário da formação docente, há de se destacar que é importante para o
desenvolvimento profissional a reflexão da prática, a inserção em grupos colaborativos e
também instigar os professores em formação e os que estão em exercício a lutar pelos seus
diretos enquanto cidadãos e profissionais da Educação. Somos professores, formadores de
opinião e responsáveis pela formação intelectual, social e científica de crianças, jovens e
adultos, com importante papel na sociedade. No próximo subitem, serão apresentadas questões
que marcaram o ano de 2016 em relação às políticas públicas referentes à Educação, os

90
movimentos estudantis, como a Primavera Secundarista, que se posicionou contra as medidas
adotadas pelo governo federal, reivindicou melhorias no ensino e a manutenção de direitos
adquiridos na Educação, ao longo dos anos. Ainda, é abordada a constituição e as ações de dois
grupos colaborativos de trabalho de professores da região Noroeste do Rio Grande do Sul.
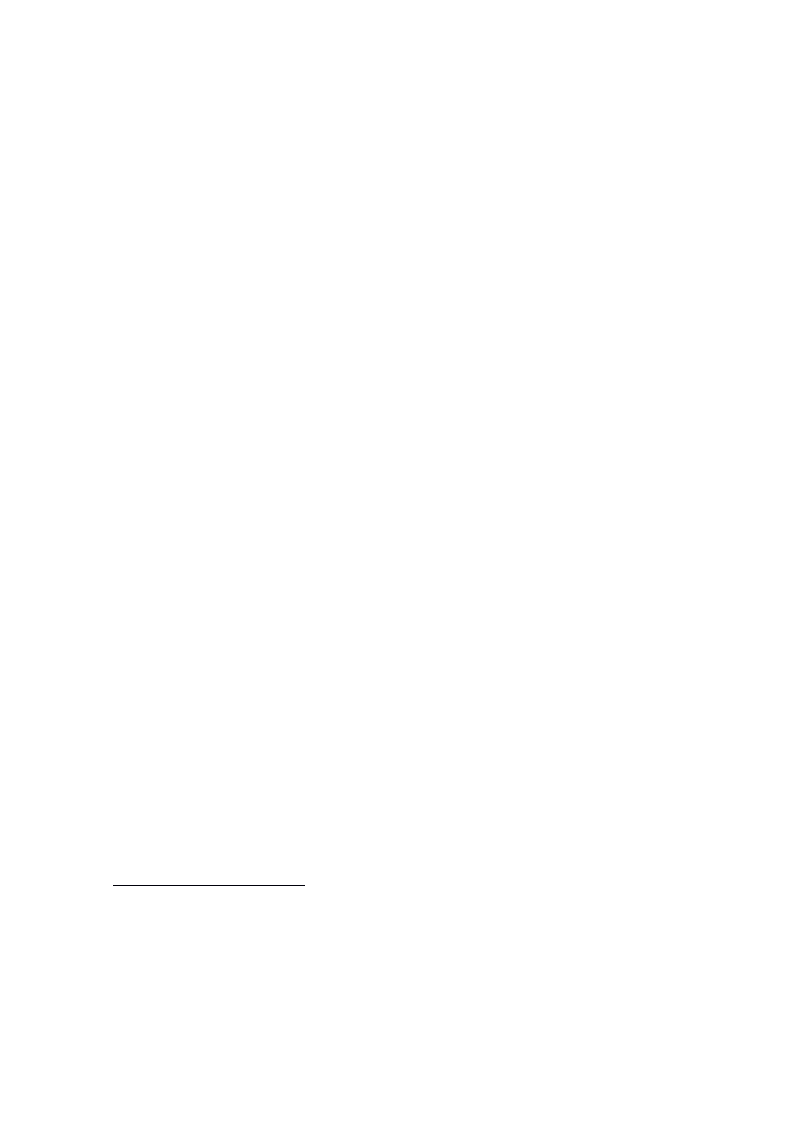
91
3.2 FORMAR É ENSINAR A LUTAR PELOS SEUS DIREITOS: 2016 - LUTAS E
CONQUISTAS NA EDUCAÇÃO
A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto.
A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço
de construção da maneira de ser e de estar na profissão.
Por isso, é mais adequado falar em processo identitário,
realçando a mescla dinâmica que caracteriza
a maneira como cada um se sente e se diz professor.
(Nóvoa, 2000, p. 16)
Os dilemas e desafios da formação da identidade dos futuros professores têm, como
resultado, a ausência de um projeto de governo que priorize a educação. Na Finlândia, ocorreu
uma reforma educacional “conduzida pela democratização do ensino e pela igualdade no acesso
às escolas de qualidade”; além dessas ações, na década de 1970, tornou o ensino obrigatório,
em que “todas as crianças do país passaram a estudar em escolas públicas parecidas e de acordo
com o mesmo currículo nacional”; e a formação dos professores “passou a ser estruturada em
‘universidades de ponta’, fato que [...] tornou a profissão uma das mais populares entre os
jovens finlandeses” (DEMARCHI; RAUSCH, 2015, p. 3-4).
Ao reportar para o cenário nacional, no Estado do Rio Grande do Sul, gestão 2014 -
2018), denota-se que o contexto é completamente diferente, primeiro por não haver uma
continuidade da agenda de políticas públicas que contemplem a educação, além da
desvalorização social e financeira dos professores brasileiros. No Brasil, educação não é
prioridade. Para exemplificar a questão das políticas de governo, basta analisar a emenda
constitucional nº 95/2016, que limita por 20 anos os gastos públicos, o que acarretará reflexos
negativos na área de Educação, como cortes e cancelamento de bolsas de programas: Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, de mestrado profissional em rede, de mestrado
e doutorado acadêmico, e de recursos para as instituições públicas de ensino e pesquisa. No
mesmo sentido, tramita o Projeto da Escola sem Partido (Lei da Mordaça)20. A Lei n°
20 Vários Projetos Legislativos (PLs) tramitando, que partiram de representantes de igrejas evangélicas na sua
maioria: na Câmara, há três propostas, o PL nº 7180/2014, do deputado Erivelton Santana (PSC/BA), o PL nº
867/2015, de Izalci Lucas (PSDB-DF) e o PL nº 1411/2015, de Rogério Marinho (PSDB/RN), este sendo o único
não ligado a alguma igreja. No Senado, o pastor evangélico Magno Malta (PR-ES) é autor de texto semelhante,
apresentado como PLS nº 193/2016. O documento da Escola Sem Partido defende princípios como a "neutralidade
política, ideológica e religiosa do Estado", assim como o "pluralismo de ideias no ambiente acadêmico”. Esse
projeto alega que professores não são educadores e que "formar o cidadão crítico" é sinônimo de "fazer a cabeça
dos alunos". É um projeto de escola que remove o seu caráter educacional, defendendo que os professores apenas
instruam para formar trabalhadores sem capacidade de reflexão crítica (DURVAL ÂNGELO, 2016). Disponível
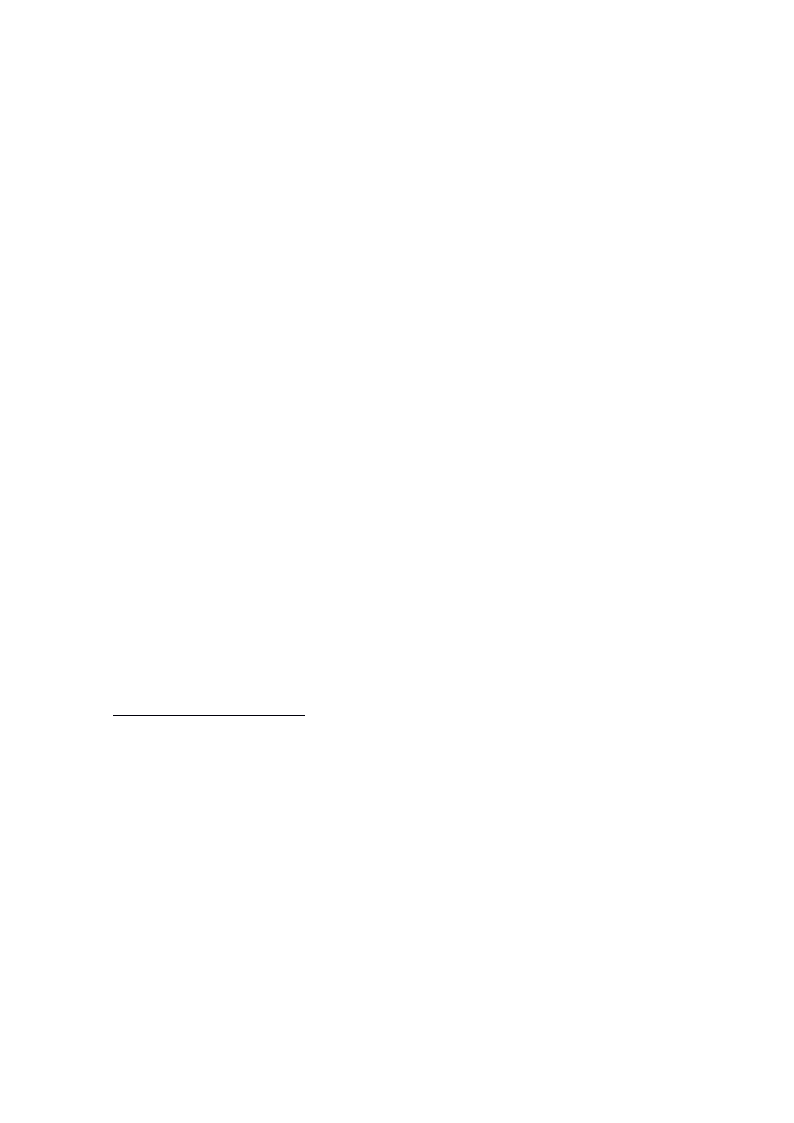
92
13.415/201721 foi aprovada no Congresso Nacional, a partir da medida provisória nº 746/2016,
referente à reformulação do Ensino Médio22.
No cenário gaúcho, a educação foi relegada a um segundo plano. Além dos professores
estaduais não receberem o piso salarial, desde 2016 seus salários não são pagos de modo
integral a cada mês de trabalho, juntamente com os demais servidores públicos estaduais. As
escolas, nos quatro últimos anos (2015-2018), estão recebendo com atrasos verbas da merenda
escolar, do transporte escolar, não possuem o quadro de professores completo, o que resulta em
prejuízo para os alunos no processo de aprendizagem, além de ambientes escolares com
condições insalubres de trabalho e de estudo, situação que preocupa e compromete um ensino
de qualidade no Estado.
Somado a essas condições, o governo gaúcho, na “intenção de reduzir gastos”, aprovou,
na Assembleia Legislativa do RS23, em 21 de dezembro de 2016, a extinção de oito fundações,
dentre as quais a Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec) e a Fundação Zoobotânica (FZB),
instituições importantes para o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia do Estado.
O ano de 2016 foi marcado por lutas e movimentos sociais em defesa da democracia e
dos direitos da sociedade civil; foi nesse cenário que despontou o movimento Primavera
Secundarista24. Movimento que surgiu em decorrência da insatisfação dos estudantes com as
inúmeras medidas adotadas pelo governo federal, que colocam em risco uma série de direitos
conquistados, além da possibilidade de um amargo retrocesso na educação. O movimento
em: <http://www.brasil247.com/pt/colunistas/durvalangelo/247057/Escola-Sem-Partido-a-lei-da-mor>. Acesso
em: 02 fev. 2017.
21 <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13415-16-fevereiro-2017-784336-publicacaooriginal-
152003-pl.html>, Acesso em: 04 nov. 2017.
22 A proposta estabelece que os currículos do ensino médio sejam organizados por áreas do conhecimento:
linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. A divisão visa priorizar a interdisciplinaridade
e a aplicação dos conhecimentos em outras áreas. No último ano do Ensino Fundamental, além das matérias
básicas, o aluno deverá optar por uma das grandes áreas para aprofundar os estudos, de modo que o estudante
possa se dedicar mais ao campo de seu interesse. Se aprovado o PL, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
se tornaria obrigatório para os alunos. Outra medida prevista é que, nos próximos dez anos, 50% dos
matriculados cumpram jornada escolar em tempo integral de, no mínimo, sete horas por dia, somando 4,2 mil
horas em todo o ensino médio. Disponível em: Acesso em: 02 fev. 2017.
23 Reportagem do G1 sobre a aprovação da extinção das Fundações no RGS, disponível em: <>. Acesso em: 23
jan. 2017.
24 Site da UBES - União Brasileira dos Estudantes Secundaristas apresenta o histórico, reportagens sobre o
movimento secundarista no Brasil, entre outras informações. Disponível em: <>. Acesso em: 24 jan. 2017.
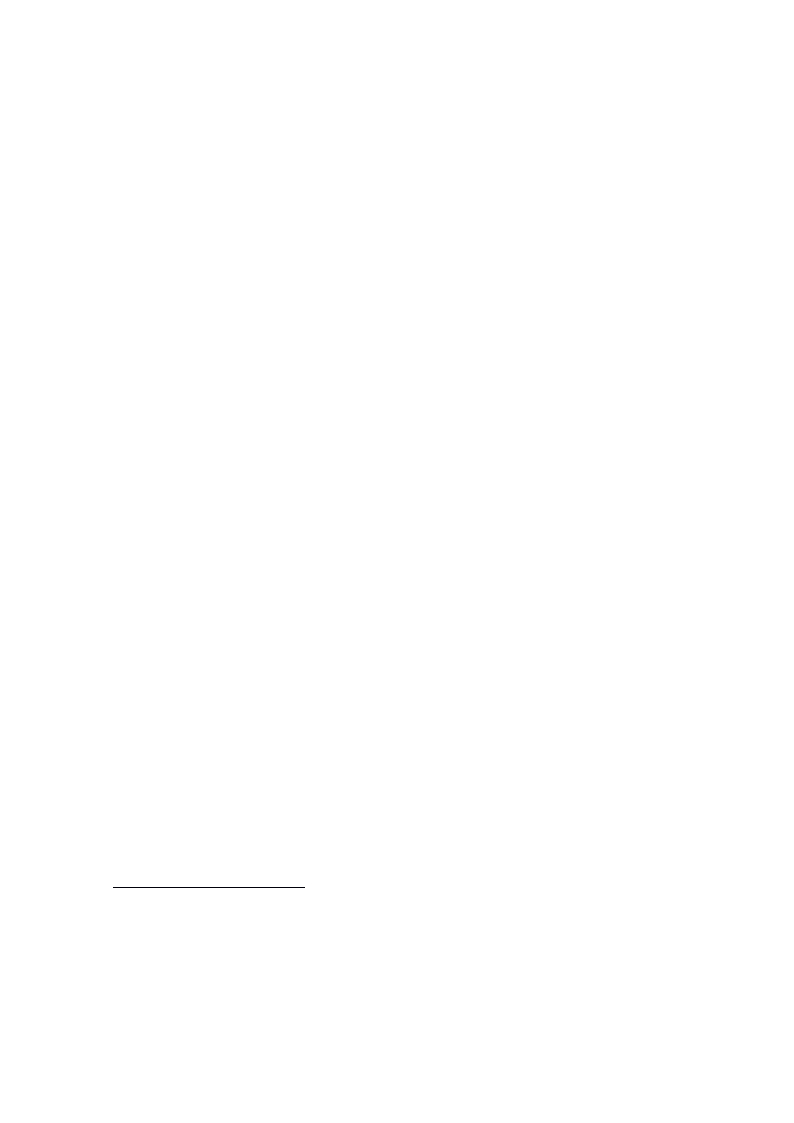
93
Primavera Secundarista25, formado por estudantes da EB, iniciou com as primeiras
manifestações no Estado do Paraná e se estendeu por todo o país, o movimento ocupou26 várias
escolas, institutos federais e universidades, em prol da manutenção dos direitos até então
adquiridos e contra o sucateamento da Educação.
Tardif e Lessard (2014, p. 25) chamam a atenção, em seu livro “O trabalho docente”,
para as questões de controle burocrático que procura implantar nas escolas o contexto industrial,
de empresas econômicas e empresariais, de maneira que:
O currículo torna-se pesado, ele é separado em partes muitas vezes sem relação entre
si, engendrando o parcelamento do trabalho. No ensino secundário, os turnos são
tantos que os professores dificilmente chegam a conhecer seus próprios alunos.
Precisam executar também diversas tarefas que nem sempre têm relação, entre si.
Observa-se, ainda, um crescimento das burocracias dentro das próprias tarefas do dia
a dia. Os governos, por outro lado, pressionados por contextos econômicos,
consideram mais e mais a educação escolar como um investimento que deve ser
rentável, o que se traduz por uma racionalização das organizações escolares e
enxugamentos substanciais nos orçamentos. (TARDIF e LESSARD, 2014, p. 25)
Imbernón defende que o desenvolvimento profissional do professor vai além da
formação, ele contempla uma situação profissional. “Esse conceito inclui o diagnóstico técnico
ou não de carência das necessidades atuais e futuras do professor como membro de um grupo
profissional”, assim como o “desenvolvimento de políticas, programas e atividades para a
satisfação dessas necessidades profissionais” (2011, p. 47).
No processo de ensino e aprendizagem dos alunos, são importantes não apenas
conhecimentos conceituais, mas também para a vida. Para que os sujeitos possam se apropriar
desses conhecimentos apreendidos na academia e na escola em seu contexto diário,
questionando e reivindicando direitos básicos à vida, como saúde, moradia, segurança,
alimentação. Uma situação para exemplificar a importância de formarmos os estudantes para o
exercício da cidadania, foram as manifestações que fizeram estudantes secundaristas e do
25 Reportagem sobre o Movimento da Primavera Secundarista. Disponível em:< http://www.brasil247.com/pt/ >,
Acesso em: 24 jan. 2017.
26 Pelo menos 1.108 instituições de ensino foram ocupadas pelos estudantes, em 19 Estados e no Distrito Federal.
Além de 1.022 escolas e institutos federais, 82 universidades foram ocupadas e quatro Núcleos Regionais de
Educação, de acordo com levantamento da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES). No RS, foram
ocupadas em torno de 120 a 160 escolas e aproximadamente 14 instituições federais de ensino.

94
ensino superior nos protestos e nas ocupações de instituições de ensino ao lutar pelos seus
direitos e a manutenção da Educação no País.
Busco em Zeichner (2011) respaldo para afirmar que a formação docente tem
compromisso político com a justiça social. Os cursos de formação de professores precisam
incentivar “[...] seus alunos a pensarem sobre as dimensões sociais e políticas de seus trabalhos
e sobre como sua prática docente diária está conectada a assuntos de continuidade e mudança
social e a assuntos da equidade e justiça social” (ZEICHNER, 2011, p. 61). Além do mais,
[…] na sociedade desigual e injusta em que vivemos, a qual é estratificada em termos
de raça, língua, etnia, sexo, etc., os formadores de professores estão moralmente
obrigados não apenas a prestar a atenção em assuntos sociais e políticos na formação
docente, mas a tornar esses assuntos preocupações centrais no currículo do curso de
formação de professores desde o início (LISTON; ZEICHNER, 1991) (ZEICHNER,
2011, p. 61).
Para que, dessa forma, os futuros professores possam pensar os “propósitos e
consequências das suas práticas de ensino desde o início de sua preparação” (ZEICHNER,
2011, p. 63). Compreendendo que a formação é um ato de mediação, Reis explicita que se
constitui
[...] praxicamente a autotransformação de cada sujeito. Sua transformação na relação
com o outro ou outros. E a transformação desse outro ou desses outros,
reciprocamente, com esse sujeito. E toda essa transformação do sujeito e dos sujeitos,
sendo constituída e constituindo o contexto histórico cultural em que estão inseridos.
(REIS, 2000, p. 63).
Seguindo a vertente vigotskiana, há consequências profundas dessa afirmativa no
processo de formação de professores, visto que o sujeito professor se constitui nas mediações
pedagógicas e nas interações com contexto social em que se encontra.
Ancorada em autores como Zeichner (1993), Nóvoa (1995) e Pimenta (2012),
compreendo que o processo reflexivo, a partir da interação em grupos colaborativos, contribui
para avançar no entendimento das necessidades formativas em relação ao modelo tecnicista de
ensino, assim como o papel social do professor na sociedade. Dessa maneira, o
desenvolvimento de uma proposta compartilhada entre professores em formação possibilita o
exercício da pesquisa-ação a partir de uma cultura de análise das atividades pedagógicas
realizadas, e permite mudanças nas práticas pedagógicas cotidianas dos professores em sala de
aula, contribuindo para a construção de um conjunto de saberes necessários à sua formação e à
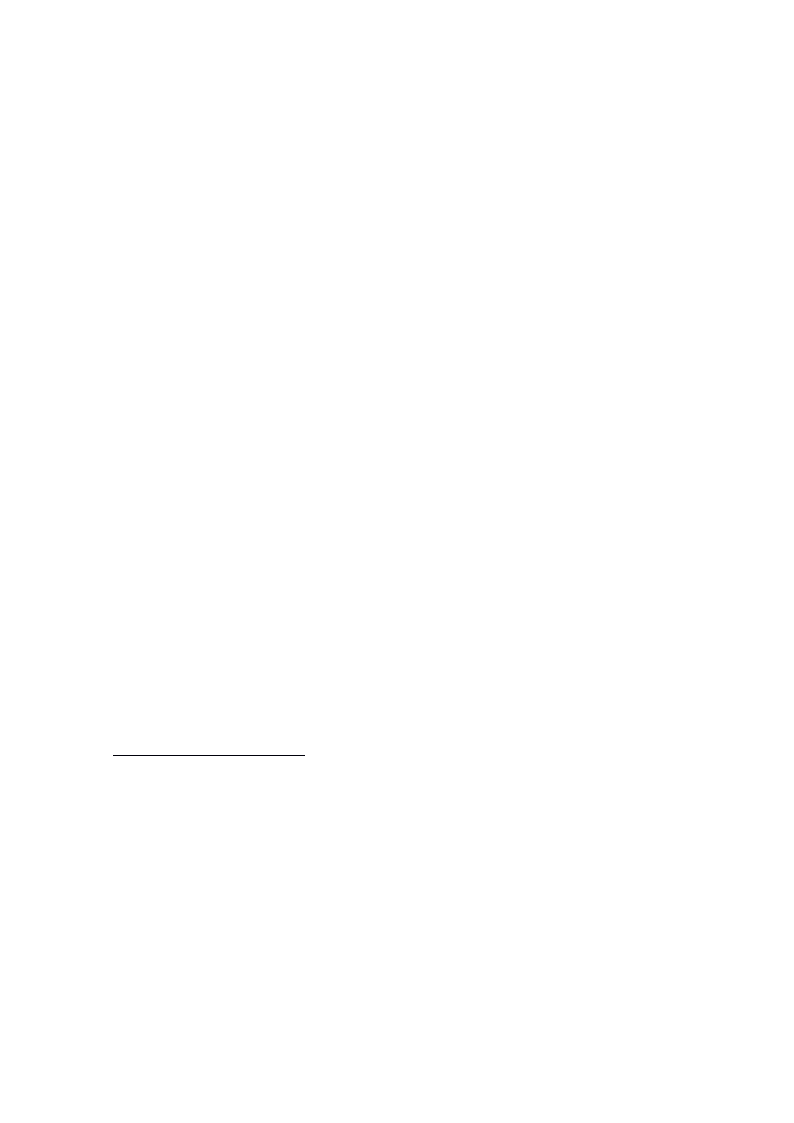
95
sua docência. Nesse viés, a abordagem histórico-cultural contribui para produzir sentidos e
significados na constituição da docência de futuros professores e de professores em exercício.
Referendando essa necessidade de compartilhar, colaborar e autoformar-se, apresento a
relevância da criação de espaços-tempo de discussão e elaboração de relatos reflexivos sobre
as práticas de sala de aula, em processos formativos estabelecidos nos seguintes programas e
projetos desenvolvidos na região missioneira do RS: o Programa Interinstitucional de Formação
Continuada dos Trabalhadores em Educação da Região Macromissioneira do Noroeste do
Estado do Rio Grande do Sul e o Projeto de Formação da Área das Ciências da Natureza e
Matemática e da Rede Nacional de Formação de Docentes da Educação Básica – Educação
Integral.
O programa de formação continuada Macromissioneiro27 visou um “processo de
educação como prática emancipatória, investigativa e reflexiva” ancorada na “pesquisa-ação”
(SOUZA; ZANON, 2015, p. 53), tendo como meta o desenvolvimento do protagonismo
docente como condição de êxito das ações formativas. Dessa maneira, foram constituídos
Grupos de Trabalhos (GTs), inspirados nas redes de cooperação e colaboração profissional
(NÓVOA, 2007). Os GTs28 eram compostos por área de conhecimento, cargos e grandes temas.
Nesse contexto formativo orientado na direção de promover reflexões, os sujeitos, a partir de
intervenções mediadas, foram assumindo-se como protagonistas de suas práticas, que passaram
a ser (re)pensadas e (re)significadas, assumindo “a escrita como princípio básico da pesquisa,
pela elaboração coletiva de ensaios, planejamentos, projetos, artigos, relatos de experiência,
27 O Programa Macromissioneiro, iniciou as ações de planejamento e elaboração da proposta em 2011, sendo
resultado de uma ação coletiva em contexto interinstitucional, sob coordenação e articulação da UFFS. Contou
com apoio financeiro da Secretaria de Estado da Educação do RS, e a parceria colaborativa de seis Coordenadorias
Regionais de Educação (9ª, 14ª, 17ª, 21ª, 32ª e 36ª CREs) e sete Instituições de Educação Superior (Universidade
Federal da Fronteira Sul - UFFS; Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ;
Instituto Federal Farroupilha - IFF/Campi Santa Rosa, Santo Augusto, Panambi; Instituto Cenecista de Ensino
Superior de Santo Ângelo - IESA; Sociedade Educacional Três de Maio - SETREM; e Universidade Regional
Integrada do Alto Uruguai e Missões - URI/Campi Santo Ângelo e São Luiz Gonzaga).
28 Os GTs estavam organizados por área de conhecimento, porém, a área não detém a exclusividade como critério
de composição dos grupos. Os GTs possuíam as tematizações: educação inclusiva, interdisciplinaridade, avaliação
emancipatória, educação do campo, educação indígena, educação de jovens e adultos e/ou outras questões
pedagógicas e/ou epistemológicas e/ou socioculturais. O formato organizacional dos grupos: um GT por área de
conhecimento, que inicialmente seria um por CRE, se desdobrando em vários, reunindo professores interessados
por cidade e/ou por escola (grande), de modo que cada um formasse novos GTs. Em cada CRE deveria ser
organizado um GT mediador, composto pelos coordenadores e assessores colaborativos dos GTs, por um
representante do setor pedagógico da CRE e por um professor da UFFS (GASTALDO; ARENHART, 2015, p. 44-
45).

96
como produção de saberes docentes na relação teoria/prática, mantendo uma ‘retroalimentação
formativa’” (UFFS, 2011, p. 5).
O Projeto29 de Formação da área das Ciências da Natureza e Matemática e da Rede
Nacional de Formação de Docentes da Educação Básica – Educação Integral, articulado ao
Sistema de Gestão e Monitoramento da Formação Continuada (SISFOR), vinculado ao
GEPECIEM – UFFS, Campus Cerro Largo, no ano de 2015, mobilizou professores em
formação inicial, em exercício e formadores da UFFS e de outras Universidades, num
movimento de formação continuada pautada na Investigação-Formação-Ação, priorizando
espaços-tempos para compartilhar, refletir vivências pedagógicas e docentes, segundo as
necessidades dos contextos em que esses profissionais se encontravam inseridos. Encontros
mensais marcaram o contexto formativo com a participação dos integrantes do grupo. A
premissa do diálogo aberto foi propulsora para que conhecimentos fossem compartilhados entre
os participantes. “Leituras dirigidas, relatos de experiências envolvendo teoria e prática,
caracterizando o movimento de ir e vir sobre a formação tanto inicial quanto compartilhada”
(UHMANN; MALDANER, 2016, p. 78).
O Programa Macromissioneiro e o Projeto de Formação da Área das Ciências da
Natureza são conquistas de um movimento coletivamente empreendido entre Universidade e
Educação Básica para a constituição de grupos colaborativos de trabalho entre profissionais da
Educação que, pela via da reflexão, do olhar do outro e das interações vivenciadas conseguiram
mobilizar a produção intelectual dos professores, dando-lhes autonomia para, em parcerias
colaborativas, desafiar-se a pesquisar, refletir e escrever sobre suas atividades docentes. Essa
ação resultou em dois livros30 31, com artigos e relatos de experiências dos professores
29 O projeto foi financiado pelo Ministério da Educação - MEC, através da Secretaria da Educação Básica, com
recursos da Ação Orçamentária 20RJ (BONOTTO, LEITE; GÜLLICH, 2016).
30 BONOTTO, D. L; LEITE, F. A; GÜLLICH, R.I.C. Movimentos Formativos – desafios para pensar a Educação
em Ciências e Matemática. Tubarão: Ed. Copiart, 2016. 472 p.
31 GASTALDO, L. F; ARENHART, L. O.; ANGST, F. Formação Continuada Macromissioneira. Tubarão: Ed.
Copiart, 2015. 584 p. O livro foi lançado no II Seminário Macromissioneiro de Formação Continuada, coordenado
pelo Programa de Formação Continuada da UFFS - Campus Cerro Largo, evento que reuniu cerca de 600
profissionais da Educação de toda a região, além de licenciandos e professores do Ensino Superior. O seminário
contou com a participação do professor da Universidade de Lisboa, António Nóvoa. Uma das ideias centrais de
Nóvoa é que um educador deve reconhecer que existe uma profissão de professor, com conhecimento próprio, em
que “reside o coração da formação do professor”. Disponível em:
<http://uffs.edu.br/index.php?site=uffs&option=com_content&view=article&id=8748:profissao-de-professor-
novoa-defende-formacao-continuada-seminário-realizado-em-cerro-largo&catid=325:noticias&Itemid=843>.
Acesso em: 02 fev. 2017. O Programa Macromissioneiro também contará com um e-book, com produções de 700
professores da região.
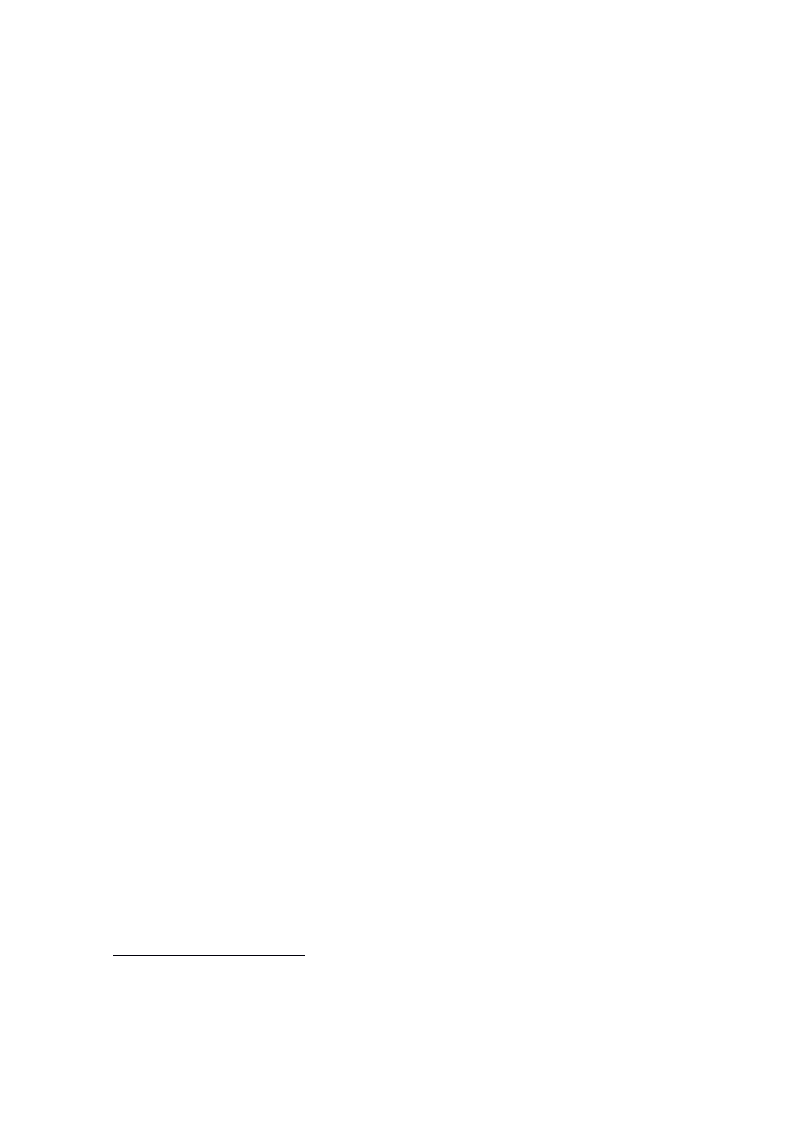
97
provocados a assumirem-se como autores reflexivos de suas práticas, a partir de um processo
colaborativo de “negociação de conhecimentos sobre teorias/práticas situacionais, no contexto
de estudos, planejamentos e ações curriculares coletivamente empreendidas” (SOUZA,
ZANON, 2015, p. 56). O resultado desse processo foi fruto de um trabalho comprometido,
contínuo, com reuniões de planejamento, formações e interlocução entre pares.
No subitem, o fluir das águas, a formação de professores e a necessidade de ampliar a
discussão da Educação em Saúde, o cinema como instrumento pedagógico de ensino e a
abordagem histórico-cultural, base teórica desta tese, são tratadas.
3.2.1 O fluir das águas - processo formativo
A formação de um “bom professor” deve levar em conta a realidade da escola, do
sistema de ensino e da reflexão sobre as práticas docentes. Essas questões são importantes para
o desenvolvimento da autonomia e criticidade dos estudantes, de modo que possam
“compreender as múltiplas dimensões (técnica, política, social) que constituem o
conhecimento” (CHAVES, 2007, p. 18), e implicam na constituição de uma escola real.
Referente a esta situação, amplia-se o debate em torno da reestruturação dos currículos
escolares de Ciências da Natureza, em que um dos pontos centrais de discussão se relaciona à
maneira de os professores em processo formativo32 conceberem a Ciência e o trabalho
científico. E, como esta visão influencia suas práticas pedagógicas e as aprendizagens
desenvolvidas pelos estudantes. Tais assuntos convidam à reflexão, uma vez que os
conhecimentos científicos, escolares e cotidianos apresentam características singulares que, no
decorrer da formação dos professores de Ciências da Natureza, devem ser compreendidas pelos
sujeitos envolvidos.
Outra questão diz respeito à temática Saúde e Educação em Saúde, em que a visão
biomédica de simples ausência de doença, numa perspectiva curativa, prevalece no ensino dos
conteúdos escolares. Diante desse cenário, Knaut, Pontarolo e Carletto (2013) afirmam que
mesmo a população tendo acesso às informações, pelos meios de comunicação acerca dos
hábitos de vida saudável e modificações de estilo de vida, ainda são identificadas doenças
crônicas não transmissíveis (DCNT), nas sociedades modernas. “Aliadas a este perfil, as

98
questões culturais e comportamentais acentuam escolhas equivocadas e de pouca
responsabilidade para com o desenvolvimento de hábitos saudáveis e cuidados com o próprio
corpo” (KNAUT, PONTAROLO E CARLETTO, 2013, p. 2).
Partindo desses questionamentos e do pensamento de Nóvoa (1995, p. 24) em que a
formação pode “desempenhar um papel importante na configuração de uma ‘nova’
profissionalidade docente, estimulando a emergência de uma cultura organizacional no seio das
escolas”; e ainda que a formação é um caminho, pois na interação mediada, na discussão e
apropriação do conhecimento, de forma sistemática e intencional (VIGOSTSKI, 2008), poderão
ser (re)construídos entendimentos de Saúde e Educação em Saúde com professores, por meio
do uso do cinema na sala de aula.
Em face dessas ideias, a linguagem cinematográfica na escola possibilita a abertura de
espaços para o diálogo, a reflexão, a divergência de pensamentos e compreensões de certos
assuntos, proporcionando ao professor e aos alunos a produção de diferentes sentidos e
significados. A imersão em outras realidades permite aos espectadores experimentar diferentes
formas de ver, perceber, sentir e refletir sobre diversas temáticas, dentre elas a Educação em
Saúde.
Para Chaves (2012, p. 87), “é importante pôr em debate e combater as diferentes
narrativas históricas que circulam no campo social, investindo em uma formação para pensar,
decidir e não para acatar”. Nesse sentido, o cinema pode ser um instrumento importante para
contribuir com uma visão ampliada de Saúde e Educação em Saúde, pois a obra propicia ao seu
espectador distinguir e desencadear um sistema de significação específico e distinto dos demais.
A atividade pedagógica mostra-se, então, envolta nesses desafios que conduzem à
discussão e à reflexão como compromisso na arte de educar e (re)criar, em um contínuo
processo de formação. Assim, a partir da abordagem histórico-cultural orientei a discussão
sobre Saúde e Educação em Saúde com a mediação de filmes comerciais, como instrumento de
apropriação e problematização pelos professores em processo formativo dialético, que
[...] se caracteriza, pelas transformações qualitativas de umas formas em outras, que
configuram revoluções; pelo complexo entrecruzamento dos processos de evolução e
involução; pelo entrelaçamento de fatores internos e externos; e pelo intrincado
processo de adaptação e superação de dificuldades (FREITAS, 2001, p. 10).
Desta forma, busquei interligar o contexto formativo e o cinema, a partir da proposição
de Vigotski de que “a natureza transforma-se em cultura, sem perder suas características, e a

99
cultura materializa-se em natureza, constituindo um paradoxo que só o caráter simbólico da
cultura pode desvendar” (PINO, 2005, p. 53). Assim,
[...] perceber e diferenciar as coisas, associar umas às outras, emitir e captar sinais que
lhes permitam orientar suas ações, realizar escolhas de parceiros e compartilhar
emoções (expressão de uma atividade cognitiva e social que lhes permite interagir
com o seu meio e seus congêneres), o próprio do homem é conferir a todas essas
funções uma significação, o que dá às atividades biológicas uma dimensão simbólica.
Atribuir significação a essas funções não é destituí-las da sua condição natural, como
atribuir significação as coisas não é destituí-las da sua condição material, mas torná-
las funções e coisas humanas. Atribuir significação às coisas – as que o homem
encontra já prontas na natureza e as que ele produz agindo sobre ela – constitui o que
entendemos produzir cultura. Dessa forma, falar da relação entre funções biológicas
e funções culturais significa falar de uma relação pela qual aquelas, sob a ação destas,
adquirem uma dimensão simbólica, ou seja, uma nova forma de existência (PINO,
2005, p. 53-54).
Tais ideias permitem compreender que o desenvolvimento das funções mentais
superiores está contido no pensamento, na linguagem, na consciência, na percepção, na
memória, entre outros (PINO, 2005). De acordo com Vigotski, essas funções são ações
mediadas, estabelecidas em relações que os homens têm entre si e com a natureza; dessa
maneira, o biológico e o social não estão separados. Ele indica que a cultura é produção humana
carregada de significação, ao passo que quando nos apropriamos dela estamos nos constituindo
como seres culturais, e a inserção, neste universo, ocorre sempre por uma dupla mediação, a
dos signos e a do outro, detentor de significação (VIGOTSKI, 2008).
Rego (1995, p. 50), fundamentada em Vigotski, apresenta os instrumentos, cuja função
é regular os objetos e os signos “considerado aquilo (objeto, forma, fenômeno, gesto, figura ou
som) que representa algo diferente de si mesmo. Ou seja, substitui e expressa ideias, situações
e objetos, servindo como auxílio da memória e da atenção humana”, tem papel essencial no
processo de mediação, por proporcionar ao homem o contato, a intervenção e a transformação
da natureza, mas principalmente por possibilitar um avanço evolutivo para a espécie humana.
Nesta perspectiva teórica, os instrumentos e os símbolos (linguagem) são mediadores
da ação humana (PINO, 2000). Para Smolka (2000, p. 29), “uma das maiores contribuições de
Vigotsky foi à formulação do signo como instrumento (psicológico)”. Oliveira (2002, p. 30)
compartilha do pensamento de Smolka quando cita que “o signo age como um instrumento da
atividade psicológica de maneira análoga ao papel de um instrumento de trabalho. Os
instrumentos, porém, são elementos externos ao indivíduo, voltados para fora dele; sua função
é provocar mudanças nos objetos”. Isso significa que, “[...] os signos, por sua vez, também
chamados por Vigotsky de ‘instrumentos psicológicos’, são orientados para o próprio sujeito,

100
para dentro do indivíduo; dirigem-se ao controle de ações psicológicas, seja do próprio
indivíduo, seja de outras pessoas” (OLIVEIRA, 2002, p. 30). Dessa forma, os signos alteram o
fluxo e a estrutura das funções mentais (VIGOTSKI, 2008).
Entendo com Vigotski (1929, 2008), que o cinema é um instrumento que serve para
organizar o conhecimento, o signo (linguagem) e o pensamento. Desta maneira, o uso de filmes
comerciais, no processo formativo de professores, caracterizou-se como instrumento que
permitiu significações, um meio para desenvolver a ação mental, para pensar sobre
determinadas questões e situações, que tangem à prática docente sobre a ES, no contexto
escolar. Destaca-se que a mediação teve um papel preponderante nesta investigação, pois a
atividade com os filmes foi uma ação planejada e intencional com o objetivo de provocar novos
entendimentos e uma visão ampliada de saúde.
Na abordagem histórico-cultural, a mediação tem um papel de suma importância, pois
é por meio dela que as funções mentais superiores se desenvolvem nos humanos (REGO, 1995).
Para Pino (2000, p. 38), a mediação “é utilizada para designar a função dos sistemas de signos
na comunicação entre os homens e na construção de um universo sociocultural”. Assim, os
humanos “criaram instrumentos e sistemas de signos cujo uso lhes permite transformar e
conhecer o mundo, comunicar suas experiências e desenvolver novas funções psicológicas”,
que constitui a mediação semiótica.
Oliveira (2002, p. 26) complementa que a “mediação, em termos genéricos, é o processo
de intervenção de um elemento intermediário numa relação; a relação deixa então de ser direta
e passa a ser mediada por esse elemento”. Esse foi o papel das sessões fílmicas, as quais foram
planejadas e executadas com os professores em formação, visando criar um espaço de debates
e análise acerca das diferentes perspectivas, conceitos e contextos de saúde, que os filmes
selecionados apresentaram, assim como, um espaço-tempo de interação e reflexão da prática
docente.
Compreendo com os autores supracitados que o outro, no processo de interação e
significação, tem um caráter fundamental, pois é por meio das trocas estabelecidas com o outro,
que se produz conhecimento. A significação permite o processo de internalização33, que
33 A internalização é o conceito utilizado por Vigotski para explicar o que em outros momentos tem sido referido
como “apropriação”, com significado um pouco mais divergente, mas principalmente como “aprendizagem” ou
“significação” (BASSO, 2016, p. 98).
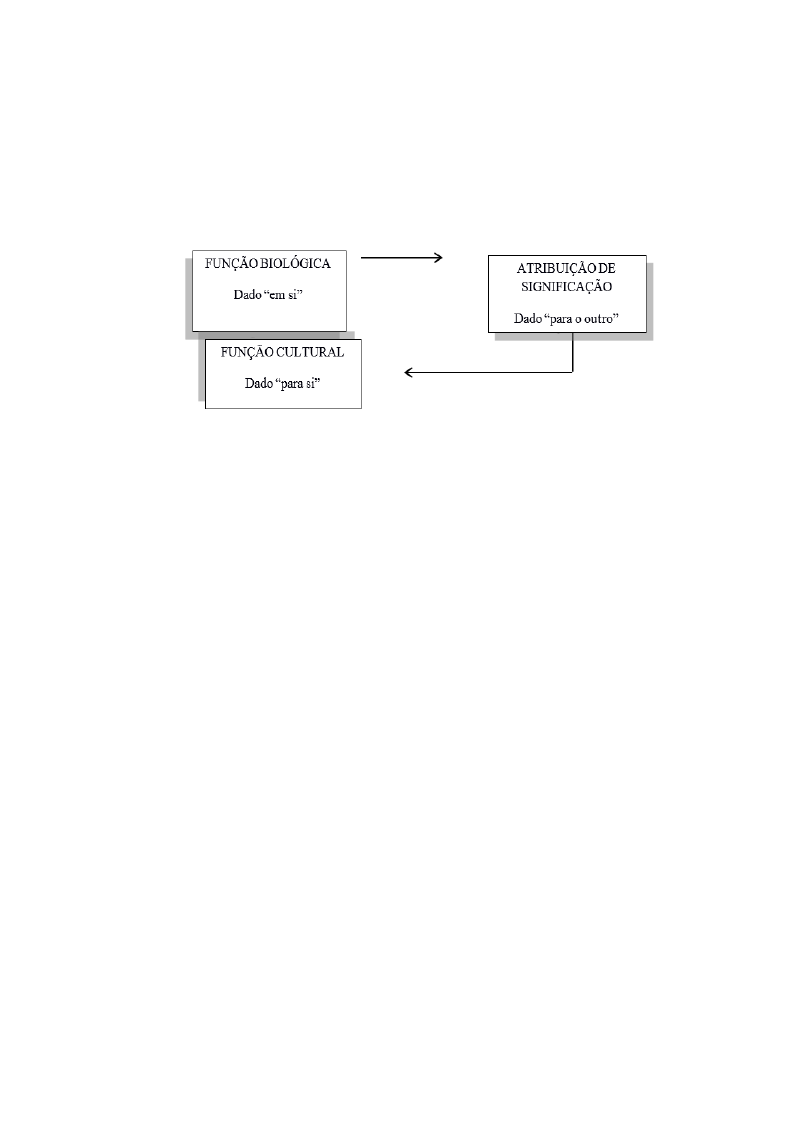
101
corresponde “à passagem do plano social para o da subjetividade” (PINO, 2005, p. 161), o que
pode ser representado no esquema da estrutura trifásica do desenvolvimento cultural no sujeito
(Figura 5).
Figura 5 – Estrutura trifásica do desenvolvimento cultural da criança
Fonte: PINO (2005, p. 161).
Nesse processo, a internalização acontece à medida que o sujeito, pelo outro, “reconstrói
internamente os modos de ação externos compartilhados” (FONTANA, 1996, p. 11). O
processo de desenvolvimento é composto de três fases, que tem início no “plano natural das
funções biológicas, para terminar no plano cultural das funções simbólicas, após a mediação do
Outro” (PINO, 2005, p. 161).
Para Vigotski (2008), toda função do desenvolvimento do sujeito aparece primeiro no
nível interpsicológico, para só depois alcançar o nível intrapsicológico; ao serem internalizadas
e significadas “vão sendo transformadas em funções mediadas, conscientes e deliberadas”
(FONTANA, 1996, p.12). Uma dessas funções é a elaboração conceitual, “que resulta de um
processo de análise (abstração) e de síntese (generalização) dos dados sensoriais, que são
mediados pela palavra e nela materializados” (Id. Ibid).
Desta maneira, há de se destacar que a obra de Vigotski (2008) permite compreender a
abordagem histórico-cultural na formação do funcionamento mental e do desenvolvimento
humano, como um processo que se constitui a partir das relações sociais e dos meios simbólicos,
em que a linguagem assume um papel central, pois é por meio dela que o homem se comunica
e vai se constituindo em suas interações.
Assim, vislumbrei um processo de reflexão mediada e interativa entre pares, em que o
diálogo formativo se apresentou como caminho para avançar nos sentidos atribuídos às questões
de ES e à docência, conforme sinaliza Zeichner (2008). O diálogo formativo foi delineado e

102
percorrido pela constituição do grupo colaborativo de trabalho em que a reflexão e a pesquisa
da prática foram as molas propulsoras do processo, pois, como apresenta Nóvoa (2013, sp.),
“[...] A terceira margem do rio, a verdadeira descoberta, não consiste em encontrar terras novas,
mas em adquirir novos olhares, ‘em ver o universo com os olhos de outros, de cem outros, em
ver os cem universos que cada um deles vê, que cada um deles é’”. Nesse sentido “o rio é que
conta, não as suas margens” (NÓVOA, 2013, sp.).
Um aspecto importante do processo constitutivo do professor é a compreensão da sua
prática e como ela pode contribuir com um ensino que possibilite a apropriação e significação
do conhecimento, mas principalmente do ser professor.
Partindo dessa premissa, a implementação do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID) foi um avanço à educação, pois possibilitou aos professores em
formação a inserção no seu futuro campo de trabalho, o conhecimento do contexto da sala de
aula, da escola e a interação com professores mais experientes.
No próximo subitem apresento o percurso do conceito de saúde ao longo dos tempos na
escola, os modelos34 (abordagens) de saúde: biomédica, comportamental, biopsicossocial e
ecossistêmico, a importância da discussão e abordagem da promoção da saúde na formação de
professores e no espaço escolar.
34 Neste texto tese também será empregado o termo abordagem para fazer referência aos modelos de saúde:
biomédico, comportamental, biopsicossocial e ecossistêmico.

103
3.3 O CONCEITO DE SAÚDE, AO LONGO DOS ANOS, NA ESCOLA
Cada vez mais na literatura as questões de Saúde e Educação em Saúde no âmbito do
ensino e da formação de professores ganham espaço nos trabalhos de investigadores nacionais:
Martins (2017), Greter (2016), Zancul; Gomes (2011), Westphal (2006), Mohr (2002, 2009),
Schall e Struchiner (1999), Bagnato (1990) e internacionais: Macedo e Macedo (2016),
Carvalho e Jourdan (2014), Saboga-Nunes (2013), Vilaça (2006, 2007), Precioso (2004),
Pastorino et al. (2008), Ramos (2005).
Nas investigações desenvolvidas acerca da Saúde e da Educação em Saúde, observa-se
uma preocupação crescente de questões relativas às compreensões de saúde de professores e
alunos, as práticas pedagógicas referentes à saúde, à educação sexual, à saúde escolar, à
apresentação de saúde nos livros didáticos, às abordagens de saúde nos currículos tanto da
escola como do ensino superior, entre outras temáticas que contribuem para um entendimento
e novas investigações sobre o assunto.
Para Monteiro e Bizzo (2015), ao longo dos tempos a saúde no âmbito escolar foi
ganhando novas configurações, visto que as discussões sobre a temática são apresentadas nos
materiais didáticos desde o final do século XIX. A abordagem do tema na escola foi baseada
em preceitos originários da saúde, racionalidade científica, fundadas na fisiologia. Sob esse
viés, a ‘saúde escolar’ seguiu duas vertentes, a primeira, referente à higiene escolar, pela qual
se iniciou a difusão da visão sanitarista. A segunda, pela incorporação dos temas relacionados
à saúde nos currículos escolares, tida como objeto de “trabalho dos professores e de estudos e
aprendizagens por parte dos alunos” (MONTEIRO; BIZZO, 2015, p. 413).
Nesse contexto, emergiram questionamentos sobre que concepções de saúde deveriam
embasar o currículo escolar, e a elaboração de documentos referências que subsidiariam as
decisões curriculares sobre o tema saúde. O marco inicial foram os programas de saúde
instituídos pela Lei de Diretrizes e Bases, de 1971. Monteiro e Bizzo (2015) referem que o
Parecer nº 2.246/74, do Conselho Federal da Educação (caráter obrigatório) e os Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCN (não obrigatórios) indicam concepções e perspectivas de temas
relacionados à saúde humana no contexto escolar.
As Diretrizes Curriculares Nacionais/1998 (DCN) apontam a saúde como um dos
componentes da Base Nacional Curricular Comum (BNCC); assim, a saúde não é mais vista
como um programa e sim como um componente curricular obrigatório. Em 1997, o Ministério
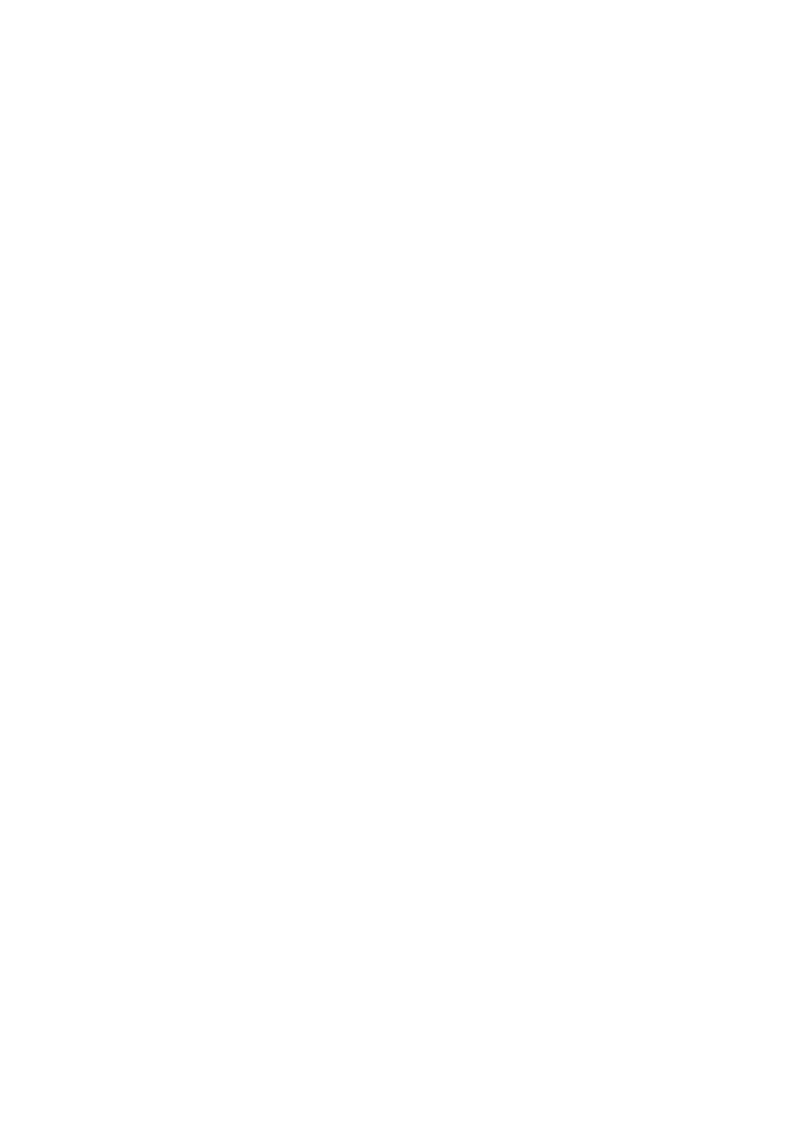
104
da Educação (MEC) publicou os PCN, documento que sofreu duras críticas quanto aos
conteúdos e perspectivas de ensino (MOHR, 2002).
Os PCN definem que a temática da saúde deve ser trabalhada em blocos, de maneira
transversal e interdisciplinar no currículo. Neste documento, a saúde é apresentada a partir de
uma definição ampla e clara, aonde a ênfase para o assunto se dá a partir da perspectiva de
“Educação para a Saúde”. O PCN foi embasado em documentos nacionais e internacionais, e
apresenta a questão de saúde não como ausência de doença ou a partir de uma abordagem
biologicista. O PCN indica que saúde é “produzida nas relações com o meio físico, social e
cultural” (BRASIL, 1998, p. 251). Acerca do conceito o documento considera que os seguintes
aspectos como: políticas públicas, questões culturais dos sujeitos, questões genéticas, o
momento histórico, a realidade social e o ambiente influenciam na saúde dos sujeitos.
O texto propicia algumas interfaces e ligações dos temas propostos para o
desenvolvimento de atividades interdisciplinares possibilitando ao professor pensar no
desenvolvimento de situações de aprendizagem interessantes. Tomemos como exemplo a
temática alimentação, no eixo vida e ambiente, podem ser abordadas questões de hábitos
alimentares saudáveis, distúrbios alimentares, desperdício de alimentos, entre outros assuntos,
assim como fazer a relação deste tema com os demais eixos, tecnologia e sociedade, propor
discussões sobre os processos de industrialização dos alimentos, aditivos alimentares,
marketing e consumo, melhoria genética dos alimentos, etc, terra universo, apresentar questões
sobre produção de alimentos orgânicos, agrotóxicos, a produção e descarte do lixo,
monoculturas e o impacto dessas ao ambiente, entre outros assuntos.
Ao possibilitar esse entrelaçamento dos temas pelo viés interdisciplinar, almeja-se
“contribuir com o desenvolvimento da autonomia e do senso crítico dos alunos, cooperando, de
tal modo, para formação de sujeitos capazes de agir sob sua condição de vida e,
consequentemente, aptos a preservar saúde individual e coletiva” (ASSIS; ARAÚJO-JORGE,
2018, p. 127).
Contudo, Bomfim et al. (2013, p. 37) afirmam que o texto apresenta “grandes
dificuldades teóricas para a compreensão da ‘saúde’ e ‘educação’. É um texto que oscila muito,
se contradiz”, para os autores são apresentados poucos textos no documento que tratam a saúde
e a educação. Conforme Bomfim et al. (2013), Marinho; Silva e Ferreira (2013), Assis e Araújo-
Jorge (2018), os PCN têm lacunas em relação abordagem que faz de alguns assuntos, como
exemplo, o uso de álcool que não está associado aos acidentes de carros, gravidez e aborto,

105
epidemias, saúde e o cuidado com os idosos, distúrbios alimentares, essas e outras temáticas
poderia ser mais exploradas pelo documento
Para Bomfim et al. (2013), está implícito no “texto-base que os problemas de saúde são
resolvidos quase que exclusivamente pela educação”. Mesmo que o PCN apresente a “saúde
como um direito, não oferece ao educador os elementos para indicar as responsabilidades do
Estado em relação às da sociedade” (BOMFIM et al., 2013, p. 39). A partir desta breve
explanação dos documentos oficiais até o ano de 2016, nota-se que há carência de referências
que orientem a temática educação e saúde na escola e na formação docente.
Em 2017, um novo documento orienta o ensino no Brasil, a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) para o Ensino Fundamental. A BNCC na área das Ciências da Natureza
(CN) propõe três unidades temáticas: Matéria e energia; Vida e evolução e Terra e universo. O
documento expressa que essas unidades devem ser trabalhadas ao longo de todos os anos do
Ensino Fundamental de modo a articular e reforçar um ensino que retome e interligue os
conhecimentos apreendidos ao longo da formação do estudante. O documento cita que um dos
compromissos da área das CN é o desenvolvimento do letramento científico dos estudantes para
que eles possam “compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas
também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais da ciência” (BRASIL,
2017, p. 319).
Conforme o documento, à medida que os alunos sejam letrados cientificamente eles
terão autonomia para atuar, analisar e decidir sobre diferentes situações e condições do seu
cotidiano. Em busca desta interligação do conhecimento, ao analisar a questão da saúde a
BNCC apresenta o tema de forma abrangente, ao citar que a saúde é “compreendida não
somente como um estado de equilíbrio dinâmico do corpo, mas como um bem da coletividade,
abrindo espaço para discutir o que é preciso para promover saúde individual e coletiva,
inclusive no âmbito das políticas públicas” (BRASIL, 2017, p. 325).
Em relação à saúde do sujeito, a BNCC propõe como uma das finalidades do ensino é
que os estudantes ao terminarem o Ensino Fundamental, sejam capazes de compreender:
[...] a organização e o funcionamento do seu corpo, assim como de interpretar as
modificações físicas e emocionais que acompanham a adolescência e a reconhecer o
impacto que elas podem ter na autoestima e na segurança de seu próprio corpo. É
também fundamental que tenham condições de assumir o protagonismo na escolha de
posicionamentos que representem autocuidado com seu corpo e respeito com o corpo
do outro, na perspectiva do cuidado integral à saúde física, mental, sexual e
reprodutiva. Além disso, os estudantes devem ser capazes de compreender o papel do
Estado e das políticas públicas [...] no desenvolvimento de condições propícias à
saúde (BRASIL, 2017, p. 325).

106
A partir do que foi exposto, se identifica no texto-base a preocupação com a formação
de um sujeito que compreenda as várias interfaces da saúde, principalmente a partir do cuidado
de si e do outro, e também o papel que o Estado têm na promoção da saúde individual e coletiva,
mas assim, como cita Bomfim et al. (2013) parece que a Educação é a única que têm que
resolver todos os problemas e se responsabilizar pela formação de Educação em Saúde dos
alunos. Porém, qual é o papel do Estado, da família e dos demais segmentos da sociedade na
Educação em Saúde dos estudantes?
Mesmo que a BNCC apresente subsídios para o ensino sobre saúde, a fim de possibilitar
um entendimento amplo do assunto, estabelecendo relações com os vários conhecimentos que
os estudantes tiveram ao longo da formação escolar, a mesma é recente. E é neste sentido, que
concordo com Gazzinelli et al. (2005, p. 201), quando cita que a escola ainda apresenta um
modelo exógeno de doença, no qual deve-se combater o inimigo para ter-se saúde. Desse modo,
não estar acometido por alguma enfermidade é uma afirmação simplista de saúde, ainda
presente no imaginário de uma parcela significativa da sociedade, bem como dos estudantes de
qualquer nível de ensino. Por isso, é fundamental compreender a origem dessa visão e as
possibilidades de um entendimento mais amplo de saúde, visando à promoção e a melhoria da
qualidade de vida (PANSERA-DE-ARAÚJO; EMMEL; CAMBRAIA, 2016). Em termos
gerais, esse entendimento é denominado por Carvalho e Jourdan como literacia em saúde, a
qual:
[...] deve proporcionar aos alunos a aquisição de conhecimentos que lhes permitem
atuarem como cidadãos livres e responsáveis no campo da saúde. Isto implica serem
capazes de compreender não só o impacto dos determinantes de saúde, mas também
a necessidade de mudarem para estilos de vida mais saudáveis e criarem melhores
condições de vida, a fim de melhorar a sua saúde pessoal e comunitária.
(CARVALHO e JOURDAN, 2014, p. 102).
Para desenvolver o trabalho docente na perspectiva da literacia em saúde, julgo
importante conhecer a evolução do conceito de saúde ao longo dos anos, Barros (2002) e Scliar
(2007) apresentam que o tema saúde parte de um entendimento interligado ao contexto histórico
e cultural de uma determinada sociedade, portanto, o que entendemos de saúde hoje é muito
diferente do que era compreendido pelos nossos antepassados, que atribuíam as causas do
estado de saúde/doença as forças sobrenaturais. Com o avanço do conhecimento da ciência e
da tecnologia, esse entendimento mágico-religioso de saúde passou por uma redefinição em
meados do século XIX e ganhou nova configuração no século XX.
Scliar (2007) traça uma linha do tempo acerca dos diferentes entendimentos do conceito
de saúde e doença (QUADRO 11).
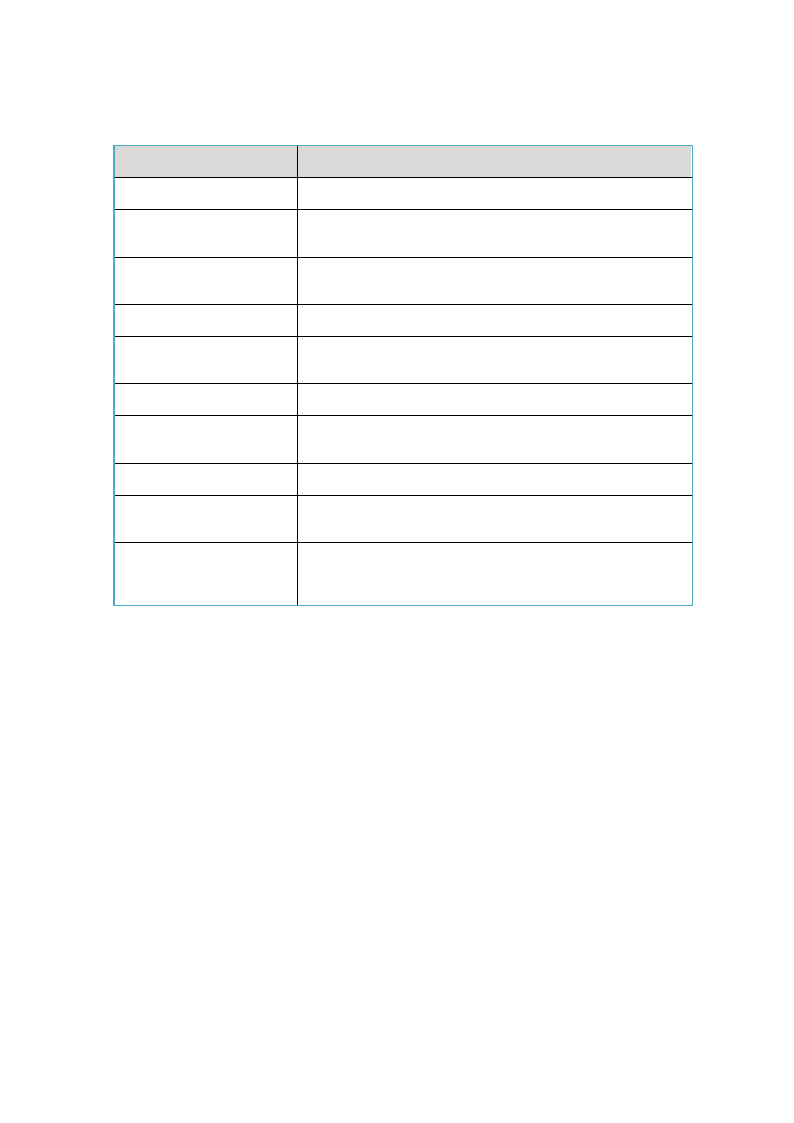
107
Quadro 11 – Síntese dos períodos históricos e compreensões de saúde
Períodos históricos
Compreensões (conceitos) de saúde
Sociedade primitiva (2000 a.C) Concepção mágico-religiosa
Antiguidade (1000 - 500 a.C) Visão racional de Hipócrates (460 - 377 a. C), com os postulados dos
humores
No Oriente (séc. V a.C)
Concepção de que as forças vitais do corpo funcionavam de forma
harmoniosa na saúde, caso contrário, sobrevinha à doença
Galeno (129-199 d.C)
Doença como endógena ao organismo
Idade Média Europeia (500 - Religião cristã considerava a doença como resultado do pecado e a cura
1500 d.C)
como questão de fé
Paracelsus (1493-1541)
Doenças como exógenas ao organismo
René Descartes (século XIX)
Dualismo mente-corpo, comparando o funcionamento do corpo a uma
máquina
Louis Pasteur (século XIX)
Teoria da Biogênese
Modelo biomédico (início do Saúde entendida como ausência de doença
séc. XX)
Modelo sistêmico (meados dos O processo de saúde-doença está relacionado a inúmeros fatores
séc. XX e XXI)
associados como, por exemplo: fatores políticos, socioeconômicos,
culturais, ambientais, etc.
Fonte: Scliar, 2007.
Essa trajetória permite compreender um pouco da gênese do conceito de saúde, e a
origem do modelo biomédico, calcado na ausência de doença, conceito esse que advém do
pensamento positivista, que correlaciona o funcionamento do corpo humano ao de uma
“máquina”, compreendendo o corpo em partes, em sistemas cada vez mais especializados.
Segundo Scliar (2007), após a 2ª Guerra Mundial, com a criação da Organização Mundial de
Saúde (OMS), subordinada à Organização das Nações Unidas (ONU), é demarcada nova
abordagem para o conceito de saúde, a qual buscava estabelecer relações entre saúde e a
produção social e econômica da sociedade. Assim, a OMS define em 1948, a saúde “como o
estado de bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença ou enfermidade”
(WHO, 1988, p. 11), esse conceito foi alvo de críticas pela sua restrição, caráter utópico e
inalcançável (BATISTELLA, 2007).
Batistella (2007b), Almeida Filho e Jucá (2002) citam que, na década de 1970, o filósofo
americano Cristopher Boorse percebia a saúde como a ausência de doença, pautada na dimensão
da base da normalidade, entendida através das funções biológicas e em termos estatísticos, o

108
que caracteriza o modelo biomédico de saúde. Nesse entendimento são desconsiderados os
inúmeros fatores que inferem na saúde do sujeito.
Nos últimos 50 anos, foram sendo desencadeados esforços para se obterem ganhos em
saúde, enfatizando a necessidade de uma compreensão mais alargada de saúde, que possibilitem
aos sujeitos o acesso universal à qualidade dos cuidados de saúde e a equidade de saúde, assim
como ações e o desenvolvimento/aprendizagem da saúde para todos (FREITAS; PAZ; FARIA,
2000).
As discussões sobre o tema ampliaram-se (ALMEIDA-FILHO, 2000; SCLIAR, 2002,
2007; MARTINS, 2017). No Brasil, com a Constituição Federal de 1988, a saúde passa, de
acordo com o Artigo196, a ser direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas
sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário,
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, sendo esse o princípio que
norteia o SUS, Sistema Único de Saúde (SCLIAR, 2007).
Nos últimos vinte e cinco anos (1990-2015), emergiu uma abordagem mais ampla para
o conceito de saúde, como a dos modelos biopsicossocial ou modelo sistêmico, a qual
privilegia a visão integral do sujeito nas dimensões física, psicológica e social, e a prevenção
em vez do tratamento, se contrapondo, portanto, ao modelo biomédico.
Outra abordagem é o modelo ecossistêmico, que resulta das discussões a partir do
lançamento da Carta de Ottawa (OMS, 1986) e da Carta de Adelaide (OMS, 1988), frutos da I
e da II Conferências Internacionais de Promoção de Saúde, respectivamente. Com relação à
abordagem ecossistêmica, Gómez e Minayo (2006) explicitam que há uma estreita inter-relação
entre a noção de saúde, qualidade de vida e o ambiente; dentro dessa perspectiva, a saúde e a
doença são decorrentes de fatores que estão ligados às questões ambientais, tais como: ausência
de saneamento básico; poluição das águas, do solo e do ar; condições precárias de moradia;
proliferação de vetores; desmatamento; entre outros. Portanto, nessa abordagem a saúde é
compreendida dentro de uma visão em que não se vê as partes individualizadas e estanques,
mas como um todo constituído de partes que interagem, se interligam e se influenciam
mutuamente, numa dinâmica que é mais do que a soma de cada um.
Nesse movimento de compreensão do “conceito de saúde e doença”, cabe destacar que
é quase impossível estabelecer um conceito único e fechado, pois a saúde e a doença estão
relacionadas a fatores do contexto histórico e cultural de uma determinada época, no qual se

109
deve levar em conta aspectos da conjuntura social, econômica, cultural, política, e o ser humano
na complexidade de suas relações: familiar, comunitário e ambiental.
Vislumbrar a evolução do conceito de saúde permite entender porque, nos diversos
segmentos da sociedade, em especial na escola, o conceito biomédico ainda se faz vigente
3.3.1 Saúde e promoção da saúde
Nas últimas décadas, observa-se um crescente debate acerca do tema Educação em
Saúde. Pesquisadores de âmbito nacional (SCHALL 1996; IERVOLINO, 2000; MOHR, 2002)
e internacional (CARVALHO, 2014; SABOGA-NUNES, 2013; PRECIOSO, 2017; VILAÇA,
2006, 2007) discutem caminhos possíveis para um espaço de formação e promoção da saúde
no ambiente escolar e universitário, que visem à mudanças de atitudes em relação ao cuidado
de si, bem como adoção de medidas estratégicas que poderiam ser eficazes na prevenção e
promoção da saúde individual e coletiva.
Como apontam Barros (2002) e Scliar (2007), o tema saúde parte de um entendimento
interligado ao contexto histórico e cultural de uma determinada sociedade. Portanto, o que
entendemos de saúde hoje é muito diferente do que era compreendido pelos nossos
antepassados, que atribuíam as causas ou estado de saúde/doença a forças sobrenaturais. Com
o avanço do conhecimento da ciência e da tecnologia, esse entendimento mágico-religioso de
saúde passou por uma redefinição em meados do século XIX e ganhou nova configuração no
século XX.
Esse entendimento influenciou e demarcou as atividades de Educação em Saúde na
escola e na sociedade como um todo. No final do século XIX, as atividades referentes à saúde
no ambiente escolar estavam pautadas por um processo de higienização e, ao longo dos anos,
em decorrência dos novos entendimentos sobre saúde, propostas emergiram no campo da
pesquisa educacional sobre o assunto, apontando para a necessidade de se repensar a formação
de professores e as práticas pedagógicas no que tange ao ensino de Educação em Saúde.
Na literatura (ZANCUL; GOMES, 2011; ARAÚJO; EMMEL; CAMBRAIA, 2016),
observa-se que há uma forte marca do modelo biomédico nos processos formativos de
professores das Ciências da Natureza, bem como no entendimento de saúde pelos alunos da
EB. Assim, é importante problematizar essa compreensão e avançar em propostas formativas

110
que possibilitem aos professores conhecimentos sobre Educação em Saúde, dentro de uma
perspectiva de prevenção e promoção.
A partir dos vários debates e reformas políticas em nível mundial e nacional sobre saúde,
entre as décadas de 1960 a 1990: Cartas de Ottawa (1986) e Adelaide (1988), Lei de Diretrizes
Bases (LDB) de 1964 e 1994, Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), novas perspectivas
foram consideradas em relação ao tema. Com base nessas considerações identifica-se a
necessidade de reconfigurar os currículos dos cursos de graduação e possibilitar uma formação
aos professores que os auxilie a compreender a complexidade da Saúde e a necessidade de
construção de propostas educativas à promoção da saúde na escola, visando à transformação
das condições de vida e saúde, bem como a melhoria da qualidade de vida dos sujeitos e do
contexto no qual se encontram.
Partindo desse entendimento, Iervolino (2000) diz que a criação de ambientes
favoráveis à saúde está atrelada ao aumento de poder de deliberação das pessoas e da
comunidade, e dependem da educação e da maior participação nos processos de tomada de
decisão, fatores essenciais num processo democrático de promoção da saúde. Assim, a busca
por novos referenciais para dar conta do modelo ampliado de saúde, que incorpora a evidente
relação entre saúde e condições de vida, resultou na construção da promoção da saúde como
política. Este entendimento passou a ser disseminado pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), a partir da I Conferência Internacional de Promoção da Saúde, realizada em 1986. O
documento resultante dessa conferência foi a Carta de Ottawa.
A Carta de Ottawa (1986, p. 1) expressa que “a promoção da saúde é o nome dado ao
processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde,
incluindo uma maior participação no controle deste processo”. Saboga-Nunes et al. (2016)
apontam as capacidades esperadas dos sujeitos a partir da promoção da saúde: atualização; a
compreensão de informações e seu significado; interpretação e avaliação das questões e a
capacidade de formar uma opinião consciente.
Como a promoção da saúde se aproxima da ideia de qualidade de vida, Minayo et al.
(2000, p. 8) expressam que a qualidade de vida “abrange muitos significados, que refletem
conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e coletividades que a ela se reportam em
variadas épocas [...], sendo, portanto uma construção social com marca da relatividade
cultural”.
Neste sentido, a escola é vista como um espaço privilegiado para promoção de saúde,
em vista da sua função social e principalmente pelo trabalho contínuo e integrado com as

111
crianças e jovens, e pela sua capacidade de formação. Cabe destacar que a promoção da saúde
depende de toda a comunidade escolar (RAMOS; STEIN, 2000). Assim, a ES é uma das
principais vias para a promoção da saúde, pois está “coloca a educação (institucional ou não)
como uma forma de desenvolver o exercício da cidadania, para, desse modo, fortalecer atitudes
que melhorem as condições de saúde e vida” (CARVALHO, 2015, p. 1212). Referente a esta
abordagem, concordo com Schall (2010, p. 184) ao expressar que “a escola permanece como
uma instituição que pode constituir em espaço genuíno de promoção de qualidade de vida,
construindo condições para que seus alunos se instrumentalizem para a intervenção individual
e coletiva”.
Contudo, para se atingir esses objetivos é importante que haja um ensino mais
abrangente sobre saúde nos cursos de licenciatura e mais formações e discussões tanto em nível
de formação inicial quanto continuada para debater sobre o que de fato seja promoção da saúde
e qualidade de vida, auxiliando os professores a pensar e elaborar atividades de ensino com
“problemas que têm sentido na realidade dos estudantes, [...], problematizando os temas por
meio de estratégias pedagógicas diversas, priorizando os valores e a aquisição de hábitos e
atitudes com dimensões fundamentais” (SCHALL, 2010, p. 184).
Como já apresentado no subitem anterior, o PCN, mesmo apresentando um conceito
complexo e amplo de saúde, ainda precisa avançar em questões para promover a compreensão
de saúde pelo viés da qualidade de vida. Em relação à promoção de saúde, o documento é
superficial, ao não questionar as políticas públicas e dar mais ênfase aos determinantes sociais
como indicadores de saúde e desta forma não propiciar o empoderamento e a participação
social.
3.3.2 Educação em Saúde e a formação de professores
Nos conteúdos que perfazem o ensino de Ciências, a Saúde desponta como um tema
que deve ser trabalhado de forma interdisciplinar e transversal, como sinalizam os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN), de maneira a desenvolver aprendizagens em saúde no espaço
escolar. De acordo com os PCN, “[...] a Educação para a Saúde será tratada como tema
transversal, permeando todas as áreas que compõem o currículo escolar” (BRASIL, 1997 b, p.
61). Porém, o que se observa quanto à responsabilidade do trabalho docente sobre saúde no
contexto escolar, é que a interdisciplinaridade de fato não ocorre, e as temáticas sobre saúde
ficam relegadas na grande maioria das vezes às disciplinas de Ciências e Biologia (MOHR,
2002, ZANCUL; GOMES, 2011).

112
Considerando que “a formação do professor de Ciências Biológicas também está
comprometida com a formação intelectual, cultural e política dos nossos alunos da Educação
Básica” (SELLES, 2014, p. 14), é primordial que a formação contemple não apenas o
conhecimento acadêmico, mas também práticas sociais de saúde a partir do contexto reais, para
não distanciar do contexto que os futuros professores encontrarão. Sob esse ponto de vista,
podemos considerar que no Ensino de Ciências e Biologia, a Educação em Saúde (ES) ainda é
apresentada e discutida, nas escolas e universidades, numa perspectiva reducionista e dentro
dos padrões sanitaristas, visando mais a cura do que propriamente a promoção da saúde dos
sujeitos (MOHR, 2002; CARVALHO; JOURDAN, 2014).
No cenário educativo, a apresentação de alguns assuntos, na grande maioria das vezes,
ocorre a partir de uma visão higienista dos conteúdos, presumindo que o processo de ensino
está restrito a informações, prescrições e atitudes de mudanças de comportamento. Para Zancul
e Gomes (2011, p. 51), “os atuais cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, de uma
maneira geral, têm formado professores sem adotar temas de Educação em Saúde nos seus
conteúdos escolares”, o que compromete o ensino de saúde e as ações promotoras de saúde.
Situação oposta ao que seria esperado em se tratando do ensino, o qual tem como objetivo o
desenvolvimento de habilidades cognitivas, do raciocínio, da reflexão e do senso crítico.
Entendo que, a partir da abordagem histórico-cultural, essas habilidades só são possíveis de
alcançar por meio da mediação com o outro via linguagem. À medida que o professor se
apropria e significa o conceito de saúde a partir de um entendimento ampliado que contempla
questões sociais, políticas, ambientais entre outras, ele compreenderá que o assunto é mais
amplo e complexo e que para se ter a promoção e qualidade de vida, é necessário mais que
prescrições e orientações.
Para Monteiro e Bizzo (2015, p. 421), “a descrição da doença a partir de seus aspectos
biológicos, privilegia o discurso acerca da doença e não da saúde”, fator esse que influencia o
processo de ensino e reforça “a tendência de as discussões sobre saúde na escola reduzirem o
objeto apenas aos seus aspectos biológicos ou, mais radicalmente, à descrição da doença” (Id.
Ibid.).
Perante o exposto, e tendo a escola como espaço de formação social do sujeito, acredito,
assim como Zancul e Gomes (2011), que os cursos de formação de professores, em particular
os de Ciências e Biologia, precisam contemplar em suas disciplinas conhecimentos e valores
que capacitem os professores a tratar de temas de Educação em Saúde na escola, a fim de

113
promover e articular conhecimentos amplos do assunto e o desenvolvimento de possibilidades
formativas geradoras de mudanças pessoais e sociais.
Diante desse contexto, Schall e Struchiner (1999, p. 4) expressam que a Educação em
Saúde é “um campo multifacetado para o qual convergem diversas concepções das áreas tanto
da educação quanto da saúde, as quais espelham diferentes compreensões do mundo,
demarcadas por distintas posições políticas, filosóficas sobre o homem e a sociedade”. Diante
desta perspectiva, julgo ser importante educar os estudantes para a cidadania, pois no
entendimento de Alarcão (2011, p. 25) “a sociedade não existe sem as pessoas que a constituem
e a vão formando. Mas, por sua vez, está influencia a formação e atuação das pessoas. A escola
é um setor da sociedade, é por ela influenciada e, por sua vez, influencia-a”.
Autores como Talavera e Gavidia (2007) propõem que a implantação de estratégias
educativas no campo da saúde requer comprometimento, vontade e interesse dos professores
em participar do processo. Além do mais, os futuros professores “necesitarán realizar una
lectura crítica y profunda de los contextos socioculturales y las realidades de las esculas en las
que se inserten para construir propuestas potentes y contextualizadas de EpS integral”
(PASTORINO; ASTUDILLO; RIVAROSA, 2016, p. 76).
Ao fazer essas defesas em relação à Educação em Saúde no processo formativo e na
prática docente do professor, partilho com Mohr (2002, p. 38) do entendimento da expressão
Educação em Saúde como “atividades realizadas como parte do currículo escolar, que tenham
uma intenção pedagógica definida, relacionada ao ensino-aprendizagem de algum assunto ou
tema relacionado com a saúde individual ou coletiva”. Concordo com Zancul; Gomes ao
citarem que:
A universidade deve dedicar-se a formar professores que possam assegurar a
construção de escolas promotoras de saúde e a capacitação dos professores exige uma
formação que contemple de maneira mais ampla a temática Educação em Saúde
(PRECIOSO, 2004). A sensibilização e formação do corpo docente têm importância
fundamental para que a Educação em Saúde exista de fato e seja bem trabalhada
dentro das escolas. (ZANCUL; GOMES, 2011, p. 53).
Nesse sentido, para uma abordagem mais ampla, que contribua para a promoção da
saúde e abandono dos entendimentos higienistas de saúde/doença, necessita haver uma
retomada e discussão do que de fato é importante ensinar sobre Saúde na escola. Dessa forma,
julgo pertinente que a formação inicial contemple essa discussão e busque um diálogo a fim de
provocar mudanças de currículo, visando a uma formação que trate a Saúde dentro de uma
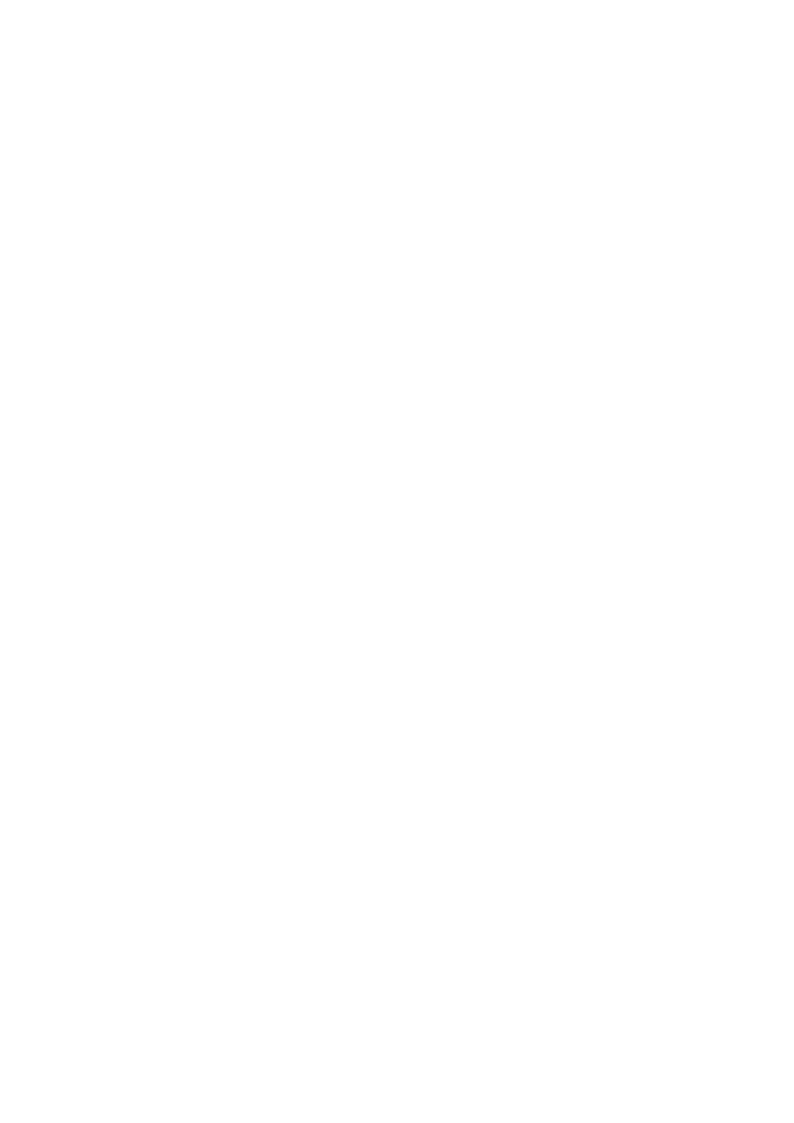
114
abordagem sistêmica, que considera o sujeito em sua integralidade. Sob esse aspecto, “um dos
grandes desafios da formação inicial é conjugar a solidez e competência de conhecimentos
específicos com a capacidade de articulá-los em diferentes campos, com uma visão mais ampla,
sistêmica e integrada” (VENTURINI; PEDROSO; MOHR, 2013, p. 2).
No próximo bloco busco a partir da literatura e das pesquisas na área da Educação,
apresentar e argumentar acerca do uso do cinema como um instrumento pedagógico com um
grande potencial para o ensino.

115
3.4 O CINEMA E EDUCAÇÃO: UM INSTRUMENTO DESAFIADOR NO PROCESSO
FORMATIVO DE PROFESSORES
Cinema é como um sonho. Como uma música.
Nenhuma arte perpassa nossa consciência
da forma como um filme faz;
vai diretamente até nossos sentimentos,
atingindo a profundidade dos quartos escuros da nossa alma.
(Ingmar Bergman)
Inicio a escrita a partir das palavras de Bergman para pensar o uso dos filmes no
processo formativo de professores. Há mais de um século que o cinema atravessa nossas vidas,
apresentando-nos modos de ser, interagir e pensar. Essa mídia exerce grande fascínio em seus
espectadores, e seu enredo apresenta conhecimentos e saberes produzidos pela humanidade. Os
filmes comerciais35 não foram planejados para fins didáticos, porém, pela diversidade de temas
que tratam, caracterizam-se como um instrumento com grande potencial para a atividade de
ensino.
Apesar dos pontos negativos apontados em relação ao trabalho pedagógico com a sétima
arte na escola, o cinema atravessou a minha formação, despertando o meu interesse, não mais
para entreter, mas sim para ensinar, provocar, refletir e aprender. Uma vez que os filmes
encantam, seduzem possibilitando novos olhares, percepções e representações
mentais, transformam e ampliam o conhecimento escolar, a partir das histórias apresentadas,
em seu enredo, e das marcas que imprimem no processo formativo dos sujeitos (alunos e
professores). Sobre esse ponto, Menéndez e Medina (s.d., p.3) apresentam os filmes como novo
espaço, pois outorgam grande valor ao mundo simbólico. São, na verdade, fontes de informação
sobre a ocasião em que foram produzidos, apresentando a realidade política e social daquele
momento.
Dentro dessa perspectiva, o cinema na sala de aula possibilita discutir conhecimentos
conceituais, temas e situações do cotidiano por meio das histórias narradas. A linguagem
cinematográfica pode tornar-se um valioso dispositivo de aprendizagem, visto que estimula o
aluno a pensar e falar sobre seus entendimentos e significações, tornando viável a instauração
de novas formas de estar em sala de aula, proporcionando mudanças nesse espaço educativo.
Outro fator importante no trabalho pedagógico com os filmes é garantir uma abordagem
além da experiência cotidiana, sem negá-la (NAPOLITANO, 2013). Para esse autor, o professor
35 São os produzidos com finalidade de entretenimento, podem ser assistidos nas telas do cinema e televisão.

116
deve “propor aos alunos leituras mais ambiciosas além do puro lazer, fazendo a ponte entre
emoção e razão de forma mais direcionada, incentivando o aluno a se tornar um espectador
mais exigente e crítico, propondo relações de conteúdo/linguagem” (NAPOLITANO, 2013, p.
15).
Muito tem se discutido na literatura, nos eventos e congressos da área de Ensino e
Educação, como: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED,
Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino - ENDIPE, Encontro Nacional de Ensino
de Biologia - ENEBIO, Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências - ENPEC,
Encontro Regional de Ensino de Biologia Sul - EREBIOSUL, entre outros, sobre a necessidade
de um processo formativo que contemple as novas demandas da sociedade, pois o ensino
tradicional, ancorado unicamente na oratória do professor e nos livros didáticos como
detentores do conhecimento, não cabem mais na escola do século XXI. É preciso que os
professores repensem seu fazer e compreendam que somente quando as suas atividades
pedagógicas tiverem uma real significação para os alunos, quando a teoria estiver articulada
com a prática, haverá um avanço na discussão de um ensino de qualidade.
Nesse sentido, pensando no contexto formativo de professores, busco as obras
cinematográficas para fomentar discussões no ensino e possibilitar reflexões sobre a Educação
em Saúde, como um espaço profícuo de trocas e aprendizagens, de “abertura e diálogo, para
além das palavras” (ANTUNES, 2015, p. 12). Ao aliar o imaginário do cinema com fatos da
vida real, o professor possibilita aos alunos situações e “cenários que retratam a diversidade
cultural da sociedade e os valores individuais e coletivos, que posteriormente podem ser
discutidos e ampliados por meio de situações dialógicas mediadas” (VIANA, ROSA, OREY,
2014, p. 139), pois, ao assistir um filme, um universo imaginário se expõe ao espectador. Nas
palavras de Bernardet (1985, p.12),
[...] parece tão verdadeiro – embora a gente saiba que é de mentira – que dá para fazer
de conta, enquanto dura o filme, que é verdade. Um pouco como num sonho: o que a
gente vê e faz num sonho não é real, mas isso só sabemos depois, quando acordamos.
Enquanto dura o sonho, pensamos que é verdade.
Ao pensar sobre o “poder” do cinema, partilhamos do entendimento de Oliveira Jr.
(1999) ao expressar que os filmes tocam o sujeito, primeiro pela emoção, e depois pela razão,
esse processo possibilita ao espectador despertar sua imaginação e estabelecer aproximações
com o seu cotidiano. A dimensão educativa do cinema como instrumento pedagógico está na

117
proposição de que se ele “encanta, deslumbra e emociona, ele também ensina” (SILVA, 2007,
p. 211).
Sobre esse ponto, é interessante, também, perceber a fala de Helena ao refletir acerca
da questão da emoção, e como ela pode contribuir com o processo de ensino: Eu acho que essa
emoção, ela não tem como não prender a atenção voluntária do aluno na sala de aula, se ele
está assistindo mesmo, esse é um estágio importante na aprendizagem, a atenção voluntária
(HELENA - 2ª SF - T 42, 2016).
Refletindo sobre o dizer de Helena sobre a questão da emoção desencadeada a partir
das cenas de um filme, concordo com Azevedo; Grammont; Teixeira (2014, p. 132) quando
expressam que o “cinema é capaz de mobilizar afetos, difundir ideias e influenciar
comportamentos”. No próximo subitem discuto a relação entre o cinema e o ensino e o papel
formativo do filme na educação.
3.4.1 A relação entre cinema e ensino
A relação entre o cinema e o ensino, no Brasil, é registrada desde 1920; segundo Catelli
(2010, p. 605), “entre os anos de 1920 e 1930, propostas foram formuladas por parte dos
educadores da Escola Nova, com o objetivo de implantar um cinema educativo no Brasil”.
Dessa maneira, “acenava-se para a garantia da ampliação do acesso da população à educação,
mote sempre repetido nas propostas de desenvolvimento e modernização” (PINHEIRO, 2015,
p.6). A educação foi eleita “como um dispositivo de transformação da sociedade brasileira”
(CATELLI, 2010, p. 605).
Diante de tal perspectiva foi criado o Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE),
em 1937, no governo de Getúlio Vargas. Essa produção estava associada ao movimento
educacional da Escola Nova. O cinema educativo no Brasil surge em um contexto de novas
propostas educacionais e de disputas políticas entre liberais e antiliberais. Nos anos de 1930,
no Brasil, a educação e a cultura eram as novas estratégias de transformação do país (CATELLI,
2010).
[...] De acordo com Carvalho (2000), a Reforma de Fernando de Azevedo não foi só
um marco, mas também encerrou um ciclo da história das reformas educacionais no
Brasil. No contexto de nossa pesquisa, todavia, o que mais se ressalta é o fato de ter
incluído artigos que tratavam do uso do cinema como instrumento de educação,
trazendo aspectos legais às conquistas do processo de defesa do cinema na educação
(PINHEIRO, 2015, p. 29).

118
Para Catelli (2010), em torno da ideia de um cinema educativo, várias tendências
ideológicas gravitaram e, algumas vezes, mesclaram-se, a fim de promover a utilização dos
meios de comunicação de massa para consolidar projetos políticos diferenciados. Entre 1937 e
1967, o INCE produziu por volta de quatrocentos documentários. Os filmes eram destinados à
educação escolar e popular, como também ao registro de experiências científicas realizadas em
laboratórios e em cirurgias médicas. A exibição dos filmes era realizada em escolas, instituições
culturais e nos cinemas, antes da projeção de longas metragens do circuito comercial. Desde
então, a utilização dos filmes nas salas de aula tem ocorrido sobre diferentes aspectos
metodológicos e planos educacionais que orientaram o ensino no Brasil (SILVA, 2014).
Considerar o potencial do cinema para ensinar e aprender é um fato defendido por
diversos pesquisadores (MORAN, 1995; NAPOLITANO, 2013; DUARTE, 2009; OLIVEIRA,
2005; SANTOS; SCHEID, 2014). O cinema pode tornar-se um instrumento para um processo
formativo mais abrangente, colaborando com a aprendizagem e o processo social do indivíduo.
Sob esse viés, apresento algumas pistas, alguns indícios acerca do potencial dos filmes,
em que Larissa argumenta como um filme pode ser um excelente instrumento pedagógico para
ensinar: [...] o que achei muito interessante no contexto geral do filme foram as múltiplas
utilidades dele. Você pode trabalhar educação em saúde, educação ambiental, história, etnia,
senso comum, várias coisas. [...] o que é uma coisa que buscamos muito nas aulas, trabalhar
com vários conceitos. A dificuldade de conseguir casar diferentes conceitos em uma só aula é
notável, mas filmes como esse ajudam a fazer essa costura. É algo que ajuda o aluno a pensar.
Eu adoro filmes, porque o aluno está assistindo, ele está pensando, você está pensando
também! Depois iniciam esses diálogos, como nós fizemos aqui, os quais se estendem por vários
assuntos. Isso é o interessante dos filmes, o diálogo sobre eles. Passar filme só por passar não
adianta, tem que ter isso depois, o diálogo (LARISSA - 2ª SF - T 32, 2016).
Bicca (2010, p.57) debate essa questão apresentando que, embora os filmes “não se
valham de um currículo planejado com o objetivo primeiro de ensinar um corpo de
conhecimentos, tal como um currículo escolar faria, eles ensinam muitas coisas para as suas
audiências”. O contato e aprofundamento com temas apresentados nos enredos fílmicos
possibilita que aluno e professor ampliem o olhar, a reflexão e a discussão de assuntos que
muitas vezes estão na periferia do currículo escolar. E, como afirma Carneiro,
[...] os currículos escolares tentam ignorar que fora da sala de aula as crianças muito
aprendem sobre o mundo, que a informação que a mídia lhes lega é acessível. A escola
é solicitada a estimular competências não para simplesmente ler, interpretar, mas para

119
compreender meios e mensagens audiovisuais que os jovens consomem e com os
quais se envolvem afetivamente (CARNEIRO, 2005, p. 103).
Nesse sentido, para compreender o papel que os filmes podem ter no ensino, Moran
(1995, p. 2) advoga que “a linguagem audiovisual desenvolve múltiplas atitudes perceptivas:
solicita constantemente a imaginação e reinveste a afetividade com um papel de mediação
primordial no mundo”, já a “linguagem escrita desenvolve mais o rigor, a organização, a
abstração e a análise lógica”.
O trabalho com filmes na escola pode ir aos poucos modificando a prática docente e as
salas de aulas, contribuindo para “dar respostas a alguns dos problemas identificados nas
escolas como dificuldade de comunicação entre adolescentes e professores, o desinteresse das
crianças pelas atividades escolares e questões ligadas às diferentes capacidades de percepção e
atenção” (DUARTE et al., 2004, p. 38).
O discurso de incorporar os filmes comerciais no ensino parte da premissa de que sons,
imagens e palavras veiculados por esse instrumento apresentam uma nova possibilidade de
aprender, de interagir e de estar na sala de aula. O professor tem um papel decisivo no trabalho
com essa mídia, trazê-la para sala de aula requer planejamento e comprometimento com os
conhecimentos, atitudes, procedimentos e valores a serem abordados. A escola é o lugar de
ampliação e ressignificação dos conhecimentos produzidos e sistematizados pela humanidade,
nesse sentido a escola tem uma importante função social que é ensinar.
Ensinar que os alunos desenvolvam capacidades intelectuais, reflexivas para lidar com
as situações complexas do mundo moderno. As escolas devem possibilitar condições para que
seus alunos adquiram o ‘conhecimento poderoso’, com o qual eles podem buscar sua
emancipação, autonomia e novas formas de pensar a respeito do mundo (YOUNG, 2007).
Nesse sentido, é importante compreender a abordagem, a elaboração e as vivências de
atividades pedagógicas com filmes durante o processo formativo de professores. O filme, como
instrumento de mediação, possibilita, no entender de Varani e Chaluh (2008, p. 4) outra forma
de olhar/enxergar o cotidiano da escola, em “que não há um só caminho, uma forma, uma
estratégia para ensinar e aprender, que não há uma só forma de pensar e que podemos nos
relacionar com os conhecimentos de outras formas das estipuladas pela ciência moderna”.
Embora ofereça potencialidades para o ensino, a incorporação de filmes nas aulas
depende diretamente da atitude dos professores, da forma como ele irá planejar e desenvolver
suas atividades pedagógicas com os filmes. Como ele fará a mediação e a interação entre os

120
sujeitos e o conhecimento que estão sendo apresentados no filme. Ainda que não seja esse o
fator único, pois nos currículos dos cursos de licenciatura, em particular no de Ciências
Biológicas, pouco se discutem e desenvolvem estratégias pedagógicas e o olhar crítico dos
licenciandos para pensar e elaborar intervenções na prática docente com filmes comerciais.
Como ressaltam Caime, Lamberti; Ferreira (2011, p. 4), é necessário “redimensionar os cursos
de formação de professores de História, de modo a possibilitar que os acadêmicos vivenciem,
ainda no seu percurso formativo, experiências criativas e consistentes no uso de fontes” como
o cinema, “do contrário eles reproduzirão o conteudismo/verbalismo das aulas que conheceram
na sua trajetória escolar/acadêmica” (Id. Ibid.).
Para além da questão da ausência de uma formação inicial que desenvolva atividades
didáticas com filmes, temos que considerar outro ponto no processo formativo: a questão
cultural que é tratada como menor, pois “os próprios formadores ao não ter acesso a teatros,
cinemas, enfim, vida cultural, também não sabem como fazer com que seus alunos e alunas
tenham” (VARANI; CHALUH; 2008, p. 4).
Essa é uma questão delicada e que merece atenção no processo formativo, pois
refletimos que a educação escolar é uma das pontes para o acesso à cultura, a partir das palavras,
das imagens, dos filmes e de outras textualidades. Cabe-nos indagar para qual mundo e
contexto, estamos formando nossos alunos. Partindo dessa questão, é interessante pensar sobre
o que é cultura. A palavra cultura é originária do latim colere, que significa cultivar, conjunto
das operações necessárias para que a terra produza. Aplicada ao contexto humano, é utilizada
no sentido de fator de humanização; na teoria vigotskiana, cultura é entendida como um
conjunto de produções humanas, que são portadoras de significação, daquilo que o homem sabe
ou pode dizer a respeito dela.
Para Vigotski, a cultura existe em graus e formas variáveis, concebida como um
componente do meio social, realidade externa do indivíduo e não como constitutiva do
psiquismo humano. Sob esse ponto, o pesquisador cita que há uma relação complexa entre o
biológico e o cultural, pois, ao nascer, os aspectos biológicos predominam na criança, mas, por
ela encontrar-se em fase de desenvolvimento, sofre profundas transformações sob ação da
cultura e do próprio meio; nessa perspectiva, a cultura é definidora do desenvolvimento e da
condição humana, pois “no plano cultural a evolução parece não ter limites” (PINO, 2005, p.
46).
Vigotski enfatiza que só podemos ingressar no mundo da cultura por intermédio da
mediação do outro (PINO, 2005). Dessa maneira, “as posições de sujeito que ocupamos no
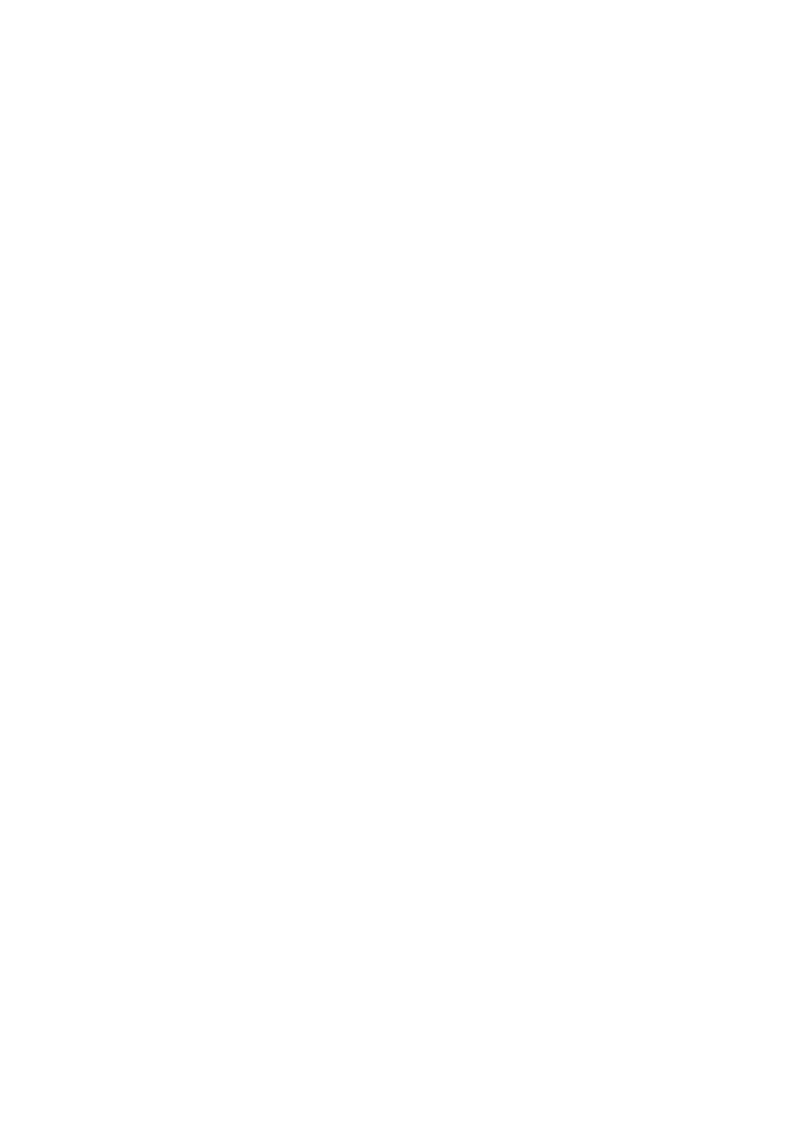
121
mundo são tributárias das experiências que vivemos”, assim como “dos discursos que
confrontamos, da forma como significamos o outro e como somos por ele significados nos
diferentes tempos e espaços culturais” (CHAVES, 2013, p. 27).
Para tanto, Moreira e Candau (2007, p.27) propõem uma expansão dos conteúdos
curriculares usuais, de forma que neles se possam incluir alguns artefatos culturais que
circundam os (as) alunos (as), abrindo
[...] as portas, na escola, a diferentes manifestações da cultura popular, além das que
compõem a chamada cultura erudita. Músicas populares, danças, filmes, programas
de televisão, festas populares, anúncios, brincadeira, jogos, peças de teatro, poemas,
revistas e romances precisam fazer-se presentes nas salas de aula. Da mesma forma,
levando-se em conta a importância de ampliar os horizontes culturais dos (as)
estudantes, bem como a necessidade de promover interações entre diferentes culturas,
outras manifestações, mais associadas aos grupos dominantes, precisam ser incluídas
nos currículos. [...] Ao tentarmos transformar a escola em um espaço cultural, estamos
convidando cada professor (a), como intelectual que é, a desempenhar o papel de
crítico (a) cultural. Estamos considerando que a atividade intelectual implica o
questionamento do que parece inscrito na natureza das coisas, do que nos é
apresentado como natural, questionamento esse que visa, fundamentalmente, mostrar
que as coisas não são inevitáveis. A atividade intelectual centra-se, assim, na crítica
da cultura em que estamos imersos. (MOREIRA E CANDAU, 2007, p. 27).
Esse entendimento também deve ser uma preocupação da academia, pois a formação
inicial de professores é um “espaço de encontro, confronto e questionamento dessas múltiplas
e diferentes formas de ser e de representar a diversidade humana” (CHAVES, 2013, p. 38). São
vários os fatores que se somam e contribuem com a ausência de trabalho didático com filmes
nas salas de aula, tanto do Ensino Superior quanto da EB. Concordo com as ideias de Napolitano
(2013, p. 11) ao referendar que “trabalhar com o cinema em sala de aula é ajudar a escola
reencontrar a cultura e ao mesmo tempo cotidiana e elevada”, lembrando que “os filmes têm
sempre alguma possibilidade para o trabalho escolar” (NAPOLITANO, 2013, p. 12).
O trabalho com filmes, durante a formação inicial, possibilita que essa prática educativa
prepare o “aluno/professor para ver a mídia como uma mediação, uma aproximação da
realidade” (CASTRO, 2010, p. 281) e amplie as possibilidades e os olhares dos acadêmicos
para questões que relacionam os conteúdos específicos com aspectos éticos, sociais, históricos,
econômicos, políticos e situações do cotidiano da sala de aula que esses futuros profissionais
irão encontrar, visto que os filmes comerciais possibilitam discutir conhecimentos conceituais,
temas e situações do cotidiano por meio das histórias narradas, “passando de um ‘discurso
comprometido’ para um ‘fazer comprometido’” (VARANI; CHALUH, 2008, p. 3).
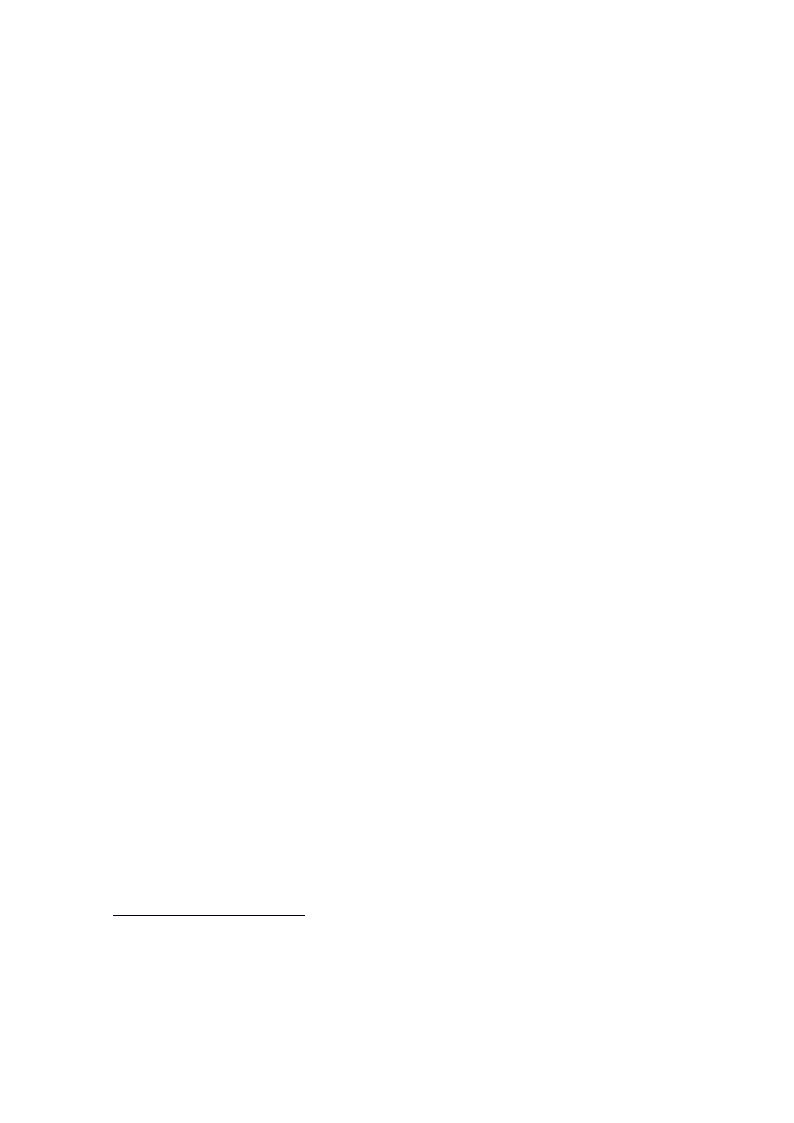
122
No âmago desse entendimento e da prática pedagógica com filmes, a que se referendar
a Lei n° 13.006/201436, que trata da obrigatoriedade da exibição em todas as escolas de
Educação Básica de duas horas de cinema nacional por mês como componente complementar,
integrado à proposta pedagógica da escola. A partir desta lei, a discussão sobre a utilização de
filmes e documentários, como instrumento de ensino e aprendizagem passa a ser uma exigência
dos processos formativos. Mesmo sabendo que a lei é de domínio público, a mesma é
desconhecida pelos professores e gestores educacionais.
Pesquisadores (FRESQUET, MIGLIORIN, 2015; SANTOS, BARBOSA,
LAZZARETI, 2015; SOARES et al., 2015) expressam diferentes pontos de vista sobre a lei,
apontando os desafios de democratizar o acesso aos filmes, aos espaços, à seleção desse
material, os cuidados de formar “consumidores” para o cinema brasileiro, entre outros, ficando
atentos para não apenas formar consumidores, mas propiciar momentos de formação crítica,
que permita olhar os filmes brasileiros com respeito.
Existem muitos filmes excelentes, que muitas vezes pelo olhar descuidado são
desconsiderados. Fresquet e Migliorin refletem que a “[...] escola como território discursivo
carrega o peso de ser tradicionalmente caracterizada pela afirmação de regras e certezas. O
cinema, na escola, poderá ocupar o lugar do contraponto, tencionando-as com algumas dúvidas”
(FRESQUET, MIGLIORIN, 2015, p. 17). Ainda sobre a obrigatoriedade do cinema, Rosália
Duarte37 expõe seu ponto de vista, sobre quais seriam os conflitos/ possibilidades que emergem
a partir da sanção da referida lei, em 26 de junho de 2014:
Possibilidades maiores que conflitos! Abrir a escola ao cinema nacional é, pra mim,
semelhante à obrigatoriedade de ter biblioteca, com literatura nacional, de qualidade.
Então, tem tudo para dar certo. Conflitos e problemas, talvez alguns: falta de
equipamentos, falta de condições adequadas de exibição, dificuldades com direitos
autorais (isso precisa ser resolvido pelo MEC e pela Secretaria de Audiovisual, junto
aos produtores e diretores); exibição de obras de baixa qualidade estética e narrativa,
dificuldades na definição de critérios para a escolha do que será exibido, pais
reclamarem da exibição de determinada obra, entre outros. Mas isso também ocorreu
com a literatura na escola. [...] Tem um aprendizado a ser construído na relação com
o cinema.
36 Lei n° 13.006, de 26 de junho de 2014, que acrescenta o inciso 8° ao artigo 26 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro
de 1996.
37 Entrevista concedida por Rosália Duarte, professora da PUC-RJ, à curadora da Temática Educação, Adriana
Fresquet, em maio 2015. Livro: Cinema e Educação: A Lei 13.006. Reflexões, Perspectivas e Propostas.

123
As discussões no campo educacional sobre a relação entre escola e cinema não são de
hoje. A linguagem cinematográfica apresenta potencial para o trabalho pedagógico (MORAN,
1995; NAPOLITANO, 2013; DUARTE, 2009), todavia há que se avançar nos debates e ações
acerca da incorporação da prática pedagógica com eles na formação inicial de professores, para
que posteriormente essa atividade venha a ser desenvolvida na escola básica, e o professor atue
“como mediador, não apenas preparando a classe antes do filme como também propondo
desdobramentos articulados a outras atividades, fontes e temas” (NAPOLITANO, 2013, p. 15).
Como mostram os diversos autores já citados, há muito caminho a ser trilhado e
discussões a serem feitas acerca do uso de filmes comerciais como instrumentos pedagógicos
no ensino, mas, também há que se apontar para as conquistas referentes a esse tema, como o
crescimento do número de pesquisas em nível de mestrado e doutorado que tratam do uso do
cinema na sala de aula, bem como artigos e relatos de experiências de professores em eventos
da área de Ensino e Educação, e grupos de pesquisas que investigam os filmes e suas narrativas
no campo educacional, assim, como a coleção de cinco volumes “História da Ciência no
Cinema” para trabalhar com questões da História da Ciência; “Educação, Cultura e Cinema” é
uma coletânea de cinco volumes que versa sobre análises de filmes sobre questões do campo
da educação e da juventude, e o livro Cinema e Educação: A Lei nº 13.006. Reflexões,
Perspectivas e Propostas, que faz referência à lei nº 13.006/2014, a qual precisa ser difundida e
discutida nos espaços educativos, para que os professores tenham conhecimento dela e possam
fazer uso dos filmes por um viés crítico e formativo, esses são alguns dos materiais que estão
disponíveis para pensar o uso de filmes em e nas salas de aulas dos diferentes níveis de ensino.
Há de se destacar que nesta investigação os filmes, a mediação e os diálogos entre os
sujeitos da tríade formativa possibilitaram que diferentes conhecimentos como o cuidado de si,
a compreensão das abordagens biomédica e ecossistêmica, envelhecimento, natureza da
ciência, eutanásia fossem (re)significados permitindo aos professores em formação uma
compreensão ampliada do conceito de Saúde.
No próximo capítulo, serão apresentadas as compreensões dos professores em
formação sobre as questões referentes visão ampliada de Saúde e Educação em Saúde mediadas
pelo cinema no processo formativo vivenciado.

124
4 ANÁLISE DAS APRENDIZAGENS PRODUZIDAS NAS SESSÕES FÍLMICAS
PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE, EM PROCESSOS FORMATIVOS: águas que se
movimentam
Nos capítulos anteriores, discuti o percurso metodológico, o arcabouço teórico e o
estado do conhecimento da área. Neste capítulo, analiso, reflito e apresento as análises sobre
compreensões de ES e práticas docentes emergidas da tríade formativa (professores da
Educação Básica, professores formadores e licenciandos), a constituição do ser professor pela
mediação pelo outro. Para corroborar a tese de que a constituição de grupos colaborativos de
professores para debater e refletir sobre questões de Saúde e Educação em Saúde, a partir do
uso de filmes comerciais, contribui com uma visão ampliada de saúde, busquei, nas respostas
aos questionários, nos diários de bordo e nas transcrições das gravações realizadas no grupo
focal e das interações vivenciadas no grupo de professores em decorrência das sessões fílmicas,
evidenciar particularidades do processo, indícios das implicações deste momento formativo,
através da Análise Microgenética (GOES, 2000), sob o viés do Paradigma Indiciário
(GINZBURG, 1987). Para tanto, foram recortados episódios que são apresentados nas
seguintes categorias: i) evolução das compreensões de Saúde e Educação em Saúde, no diálogo
com professores no grupo colaborativo; ii) filmes comerciais como instrumento de reflexões
sobre questões curriculares no processo formativo; iii) a produção do conhecimento científico,
os caminhos, as visões de cientistas, a neutralidade e a ética na Ciência.
A abordagem histórico-cultural mostrou-se fundamental à pesquisa, pois propiciou a
realização do objetivo de promover espaço de interação, mediação, diálogo, troca de
experiências e formação sobre Educação em Saúde, na docência em Ciências da Natureza, na
apropriação dos signos e interação com o outro. As reflexões e a evolução da compreensão
ampliada de ES emergidas no grupo formativo são apresentadas na próxima categoria (i).
i – Evoluções das compreensões de Saúde e de Educação em Saúde no diálogo com os
professores em formação
Ao longo da vida acadêmica e profissional, os professores estão em constante processo
de aprendizagem. A formação continuada necessita ser um elemento central no percurso
formativo, assim como a compreensão da relação entre teoria e prática. A participação em
grupos colaborativos, a reflexão e o diálogo devem ser elementos-chave em um processo de
formação continuada articulada a inicial, pois permite aos professores compreender a docência
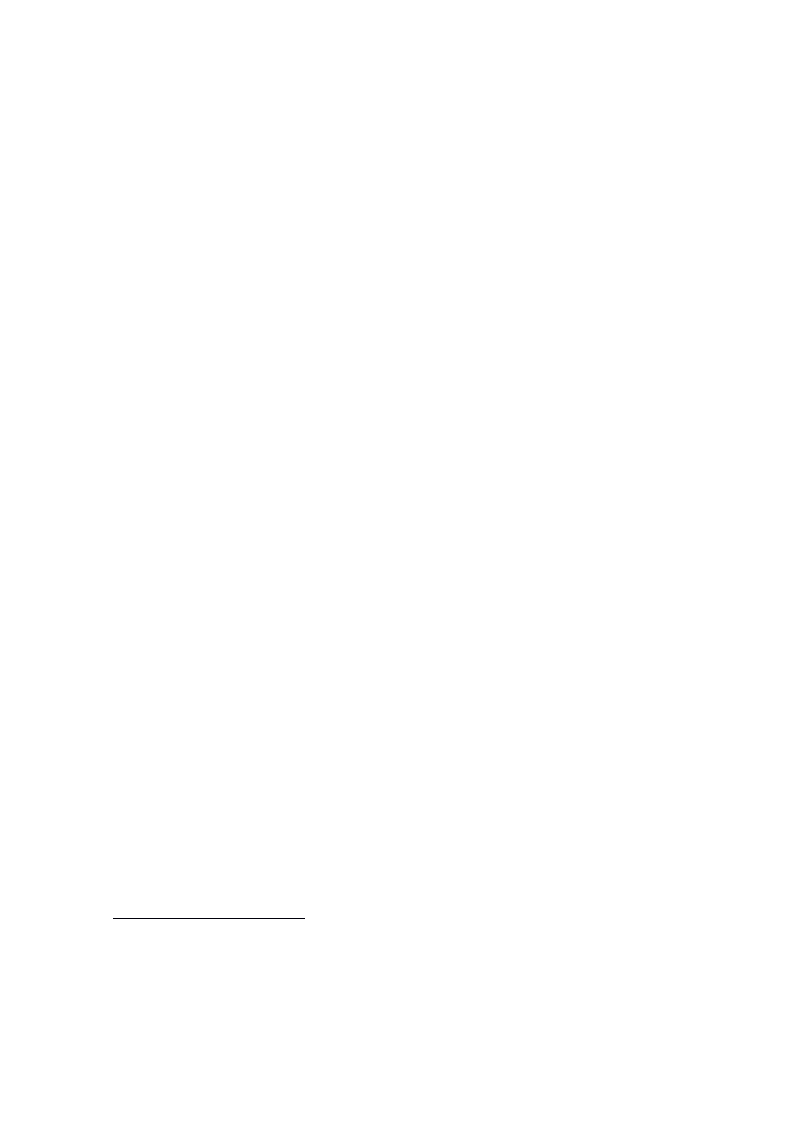
125
em um constante movimento, em que as interações entre pares e os diálogos formativos são
necessários à qualificação da prática. Uma vez que a participação em grupos colaborativos
propicia a circulação de novas ideias, assim como o compartilhamento de angústias,
dificuldades das demandas cotidianas da sala de aula e tomada de decisões conjuntas, além de
promover o contato com novos conhecimentos decorrentes de leituras, discussões e reflexões
em grupo, pois a formação vivenciada é como as águas dos rios, estão em constante movimento.
Ao analisar o percurso formativo, observo as especificidades do processo e as conexões
estabelecidas. A reflexão coletiva e as interlocuções entre os professores em formação revelam
a necessidade de um pensamento de saúde ampliado no ambiente escolar. Ao assumir esta
questão como emergente, no processo vivenciado, apresento episódios retirados dos registros
dos diários de bordo, das respostas aos questionários e/ou das transcrições dos diálogos
audiogravados, nas sessões fílmicas e no grupo focal, que ajudam a compreender como esse
assunto foi discutido e abordado na trajetória escolar dos alunos e os entendimentos dos
professores. Os modelos de saúde, antes de iniciar as discussões mediadas pelas sessões
fílmicas, e após a última sessão (Divertida mente) foram apropriadas pelos participantes ao
longo do processo formativo.
Durante muitos anos vigorou na sociedade - e consequentemente na escola - o
entendimento de saúde a partir do modelo biomédico (SANTOS; WESTPHAL, 1999) e pouco
se avançou nesta discussão no espaço acadêmico e escolar. Diante da lacuna na formação
docente sobre a temática da saúde, trago as primeiras enunciações dos professores sobre o
assunto, apresentadas nos episódios38 01,02 e 03 com as respostas dos professores em formação
ao questionário inicial e final (QI – QF).
Episódio 01 – A compreensão de saúde na formação inicial
Lara (QI, 2016): As questões de saúde não possuem em nossa formação um enfoque,
acredito que apenas são tratadas rapidamente dentro dos conteúdos.
Selma (QI, 2016): Muito precariamente, pois não me recordo desse contexto naquela
época e no curso de Ciências Biológicas plena esse assunto era pouco abordado.
38 Diferente do conceito mais restrito de episódio como uma sequência de turnos de fala em torno de alguma
significação conceitual, utilizei neste texto-tese o termo para os agrupamentos de depoimentos e/ou turnos de fala,
com uso de instrumentos diferenciados, uma vez que eles permitiram uma visão em torno da significação de
sentidos circulantes para determinado conceito em debate, aproximando-se de uma análise de evolução conceitual.

126
Heitor (QI, 2016): Não foi discutido de nenhuma forma ao longo do curso. Não era
temática e nem conteúdo do curso.
Fonte: Transcrições do questionário inicial, 2016.
O episódio 01 provoca reflexões sobre a importância de uma retomada do ensino de
saúde na formação inicial de professores. As escritas sinalizam a falta de abordagens do tema
na formação, pois Selma já concluiu a graduação há 25 anos, Heitor há 16 anos e Lara é
graduanda. As afirmações de Lara e de Heitor indicam que algo está errado no processo
formativo, ou seja, há ausência de formação em ES nos cursos de graduação destes professores.
Com base nas escritas da licencianda e dos dois professores, foi possível compreender o porquê,
durante a apresentação da proposta de pesquisa e discussão dos objetivos da tese, de muitos
professores na sala ficarem confusos e inseguros com algumas questões do questionário.
Quando analiso as escritas das suas compreensões iniciais de saúde e como esse tema é ou foi
abordado durante sua formação, ficou claro que não era e nem é uma temática presente, nos
currículos de graduação de Ciências Biológicas.
Assim como Lara, Selma e Heitor, os demais professores da tríade formativa
compartilham que a temática Saúde é pouco discutida, nos cursos de formação, sendo abordada
dentro de um enfoque prescritivo, com ênfase no modelo biomédico, em que as discussões estão
ancoradas nas doenças e agentes patológicos. Essa abordagem reduzida pouco contribui para
um entendimento de saúde mais amplo, uma vez que os “conteúdos curriculares de ciências e
biologia possuem grandes afinidades com os determinantes sociais que tornam abrangente a
abordagem do tema saúde” (GUSTAVO; GALIETA, 2014, p. 4881). Aspectos como
“habitação, alimentação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade,
acesso a posse de terra e acesso a serviços de saúde” (BRASIL, 1986, p. 4) também são
referenciados. Ao evidenciar, No episódio 01, a ausência da discussão de saúde na formação
inicial dos professores numa abordagem que considere a prevenção, a promoção da saúde, da
melhoria das condições de vida e preservação do ambiente, reafirmo a importância desta
investigação, no intuito de promover uma compreensão ampliada de Saúde com o grupo de
professores. O episódio 02 apresenta as memórias dos licenciandos acerca dos conteúdos de
saúde desenvolvidos, quando estudaram na escola básica.
Episódio 02 – Memórias dos licenciandos acerca dos conteúdos de saúde na escola
Lúcio (QI, 2016): Lembro que tivemos aulas sobre vários temas de saúde, desde escovação
correta dos dentes, até hábitos alimentares corretos.
Larissa (QI, 2016): Eram trabalhadas as doenças do momento ou da época, bem como
doenças comuns que ocorrem em qualquer época do ano em qualquer lugar.

127
Lis (QI, 2016): Foram trabalhadas questões mais específicas como as doenças, o
desenvolvimento de vacinas e curas para as mesmas, sem mostrar os processos evolutivos
de todos esses acontecimentos.
Lena (QI, 2016): A professora normalmente falava de algumas doenças, enfatizando como
cuidar da saúde. Citava algumas doenças, precauções, sintomas a fim de esclarecer
algumas dúvidas a respeito da doença.
Lúcia (QI, 2016): De forma bastante rasa, superficial, com apresentações rápidas,
decoradas e sem ajuda de profissionais.
Leandro (QI, 2016): Geralmente era ensinado o básico. Tenha uma higiene básica do
corpo, cuidado com o corpo, na base era isso.
Lara (QI, 2016): Basicamente por meio de estudo das doenças, como AIDS, ou outras
que estavam em “alta” no momento.
Liana (QI, 2016): [...] apenas as doenças relacionadas à saúde pública, algumas vezes,
em forma de pesquisa, outras vezes apenas nos era apresentada a doença, seus sintomas,
forma de contágio e prevenção.
Léia (QI, 2016): Recordo de higiene bucal, cuidados com a alimentação.
Laura (QI, 2016): Chamavam médicos, dentistas e enfermeiros para dar-nos palestras.
Fonte: Transcrições do questionário inicial, 2016.
Nas escritas dos licenciados, foi possível encontrar pistas sobre como os
conteúdos foram abordados na escola. A maioria evidencia o enfoque prescritivo da saúde, com
ênfase nas doenças, e daquelas que estavam em “alta” em um dado momento, os professores
ministravam suas aulas apenas enfatizando os conteúdos a partir de uma visão restrita de saúde,
ou seja, o modelo biomédico, e não uma Educação em Saúde formadora (MOHR, 2002). Este
episódio ajuda a entender por que os licenciandos, ao serem indagados sobre seus
entendimentos de saúde, ainda a compreendem apenas como ausência de doença. Nessas
memórias, identifico outra questão quanto à ausência da formação de um sujeito em sua
integralidade. Marinho e Silva (2015, p. 354) propõem, para que a ES tenha um caráter
formador “[...] a noção de conteúdos necessita superar aquela visão restrita aos conhecimentos
das disciplinas e ser ampliada para um entendimento de que os ‘conteúdos’ se configuram como
tudo o que se tem que aprender para alcançar determinados objetivos”.
Nessa perspectiva, chamo atenção à escrita de Lis, ao expressar que os conteúdos de
saúde eram abordados sem mostrar os processos evolutivos de todos esses acontecimentos (LIS
- QI, 2016). A manifestação de Lis sinaliza a necessidade de contextualização do ensino, a fim
de que o sujeito possa compreender como, ao longo do tempo, o conhecimento científico foi
modificado. Nesse sentido:
O estudo adequado de alguns episódios históricos permite compreender as
interrelações entre ciência, tecnologia e sociedade, mostrando que a ciência não é uma

128
coisa isolada de todas as outras, mas sim faz parte de um desenvolvimento histórico,
de uma cultura, de um mundo humano, sofrendo influências e influenciando por vezes
muitos aspectos da sociedade (MARTINS, 2006, p. XVII).
Ao trazer à tona esse aspecto, Lis aponta para uma questão importante no ensino, que é
a necessidade de proporcionar aos alunos a contextualização da evolução dos conceitos de
saúde que foram sofrendo influências das condições sociais, históricas e políticas ao longo dos
anos, e ganhando novos entendimentos na comunidade científica e médica.
Ao recordar como os temas de saúde foram desenvolvidos na escola, Lúcia destaca a
superficialidade nas explicações dos conteúdos, além de sentir falta de o (a) professor (a) trazer
para o espaço escolar profissionais da área da saúde, ao explicitar que não havia ajuda de
profissionais (LÚCIA - QI, 2016). Em relação a esse mesmo tema, Laura afirma que chamavam
médicos, dentistas e enfermeiros para dar-nos palestras (LAURA - QI, 2016).
Para encontrar pistas que ajudem a refletir sobre a questão ora mencionada, apresento,
ainda, duas passagens dos DB das licenciandas (Lia e Laura). Lia (DB, 2016) refletindo sobre
o desenvolvimento da educação em saúde na escola, acho que uma forma de trabalhar seria
chamando um médico e uma psicóloga e eles explicarem a partir dos ‘sentimentos’ dos
próprios alunos. Laura (DB, 2016) apresenta outro ponto de vista: depois de termos assistido
três filmes para discutir sobre Educação em Saúde, fico pensando como sempre há espaço e
necessidades para mais aprendizados. Como sabemos e desenvolvemos tão pouco sobre saúde
na escola. Para qualquer coisa relacionada à saúde, na escola, chamamos um médico? Um
enfermeiro? Será que temos medo de não saber responder? E ainda fico pensando que há muito
que aprendermos sobre Educação em Saúde.
As colocações das licenciandas aproximam-se e distanciam-se quanto à abordagem da
Saúde e da Educação em Saúde na escola pelos professores e pelos profissionais da área da
saúde. Por um lado, Lia e Lúcia consideram importante que esses profissionais contribuam com
as discussões no ambiente escolar; por outro, Laura questiona a inserção, deixando nas
entrelinhas que a presença dos profissionais da saúde atestaria de certa forma a incapacidade de
o professor trabalhar com tal assunto. A escrita de Lara evidencia que não alcançou o
significado esperado do papel do professor, pois não percebeu a necessidade da mediação, que,
ao convidar outros profissionais para trabalhar questões de saúde, o professor é fundamental no
processo. Após a intervenção destes profissionais, o professor deve fazer a mediação, que é
essencial para que os conceitos apresentados pelos especialistas da saúde sejam ressignificados

129
pelos estudantes. A mediação do professor neste processo proporciona a significação dos
conceitos (VIGOTSKI, 2008).
Se o desenvolvimento da ES se constitui numa ação educacional intencional e
deliberada, que tem como objetivo proporcionar ao sujeito conhecimentos basilares e
autonomia na busca de novos conhecimentos sempre que desejar (MOHR, 2002), é fundamental
a ação mediadora e intencional do professor de maneira a auxiliar e orientar na realização das
operações intelectuais de forma conjunta e compartilhada.
Vilaça (2007) realizou uma investigação participativa com o objetivo de analisar o
avanço dos projetos educativos de ES baseados no paradigma democrático, com estudantes do
7° ao 12° ano de escolaridade, em que enfatiza a mobilização e o sucesso do projeto com
profissionais da saúde e ressalta que deveriam “ser criadas parcerias entre as escolas, os Centros
de Saúde [...] e outras instituições de referência na comunidade, para planificar um projeto de
promoção e educação em saúde que integrasse o plano da escola ‘dentro’ e em ‘colaboração’
com a comunidade” (VILAÇA, 2007, p. 982).
Compreendo, com Vilaça, que a participação de outros atores no processo educativo
como: médicos, enfermeiros, bombeiros, auxilia na Educação em Saúde e amplia a
compreensão do tema pelos alunos. São outros conhecimentos em interação na sala de aula,
para aprendizagem dos sujeitos, promovendo níveis de internalização cada vez mais complexos.
A interação e mediação de diferentes profissionais (professor e profissionais da saúde) no
processo educacional desempenham papel fundamental na formação individual do
aluno/professor.
Laura expõe a insegurança ou mesmo dúvida para trabalhar esses conteúdos, ao
expressar será que temos medo de não saber responder? (LAURA - DB, 2016). Essa
insegurança está relacionada ao domínio e não compreensão dos conteúdos de saúde. Como
expressa Shulman (2005), a base desse conhecimento está na forma como o professor irá
apresentar o conteúdo, de maneira a torná-lo compreensível para os alunos. Tal situação vai ao
encontro do que propõe Maldaner (2013, p. 47): “o despreparo vem da visão pedagógica restrita
que os estudantes manifestam sobre os conteúdos, fruto da interação com seus professores de
Graduação e do secundário”.
Ainda nas escritas de Laura, outra questão emerge: fico pensando que há muito que
aprendermos sobre Educação em Saúde (LAURA - DB, 2016). Nesta passagem, encontro
indícios que evidenciam a sua preocupação em relação à necessidade de uma formação

130
constante, ancorada na busca do conhecimento para qualificar a docência. Para que o professor
possa exercer a autonomia, a reflexão crítica e tenha segurança ao ensinar, é necessária uma
formação pedagógica, que lhe possibilite apropriação e internalização dos conteúdos e
conceitos da área das Ciências. Entendo com Vigotski (2008), que a formação dos conceitos
depende fundamentalmente das possibilidades, que os sujeitos desenvolvem nas suas
interações, de apropriarem-se e objetivarem os conteúdos e formas de organização e elaboração
do conhecimento historicamente acumulado. Dessa forma, ao olhar atentamente para o processo
formativo, encontrei nele mais pistas sobre a ausência da discussão da saúde numa abordagem
sistêmica, na formação inicial de Ciências Biológicas.
Durante a realização do questionário inicial, os professores supervisores tiveram
dificuldade para responder à questão referente à compreensão dos modelos biomédico e
biopsicossocial de saúde, o que se constitui como obstáculo epistemológico e pedagógico, como
propõe Bachelard (1996). Creio que tal problema seja decorrente da falta de subsídios teóricos
relativos à temática. Acerca dessa questão (modelos de saúde), sete (07) dos entrevistados
(bolsistas licenciandos e professores supervisores) a deixaram em branco, dez (10) (bolsistas
licenciandos e professores supervisores) citaram não conhecer as expressões, e onze (11)
bolsistas licenciandos tentaram, por meio dos nomes dos modelos, relacioná-los com a saúde
do corpo, da mente e formas de tratamento, como fizeram Lis, Lorena e Lúcio:
Episódio 03 – Compreensões dos modelos de saúde pelos licenciandos
Lis (QI, 2016): Modelo biomédico seria a intervenção da medicina no desenvolvimento de
remédios, vacinas e estudos a favor da saúde e o bem-estar de todos. Modelo
biopsicossocial é um conceito novo para mim, mas acredito que seja o ‘suporte’
psicológico e social para com as pessoas doentes.
Lorena (QI, 2016): Modelos biomédico e biopsicossocial são expressões até então
desconhecidas para mim. Porém creio que tenha relação com a medicina, sociologia e
psicologia.
Lúcio (QI, 2016): Biomédico – seria o estado da saúde de um corpo sem problemas de
saúde. Biopsicossocial – em branco.
Fonte: Transcrição do questionário inicial, 2016.
A questão utilizada para construir esse episódio fazia parte do primeiro questionário
respondido pelos participantes da pesquisa; enquanto os professores em formação respondiam
às perguntas, observei que eles conversavam entre si sobre elas, gesticulavam, tentando
encontrar ajuda, explicações para compreender/elucidar alguns termos que estavam expressos
naquele papel. O termo biopsicossocial para muitos não era familiar; por momentos percebi que
discretamente alguns licenciados realizavam consultas na internet, em seus aparelhos de

131
celulares, para poder responder tal questão. Percebendo que os professores não conseguiam
estabelecer relações conceituais e significado aos termos, intervi solicitando que eles
respondessem apenas o que sabiam ou tentassem fazer alguma correlação. Foi o que Lis fez ao
definir biopsicossocial como um conceito novo para mim, mas acredito que seja o ‘suporte’
psicológico e social para com as pessoas doentes (LIS - QI, 2016) e Lorena: modelos biomédico
e biopsicossocial são expressões até então desconhecidas para mim (LORENA - QI, 2016). A
aproximação feita por Lis para definir o termo pode estar relacionada à constituição da palavra,
que, ao ser desmembrada, fica: bio - psico - social.
Como esses conceitos circulam há aproximadamente duas décadas no ensino, e têm um
significado singular para a área de ensino de Ciências da Natureza, identifico, pelas colocações
sistematizadas nos episódios 02 e 03, que o assunto em questão é pouco discutido durante a
formação de professores. A abstenção das supervisoras Sabrina (QI, 2016) e Sara (QI, 2016),
ao responderem que não poderiam opinar sobre o assunto “porque não tenho clareza sobre os
termos/temas” ou ainda “sem opinião”, demonstra a ausência da discussão da temática. Frente
a essas considerações, entendo, juntamente com Carvalho (2014, 2016) e Mohr (2002, 2009),
que os temas Saúde e Educação em Saúde são complexos e demandam compreensões ampliadas
e (re)significadas na formação.
No que diz respeito à compreensão dos professores (licenciando e supervisores do
PIBID) sobre o conceito biomédico, inicialmente, posso dizer que eles possuem um
conhecimento internalizado de saúde, o qual se aproxima da visão mecanicista, organicista e
reducionista acerca da doença apontada na literatura, levando em conta somente os aspectos
biológicos, mensuráveis e quantificáveis, objetivando, desta forma, padronizar e catalogar a
etiologia das doenças (MARTINS; SANTOS; EL-HANI, 2012). Ao expressar que o modelo
biomédico parte do entendimento de ausência de doenças, Lúcio também, de maneira implícita,
indica o conceito internalizado que tem de saúde ao citar: seria o estado da saúde de um corpo
sem problemas de saúde (LÚCIO - QI, 2016); a noção de saúde como ausência de enfermidade
relaciona-se aos conhecimentos apreendidos durante a fase escolar e reforçados em sua
formação acadêmica.
Ao responder a mesma questão sobre os modelos de saúde, no segundo questionário,
Lúcio (QF, 2016) não apresenta indícios de avanço na compreensão do conceito, ao definir que
saúde está relacionada a levar em conta todas as práticas que envolvem o ensino do cuidado
com a higiene pessoal, ou que o modelo biopsicossocial relaciona-se à sociedade e seus
comportamentos em sociedade. A partir dos dizeres, é possível afirmar que o licenciando não

132
conseguiu ter apropriação conceitual, nem apresentar avanços significativos em relação à saúde
e aos modelos de saúde. Amparada em Vigotski (2008), percebo que não houve transformação
dos conhecimentos cotidianos em conhecimentos científicos, de maneira que Lúcio chegasse a
um nível de conhecimento mais elaborado de saúde.
No modelo biopsicossocial “[...] o que determina a saúde dos indivíduos e/ou das
comunidades são suas reações frente às condições de risco ambientais, psicológicas, sociais,
econômicas, biológicas, educacionais, culturais, trabalhistas e políticas” (MARTINS;
SANTOS; EL-HANI, 2012, p.05). A partir das análises, identifiquei um desconhecimento dos
modelos entre os licenciados bolsistas e as supervisoras. Para Zancul e Gomes (2011), essa
situação é decorrente da ausência de estudos durante a formação sobre a relação entre os
conteúdos curriculares e desses com a natureza, questões ambientais, políticas e sociais, num
conhecimento contextualizado e dinâmico da realidade e da vida.
Referente a essas situações formativas indicadas no parágrafo anterior, vislumbro que
o processo de formação continuada seja o caminho para tensionar e buscar novos trajetos nas
águas formativas, pois ao longo do percurso sempre haverá algum obstáculo, impedimento,
situação que fará que as águas tracem novas caminhos para percorrer. Compartilho as ideias
de Schnetzler, Cruz e Martins (2015, p. 5), que de um modo geral expressam as marcas
formativas desses sujeitos:
[...] assumimos o princípio de que o trabalho e a formação docente são coletivamente
organizados e guardam marcas das condições histórico-culturais em que se
desenvolvem. Compreendemos a formação e o desenvolvimento profissional como
processos sempre inacabados que se reproduzem na dinâmica das relações sociais e
de trabalho, em que formas de organização social do trabalho docente e modelos de
docência forjados historicamente são, pouco a pouco, internalizados e, ao mesmo
tempo, ressignificados.
Assim, ao assumir que aprendizagem depende fundamentalmente de processos
interativos, apresento alguns indícios encontrados durante essa investigação que apontam para
a zona de desenvolvimento proximal (ZDP), a qual possibilitou, de acordo com Vigotski (2007),
que houvesse a reconstrução interna de uma atividade social, partilhada. Nesse âmbito,
apresento o episódio 04, que traz algumas das mudanças de entendimento e reflexões ocorridas
sobre os modelos de saúde, a partir das interações vivenciadas entre os professores e a mediação
da pesquisadora. Esse episódio se constitui de excertos das respostas aos questionários e das
sessões fílmicas, tendo como cerne de reflexão a ressiginificação do conceito de Saúde.
Episódio 04 - Modelos de saúde: conhecimento ressignificado desde o processo interativo nas sessões
fílmicas

133
Lara (QF, 2016): Biomédico – que trata da doença em si, o tratamento, os sintomas, a
proliferação, etc. Biopsicossocial – trata além da doença, os aspectos sociais e o bem-
estar psicológico.
Lorena (QF, 2016): Biomédico: compreensão de doenças, o que torna o ser humano
saudável. Biopsicossocial: o quanto a saúde do indivíduo interfere em seu convívio social
e no seu aprendizado.
Selma (QF, 2016): biomédico- trabalha o tratar e o prevenir/saúde-doença. É baseado na
ausência da doença[...]. Biopsicossocial – preocupa-se com o desenvolvimento integral
do sujeito, noções de saúde, qualidade de vida e o ambiente estão interligados.
Susana (QF, 2016): Biomédico - doenças tratadas com medicação, doença física via
remédio. Biopsicossocial – doenças que envolvem a parte física com o conjunto emocional
da pessoa.
Heitor (QF, 2016): O primeiro é o binômio saúde - doença. Em que ser saudável é não
estar doente. O segundo, mais amplo compreende saúde como algo amplo e contextual da
vida social, cultural e psique.
Leonel (1ª SF, T2, 2016): Saúde para mim é estar bem, ter uma boa alimentação, fazer
exercícios físicos.
Larissa (1ª SF, T3, 2016): Ter saúde para mim parte do princípio de você ter um bem estar
físico e mental, por que não adianta você estar bem mentalmente, ah, fisicamente e não
mentalmente, né! Então, seria um cuidado físico e mental e do meio em que você vive para
que isso possa acontecer.
Sabrina (1ª SF, T8, 2016): eu acho que a questão da saúde é tudo, é um conjunto de fatores.
[...] Esse conjunto de fatores que muitas vezes não necessariamente depende de nós
exclusivamente, temos que ter acesso a tudo que hoje poderia estar disponibilizado para
se ter todas as condições de saúde.
Lídia (1ª SF, T8, 2016): Então para mim, também, ah... saúde tem a ver com o meio
ambiente né, o meio ambiente que a gente vive também propicia saúde mental quanto
físico, né. O ambiente influencia nossa saúde.
Fonte: Degravação das sessões fílmicas e transcrição das respostas ao questionário final, 2016.
A partir dos enunciados dos professores e licenciandos sobre os modelos de saúde, filio-
me à abordagem histórico-cultural para afirmar que a aprendizagem não acontece de maneira
isolada, que as interações vivenciadas durante os oito meses da pesquisa possibilitaram ao grupo
de professores ressiginificar a compreensão que tinham de saúde nos diálogos formativos
estabelecidos, a partir da atividade mediada e do uso do signo (VIGOTSKI, 2008), pois, como
cita Silva (2013, p. 15) “ as ações e o conhecimento do sujeito também influenciam e afetam as
ações do(s) outro(s) e, neste sentido, a ação do sujeito é compreendida a partir da ação entre
sujeitos.”
Acerca dessas afirmativas, trago o pensamento de Selma sobre o modelo
Biopsicossocial: preocupa-se com o desenvolvimento integral do sujeito, noções de saúde,
qualidade de vida e o ambiente estão interligados (SELMA - QF, 2016). Na afirmação da

134
professora supervisora, é possível identificar a ressignificação que o entendimento de saúde
sofreu, pois ela apresenta uma visão ampliada de saúde que agrega outros elementos ao
conceito. Nesse sentido, destaco a importância do grupo colaborativo, das discussões após cada
sessão fílmica, a importância do papel da mediadora que, ao direcionar o olhar dos professores
para os entendimentos anteriores e atuais de saúde, proporcionou ao grupo a necessidade de
pensar e compreender a temática a partir de uma visão ampliada. Desta maneira, amparada em
Vigotski (2008), destaco que houve a apropriação conceitual em relação ao conceito de saúde
por Selma, quando a professora reflete que saúde se relaciona ao desenvolvimento integral do
sujeito, que a qualidade de vida e o ambiente estão interligados. No primeiro questionário, ela
se absteve de responder à questão. Selma participou de todas as sessões, questionando,
posicionando-se acerca das temáticas abordadas, e em vários momentos enfatizou que estava
se aposentando, mas sempre aprendendo e que essas discussões contribuíam muito com sua
prática docente.
Ao assumir o compromisso de (re)pensar de maneira colaborativa a questão da ES na
escola, busquei seguir um curso novo nas águas formativas, a fim de ultrapassar a lógica
fragmentada e desarticulada, que tem prevalecido nos currículos de formação, na abordagem
desse tema. Acredito que obtive avanços significativos nos entendimentos dos professores
sobre ES, como expressaram Larissa, Sabrina e Lídia, ao apontarem fatores sociais, mentais,
ambientais, entre outros, como constituintes da saúde. Essa nova evolução conceitual das
compreensões de Saúde e de ES propiciará aos profissionais em formação e em exercício, uma
intervenção na escola, como indica Vilaça (2007, p. 972): “e desenvolver a habilidade dos
alunos para agir a nível pessoal e social no sentido de resolver os problemas de saúde”. No
processo de (re)elaboração do conceito houve significação conceitual do modelo biomédico.
Mas, nem todos os professores avançaram no entendimento do conceito do modelo
biopsicossocial. Assim, como apresenta Vigotski (1993, p. 213) “o fundamento da tomada de
consciência está na generalização dos próprios processos psíquicos, o que conduz ao seu
domínio”, e para que haja a formação de um conceito superior é necessário que o sujeito passe
pelo processo de sistematização hierárquica dos conceitos inferiores a ele subordinado. Susana,
ao referir-se ao modelo biopsicossocial, cita doenças que envolvem a parte física com o
conjunto emocional da pessoa (SUSANA - QF, 2016), sem relacionar outros elementos a sua
explicação, como fatores ambientais, condições de vida, saneamento básico, entre outros.
Aponta apenas para os aspectos fisiológicos do sujeito, pensando a saúde ainda como a ausência
de doenças. Leonel evolui conceitualmente ao expressar que para o sujeito estar bem é

135
necessário mudar comportamentos, ou seja, o seu estilo de vida. Assim, ele ressignifica seu
conceito inicial de que saúde é apenas a ausência de doenças, passando compreender a saúde
pelo modelo comportamental, como cita Vigotski (2008, p. 143) “os conceitos novos e mais
elevados, por sua vez, transformam o significado dos conceitos inferiores”. Desta forma, no
diálogo e na dinâmica interativa das relações com os outros professores, Leonel colocou seu
pensamento em movimento, que lhe propôs, a partir da mediação, aprender com o outro.
Nas demais reflexões deste episódio, apropriações conceituais do modelo
biopsicossocial pelos professores são identificadas e marcadas pela evolução conceitual de
saúde relacionado aos aspectos sociais, ambientais, psicológicos, culturais, como fatores que
interferem na qualidade de vida do sujeito. A afirmação de Lorena de que no modelo
biopsicossocial “a saúde do indivíduo interfere em seu convívio social e no seu aprendizado”,
evidencia a ressignificação de saúde, não apenas como ausência de doença.
O filme ‘O jardineiro fiel’ mobilizou os professores a pensar questões como as Infecções
Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e relacioná-las às questões sociais, culturais e também que
é papel de todos os segmentos da sociedade abordar tal assunto, informar de maneira que essas
questões e conhecimentos de saúde pública ultrapassem os muros escolares.
Episódio 05 – Questões sobre Infecções sexualmente transmissíveis
Sabrina (4ª SF, T22, 2016): [...] Porque a África? Os africanos não têm condições de
comprar esse remédio? Ok, mas a tuberculose vai se espalhar em todos os continentes. E
os outros continentes têm dinheiro para comprar esses medicamentos? Para o tratamento?
Então a África na verdade, o continente africano era a cobaia perfeita para eles, né. Por
ser um país assolado pela guerra, pela pobreza, então essas vidas que morriam não eram
importantes para eles.
Luíza (4ª SF, T17, 2016): Acho que dá para abordar esses assuntos a partir do filme em
sala de aula.
Lucas (4ª SF, T47, 2016): Em relação às doenças sexualmente transmissíveis, será que se
fizermos um levantamento aqui na nossa região, será que as pessoas são realmente
esclarecidas? Será que elas sabem o que é a AIDS? Será que todos tem acesso a essas
informações? Será que as pessoas mais velhas, por que esses dias eu fui questionado que
a AIDS não era viral, que a AIDS era passado.[...] Até aonde os pais vão ensinar para
seus filhos o que eles sabem? Será que eles sabem realmente e onde que está o problema?
Onde que começa o problema?
Sabrina (4ª SF, T48, 2016): Posso? Eu só quero fazer um gancho com a questão do Lucas,
principalmente na questão da população idosa, ah, não tem esclarecimentos sobre essas
doenças sexualmente transmissíveis. Nessa população a AIDS e demais DSTs tem crescido
vertiginosamente. São questões assim, que a gente né![...] isso deveria ser abordado pelos
agentes de saúde nas casas, nas residências, porque as pessoas não têm informações a
respeito, é uma população que pela faixa etária não usa preservativos, por uma questão

136
de preconceito, sabe é uma coisa assim, que não deveria ser debatida só nas escolas
(pausa) na população jovem também é uma faixa etária que tem crescido as ISTs.
Heitor (4ª SF, T65, 2016): [...] pensando no que o Lucas disse que haveria uma
necessidade maior de se trabalhar, será que as pessoas conhecem as ISTs? Então eu faria
a pergunta como resolver essa questão?
Fonte: Degravação das sessões fílmicas, 2016.
A partir dos episódios, é possível perceber que os professores já apresentam um
entendimento ampliado de saúde, o que indica para a importância das discussões no coletivo,
do planejamento das atividades com os filmes e da mediação da pesquisadora durante o
processo. Os conhecimentos produzidos no processo interativo apontam que as interlocuções
realizadas permitiram a circulação de novas ideias e compreensões dos modelos. A partir da
interação dialógica houve, de acordo com Vigotski (2007), uma constante inferência na zona
de desenvolvimento proximal (ZDP) dos professores em formação, as interações estabelecidas
no grupo possibilitaram a internalização e a apropriação da temática da saúde, permitindo
“promover o desenvolvimento do indivíduo, como parte integrante de um sistema complexo”
(CARVALHO; CARVALHO, 2006, p. 3).
Ao longo das sessões, a pesquisadora foi inferindo na zona de desenvolvimento
proximal dos professores em formação, primeiramente ao confrontar e articular as
compreensões de saúde deles. Desta maneira, ao iniciar as sessões a pesquisadora questionou e
mobilizou os professores a pensar sobre o que era saúde para cada um: Que modelos de saúde
temos hoje no espaço escolar? Como questões do cotidiano e do ambiente podem inferir na
saúde individual e/ou do coletivo? Há relação entre saúde e ambiente, qual a relação entre
ambos? O que seria qualidade de vida e promoção de saúde, e como atingi-los? Por que é
importante educar para a saúde? Após esses questionamentos, a pesquisadora buscou promover
a compreensão ampliada de saúde por meio de diálogos, leituras de textos e pelos filmes com
grupo.
Nos primeiros encontros, os professores passaram pelo processo de novos estudos, pois
não tinham um entendimento tão complexo de saúde, relacionando-o aos fatores ambientais,
sociais, emocionais, porém, a medida que as discussões sobre a temática saúde no grupo foram
avançando, o grupo foi evoluindo conceitualmente em relação a compreensão da Saúde e ES.
Nessa perspectiva, Schnetzler; Cruz e Martins (2015, p. 5) propõem que o trabalho do professor
se produz sempre em “contextos intersubjetivos, mediado pelo outro e constituído pela
linguagem, que, na abordagem histórico-cultural, é compreendida como produção humana para
comunicação entre os homens e à significação da realidade”.

137
Nesta sessão, os professores trazem à discussão um tema que muitas vezes fica na
margem do currículo no ensino de Ciências, que é o da saúde do idoso e seus conhecimentos
sobre as ISTs, assim como a sexualidade na velhice. Para muitos, os idosos são pessoas
assexuadas, para Maschio et al. (2011, p. 584) “as pessoas acham ‘feio’, negam-se que o idoso
possa querer namorar, esquecem que a sexualidade não é só genitalidade e que existe também
afetividade que é essencial ao ser humano”. Diante dessa realidade, há de se chamar a atenção,
para as mudanças que ocorrem na sociedade, em particular a atividade sexual na velhice. Daí a
necessidade de informar, esclarecer a importância do uso de preservativos para esta população
e também para a população mais jovem, no sentido não de abordar só as questões de doenças,
mas para o cuidado de si e do outro também, para a promoção da saúde, pois, ao não usar
preservativos durante as relações sexuais, os sujeitos aumentam a probabilidade de contrair
alguma IST e consequentemente passá-la a outras pessoas. Mas, como fazer para sensibilizar
esta população que já tem uma cultura acerca da prática sexual sem prevenção, pois algumas
pessoas, independente da faixa etária, alegam que fazer sexo com preservativo diminui o prazer.
Portanto, acredito ser necessário como citam os professores do grupo investir em informação e
sensibilização a partir de diálogos, campanhas, esclarecimentos e trabalho conjunto com os
profissionais de saúde, tanto na escola, nos meios de comunicação como na formação dos
agentes de saúde, que são profissionais com contato mais próximo da população,
principalmente a idosa, apostando que informação e conhecimento são necessários para que
não aumentem ainda mais os casos de contaminação neste grupo de pessoas.
Neste encontro, os professores também refletiram acerca do direito das pessoas à
informação e o acesso a um tratamento humano e justo. Não é por ser uma pessoa carente, sem
maiores conhecimentos sobre saúde, que seus direitos devem ser desrespeitados, como faziam
os grandes laboratórios que testavam seus medicamentos na população africana, como é
apresentado nas cenas do filme. O grupo evoca a questão da ética profissional e da bióetica, ao
mencionar o direito do sujeito de ser informado sobre o tratamento, de decidir se quer ou não
participar do teste.
Portanto, quando Lucas indaga sobre os conhecimentos da população sobre as ISTs e
Sabrina complementa com a questão do aumento de casos de contaminação de idosos e jovens
com AIDS e ISTs, principalmente pela falta do uso de preservativos ou mesmo pelo
preconceito, evoco o questionamento de Helena sobre a formação dos alunos para a cidadania
e tomada de decisões frente aos problemas reais da vida. Na atualidade, presenciamos uma
enorme preocupação dos professores em vencer o conteúdo, pelo engessamento do currículo,

138
da cobrança dos pais, dos exames de ingresso no ensino superior e das avaliações externas ao
sistema escolar, situação que não permite aos professores desenvolver e aprofundar questões e
temáticas importantes para a formação social e cidadã dos alunos.
Nesse caminho interativo e de diálogos compartilhados, os dizeres dos professores
apontam para mais indícios referentes à ampliação do conceito de saúde. Um novo
entendimento referente às habilidades socioemocionais emerge nas discussões, como elementos
constitutivos dos sujeitos e do processo de aprender. O Episódio 06 foi construído a partir da
apropriação de sentidos criados na relação com o filme “Divertida mente”, para refletir sobre a
saúde mental.
Episódio 06- Divertida Mente na formação inicial e continuada de professores
Pesquisadora (7ª SF, T01, 2016): Para iniciarmos a discussão de hoje eu tenho a seguinte
pergunta. Quais foram os critérios que utilizei para escolher esse filme?
Lorena (7ª SF, T02, 2016): Saúde mental.
Leia (7ª SF, T04, 2016): Psicossocial.
Sabrina (7ª SF, T05, 2016): Eu acredito que as emoções têm um grande papel na saúde
física e mental também. Quando nosso emocional não está bem, tendemos a desenvolver
alguma enfermidade, né?
Liamara (7ª SF, T06, 2016): As atividades cotidianas têm muito a ver com o
desenvolvimento da criança, que ali foco na guriazinha (Riley), né. Por que teve um
momento que ela foi feliz. E no momento que ela foi crescendo, ela viu que foi mudando a
realidade, e isso causou impacto na vida dela.
Hugo (7ª SF, T07, 2016): As questões emocionais influenciam a saúde do sujeito.
Lídia (7ª SF, T08, 2016): Com certeza, principalmente quando, por exemplo, agora na
época de provas, começamos a ter emoções, raiva entre outras coisas. Isso vai influenciar
tanto na nossa nota, né. Tanto no nosso bem-estar, né. Tu fica mais vulnerável e a nossa
imunidade fica baixa.
Lia (7ª SF, T12, 2016): Na adolescência [...] achei importante a parte de ter tristeza nessa
vida para voltar a ter alegria. Não era somente a alegria que estava fazendo, a tristeza
também estava fazendo falta, então essas são as duas emoções básicas que a gente tem que
ter na vida.
Sabrina (7ª SF, T14, 2016): A adolescência é uma fase conturbada.
Lídia (7ª SF, T015, 2016): Um pouco triste um pouco alegre com dificuldades.
Lena (7ª SF, T017, 2016): No filme vemos que por ela estar vivendo um turbilhão de
emoções, isso vai afetar o processo de aprendizagem dela.
Lara (7ª SF, T018, 2016): Eu acho que pode refletir também na saúde em geral dela, pois
ela não está bem psicologicamente.
Pesquisadora (7ª SF, T19, 2016): De que forma a situação que ela está vivenciando pode
afetar a sua saúde?
Lara (7ª SF, T20, 2016): Depressão.

139
Leandra (7ª SF, T21, 2016): Eu geralmente, quando estou muito triste não consigo me
alimentar. Não sinto fome. Então, pode ser que ela como criança sinta muita fome ou nem
sinta.
Sabrina (7ª SF, T22, 2016): Distúrbios alimentares, ansiedade e também comer demais,
comer de menos ou não comer.
Lena (7ª SF, T23, 2016): E ela como menina pode ter influência hormonal (áudio
inaudível).
Sabrina (7ª SF, T24, 2016): Obesidade, bulimia e anorexia, que são as principais né.
Liamara (7ª SF, T25, 2016): Suicídio também, né. Tem vários casos de suicídio.
Leonel (7ª SF, T31, 2016): Tem também a parte da tomada de decisões, é que esses
sentimentos vão influenciar no que tu vai optar ou que decisões tu vai acabar tomando, se
vão ser boas ou não.
Fonte: Degravação das sessões fílmicas, 2016.
A sessão fílmica oportunizou um debate sobre as emoções vividas na adolescência e
como elas podem impactar a vida dos adolescentes e os processos de ensino e de aprendizagem.
Ao discutir sobre as emoções e relacioná-las com a saúde mental dos jovens, tema pouco
discutido na escola, os professores foram elencando comportamentos não positivos à saúde,
como transtornos alimentares, envolvimento com drogas, suicídio, depressão, desequilíbrio
emocional, assim como a tomada de decisões de forma precipitada, como cita Leonel (7ª SF,
T31, 2016). Acredito que a discussão desse assunto no espaço escolar é de suma importância,
por ser a adolescência uma fase de transição, marcada pela busca de uma identidade autônoma,
mediante atividades de confronto, autoafirmação e questionamentos.
Autores como Vigotski (2008) e Wallon (1968) propõem que as emoções são
fundamentais nas interações sociais e no desenvolvimento cognitivo do sujeito. Para “Vigotski,
as emoções não podem ser separadas da consciência, pois tal fato inviabilizaria a possibilidade
de desenvolvimento das mesmas” (MAGIOLINO, 2010, p. 52). Camargo (1999, p. 15), a partir
dos estudos da obra de Wallon, preconiza que:
As emoções se transformam ao longo da vida. Neste processo entram em relação com
outras funções e passam a se expressar junto ou através delas. Funções como
linguagem, memória, percepção e atenção estão carregadas de emoções e sentimentos,
mesmo que, às vezes, elas estejam encobertas, e seja difícil o seu reconhecimento.
O entendimento da emoção como processo de simbiose entre o biológico e o social
desde o nascimento, coloca-nos em um contexto social e emocional, a partir das interações
estabelecidas com nossos familiares, círculo de amigos e a escola. Daí a necessidade de
levarmos em conta as habilidades socioemocionais nos processos de ensino e de aprendizagem,
uma vez que “as emoções afetam todas as aprendizagens, quanto mais envolvidas forem com
elas, mais mobilizadas são as funções cognitivas da atenção, da percepção e da memória”

140
(FONSECA, 2016, p. 371). Desta maneira, compreendo, juntamente com os autores, que a
emoção não pode ser vista isoladamente, mas integrada a outras funções psíquicas do
desenvolvimento, e sofre transformações ao longo da vida do sujeito.
No que diz respeito ao desenvolvimento do projeto, os filmes selecionados apresentaram
diferentes modelos e entendimentos de saúde em distintos contextos. A intencionalidade de
assistir à animação “Divertida Mente” foi aguçar a percepção e reflexão sobre as interações
sociais e o estado psíquico do sujeito, a fim de alavancar debates sobre a saúde mental, e
desenvolver conhecimentos e atitudes frente às situações vivenciadas na escola, considerando
uma nova perspectiva para a ES.
O diálogo estabelecido e a intervenção mediada da pesquisadora, além de possibilitar
nesta sessão fílmica uma abordagem mais ampla de saúde pelos participantes, que começaram
apresentar uma ressignificação conceitual de Saúde, a partir dos seguintes pontos: saúde mental,
questões emocionais, estresse, distúrbios alimentares, depressão, suicídio, compreendendo o
sujeito em sua integralidade e nas relações que estabelece no contexto social em que vive. Essa
atividade permitiu que todos compreendessem que a questão do conceito de Saúde é complexa
e demanda mais discussões, leituras, novas práticas pedagógicas e interação entre professores
e profissionais da saúde para que todos os envolvidos continuem avançando e ampliando o
entendimento que tem de Saúde e da ES.
Compreendendo que, ao relacionar saúde a questões de prevenção, questões sociais e
ambientais, determinantes e principalmente ao cuidado de si, possibilitou-se ao grupo
estabelecer um elo por traços associativos entre o que foi visualizado nos filmes e as discussões
após cada sessão, permitindo estabelecer o pensamento por complexo de cadeias. Para Vigotski
(2008), nesta fase da formação conceitual o significado das palavras se desloca, assim como os
elos entre cadeias.
A discussão acerca da animação “Divertida Mente” também contribuiu para que os
professores analisassem sua prática docente. Ao discorrer no grupo acerca das relações entre
saúde mental e adolescência, surgiram situações da realidade vivenciada pelos professores,
considerando a faixa etária dos alunos com quem eles trabalham nas escolas. Para exemplificar
essa reflexão, trago a fala de Sabrina (8ª SF, T44, 2016): eu acho que dentro de uma sala de
aula, a gente tem múltiplas emoções envolvidas, múltiplas personalidades, [...] cada um tem
suas particularidades. O professor deve estar atento a isso, [...] nem sempre aquele aluno que

141
é falante, incomodativo (risos) ou elétrico, vai ser o aluno que está precisando de um olhar
mais particular teu.
Assim, ao trazer para os encontros de discussão o tema da saúde mental; percebo, a
partir dos diálogos dos professores, que esse assunto necessita ser melhor trabalhado e
explorado na Educação, pois, durante esta sessão, e também por conta da história que foi
apresentada pelo filme, os professores se detiveram a discutir a saúde mental dos adolescentes
e mesmo dos alunos de graduação, como expressam Lídia e Leandra, entendo ser muito
importante para pensarmos nas questões de promoção da saúde; porém, em nenhum momento
do debate foi abordada a questão da saúde física e mental deles, professores em exercício.
Ao refletir sobre esse tema, colaboro com o pensamento de Gasparini, Barreto e
Assunção (2005, p. 191), quando defendem que a atividade docente “extrapolou a mediação do
processo de conhecimento do aluno [...]. Ampliou-se a missão do profissional para além da sala
de aula, a fim de garantir uma articulação entre a escola e a comunidade”. Nessa nova
configuração da docência e no atual contexto educacional brasileiro, os professores têm dupla
ou tripla jornada de trabalho, excesso de tarefas e dificuldades de relacionamento entre família-
escola, demanda por índices institucionais elevados, alta pressão por desempenho e baixo nível
de controle das tarefas, desordem em sala de aula, ruídos, hostilidade entre alunos,
desvalorização pessoal e salarial, excesso de alunos em sala e infraestrutura escolar inadequada
para o trabalho (CORTEZ et al., 2017).
Frente a esse contexto, e no decorrer da discussão desse encontro, a sensação que tive
é que os professores em exercício não se permitem ter ou falar sobre as suas emoções, saúde
física e mental, mantendo-as veladas, colocando-se apenas como responsáveis por identificar e
buscar resolver as demandas oriundas dos seus alunos, no contexto escolar em que estão
inseridos. Portanto, acredito que a constituição desse grupo tem permitido pensarmos diversos
temas ligados à Saúde e à ES, tais como: prevenção a ISTs, envelhecimento populacional,
direito à vida e à morte, doação de órgãos, determinantes sociais, mas também em relação a
nossa profissionalidade, para que não esqueçamos, como adverte Nias (apud NÓVOA, 1995,
p. 25), que “o professor é a pessoa. E uma parte importante da pessoa é o professor.”
No Episódio 07, os excertos gerados nos diálogos entre supervisores da escola,
licenciandos e formadores, sobre o filme “Uma prova de Amor”, foram colocados para mostrar
as interações e as novas compreensões sobre saúde. Ainda, foi iniciada a discussão da morte
como parte do desenvolvimento de todos os seres vivos (nascimento, desenvolvimento e
morte). Foi exigido da irmã de Kate (no filme) o fornecimento de seu material biológico

142
saudável. Essa doação não era suficiente para melhorar efetivamente a saúde de Kate, pois o
seu estado era gravíssimo e provocava perdas na sua irmã. Aumentar a sobrevida é motivo
suficiente para exigir esta atitude? Como nos preparamos para a finitude (morte) das pessoas?
Episódio 07 – Diálogos constitutivos da compreensão de saúde no processo formativo
Letícia (6ª SF, T08, 2016): No caso da irmã de Kate que doaria o rim, não era saúde. Ela
tinha que fazer todos aqueles exames, tirar amostras. A cada pouco ela tinha que doar
material biológico, doou medula para a irmã, não era saúde para ela. E ela não estava
doente, quem estava doente era a irmã dela.
Sofia (6ª SF, T10, 2016): Ela estava ciente, diante dos propósitos da medicina, como ela
tinha evoluído né? O filme deixou bem claro que as doenças são um desafio para a
medicina, eles iam relutando e fazendo-a viver. A menina superou a expectativa de vida
dada a ela pelos médicos [...]. A irmã não agiu por ela, ela teria doado o rim, mas foi
imposta a ela uma prova de amor pela irmã.
Heitor (6ª SF, T11, 2016): Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas agora você pôs um
ponto bem importante, o que é saúde para cada um de nós? A expectativa dela era
entender, bom eu posso também morrer, né. Eu estou bem.
Sofia (6ª SF, T12, 2016): Eu acho que a prova de amor foi ela dizer para a irmã, tu vai
fazer isso. Por que ela viu que a irmã também estava sofrendo, só que eu acho que a mãe
não tinha percebido.
Selma (6ª SF, T13, 2016): Não só a irmã, toda a família, em decorrência da doença de
Kate, toda a família ficou doente, temos aí a questão social, comportamental. Questões
que temos que começar a pensar de forma ampliada no momento que estamos ensinando
conteúdos sobre saúde.
Fonte: Degravação das sessões fílmicas, 2016.
Não é preciso dizer que o diálogo entre os professores sobre suas compreensões de saúde
possibilitou uma reflexão ampliada do conceito, ao apontarem para questões do ambiente
familiar e social da família. Quando Letícia e Selma discorrem que a família de Kate também
adoeceu, ou que Anna não tinha saúde porque sofria física e psicologicamente com o tratamento
da irmã, identifiquei elementos de avanço na compreensão conceitual ampliada de saúde. Os
professores começaram a considerar não só o físico como algo relacionado ao adoecer, mas o
contexto familiar, as questões emocionais e de relacionamento entre pais e filhos. O filme exibe
um esforço extremo da mãe em salvar a filha, Kate, da leucemia. A dedicação da mãe foi tanta,
que acabou deixando de lado o filho do meio, o qual era disléxico, o casamento e sua profissão
de advogada. Anna, a irmã caçula, desde o nascimento foi submetida a intervenções cirúrgicas
a fim de manter a vida da irmã mais velha (RUDEK, SANTOS, 2016). Nesse contexto, toda a
família estava doente, não apenas Kate.
As interações evidenciaram como o diálogo é constitutivo do sujeito, pois várias
questões que emergiram no grupo propiciaram aos professores questionarem suas

143
compreensões, refletirem sobre outras abordagens, e aprenderem com o outro, num processo
mediado e interativo, visto que são diferentes olhares e falas sobre uma mesma projeção. Com
as discussões, uma parte dos integrantes do grupo entendeu o nome do filme, “Uma prova de
amor”, bem como conseguiram identificar que não só os aspectos anatômicos, fisiológicos e
bioquímicos caracterizam o adoecer, mas também os fatores sociais e ambientais. A
preocupação em não deixar Kate morrer gerou na família um adoecimento, em que as relações
foram abaladas, exigindo mudanças e abandonos de todos os seus integrantes. E, nesse olhar
mais atento e sensível para as temáticas apresentadas pelo filme, Heitor levantou uma questão
polêmica, que é o direito de morrer, como ele mesmo diz: Eu nunca tinha pensado por este
lado; quando Kate percebe que o tratamento não está surtindo efeito, que a sua família está
“ruindo”, que todos sofrem com a doença, ela decide morrer.
Ao suscitar a questão sobre o direito de morrer, diferentes reações foram despertadas no
grupo, pois na sociedade o direito à vida prevalece em relação ao direito à morte, mas diante da
situação de um paciente terminal, o que é qualidade de vida para ele e para a família? Essa é
uma questão polêmica, que gera distintos pontos de vista, porque é encarada sobre diferentes
prismas: éticos, sociais, culturais e religiosos (LEONARDO; ROSA, 2015). Hoje há uma
discussão sobre o direito a uma morte digna, sem dor, a eutanásia, que objetiva adiantar o curso
natural da morte, trazendo alívio para as pessoas que estão em sofrimento constante e com
alguma enfermidade incurável. Julgo ser necessário discutir esse assunto em sala de aula, não
para indicar essa ou aquela decisão, mas para que os estudantes reflitam sobre ela e constituam
um conhecimento relevante que supere a opinião, com argumentos sólidos para defender seu
posicionamento.
É importante o estabelecimento desse diálogo no espaço escolar e acadêmico, para
“problematizar o conhecimento e o sentido dele no mundo contemporâneo”, ou seja, “não para
dar ao aluno o conhecimento do mundo ou melhorar a sua forma de conhecê-lo, mas para
acrescentar, adicionar uma outra forma de interpretá-lo” (CHAVES, 2013, p.50). Uma maneira
mais humanizada, em que os princípios éticos e de justiça social sejam referência.
No transcurso da sessão, enquanto o grupo debatia sobre a questão do direito à vida e à
morte, Loreni discorre que os livros didáticos (LD) apresentam uma visão muito romântica da
vida, que esse recurso pouco contribui para a compreensão da vida em sua plenitude,
principalmente no que se refere ao ciclo vital humano constituído de desenvolvimento
embrionário, nascimento, crescimento, reprodução e morte, lembrando que a morte pode
acontecer a qualquer momento.
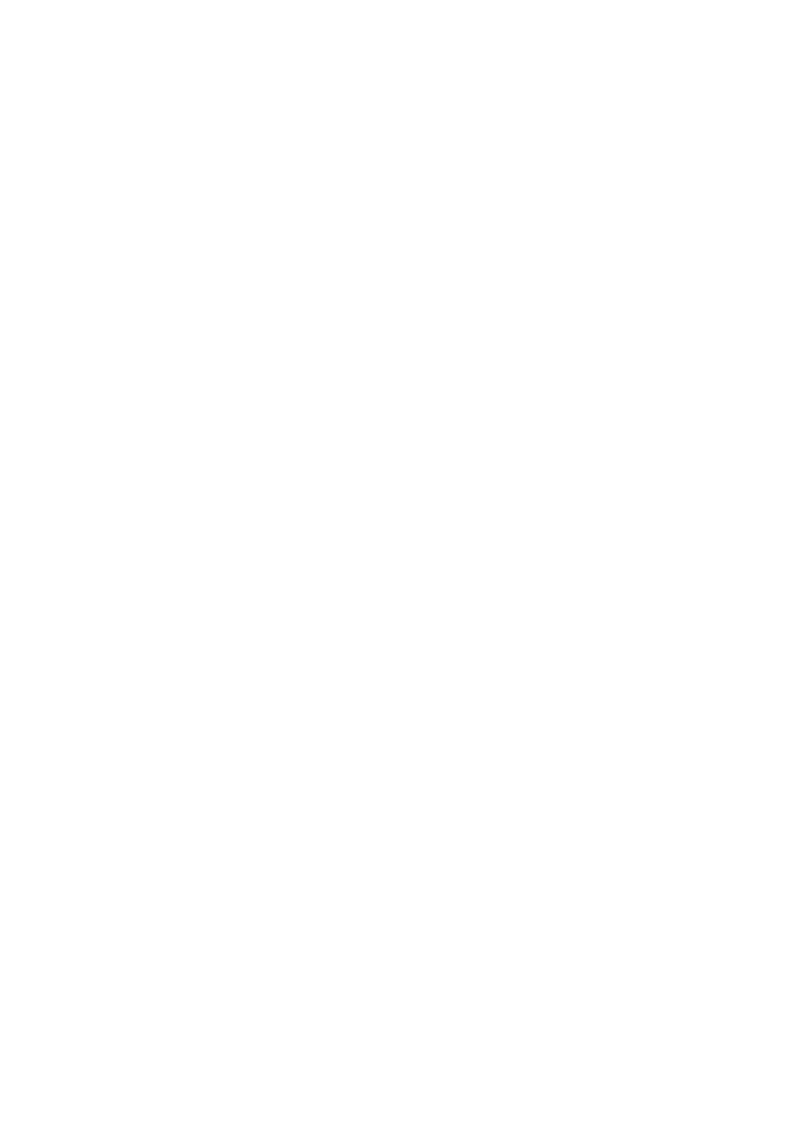
144
Episódio 08 – Diálogos sobre vida e morte no livro didático
Loreni (6ª SF, T25, 2016): Até o livro didático trata disso de uma maneira muito
superficial, sonhadora. Crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Ninguém aceita o
nascer e morrer, então, no caso do filme, ninguém aceitava que ela tinha que morrer jovem,
pois ela tinha que morrer depois dos pais.
Heitor (6ª SF, T26, 2016): Porque inverte a ordem natural. Não que todo mundo tenha que
reproduzir, mas inclusive hoje quando você falou. Eu, evolui um pouco né. Acho que eu, a
pesquisadora e as professoras supervisoras, somos de uma geração que a palavra
envelhecimento não estava nem no livro didático, e você acrescentou no ciclo de
desenvolvimento. Nós aprendemos que o ciclo da vida era: nascer, crescer, reproduzir e
morrer. E você veja, eu fiquei feliz em escutar. Para vermos como isso pode puxar outra
discussão lá na sua sala de aula, você acrescentou o envelhecimento, que é um conceito
dessas últimas duas décadas em termos de conceitos de escola e universidade, ninguém
falava de envelhecimento há vinte anos e hoje se fala. Inclusive tem conceito sobre isso,
como abordar, tem tese de doutorado.
Fonte: Degravação das sessões fílmicas, 2016.
Na medida em que os professores dialogam sobre seus entendimentos das temáticas
correlacionados à saúde, novos conceitos vão emergindo do processo, como o de
envelhecimento. Loreni, ao citar as etapas que perfazem o ciclo vital, aborda o novo conceito
de saúde, o de envelhecimento, que até pouco tempo não era apresentado nos currículos
escolares. A inserção dessa temática na escola foi impulsionada pelo artigo 22 da Lei
10.741/2003 - Estatuto do Idoso, que propõe nos currículos escolares a inserção dos conteúdos
voltados ao processo do envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a
eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria. Compreendo que o
envelhecimento humano é uma questão relevante a ser trabalhada pelos professores, como parte
de um conteúdo que considera o desenvolvimento biológico humano desde o nascimento até a
morte, num contexto sociocultural.
Dessa forma, um passo importante na educação é referente à humanização da
abordagem do envelhecimento no espaço escolar, para que os alunos compreendam essa fase
da vida como um processo natural das espécies. Ao abordar o envelhecimento humano,
trabalhar as questões biológicas, sociais e culturais, a fim de desenvolver nos estudantes a
consciência do cuidado de si e do outro. As mudanças morfofisiológicas e socioculturais, nos
idosos, não significam obrigatoriamente doenças, porém exigem novos entendimentos das
pessoas sobre os limites e possibilidades desses sujeitos. A promoção desse debate na escola
pode favorecer o convívio entre gerações e o desenvolvimento de noções de ética, cidadania,
respeito mútuo, afeto, valorização das histórias de vida, além da produção de novos
conhecimentos.

145
Ao abordar sobre o envelhecimento, Fensterseifer (2009, p. 81) cita que “não podemos
ignorar que a percepção deste processo não sofre do mesmo determinismo, ela é produto das
significações socioculturais que produzimos acerca do mundo humano”. Porém, é bom
lembrarmos que essa fase pode oportunizar novas experiências, possibilidades e aprendizagens.
Ao contrário do que muitos pensam, envelhecer não é significado de incapacidade, fraqueza,
isolamento (SANTOS; PANSERA-DE-ARAÚJO, 2016). Ao propor discussões desta
envergadura em sala de aula, estamos nos direcionando para outra perspectiva de Saúde, a
ecossistêmica, que considera os determinantes de saúde e o sujeito na sua integralidade.
A partir da abordagem histórico-cultural, compreendo o filme como um signo, com
função importante no processo formativo, pois as interações vivenciadas ao longo da
investigação e a relação mediada pela pesquisadora permitiram ao grupo de professores a
elaboração, apropriação e compreensão de uma visão ampliada de Saúde e ES, ao trazerem para
o debate questões como envelhecimento populacional, direito à vida e à morte, qualidade de
vida e determinantes sociais, questões de gênero e saúde, sexualidade e saúde entre outros. Para
Vigotski (2008), a formação de conceitos é resultante de uma atividade complexa, da qual todas
as funções intelectuais básicas fazem parte, tais como: abstração, memória lógica, atenção
voluntária, formação de imagens, inferências ou tendências determinantes. Entretanto, todas
essas funções, sem o uso do signo - ou palavras - não são suficientes para que o sujeito amplie
sua consciência e se aproprie do conhecimento.
A partir dos dizeres dos professores nos episódios selecionados, observei que, no início
da investigação, os professores em formação inicial e os supervisores compreendiam saúde
como ausência de doença (episódios 01, 02, 03). No decorrer da investigação, por meio da
intervenção direcionada da pesquisadora e dos diálogos provocados no grupo a partir dos
filmes, (re)elaborações conceituais foram emergindo. No episódio 05, Lucas (T47) faz
referência as questões das ISTs em idosos. No episódio 06, Lara (T020), Sabrina (T22, T24),
Liamara (T25) e Leonel (T31) comentam que as emoções podem desencadear situações
positivas e negativas à saúde mental do sujeito. E, ainda, quando Letícia (T08) e Selma (T13),
no episódio 07, citam que toda a família estava doente em decorrência da doença de Kate,
evidencio que o conceito de saúde está relacionado ao cuidado de si e também do outro, ao
considerarem o sujeito como um todo (biológico, psicológico, espiritual e social), nas relações,
que estabelece com o meio. Para Saboga-Nunes e Sorensen (2013), o cuidado de si remete à
importância do cuidado e da valorização do corpo no sentido da saúde e da promoção da saúde.
Somaram-se ao entendimento de saúde mais elaborado conceitualmente, os conceitos de

146
eutanásia (Heitor, 6ª SF, T12, 2016) no episódio 7; de envelhecimento no episódio 8 (Loreni,
6ªSF, T25, 2016). Nesse sentido, Vigotski (1993, p. 215) infere que:
[...] a generalização do conceito leva a localização do mencionado conceito em um
determinado sistema de relações de generalidade, relações que constituem as
conexões mais naturais e mais importantes entre estes. Por conseguinte, a
generalização significa ao mesmo tempo a tomada de consciência e a sistematização
dos conceitos.
Assim, como apresentado no parágrafo anterior, houve o processo de elaboração e/ou
reelaboração conceitual evidenciado inicialmente pelos discursos veiculados à sistematização
dos conhecimentos que proporcionaram aos professores uma visão ampliada de saúde. Mas,
também há de se destacar que este processo não aconteceu apenas nos sujeitos citados
anteriormente, ele foi coletivo, pois, como afirma Vigotski (2008), o sujeito se constitui nas
interações que estabelece no diálogo, na ação mediada pelo outro. Na abordagem histórico-
cultural, compreende-se que a aprendizagem parte do social para o individual. Assim, foi graças
ao coletivo, que os sujeitos foram evoluindo pessoalmente e se apropriando de um entendimento
mais amplo de saúde.
O uso de filmes no processo formativo e a criação do grupo colaborativo foram
importantes, ao propiciar “processos constitutivos dos professores. [...] eles se constituem
sujeitos sociais mais comprometidos e capazes de retribuição na constituição das novas
gerações, nos conhecimentos culturais aptos a produzir uma sociedade melhor” (MALDANER,
FRISON, 2014, p. 66). Os espaços-tempos de conversa compartilhados ampliam os olhares e
entendimentos sobre a docência, Saúde e a ES, e os desafios do ensino de Ciências e Biologia,
propiciam significações dos conhecimentos em circulação para formar sujeitos comprometidos
e responsáveis consigo, com os outros e com o ambiente.
A próxima categoria apresenta o potencial do uso dos filmes comerciais como
desencadeador de reflexões no processo formativo. Neste ponto, reafirmo a tese de que o uso
de filmes comercias para debater e refletir sobre questões de saúde e ES com professores em
processo formativo contribui para a compreensão ampliada de Saúde.
ii) Filmes comerciais como instrumento de reflexões sobre questões curriculares no
processo formativo
A utilização do cinema no ensino permite aos alunos e professores uma infinidade de
olhares e vivências. Nesse sentido, busquei, nos filmes comerciais, um instrumento pedagógico
para provocar nos participantes reflexões ampliadas de saúde, porém, outros assuntos foram

147
emergindo dos debates durante as sessões fílmicas, como os referentes às questões curriculares
(gênero, sexualidade, preconceito, etc). Desse modo, busquei evidenciar os entendimentos
sobre a docência, a Saúde e a ES provocados nos participantes, nas sessões fílmicas. Quais
trajetos e atalhos foram constituindo esse pensar sobre o trabalho pedagógico com filmes na
sala de aula de ciências e biologia? Como os filmes podem constituir-se articuladores, nos
processos de ensino e aprendizagem? Como a mediação acontece no uso dessas ferramentas?
Os filmes, de forma oral ou figurativa, apresentam coisas do mundo, e permitem
atribuir valor a essas coisas (DUARTE, 2009). Para Napolitano (2009, p. 11), “os filmes podem
ter muitos sentidos e, num primeiro momento, apelam à emoção e à subjetividade”,
possibilitando ao espectador interagir e refletir a partir das histórias, mobilizando inúmeros
conhecimentos. O Episódio 09 remete às reflexões das dimensões do uso dos filmes no processo
formativo, assim como da compreensão das suas possibilidades como instrumento pedagógico,
no espaço escolar, para discutir e abordar diferentes assuntos do currículo.
Episódio 09 – As reflexões provocadas pelos filmes no processo formativo
Pesquisadora (7ª SF, T89, 2016): Como vocês avaliam esse momento em que estamos
juntos discutindo as questões de saúde a partir dos filmes?
Sabrina (8ª SF, T90, 2016): Eu acredito que é bem produtivo, porque são vários olhares
dentro de uma mesma situação, que de repente você não tinha se dado conta. Ao longo
desse período todo que a gente trabalhou esses filmes, muitas vezes eu olhei filmes, e teve
filmes que eu olhei até quatro, cinco vezes, mas depois da discussão eu pensei, não tinha
dado conta disso, não pensei nisso antes, nesse viés, nesse aspecto. Eu considero positiva
a questão de trabalhar o filme, de assistir o filme, e depois discutir a respeito das várias
questões que poderiam ser debatidas com os alunos.
Selma (7ª SF, T92, 2016): É, estamos sempre aprendendo, sempre aprendendo! Eu que
estou no fim da minha carreira, estou aprendendo sempre! É uma aula cada vez. Está
sempre surgindo coisas novas para nós.
Lena (7ª SF, T93, 2016): Eu comecei a participar depois do filme Físico, eu percebo que é
um ambiente muito acolhedor, onde a gente senta e conversa sobre assuntos, sem pressa,
sem aquela correria, e acabamos aprendendo bastante.
Selma (7ª SF, T95, 2016): Às vezes, a gente não pensou por aquele lado, às vezes os alunos
colocam e tem visões diferentes.
Lucas (7ª SF, T97, 2016): […] depois que começamos a assistir os filmes, a gente tem um
olhar mais crítico, sendo aqui ou sendo em casa, aonde for, só acaba tendo aquele olhar
crítico. Isso é verídico, isso não, isso está muito fantasioso, isso não está correto. Vou
acabar tendo uma nova visão do filme, não importa onde esteja assistindo, você começa
a fazer críticas, começa a levar para aquele olhar que você já vinha discutindo, seja em
sala de aula ou até mesmo aqui.
Fonte: Degravação das sessões fílmicas, 2016.
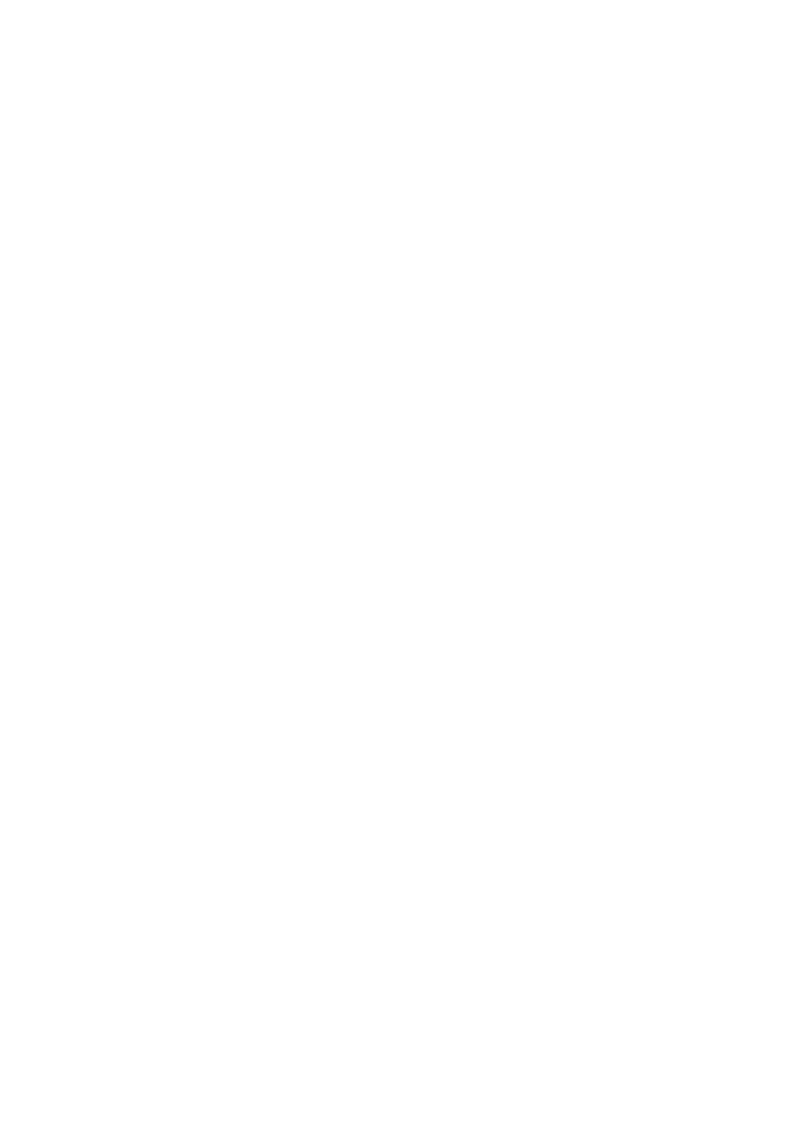
148
Parafraseando Larrosa (2105), ao citar que experiência é tudo aquilo que nos passa, nos
toca, assim a mediação realizada pela pesquisadora a partir dos filmes comerciais, nessa
investigação, tive a importância fundamental de mobilizar os professores em formação para
reflexões coletivas, constituindo outros olhares e experiências formativas. A proposição de sete
sessões fílmicas serviu, primeiramente, para conhecer os entendimentos dos professores sobre
a saúde, e então encontrar um caminho que contribuísse com a reflexão sobre como esses
sujeitos constituem o conhecimento pedagógico de conteúdo em saúde para atuar na Educação
Básica. Importa considerar que a vivência formativa, ao longo dos meses, possibilitou ao grupo
pensar os filmes comerciais por outro viés, o didático, pois, para alguns, utilizar filmes em sala
de aula era um passatempo.
A respeito desse aspecto, ressalto a afirmação de Sabrina ter assistido, várias vezes, o
mesmo filme, mas que só após a participação, no grupo, começou a perceber outras
possibilidades de trabalhar com eles. Ainda, destaco a importância dos debates ocorridos em
cada sessão, visto que mobilizaram os professores a pensar, posicionar-se e expor seus
entendimentos, assim como aprender com o outro. Lucas cita que desenvolveu o olhar crítico
ao assistir um filme. Outro ponto importante a ser considerado é que todos os sujeitos do grupo
foram responsabilizados pelo planejamento e condução de uma sessão fílmica, sendo que 4
dessas sessões ficaram a cargo da pesquisadora e as outras três por um dos segmentos da tríade
formativa, fato que colocou o grupo em movimento, impulsionando-os a pensar, buscar, e
consequentemente ativar uma gama de saberes e fazeres docentes, pois ao ficarem responsáveis
pela organização da sessão eles tiveram motivos que mobilizaram a atividade. Como citam
Grymuza e Rêgo, apoiadas em Leontiev, “todas as atividades, incluindo a principal, têm uma
estrutura interna guiada por ações e operações, decorrentes, do seu motivo e dos seus objetivos”
(2014, p.123). Assim, os professores mobilizaram ações para resolver a necessidade a eles
apresentadas, como: planejamento, discussão em pares para escolher o filme, leituras de textos,
questionamentos com o grupo após o filme para conduzir o debate e a reflexão (ANEXO 4).
Convém ressaltar que, ao final das sessões, as reflexões dos professores sinalizam para
uma tomada de consciência do papel dos filmes no seu trabalho pedagógico, ao permitir a
ampliação de sentidos e significados por meio de relações dialógicas estabelecidas no grupo
formativo. Apontam que um filme pode desencadear aprendizagem de conteúdos curriculares
e de conhecimentos para a vida, além de possibilitar o desenvolvimento de atividades
interdisciplinares articuladoras dos componentes curriculares.

149
As questões emergidas, no grupo, indicam outro aspecto importante das sessões: o
espaço-tempo de aprendizagem. Tal indicativo está expresso na fala de Lena (7ª SF, T93, 2016).
A partir desse registro, é possível perceber outras relações estabelecidas para aprender: um
ambiente acolhedor; aluno à vontade e motivado para participar e interagir na aula; aula
instigante e planejada; o domínio do conhecimento pedagógico do conteúdo para que os alunos
compreendam o significado do que estão aprendendo, como cita Shulman (2005, p. 11):
[...] o professor deve não só compreender completamente o assunto específico que
ensina, mas também deve ter uma ampla formação humanística, que deve servir como
um quadro para a aprendizagem previamente adquirida como um mecanismo que
facilita a aquisição de uma nova compreensão (tradução nossa).
Assim, “o professor é sempre professor de algum campo de conhecimento, que supõe a
anterioridade do conhecer esse campo e, ao mesmo tempo, é professor de escola”, local
“complexo de múltiplas dimensões no qual esse profissional necessita mover-se com confiança
e segurança” (MALDANER; FRISON, 2014, p. 43). É nesse aspecto que Shulman (2005)
aponta que os professores precisam aprender a usar seu conhecimento como base para
fundamentar suas decisões e práticas docentes.
“No cinema, como de resto em todas as artes, quanto mais se conhece a sua linguagem
e história, mais as obras se tornam encantadoras e mais nos dizem sobre o passado e sobre o
presente do mundo em que vivemos” (NAPOLITANO, 2009, p. 15). Para chegarmos a esse
entendimento, é importante pensar o valor do cinema na construção de aprendizagens e
interações das mais variadas naturezas; nesse sentido, ressalto a necessidade de planejamento e
encaminhamento didático para o trabalho com filmes na escola. Para Fusari (2009), é
importante que haja debates após as sessões fílmicas, para estimular os participantes a
expressarem seus pensamentos, emoções e reflexões livremente.
Ao possibilitar esse momento de partilha de ideias e pensamentos, resgato a fala de
Helena, na segunda sessão fílmica (O curandeiro da Selva): eu acho que essa emoção, ela não
tem como não prender a atenção voluntária do aluno na sala de aula se ele está assistindo
mesmo, esse é um estágio importante na aprendizagem, atenção voluntária” (HELENA, 2ªSF,
T42, 2016). Esse pensamento emergiu quando o grupo fazia menção às sensações que tiveram
na cena em que a Dra. Rae Crane (Lorraine Bracco), assustada e com medo da altura em que se
encontrava, passou de uma árvore a outra na floresta por meio de um cipó, assim como dos
conflitos culturais entre indígenas e brancos; bem como do trabalho de pesquisa na selva do Dr.
Campbell (Sean Conney), das angústias dos personagens ao ver a aldeia e o laboratório serem

150
destruídos pelo fogo, e dos problemas ambientais apresentados no filme, como o desmatamento
da floresta para extração da madeira e minérios. As cenas do filme “O curandeiro da selva”
desencadearam várias emoções positivas (afetividade, afago) e negativas (medo, agressão),
criatividade, imaginação, além de propiciar questionamentos sobre os conhecimentos
científicos e tradicionais em diálogo. Acredito que as habilidades socioemocionais são
constitutivas do sujeito em processo formativo e na vida social, por aproximar ou rejeitar os
demais e possibilitar colocar-se no lugar do outro.
A questão da emoção, a partir de uma dada situação fílmica, também é apresentada por
Heitor (6ª SF, T06, 2016) como meio para desenvolver o trabalho docente em sala de aula: eu
acho uma coisa importante, eu como professor, nós como professores precisamos aproveitar
talvez a questão da emoção, aproveitar esse momento da emoção[...]. Quando a gente tem uma
situação dessa, mais emocional, mais forte, precisamos aproveitar para ir trabalhar as
questões talvez mais pontuais dessa discussão de saúde [...]. Temos que pensar que a ideia de
usar um filme que trabalha o emocional de quem é espectador é o que pode nos conduzir a
atingir o objetivo que a gente quer, que é ensinar, bom nesse caso ensinar discutindo questões
de saúde. Pensar como nós vamos trabalhar essa temática de saúde na sala de aula, [...] a fim
de fazer a discussão acontecer em relação aos conteúdos que nós queremos trabalhar, e aqui
entendendo o conteúdo de modo amplo: atitudinal, procedimental e conceitual.
A partir da discussão do filme “Uma prova de amor”, que conta a história de uma
família cuja filha mais velha tem uma doença muito grave (leucemia), Heitor provoca o grupo
a refletir sobre o potencial dos filmes para abordar questões de saúde no ensino, visando a uma
maior sensibilização dos professores para assuntos polêmicos como doação de órgãos, medula
óssea e sangue, temas sociais de grande relevância. A desinformação quanto à morte encefálica,
medo da reação e de conflitos com a família, suspeitas de corrupção e comércio ilegal de órgãos,
desconfiança quanto às informações passadas pelos médicos, resultam na falta de doações, pois
muitas famílias não permitem a retirada dos órgãos. Essa atitude contribui para aumentar a
espera de doadores e a angústia das pessoas que necessitam de um transplante.
Compreendendo que o movimento é formativo, as interações e a mediação são
constitutivas do professor; então, à medida que o diálogo flui acerca do uso de filmes e as
emoções no ensino, Heitor (6ª SF, T06, 2016) enfatiza que: fazer a discussão acontecer em
relação aos conteúdos que nós queremos trabalhar, e aqui entendendo o conteúdo de modo
amplo: atitudinal, procedimental e conceitual. Ao fazer essa fala, Heitor provoca os
professores a pensar que conhecimentos têm sobre o assunto e o que precisam aprender sobre.

151
Ele atua neste momento na zona de desenvolvimento proximal, pois, por ser sujeito ‘mais
experiente’, como cita Vigotski (2008), faz a pergunta pedagógica, que teve papel fundamental
ao provocar o diálogo crítico entre os sujeitos, a partir de um discurso intencionado e deliberado
que forja a interação, pois na medida em que os sujeitos tiveram que refletir sobre a questão
com auxílio de outra pessoa, para a aprendizagem e desenvolvimento de funções psicológicas
superiores “eles fizeram a reconstrução interna de uma atividade social, partilhada”
(ZANELLA, 1994, p. 99). A partir desse processo reflexivo, os professores citam que somos
formadores de opinião, e que não ensinamos apenas conteúdos conceituais, sem relação com o
mundo. Educamos para a vida, para a tomada de consciência e decisões, trabalhamos com gente
e, portanto, é necessário que a educação seja humanizada e contextualizada.
Os filmes são instrumentos que viabilizam inúmeras discussões e também podem gerar
debates articulados (NAPOLITANO, 2009). No Episódio 10 procurei estabelecer relações entre
a ES e os Temas Transversais. Para a construção do referido episódio, selecionei turnos
aleatórios dos registros da discussão do filme “O jardineiro fiel” (4ª sessão fílmica), em que
identifiquei assuntos tais como: questões de preconceito, gênero e sexualidade. “Em princípio,
todos os filmes – “comerciais” ou “artísticos”, ficcionais ou documentais – são veículos de
valores, conceitos e atitudes tratados nos Temas Transversais” (NAPOLITANO, 2009, p. 20).
Episódio 10 - Filme: instrumento para tomada de consciência das questões socioculturais
Helena (4ª SF, T014, 2016): [...] que tipo de aluno eu estou formando e que tipo de sujeito
cidadão vai estar preparado a tomar uma decisão lá na vida real dele, a participar ou não
de uma pesquisa, por exemplo? É uma questão de educação, é nossa.
Hugo (4ª SF, T66, 2016): Posso fazer um adendo? Qual é o conceito de biologia? Vida!
Estudo da vida? Que valor tem a vida humana para nós? Se a gente pode descartar
pessoas por elas terem cor diferente, por elas estarem em condições econômicas em
desvantagem da nossa. Que valor tem a vida humana? E outra, um pulo além, que valor
tem um sentimento, será que essas pessoas não carregam um sentimento? Claro que
carregam.
Luna (4ª SF, T70, 2016): Eu gostaria de falar também uma coisa que notei. O valor da
mulher também, quando ela falou que ia fazer sexo com ele, muita gente aqui atrás
comentou, é uma vagabunda, casada. Usou o sexo para manipular, e isso também está na
carta que o cara escreveu, a piranha, eu também achei o valor da mulher no filme.
Letícia (4ª SF, T71, 2016): Acho que ele também era casado.
Luna (4ª SF, T72, 2016): E se fosse o cara casado, e usasse o sexo o que seria comentado?
Pesquisadora (4ª SF, T73, 2016): E tem toda a violência com a mulher apresentada
durante o filme. Quantas foram estupradas e usadas na invasão final? São muito
complexas todas as questões que esse filme pode trazer.
Luna (4ª SF, T74, 2016): Me deu um certo…a mesma reação que você, porque eu estava
bem no fundo e vi que alguns ironizavam né, tipo, vagabunda. Mas, ninguém se deu conta

152
que ela estava usando a última arma que ela tinha para parar de matar um milhão de
pessoas talvez, ela estava disposta, claro que depois, ela disse que não estava tão disposta
assim! Mas, no final das contas ela estava disposta a sacrificar o corpo em nome da vida
de outras pessoas, era essa a razão dela.
Sabrina (4ª SF, T75, 2016): Pode-se levantar pra debates com os alunos no momento do
filme essa questão de gênero, das diferenças de gênero.
Heitor (4ª SF, T76, 2016): A homofobia. O médico por ser gay, ele foi castrado,
crucificado, só por conta da orientação sexual, que lá é proibido. Acho que até hoje alguns
países da África é proibida a orientação sexual diferente.
Sara (4ª SF, T77, 2016): No seminário integrado, se é possível ou não, eu trabalho com
seminário integrado e até agora os dois projetos que desenvolvi na escola iniciaram com
filmes [...]. Então eu acho que esse filme, o jardineiro, sim, é possível utilizá-lo nos
seminários integrados e abordar assuntos que tem a ver com os alunos, e se torna até mais
fácil você fazer o trabalho do seminário a partir de um filme.
Sabrina (4ª SF, T78, 2016): Por que muitas vezes a partir de um filme, você consegue
abrir um caminho, uma sensibilização no aluno necessária para ti fazer depois a
abordagem sobre determinado tema que tu deseja apresentar.
Fonte: Degravação das sessões fílmicas, 2016.
A discussão sobre Saúde e o desenvolvimento de atividades pedagógicas vão ganhando
novas configurações, no discurso dos professores, ao extrapolarem a dimensão biológica do
processo saúde-doença e promoverem uma discussão que perpassa questões socioculturais
propostas nos eixos temáticos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que juntamente
com a Lei de Diretrizes e Bases - LDB n° 9.394/96, tornaram-se a principal referência para a
organização da educação formal no Brasil (BOMFIM et al. , 2013). Os PCN têm como objetivo
abordar, na escola, problemáticas sociais, a partir da transversalidade entre temas e áreas
curriculares, assim como em todo o convívio escolar (BRASIL, 1996). O documento propõe
que a área das Ciências da Natureza seja dividida em eixos temáticos, visando à perspectiva
interdisciplinar: Vida e Ambiente, Ser Humano e Saúde, Tecnologia e Sociedade, Terra e
Universo.
Contudo, desde 2017, o documento que norteia e serve de referência à educação
brasileira é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A BNCC na área das Ciências da
Natureza (CN) está organizada em quatro eixos formativos, a saber: 1- conhecimento
conceitual; 2- contextualização social, cultural e histórica dos conhecimentos das CN; 3-
processos e práticas de investigação em CN; 4 – linguagens usadas nas CN, divididas em três
unidades temáticas: Matéria e energia; Vida e evolução e Terra e Universo. Como a vigência
da BNCC é recente, ainda é comum a referência tanto na escola como nos dizeres dos

153
professores aos PCN, documento que vigorou e orientou a prática pedagógica dos professores
brasileiros por aproximadamente duas décadas.
Os turnos contidos no episódio 10 indicam pensamentos complementares entre os
professores sobre a necessidade de uma abordagem contextualizada e com enfoque em questões
sociais e próximas da realidade dos alunos ao abordar a Saúde. O filme como instrumento
mediador provocou-os a pensarem e externalizarem seus sentimentos e compreensões sobre
assuntos como: gênero e saúde, violência contra a mulher, discriminação social. Esses assuntos
são propostos nos Temas Transversais dos PCN da área das Ciências da Natureza, porém pouco
trabalhados no contexto escolar; e quando o são, é numa perspectiva biomédica de saúde.
Educar para a saúde parte da premissa de uma abordagem que contemple a saúde na perspectiva
de promoção e qualidade, correlacionando a saúde aos seus determinantes (condições de
moradia, renda, transporte, lazer, escolaridade, alimentação, acesso a bens e serviço de saúde)
para que dessa forma os sujeitos possam ter atitudes e práticas seguras quanto à saúde individual
e coletiva.
Outro aspecto importante do processo interativo (turnos: T70, T71, T72, T74 do
episódio 10) é como o filme aborda a questão de gênero e a indignação de Luna para com os
demais professores em formação acerca dos comentários “machistas” sobre o comportamento
da ativista Tessa, personagem interpretada por Rachel Weisz. “Mas, ninguém se deu conta que
ela estava usando a última arma que ela tinha para parar de matar um milhão de pessoas
talvez, ela estava disposta, [...]. Mas, no final das contas ela estava disposta a sacrificar o
corpo em nome da vida de outras pessoas, era essa a razão dela” (LUNA, 4ª SF, T74, 2016).
Luna se incomodou com os colegas que riram e fizeram os comentários, e desta forma se
posicionou abrindo margem para que todos refletissem sobre a questão da mulher. Luna faz a
partir de sua intervenção, com que o grupo pense sobre a coragem e a exposição da ativista na
sociedade, o filme, o uso do corpo (se necessário), porque muitos dos professores não tinham
pensado por essa ótica de “usar o próprio corpo para conseguir salvar outras vidas”.
Essa passagem me fez refletir sobre a importância de estarmos em uma formação
contínua e em um grupo formativo, pois é na interação com o outro que nos constituímos. Até
o momento dos nossos encontros não havia surgido a questão de gênero e saúde, da violência
contra a mulher e da opressão de populações menos favorecidas. Essas discussões poderiam ter
aparecido nos debates dos filmes “A vida de Louis Pasteur, O óleo de Lorenzo e O curandeiro
da Selva”, porque também estavam presentes nas histórias, mas, no Jardineiro fiel foi abordada
de outra forma tocando cada sujeito, fazendo emergir diferentes olhares e pontos de vista. Por

154
isso compartilho com Duarte (2009); Napolitano (2009, 2013); Scheid (2008): os filmes têm
um importante papel formativo na sala de aula.
À medida que o grupo está mais imerso no processo de assistir e debater os filmes,
novos sentidos e significados são dados a esse instrumento, que possibilitam outro pensar sobre
a prática pedagógica. As professoras supervisoras Sara e Sabrina, ao referirem que os filmes
estavam sendo utilizados nos projetos de ensino da escola (Seminário Integrado), apontam um
excelente meio para articular e iniciar a abordagem de determinados assuntos polêmicos, que
geram diferentes emoções e pontos de vista nos alunos. A partir dessas reflexões e dos diálogos
estabelecidos vou identificando transformações na forma dos professores em formação,
refletirem sobre Saúde, ES e utilização de filmes, na sala de aula. Concordo com Güllich (2013,
p. 187), quando afirma que “no grupo recriam-se as condições sociais da profissão docente pela
verbalização dos sentidos sociais que, ao estarem em disputa, são também (re)significados no
e pelo grupo”. Este episódio trouxe à tona situações formativas e olhares mais atentos para o
processo de ensino e saberes constitutivos para uma aprendizagem de cidadania pautada na
consciência e prática de direitos e deveres, na perspectiva do bem comum. Na próxima
categoria, serão abordadas as questões referentes a produção do conhecimento científico, a
visão de Ciência e a ética nas pesquisas científicas. Com base nesta categoria afirmo a tese que
os filmes comerciais possibilitam ao grupo formativo novos entendimentos e compreensões
sobre Saúde e ES, entre outros temas correlatos ao ensino das Ciências da Natureza.
iii- A produção do conhecimento científico e ética na pesquisa
Para que professores e estudantes compreendam a Ciência como uma produção humana
em constante transformação, impregnada de valores e mudanças sociais (SANTOS; LEITE,
2014), é importante que durante o processo formativo a abordagem desta temática seja mais
pontual, pois, no momento em que esses conhecimentos são tratados numa perspectiva histórica
e não linear, os alunos têm a possibilidade de compreender as condições sociais, históricas e
políticas que influenciaram o desenvolvimento da Ciência, e, em particular, da saúde, como
indica Scliar (2007). Assim, para contextualizar a emergência desta discussão no espaço
escolar, apresento o episódio (08), que trata da produção do conhecimento científico e da ética
nas pesquisas. Essas temáticas apareceram nas discussões realizadas em várias das sessões
fílmicas.
Episódio 11 – Reflexões sobre a produção do conhecimento científico e a ética nas pesquisas

155
Selma (2ª SF, T17, 2016): uma coisa que daria para chamar a atenção das crianças na
aula é para a maneira que os pesquisadores, os cientistas trabalham. Que não é tão fácil
assim, [...] como trabalha o cientista, como eles buscam. Eu acho bacana também, porque
eles não têm ideia lá no ensino fundamental né, como é que um cientista trabalha, como é
que eles fazem.
Lia (3ª SF, T11, 2016): os cientistas, eles competem, né! Dá para ver bem, que um não
queria, pois, quando vê que o outro poderia encontrar a cura e ter seu nome reconhecido,
então sei lá.
Luíza (3ª SF, T12, 2016): Mas eu acho que no simpósio eles falaram que iam publicar um
livro de receitas, eles não estavam preocupados com a cura, eles estavam preocupados em
manter aquele quadro que tinham que a pesquisa tinha chegado.[...] quando os pais
indagaram eles (médicos) falaram de tudo, então os médicos disseram que eles não tinham
comprovação científica, foram só contra, não é testado, não pode, é contra a ética...
Pesquisadora (3ª SF, T13, 2016): Pensando na questão de saúde e a questão ética
envolvida (interrupção pela intervenção de Letícia).
Letícia (3ª SF, T14, 2016): Ali, foi graças a um trabalho não ético que foi descoberta ou
encontrada uma forma de amenizar os sintomas (referindo-se aos sintomas da
adenoleucodistrofia).
Heitor (3ª SF, T15, 2016): Mas será que não é ético, né?
Pesquisadora (3ª SF, T16, 2016): Mas analisando a situação, qual grupo está sendo menos
ético?
Heitor (3ª SF, T17, 2016): Eu acrescentaria a pergunta [...] mas, porque não era ético?
Luíza (3ª SF, T18, 2016): Não é ético pela visão dos médicos, que tem que ter ah, liberações
ou autorizações.
Pesquisadora (3ª SF, T19, 2016): Ah, tá, do ponto de vista do protocolo de pesquisa.
Luíza (3ª SF, T20, 2016): É porque os médicos foram contra né, falaram que não poderiam
estar distribuindo o óleo para aquele menino que tinha adenoleucodistrofia,[...] então pelo
ponto de vista daquela sociedade, né.
Fonte: Degravação das sessões fílmicas, 2016.
A participação dos professores no grupo colaborativo possibilitou novos entendimentos
e reflexões sobre diferentes temas, como: as finalidades da Ciência, os estereótipos de cientistas,
a ética na pesquisa científica, o direito à vida e à morte, em decorrência da diversidade de
pensamentos em movimento. A partir dos diálogos estabelecidos, observei na fala da
supervisora Sara dois momentos de um entendimento mais ampliado quanto às interações da
natureza da ciência, da ética na pesquisa e da saúde. Esses fragmentos do processo são
evidenciados nos excertos retirados das transcrições da primeira e da terceira sessão fílmica:
Episódio 12 – A não neutralidade da Ciência
Sara (1ª SF, T13, 2016): [...] o que me chamou muito a atenção no filme era a fala dele
quando se referia à humanidade (referindo-se ao químico Louis Pasteur), ele tá fazendo
pesquisa, ele está trabalhando, esse não era para ele levar os “louros”, era para ajudar a
humanidade. E quando outro cara lá diz: tu tá perdendo dinheiro, vai pagar para fazer a
vacina da ovelha, mas é de graça, não tem que pagar nada! Passando para os dias atuais.
[...] Como são os laboratórios hoje? Às vezes ficamos nos perguntando, tanto dinheiro,

156
tanta coisa, tanta pesquisa, e as vezes não se têm o resultado que se espera, uma vacina,
porque será que ainda não descobriram? Ou, é porque não se conseguiu vender o
suficientemente para valer a pena todo o gasto que já foi investido na pesquisa. Eu não
sei às vezes eu fico, converso um pouquinho com os alunos a respeito dessa questão
econômica, o que são os grandes, ah... farmácias, os grandes laboratórios, tem textos aí
que você fica pensando, meu Deus, e onde fica o ser humano, onde nós estamos? Tudo
virou comércio.
Sara (3ª SF, T2, 2016): [...] no decorrer do filme, doenças, comércio aonde a doença pode
favorecer um comércio a produção de medicamento vai render alguma coisa, ou até
prestígio, então, isso nós vamos pesquisar, nós iremos tentar descobrir [...]. A doença
relacionada com o comércio de medicamento (a discussão é referente às questões
apresentadas pelo filme o Óleo de Lorenzo).
Fonte: Degravação das sessões fílmicas, 2016.
No próximo episódio, identifico o debate sobre a produção do conhecimento científico
e a ética nas pesquisas que conduz o grupo ao processo de investigação dos pais de Lorenzo, a
fim de compreender a doença do menino e buscar uma provável cura. O Episódio 10 trata do
diálogo sobre a postura do pesquisador e o valor do conhecimento.
Episódio 13 – O pesquisador, o valor do conhecimento e o financiamento das pesquisas científicas
Pesquisadora (3ª SF, T44, 2016): Qual foi o impacto da participação dos Odone na
associação de pais dos portadores de adenoleucodistrofia?
Lídia (3ª SF, T45, 2016): Os Odone eram uma ameaça à associação, por que na verdade
eles queriam sugerir novas pesquisas.
Sara (3ª SF, T46, 2016): Eu acho que a família desestabilizava esse grupo,
desestabilizavam no momento que começavam a fazer questionamentos sobre as dietas, o
acompanhamento dos médicos. Então, no momento que eles começaram a questionar os
resultados, isso desestabilizou a associação, e eles foram atrás, foram pesquisar, eles
foram né, aí eles já estavam tendo mais conhecimento que o próprio médico.
Selma (3ª SF, T47, 2016): Viraram cientistas.
Lena (3ª SF, T51, 2016): É justamente, eles já estavam na associação, e não tinham
resultados, eu acho que isso também fez com que eles buscassem que eles fossem estudar,
fossem aprender, elaborar, formar hipóteses para tentar achar uma solução.
Sara (3ª SF, T52, 2016): […] Eles tinham que encontrar uma resposta logo, para salvar o
filho, eles não tinham tempo.
Luíza (3ª SF, T53, 2016): E nem interesse econômico, eles queriam achar a cura,[...] eles
não queriam fama, eles queriam achar apenas a cura para o filho deles, e também evitar
que os filhos dos outros morressem.
Pesquisadora (3ª SF, T54, 2016): E como eles realizaram a pesquisa.
Luíza (3ª SF, T55, 2016): Por conta própria.
Pesquisadora (3ª SF, T56, 2016): Mas, como eles conduziam essa pesquisa?
Luíza (3ª SF, T57, 2016): Acho que eles partiram do pressuposto que era...
Sara (3ª SF, T58, 2016): Biblioteca, leitura.
Selma (3ª SF, T59, 2016): Artigos relacionados.

157
Sara (3ª SF, T60, 2016): Faziam almoços, eventos com pessoas, que tinham algum
conhecimento ou alguma pesquisa ligada a área.
Letícia (3ª SF, T61, 2016): Mesmo que um conhecimento errôneo. [...] Mesmo que não
eram artigos, ou pessoas que tivessem o conhecimento pronto, eles pegavam a partir do
trabalho dos outros, eles foram achando o caminho.
Lia (3ª SF, T66, 2016): Eles não tinham aquele egoísmo de querer descobrir sozinho,
eles usavam o trabalho dos outros para contribuir, porque às vezes o cientista acaba por
ser egoísta, [...] não olhando para o lado, que o trabalho do colega pode ajudar.
Heitor (3ª SF, T67, 2016): Eu acho que tem outro ponto nesse caminho que a gente está
discutindo, que a ciência também se faz por pessoas da comunidade geral, eu acho que
isso é uma coisa que o filme apresenta. [...] como ele era alguém externo à ciência,
digamos, fechada da época, ele trouxe aquela história da ruptura né, ele rompe com o que
está posto, ele aplica outros procedimentos, inclusive alguns controversos.[...] A gente
não pode esquecer do grande segredo, que ele morou dentro de uma biblioteca durante
muitos anos, para chegar nesta ideia.[...] uma coisa que a gente poderia pensar é como
discutir hoje em sala de aula esse filme. [...] eu já levei esse filme para discutir bioquímica
celular, nem sempre era genética. [...] para discutir com eles (alunos), inclusive o papel
da ciência, que a ciência não é só feita dentro de laboratórios, [...] não é bem assim que é
feita a ciência [...]. Que outros contrapontos colocaríamos com o dia de hoje? Não existem
outras adenoleucodistrofias acontecendo aqui? Ah, não sei se são outras doenças
genéticas, pode ser outras doenças, qual é o hoje o grito da comunidade?
Sabrina (3ª SF, T68, 2016): Gripe, Zica vírus, o Zica vírus que inclusive afeta a bainha de
mielina também, né.
Fonte: Degravação das sessões fílmicas, 2016.
Os Episódios 10, 11 e 13, apresentam uma importante reflexão desencadeada por dois
filmes: “A vida de Louis Pasteur” e “O Óleo de Lorenzo”. Ao pensarem sobre quais caminhos
são trilhados pela comunidade científica, os professores no debate colaborativo avançaram no
processo de reflexão e questionamento dos estereótipos sobre Ciência e cientistas, que circulam
no meio escolar e acadêmico. Ao trazerem temas, como: a postura ética de alguns profissionais,
a não neutralidade da Ciência, os interesses das pesquisas, a manipulação de agências
financiadoras, o papel do conhecimento científico para a sociedade, os envolvidos na discussão
ampliam o entendimento sobre a Ciência e a natureza do conhecimento. Tal discussão é pouco
frequente no espaço escolar (MATTHEWS, 1994; SANTOS; SCHEID, 2014), em decorrência
de certa ausência da Epistemologia, História e Filosofia da Ciência, na grade curricular dos
cursos de formação de professores, além dos estereótipos nos livros didáticos da figura dos
cientistas e dos elementos históricos e filosóficos do conhecimento.
Quando Heitor expressa que a Ciência também pode ser feita por pessoas da
comunidade e que o pai de Lorenzo frequentou por muitos anos uma biblioteca para
compreender a causa da doença de seu filho, esse comentário possibilitou aos professores em
formação refletirem que a Ciência é uma produção humana. Nesse sentido, é importante
considerar que Augusto Odone era um economista do Banco Mundial e sua esposa tinha curso

158
superior, o que lhes garantia boa bagagem científica para encontrar a biblioteca e buscar as
informações e entendimentos sobre as causas da adenoleucodistrofia.
Perceber essa compreensão, a partir da “leitura de um filme”, permite afirmar que esse
instrumento é fundamental nos processos de ensino e aprendizagem, posto que mobiliza os
sujeitos à reflexão e questionamento de diversos temas apresentados pelas narrativas fílmicas.
Nesse sentido, a discussão dos dois filmes possibilitou aos professores em formação identificar
que a “ciência não é um segmento isolado de outros, mas faz parte de um desenvolvimento
histórico, de uma cultura, de um mundo humano, sofrendo influências e influenciando, por sua
vez, muitos aspectos da sociedade” (SANTOS; SCHEID, 2014, p. 24). Essa relação é percebida
quando os professores levantam questões sobre o que é ético e sob que ponto de vista? Que
valores e interesses movem a Ciência? Assim, com o estabelecimento de relações com o
cotidiano, quando Heitor questiona o grupo sobre outras doenças que preocupam a comunidade,
hoje? Sabrina faz a correlação e cita as doenças virais, expressando que elas causam enormes
mobilizações da comunidade científica e civil para controlar a propagação e entender como é o
mecanismo de funcionamento e infecção delas. Trata-se de um problema real e emergente, que
tem sérios impactos à saúde individual, coletiva e ao ambiente.
Outro elemento a considerar é a observação de Selma sobre discutir com os alunos do
Ensino Fundamental como os cientistas trabalham, desenvolvem suas pesquisas, pois para a
população em geral essa parece uma atividade distante, sempre desenvolvida em laboratórios.
Ao proporcionar essa aprendizagem, não só sobre os cientistas, mas de ordem epistemológica,
o professor provoca os alunos a outras compreensões pelo questionamento das relações de
poder entre a ciência e a sociedade. Acredito que esse seja um dos primeiros passos para
contribuirmos com um ensino que torne os alunos sujeitos alfabetizados cientificamente,
capazes de utilizar o conhecimento apreendido na escola para tomar decisões e “assumirmos
com consciência nossa parcela de responsabilidade pelo presente e futuro das novas gerações”
(CHAVES, 2013, p. 55).
Contudo, importa destacar que essa discussão não emergiu só por conta dos filmes
apresentados com o grupo formativo, mas também porque, ao longo desses cinco anos como
professora formadora na Universidade, venho propondo, a partir do componente curricular
Epistemologia no Ensino de Ciências e nas palestras ministradas nos Ciclos formativos, outro
olhar para a Ciência. Um olhar que possibilite a ruptura do conhecimento científico
fragmentado e linear como verdade inquestionável, neutra, desvinculada de um contexto
histórico e social.

159
Olhando para o grupo constituído, destaco que as interações produzidas neste processo
têm proporcionado momentos de diálogos formativos, que rompem com algo linear, pois cada
cena fílmica pode proporcionar um leque de debates e impressões, que direcionam o processo
formativo, para vislumbrar novas ideias decorrentes das múltiplas realidades socioculturais que
perfazem o grupo. As produções realizadas neste processo formativo puderam ser analisadas
com as construções teóricas de Vigotski (2008), mostrando que o desenvolvimento do
pensamento não acontece no sentido do pensamento individual para o socializado, mas do
pensamento socializado para o individual.
As três categorias, que compõem este capítulo, apresentam a evolução da significação
de conceitos em Saúde e Educação em Saúde do grupo de professores que participaram do
processo formativo. À medida que as interações e discussões foram avançando, o grupo pôde
compreender que conhecimentos em Saúde são um patrimônio cultural ao qual devem ter
acesso as novas gerações de forma sistemática e intencional, o que acontece na Escola. A
complexidade cultural nesta área é tão grande que não bastam práticas e recomendações do
cotidiano para a formação hoje necessária, desta forma, é importante repensarmos a maneira
como ensinamos e educamos para a saúde no espaço escolar.
Há de se enfatizar que no decorrer do processo, como é evidenciado nas três categorias,
os professores foram analisando e refletindo sobre sua docência, ressignificando e tomando
consciência de seus conhecimentos sobre Saúde e ES e sua prática pedagógica a partir da
mediação da pesquisadora e do instrumento pedagógico filme. As marcas deste processo
vivenciado são a mediação, a reflexão, a interação e a constituição pelo outro, fatores que
potencializaram e contribuíram com o desenvolvimento profissional da tríade formativa.

160
5 A CONSTITUIÇÃO DA DOCÊNCIA E SEUS IDEÁRIOS: CAMINHOS E
DESCAMINHOS DAS ÀGUAS, NA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE,
MEDIADA PELOS FILMES COMERCIAIS
A análise do processo formativo, constituída a partir do material empírico coletado:
respostas dos questionários, sessões fílmicas, registros de diários de bordo e grupo focal, foi
analisada no capítulo 4.
Neste capítulo, serão propostas reflexões e entendimentos do processo vivenciado com
os professores em formação inicial e continuada, buscando identificar a contribuição dos filmes
comerciais para aprofundar as compreensões de Saúde e Educação em Saúde, em contextos
formativos. Para tanto, apresentarei uma proposição de aprofundamento no campo da
compreensão conceitual acerca da constituição da docência e seus ideários.
Ao investigar os questionamentos iniciais desta pesquisa, percebi desde as leituras
realizadas, no diálogo com a minha experiência e a dos demais professores, que precisamos
estar inseridos em grupos colaborativos, trabalhar com pares para dividir angústias, pensar em
nossa prática e constituir apoio em diversos momentos a fim de qualificarmos o trabalho em
sala de aula. Ao longo da carreira surgem preocupações específicas, relacionadas às novas
demandas do ensino e de conhecimentos de professores.
Este estudo mostra que a participação no grupo proporcionou aos professores
envolvidos um espaço e tempo para discutir várias temáticas referentes à professoralidade, e
refletir sobre a prática em relação ao desenvolvimento da temática saúde em sala de aula. E,
principalmente, a compreensão inicial do pouco ou nenhum conhecimento das abordagens de
saúde (biomédico, comportamental, biopsicossocial, ecossistêmico) que os professores
envolvidos tinham. No início do processo de investigação, os professores em formação
(licenciandos e supervisores) compreendiam a saúde, apenas como ações preventivas, com
ênfase em saberes tecnocientíficos, como evidenciado nos episódios 01, 02 e 03.
Assim, ao estarmos inseridos neste grupo, e eu sou uma integrante, que foi se
constituindo com seus pares, nos diálogos e reflexões estabelecidas, pois ao compreender a
docência como um rio formativo, com suas águas ora tranquilas, ora agitadas, ricas em vida e
com inúmeros afluentes, fui identificando, nas falas dos professores que a profissão docente é
complexa e conflituosa. Nela estão envolvidas as relações de teoria e prática, as relações aluno
e professor, e a relação entre a escola e a universidade, os conhecimentos/saberes de professor,

161
como cita Tardif (2002), e os conhecimentos pedagógicos de conteúdos, como sinaliza Shulman
(1987, 2005) e seus seguidores.
Estar em grupo colaborativo é essencial, como indicam os professores participantes
desta pesquisa, por ser um espaço em que podemos debater e pensar a partir dos discursos e
situações que o(s) outro(s) apresenta(m) das suas vivências de sala de aula. Situação enfatizada
pela professora Selma (episódio 09, p.147) que mesmo em vias de se aposentar está sempre
aprendendo, ou de Lena (no mesmo episódio 09, p.148) quando expressa que o grupo é um
local onde se pode sentar, conversar com calma, um espaço de aprendizagem e é ao mesmo
tempo acolhedor. A partir destas falas, afirmo que os professores precisam destes espaços/
tempo, assim como participar de grupos de pesquisa e formações continuadas para refletir,
(re)planejar sua prática pedagógica e sua atuação em sala de aula.
A colaboração e o auxílio mútuo de outros colegas possibilitam esse movimento
reflexivo, que visa diminuir o isolamento profissional e aumentar a colaboração pelo
encaminhamento das ações. E, nesse sentido, que entendo com Vigotski (2008) que a
aprendizagem ocorre mediada pela interação com o outro, a partir da linguagem, e neste
processo é possível reconhecer possibilidade de transformações das práticas docentes, ao passo
que os professores vislumbram novas formas de pensar o conhecimento. Pois, estar em grupo
possibilita a nós, professores, assumirmos uma postura reflexiva, indagadora e criativa, além
de nos sentirmos valorizados, respeitados e sujeitos com autonomia de produzir novos
conhecimentos.
Ao escolher constituir o grupo, identifiquei a necessidade da ação de reflexão coletiva,
assim como o desenvolvimento do trabalho colaborativo entre professores. Compreendo que o
processo precisa ser sempre incentivado e retroalimentado, assim como as águas de um rio.
Estas recebem diariamente novos nutrientes, os professores devem sentir a necessidade de estar
entre pares, discutindo e pensando o seu fazer. Porém, até tomarem posse desta ação prática, o
apoio dos professores mais experientes é essencial. Aqui compreendo o papel da universidade,
ou seja, dos professores formadores como companheiros de jornada, que estão ali para
contribuir com o processo, não para dizer a eles o que deve ou não ser feito. Precisamos estar
com e entre os professores da escola, para contribuirmos na reflexão sobre as práticas
pedagógicas, e no caso desta investigação, de uma compreensão ampliada de saúde e do que de
fato significa educar em saúde.
Em diferentes momentos dos encontros e também a partir das questões dos questionários
aplicados, os professores demonstraram pouco conhecimento acerca de saúde numa perspectiva

162
biopsicossocial ou mesmo ecossistêmica, as quais relacionam a saúde a questões de ordem
social, econômica, cultural, política e ambiental. Ao serem indagados como apresentavam os
conteúdos correlatos à saúde, estes mencionavam que o faziam a partir da doença, formas de
prevenir e tratamento, com ênfase em questões alimentares, de cuidados com a higiene pessoal,
os malefícios do uso do álcool e das drogas, orientação em relação à prevenção da gravidez e
as infecções sexualmente transmissíveis. Mas, todas as vezes que os professores eram
incentivados a falar sobre o que entendiam de Educação em Saúde, muitos indicavam algumas
coisas como cuidado, porém, logo, desviavam o foco da questão, apresentando outras
discussões. Sobre esta situação, a partir das respostas dos professores identifico que eles ainda
não têm um conhecimento de Educação em Saúde ampliado que contempla fatores como os
sociais, ambientais, culturais, emocionais, entre outros.
A ausência de conhecimentos e argumentos dos professores sobre o assunto, só reforça
a falta de domínio conceitual do que é saúde e ES, que tem como finalidade a promoção da
saúde e a qualidade de vida dos sujeitos em sociedade e no meio. Aponto que este conhecimento
é de ordem maior, pois está relacionada ao processo de formação inicial e continuada destes
professores. Este é um problema a ser atacado na sua origem. Para tanto, é fundamental
formarmos os professores e os demais sujeitos, neste campo de Educação em Saúde, de maneira
a empoderá-los para tomada de atitudes referentes a sua saúde e também do coletivo.
Durante a graduação, são ensinados muitos conteúdos das áreas específicas e de
didática. No entanto, observa-se uma pequena preocupação dos formadores em relação ao modo
desses futuros professores se apropriarem e ministrarem esses conteúdos, nas salas de aula da
Educação Básica para que os alunos compreendam esses conhecimentos e os relacionem com
seu contexto. Contudo, para mudar este tipo de ensino deslocado da realidade e focado na
abordagem biomédica ou comportamental, é essencial que os formadores revejam suas práticas
e o modo como estão abordando a saúde, nos cursos de graduação, para que os professores da
Educação Básica tenham outro entendimento de saúde. E, compreendam o que seja educar em
saúde e como ensinar este conhecimento de forma que as práticas pedagógicas partam do
conceito central de saúde numa perspectiva ampliada, buscando estabelecer relações
interdisciplinares com os demais conhecimentos, que perfazem o ensino, a fim de estruturar o
conteúdo de maneira não mais linear.
Nesta situação, destaco a experiência vivenciada durante o período do Estágio
Sanduíche realizado na Universidade do Minho, Braga – Portugal, no ano de 2017. Nos meses

163
em que lá estive, participei da culminância de um projeto educativo39 sobre saúde de uma escola
portuguesa, em que os alunos juntamente com seus professores definiram os temas referentes à
saúde para pesquisar, assim como os encaminhamentos dos trabalhos durante o ano letivo.
Neste dia, assisti às apresentações que tratavam de temas como bullying na escola, uso de
drogas, depressão, preconceito, além do assunto exclusão e inclusão de pessoas refugiadas. Pela
dimensão dos temas selecionados pelos estudantes, percebe-se que a compreensão de saúde
apresentada por eles perpassa pelas questões relacionadas ao físico, ao psíquico e às relações
sociais, que o sujeito estabelece com o meio.
Neste período de estágio, também tive a oportunidade de entrevistar três professores
formadores do Instituto de Educação que trabalham com questões de saúde e quatro professores
da área de ciências e/ou biologia do segundo e terceiro ciclos e do secundário40. Nas entrevistas
com os professores do ensino básico, o que mais chamou a atenção é a compreensão deles de
saúde, a partir de uma abordagem ecossistêmica. Em nenhum momento do diálogo, foi
mencionado por eles o conceito biomédico, e por várias vezes, destacaram o trabalho de
formação que tinham nesta área com os professores da Uminho. Tal entendimento reflete nas
práticas pedagógicas destes professores e nas temáticas dos projetos educativos em saúde que
os alunos escolheram.
Como já citado no capítulo 1 desta tese, Portugal integra a Rede Europeia de Escolas
Promotoras de Saúde (REEPS), desde 1994. As REEPS objetivam incluir a Educação para a
Saúde (EpS) e atividades de saúde escolar, no currículo. Referente a esta questão, o contexto
brasileiro é bem diferente, pois não há formações continuadas sobre este assunto, nem
obrigatoriedade de trabalhar tais temas no ensino, há uma orientação que nem sempre é atendida
(BRASIL, 1997). Sobre este ponto, compreendo que o entendimento de saúde pelo viés
biomédico é uma questão histórica da escola, decorrente de uma formação linear e fragmentada,
e, como cita Maldaner (2016)41, mudar uma cultura exige nova compreensão dos professores.
39 A partir do Decreto-Lei n° 6/2001, é enunciado que a área da Educação para a Saúde se enquadre nos princípios
e prioridades definidos nos Projeto Educativos de Escola, nos Projetos Curriculares de Escola e nos Projetos
Curriculares de Turma. Nesse âmbito, devem ser incluídas as seguintes temáticas nos Projetos Educativos da
Escola: alimentação e atividade física; consumo de substâncias psicoativas; sexualidade; infecções sexualmente
transmissíveis/VIH-SIDA e violência no meio escolar.
40 Em Portugal, o segundo ciclo compreende o 5° e 6° anos e o terceiro ciclo o 7°, 8° e o 9° anos do
Ensino Fundamental brasileiro, e o ensino secundário corresponde ao nosso Ensino Médio.
41 Explicação proferida durante uma aula da Pós-Graduação do Doutorado em Educação nas Ciências.

164
Desta forma, ao provocar a reflexão sobre os conhecimentos e as práticas de saúde dos
participantes da pesquisa, por meio dos filmes, percebi no início da investigação as limitações
e o pouco conhecimento deles, assim como a recorrência de outros assuntos durante os diálogos.
Num primeiro momento, fiquei assustada e com receio de que os filmes não possibilitassem
novos entendimentos nem a necessidade de aprofundamento da compreensão ecossistêmica de
saúde do grupo. A realização das sessões fílmicas demonstrou que os filmes comerciais
apresentam de forma superficial as questões de saúde, e eles por si só não educam para saúde,
mas proporcionaram ao grupo o levantamento da problemática, de maneira que os professores
em colaboração pensassem neste conhecimento como necessário à sua prática pedagógica. Ao
questionarem as necessidades conceituais que tinham e que precisavam entender o conceito de
Saúde de forma ampliada e como se educa sobre a questão para a saúde, conseguiram refletir.
A partir da análise do processo vivenciado, percebi que no grupo formativo ocorreram
de forma lenta e gradual novas compreensões do conceito de saúde provocadas pelos filmes,
que aguçaram o olhar dos participantes. E é partir deste sentido que identifiquei, nos filmes, um
instrumento com capacidade de mobilização das funções superiores dos sujeitos participantes
da investigação. O processo de mediação e interação entre os pares promoveu a tomada de
consciência dos professores e a necessidade de ampliar o seu entendimento de saúde. A
discussão no coletivo e a intervenção do outro foram fundamentais para que os sujeitos
aprendessem um novo conceito num nível de maior generalidade, que contempla as questões
ambientais, culturais, de conhecimentos e valores dos sujeitos. A ES não se resume a prover
informações “corretas” aos alunos, mas em problematizar os conceitos e significados atribuídos
por eles na sua família e comunidade com as explicações científicas existentes e as novas.
Ao analisar o processo, identifiquei que os professores foram tomando consciência de
que os seus conhecimentos pedagógicos de saúde e as práticas desenvolvidas ainda estavam
calcadas na visão biomédica tradicional, que remonta às abordagens cristalizadas na disciplina
de Programas de Saúde, ofertada na educação básica. Como indicam Monteiro e Bizzo (2015),
a saúde adentra na escola para regulamentar e reger algumas ações, a partir de duas grandes
vertentes. A primeira vertente, referente aos serviços de saúde escolar, tinha como objetivo
melhorar as condições sanitárias da sociedade daquela época, visto que a escola, naquele dado
momento, era um lugar privilegiado para ações de saúde. A segunda vertente ocorre pela
incorporação dos conteúdos de saúde no currículo escolar, com finalidade de estimular o
conhecimento e a prática da saúde básica e da higiene, a fim de estimular e guiar o
desenvolvimento físico e mental da criança e estabelecer nela sólidos hábitos de saúde. Os

165
questionamentos atuais, que consideram outros aspectos da saúde dos sujeitos, na sua
complexidade conceitual, eram ignorados pela maioria dos participantes.
A partir da 3ª e 4ª sessões fílmicas, indícios de novas compreensões relacionadas à saúde
(eutanásia, envelhecimento, qualidade de vida e cuidado de si) foram emergindo, com a
mediação e interações proporcionadas no processo desencadeado. Neste sentido, houve a
revisão, análise, (re)construção e (re)significação da compreensão de saúde por parte dos
professores em formação inicial e continuada, o que é evidenciado no episódio 14, construído
com as falas dos professores, no grupo focal. Alguns aspectos vivenciados no processo de
reflexão compartilhada são evidenciados e corroboram esta afirmativa.
Episódio 14 – Saúde: não pensamos na complexidade do indivíduo, há várias questões
interligadas
Pesquisadora (GF, T.02, 2016): como os encontros formativos que tivemos durante esses
meses, contribuíram para que ampliássemos nosso entendimento sobre a temática da saúde e
da educação em saúde?
Sara (GF, T.03, 2016): [...] alguns dos filmes eu já tinha visto e passado para meus alunos,
mas, não nesse enfoque de saúde... sempre foi assim, fui pensando o que mais o filme tem de
conteúdo de biologia, então não havia a discussão com os alunos depois de assistir o filme,
depois eu mesma dizia, ôh pessoal no filme apareceu isso...isso do que estamos estudando,
[...] participando dos encontros aqui, algo se abriu para mim, essa questão da visão, como
o pessoal entendia a saúde...naquela época, naquele contexto, como é hoje, eu realmente não
fazia a ponte do conhecimento do passado com o de hoje, isso para mim foi uma coisa muito
importante. [...] (GF, T.07, 2016): também foi uma das coisas, assim que é que tu não dá
muita ênfase né, a história da saúde. [...] (GF, T.12, 2016): [...] no seminário integrado esse
ano a gente baseou parte dos projetos a partir de filmes, foi pensado uma série de atividades
[...] aquele filme que assistimos aqui, o Jardineiro Fiel, a menina que estava estagiando fez
um leque de coisas, da questão das empresas, como são produzidos os medicamentos, [...]
sabe não foi só assistir o filme, ah o filme foi bom, sei lá, foi além, se não tivéssemos
participado desse trabalho, dessa discussão, eu acho que não teria acontecido esse trabalho
no seminário né.
Pesquisadora (GF, T.16, 2016): então nossas discussões contribuíram para ampliar um
pouco o entendimento que tínhamos de saúde [...].
Sara (GF, T.22, 2016): outra coisa, os filmes, que foram escolhidos, permitiram ver essas
visões de que não eram só a parte conteudista né ( referindo-se ao tema saúde), que ela é mais
ampla, que eu não vou assistir um filme para saber como é uma doença, não, é uma coisa
muito mais ampla. [...] (GF, T.24, 2016): os encontros proporcionaram isso para nós. [...]
(GF, T.28, 2016): no filme óleo de Lorenzo, antes de eu trabalhar com vocês aqui, eu focava
ele nos problemas de genética, mas depois que discutimos, percebi que não era só a doença
genética, foi tudo, foi um monte de coisas, pesquisa, busca de conhecimento para
compreender as coisas, tratamento, relações familiares.
Selma (GF, T.146, 2016): é um instrumento que possibilita diversos olhares, olha aquela
questão do Lorenzo, quando a mãe trouxe o amigo africano, ela não queria tratar só o físico,
ela queria tratar o psicológico dele, ela tinha esperança que ele compreendia, que ele não era
um vegetal, por isso contava histórias para ele, e percebeu que ele também não queria mais
historinhas de criança, ele queria outras histórias, e também por isso que ela não aceitava
qualquer enfermeira, [...] quando vemos todas essas abordagens, a gente pensa na
complexidade do indivíduo né, tem várias questões interligadas.

166
Degravação do grupo focal, 2016.
As professoras, durante as discussões no grupo, foram apresentando seus entendimentos
ampliados de saúde, cabe ressaltar o papel que teve o instrumento filme como desencadeador
destas reflexões. Os professores destacam em vários momentos do processo, o papel da
pesquisadora ao trazer os filmes, ao propor discussões e questionamentos sobre suas
compreensões e práticas pedagógicas, bem como o desafio de planejar uma das sessões.
Esse movimento reflexivo permitiu a tomada de consciência pelas professoras
supervisoras, desde os questionamentos intencionais e deliberados, assim, quando Sara (GF, T.
03, 2016) fala que não fazia a relação do conhecimento de saúde do passado com o presente,
ela toma ciência da necessidade de apresentar aos alunos um conhecimento contextualizado
para que eles possam entender a trajetória da saúde humana, ao longo dos tempos. Nesse
momento, ela reflete sobre o seu papel na mediação do conhecimento científico, no contexto
escolar. Esse processo de tomada de consciência de Sara implica alteridade do sujeito consigo
mesmo, a partir da palavra, e, como apresenta Vigotski, “o significado das palavras é um
fenômeno de pensamento apenas na medida em que o pensamento ganha corpo por meio da
fala, e só é um fenômeno da fala na medida em que esta é ligada ao pensamento, sendo
iluminada por ele” (2008, p. 151).
Além do mais, as discussões no coletivo proporcionaram a Sara perceber que sua prática
docente com os filmes estava centralizada nela, professora, que seus alunos não tinham voz ou
vez. A participação no projeto permitiu que ela e a professora estagiária de Biologia
elaborassem um projeto com filmes, para debater com os alunos do Ensino Médio temas
referentes à saúde e às implicações da ciência na sociedade. Essa mudança de postura decorreu
da discussão e das atividades no grupo, que influenciaram o planejamento e o desenvolvimento
da prática pedagógica da professora.
No diálogo ocorrido no grupo focal, destaco três passagens que permitem apontar os
indícios de ampliação conceitual dos conceitos de Saúde e Educação em Saúde pelas
professoras supervisoras Sara e Sabrina.
Sara (GF, T.158, 2016): [...] surgem essas oportunidades de discutir, o que poderia ter
sido feito pra prevenir essa doença, [...] minha mãe é diabética, e é em decorrência do
erro alimentar, o meu outro irmão está quase lá, ele teve que tomar uma decisão
drástica em relação a sua saúde [...]. Pensando esses filmes, e a sala de aula, como
eles (referência ao enredo fílmico) como estão resolvendo, como a família está
resolvendo? Será que não dá para fazer alguma coisa parecida com a minha família?
Acho que o filme te proporciona isso, casos parecidos. [...] Falta essa questão de
prevenção, né, ensinamos tanto, tanto, mas tem todo esse processo de prevenção, para

167
promover a melhor qualidade de vida. [...] (GF, T.165, 2016): essa questão da
prevenção tem aquele filme Tá Chovendo Hambúrguer, dá para pensar usar ele para
abordar a questão da obesidade, dos hábitos alimentares, [...] nós professores temos
que ver a questão da saúde, por exemplo, a questão da obesidade, é uma doença, mas,
como evitar, prevenir esse é o caminho, para pensar na qualidade de vida.
Na fala de Sara, evidencia-se a preocupação com os (des)caminhos como a escola trata
da prevenção e da promoção da saúde. Ela enfatiza que os professores ainda estão muito
preocupados em vencer os conteúdos, e se esquecem de trabalhar com questões importantes
para promover uma melhor qualidade de vida dos alunos. Na atualidade, há incremento do
número de crianças e jovens com problemas de diabetes e obesidade, em decorrência de
alimentação inadequada, rica em carboidratos, lipídios e doces. Estudos (BRAGA et al., 2017)
apontam que a obesidade e a diabetes são dois problemas sérios de saúde pública, e um
importante fator de risco para que doenças crônicas se fixem precocemente nos indivíduos.
Nesse sentido, Sara provoca outras reflexões ao indicar a necessidade de (re)pensarmos
nossas práticas pedagógicas e conhecimentos de saúde para propiciar aos alunos um ensino que
lhes permita entender a importância da prevenção e da promoção da saúde. Wenzel (2014,
p.138) aponta que “é preciso ampliar a mediação em sala de aula, e, ainda, que o estudante
precisa estar envolvido no processo”, para que desta forma ele perceba suas limitações
conceituais e tome consciência delas, e neste processo compreenda que educação em saúde tem
como objetivo a qualidade de vida dos sujeitos.
Sabrina, no grupo focal, aponta para outro tema importante que emerge nos contextos
de sala de aula, relacionado ao adoecimento de um membro da família, e como esse processo
afeta a saúde e a qualidade de vida de todos os sujeitos envolvidos diretamente com a questão.
Sabrina (GF, T. 160, 2016): “ah, como é difícil né, tratamento diário, toda a família
envolvida, dormem mal, assim, muitas vezes tem determinadas doenças, de doentes
terminais, a família não tem um cuidador específico, a família toda se envolve. Às vezes
em virtude das condições que essa pessoa se encontra e dos cuidados que demanda, a
família toda entra num processo de adoecimento, porque acaba dormindo mal, se
alimentando mal, afeta o próprio psicológico. O stress que é tratar de um doente
terminal em casa, também vai surgindo doenças associadas pra toda a família né. Ah,
e as crianças, muitas vezes, vão mal, na escola, porque a mãe não está tendo tempo de
dar atenção para elas, então, é uma coisa que é uma vivência deles, e aí eles querem
colocar a ansiedade que eles tem, o problema que eles estão vivenciando, muitas vezes
a única fuga que eles tem é a sala de aula , o professor”.
Sabrina apresenta a complexa relação do conceito de saúde com outros condicionantes,
sem relacioná-la somente aos sintomas de uma doença. Ela evidencia a compreensão ampliada
do conceito, pois, ao dizer que quando um familiar é acometido por uma doença grave, toda a

168
família ao longo do processo adoece, em decorrência do somatório de determinantes como falta
de tempo, estresse, pressão psicológica, alimentação inadequada, e que esses fatores também
podem influenciar e afetar o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos. Aponto para o
significativo avanço na compreensão e apropriação do conceito de saúde pela professora,
possibilitado pela via reflexiva e colaborativa do grupo e a ação mediadora do signo (filme),
que propiciou o desenvolvimento de conceitos despercebidos pelos professores.
Ao debater essas e outras questões de saúde, indago ao grupo sobre como promover um
saber docente mais comprometido com o desafio de educar em saúde no contexto sociocultural
da escola e da comunidade. Diante deste questionamento, os professores destacaram que um
caminho é a formação continuada para o desenvolvimento de uma cultura profissional; a
elaboração de projetos educativos com parcerias de outros professores e profissionais da saúde.
Sobre esta situação, Sara aponta para uma questão importante do processo formativo, a pro-
atividade, o desejo de querer fazer “eu vejo assim, que nós professores, nós temos que em
primeiro lugar querer fazer”(SARA, GF, T. 193, 2016), o que talvez seja para alguns
profissionais da educação um limitador na busca da formação continuada, de refletir e reavaliar
sua prática. Fazer diferença e diferente requer desacomodar, estudar, (re)planejar e movimentar-
se em busca de novos horizontes, compreendendo a formação e a prática docente como “um
processo sempre incompleto, inacabado, progressivo, complexo” (GALIAZZI, 2011, p. 273).
Selma apresentou aos colegas de grupo o projeto que desenvolveu na escola com ênfase
em saúde, em parceria com a professora de matemática, a secretaria da saúde, os agentes de
saúde e a comunidade do entorno da escola. O projeto tratava da prevenção da dengue, Zika e
Chikungunya. Os alunos realizaram várias práticas que envolveram os demais estudantes da
escola e a comunidade. Ao analisar a fala de Selma sobre o desenvolvimento do projeto,
percebo o anseio dela pelo envolvimento de mais colegas da escola num trabalho coletivo, com
mais ações interdisciplinares, bem como constituir espaços e tempos para que as famílias
contribuam e sintam-se corresponsáveis pela formação dos estudantes também na escola.
As falas das professoras, neste encontro focal, reafirmam a proposição de Silva e
Ferreira que “diante da necessidade de tornar os conteúdos significativos para os alunos, as
professoras percebem que, para isso, a autonomia docente é um fator que tem um peso
importante na decisão do que, como e por que ensinar determinados conteúdos” (SILVA;
FERREIRA, 2013, p. 437). À medida que os professores, ao longo dos oito meses de encontros,
discutiram, problematizaram e refletiram sobre suas práticas em educação em saúde, de acordo
com Vigotski (2008), suas compreensões iniciais de saúde evoluíram, ao tomarem consciência

169
da necessidade de ações positivas, que visem ao cuidado de si e à promoção da saúde individual
e coletiva.
O processo formativo vivenciado (as águas do rio) tornou evidente a riqueza de saberes
e compreensões compartilhadas e resgatadas na dinâmica instituída. Durante o ano de 2017,
práticas educativas foram planejadas e desenvolvidas pelos participantes do grupo, gerando
aprendizagens e motivações com consequências nas atividades dos licenciandos. Três bolsistas
licenciandas, participantes do PIBID e dos encontros, submeteram relatos de experiências sobre
saúde em eventos científicos. Uma das professoras supervisoras elaborou e desenvolveu um
projeto com filmes para trabalhar em turno inverso na escola com duas turmas (6° e 7° anos)
sobre os conteúdos curriculares propostos. Uma bolsista PIBID desenvolveu seu trabalho de
conclusão de curso (TCC) sobre análise de filmes, que abordam questões sobre o ambiente e a
saúde. Nos planejamentos dos estágios de docência do ensino de ciências destes licenciandos
participantes do grupo formativo, a temática saúde pela abordagem ecossistêmica esteve
presente.
No estágio de Biologia, uma das acadêmicas elaborou um projeto sobre doenças
degenerativas, a partir do filme “Para sempre Alice”, que foi assistido com a turma. O projeto
envolveu os alunos do 2° ano do ensino médio, a Secretaria de Saúde Municipal e a comunidade
numa campanha educativa sobre o Mal de Alzheimer, abordando aspectos fisiológicos, sociais
e principalmente as relações familiares. A culminância da atividade foi durante a Feira de
Exposição, que aconteceu no município de Cândido Godói - RS. As atividades mencionadas
realçam o processo instituído em que as práticas pedagógicas foram repensadas e modificadas
pelos professores em formação inicial e continuada. Compreendo que este processo necessita
ser constantemente pensado, debatido e retroalimentado para que as discussões e compreensões
ampliadas de saúde não se percam no conjunto de conteúdos e conceitos, mas sim
constantemente realocados em novos contextos visando a significação conceitual. A articulação
da Universidade com a Escola Básica é fundamental para que as experiências e os novos
aprendizados sejam considerados como constitutivos da dinâmica da formação docente, em que
a corresponsabilidade formativa dos professores, em atuação na educação básica, é reconhecida
e estimulada (MALDANER, 2013).
Pensar em formação inicial e continuada crítica e reflexiva em ES, parte do
entendimento acerca das práticas sociais, como por exemplo: deixar de vacinar uma criança ou
mesmo um idoso por acreditar que a vacina vai causar danos à saúde do sujeito; uso incorreto
ou não uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), na aplicação de agrotóxicos nas

170
lavouras; uso de inseticidas para matar baratas e pernilongos nas residências, sem cuidado;
realizar dietas mirabolantes nem sempre saudáveis em busca de um corpo magro; recusar o uso
de protetor solar ou se expor ao sol sem proteção em horários impróprios (10 às 16 horas); não
fazer coleta seletiva e descartar lixo (pilhas, baterias, sobras de medicamentos, entre outros) em
lugares impróprios, ou ainda, no inverno rigoroso do Rio Grande do Sul as pessoas passarem a
noite em filas, muitas vezes ao relento esperando para conseguir uma ficha para uma consulta
médica, são práticas que causam adoecimento. A compreensão das consequências nocivas
destas práticas à saúde requer dos sujeitos outros olhares sobre a questão, assim como um novo
tipo de profissional seja professor, médico, enfermeiro e gestor público, que dialogue de
maneira ampla com o enfoque biopsicossocial.
Neste estudo, as discussões estabelecidas após as sessões fílmicas permitiram
compreender os problemas ocasionados pela falta de um entendimento ampliado de saúde,
como não termos condições suficientes para escolher o que é bom ou ruim para promover
melhor qualidade de vida. O papel formativo da escola na formação cidadã dos estudantes pode
ser incrementado, quando os professores abordam a saúde numa perspectiva ecossistêmica, que
permitirá aos alunos, e através deles suas famílias, tomarem consciência que a saúde no Brasil
não pode ficar apenas na ausência de doenças com as reinvindicações de medicamentos;
hospitais e postos de saúde, mas na tematização dos direitos básicos e essenciais da população,
que são as condições ambientais imprescindíveis para a uma vida digna e de qualidade. Nesse
sentido corroboro com Carvalho (2013, p. 21), quando diz que é preciso orientar e buscar
desenvolver uma compreensão de saúde que contemple outras “prioridades sociais com o
bem-estar, a educação, a coesão social, a preservação do meio ambiente [...]. Isso gera um
‘círculo virtuoso’, no qual a saúde e seus determinantes se retroalimentam e se beneficiam
mutuamente”.
Desta maneira, ao apresentar o conceito de saúde de forma ampliada, o professor
proporcionará entendimento da complexidade do conceito, que abarca também os múltiplos
determinantes tais como: saneamento básico; acesso a moradia; transporte; coleta de lixo; lazer,
entre outros. É fundamental salientar que saúde não se discute só nos componentes curriculares
de ciências e/ou biologia, pois constitui tema transversal, que exige diálogos entre as áreas de
conhecimento, para promover uma formação cidadã, alfabetizada cientificamente e com
autonomia na tomada de decisões qualificada diante das premissas do cuidado de si, da
promoção da saúde e da prevenção de doenças.

171
Em minha constituição como professora pesquisadora, posso afirmar que o modelo
formativo vivenciado alargou os entendimentos sobre a importância de investir na formação
entre pares, e estreitar as relações entre Universidade e a Escola Básica, para qualificar o ensino
em ambos os níveis. A justaposição entre a metodologia de pesquisa utilizada e a intenção
formativa conectou-se e contribuiu com a evolução das compreensões conceituais de Saúde e
Educação em Saúde e do desenvolvimento profissional docente durante a formação baseada no
uso de filmes comerciais.
O caminho percorrido no processo formativo (águas) desta investigação possibilitou
aos professores pensarem, criarem e trabalharem com o filme como instrumento pedagógico,
por outro viés, o da formação e do desenvolvimento de currículo. Os filmes propiciaram a
mobilização de vários conhecimentos (docência, saber pedagógico e didático de conteúdo,
desenvolvimento de currículo) a partir de superar a visão simplesmente lúdica, para promover
um ensino de saúde desde a “construção de conhecimento que permite problematizar questões
socioeconômicas e culturais, bem como discutir e refletir sobre a ciência e a sociedade,
integrado ao ensino das Ciências Naturais e demais áreas curriculares” (SCHALL, 2010, p.
180).
O uso do instrumento filme promoveu novos questionamentos e reflexões sobre a
prática docente e o currículo escolar, como expresso no diálogo entre Helena e Selma, nas
seguintes passagens:
Helena (GF, T. 78, 2016): “cada filme foi trazendo mais elementos para mostrar a
amplitude desse conceito de educação em saúde, [...] é importante pensar um
planejamento com um filme ou trecho de um filme, pensar em quais aspectos que vamos
dialogar com nossos alunos, o que queremos que eles aprendam com este filme [...],
com um filme poderiam ser trabalhadas várias questões”. Selma (GF, T.79, 2016): “a
questão é ampliar o conhecimento do aluno”. Helena (GF, T.80, 2016): “é isso, vai
ampliando a visão e o conhecimento, e tu vai se colocando, e você vai dialogando com
os colegas”.
Os resultados observados nesta investigação permitem identificar alguns indícios a
partir da formação vivenciada, da reflexão compartilhada, e da mediação com o instrumento
pedagógico filme, que possibilitou aos professores em formação inicial e continuada pensarem
sobre o desenvolvimento do currículo. Dois licenciados utilizaram como estratégia didática o
filme para promover o ensino a partir de um conhecimento crítico sobre saúde e qualidade de
vida. Esses indícios já caracterizam os avanços da aprendizagem possibilitadas nos e pelos
encontros do grupo, como citam Silva e Ferreira (2013, p. 437): “o desenvolvimento é a
apropriação de formas cada vez mais elaboradas de atividade humana, e ressalta o papel da

172
educação escolar como ambiente específico para promover o desenvolvimento do aluno”. Para
os autores, “ao professor, cabe provocar avanços na aprendizagem dos alunos que não
ocorreriam espontaneamente, [...], o conhecimento, no contexto escolar, é construído através
da interação dos sujeitos, isto é, entre professor e aluno, mediados pela linguagem” (idem).
Por essa razão, argumento que os filmes comerciais se constituem como um
instrumento pedagógico com potencial no ensino, pois eles propõem novas ideias para
reorganizar o currículo, possibilitando tanto que professores em formação inicial quanto
continuada pensem em um novo contexto para perceber que a Educação em Saúde é crucial
para o ensino das Ciências da Natureza. Contudo é importante enfatizar que o processo de
mediação mobilizou o grupo a analisar o que estava assistindo e refletir sobre o assunto. Desta
forma, ao estar no grupo, como sinaliza Vigotski (2008), os professores adquiriram consciência
da necessidade de ampliar a compreensão que tinham de saúde, bem como da importância do
seu papel como “aquele sujeito qualificado dentro do contexto escolar, para fazer a mediação
entre a formação dos alunos na vida cotidiana – onde ele se apropria, de maneira assistemática
e não deliberada, da linguagem, dos objetos, dos usos e dos costumes” (SILVA; FERREIRA,
2013, p. 436).
Quando os professores em formação desenvolveram as atividades em suas práticas com
o filme, eles foram se dando conta das outras possibilidades pedagógicas com este instrumento.
Temos neste processo vivenciado, o que Zeichner (2010, p. 486) denomina de terceiro espaço
ou espaços híbridos, que “[...] envolvem uma rejeição das binaridades tais como entre o
conhecimento prático profissional e o conhecimento acadêmico, entre a teoria e a prática, assim
como envolve a integração, de novas maneiras, do que comumente é visto como discursos
concorrentes”. Compreendo com Zeichner (2010) que o terceiro espaço nesta investigação
promoveu a articulação entre a formação inicial e a continuada, que repercutiu no processo
formativo vivenciado, e na reorganização das práticas efetivadas na licenciatura, com os outros
acadêmicos que não participaram do grupo. É nesse contexto de articulação entre universidade
e escolas que Sara (GF, 2016) diz que as professoras da escola básica precisam de apoio para
refletir e qualificar sua prática pedagógica. Selma enfatiza que “a proposta tem que nascer da
escola, da realidade da escola, para desenvolver uma atividade legal, é importante o apoio da
universidade, a troca, é isso” (SELMA, GF, T.202, 2016). Nesses dizeres, as professoras
Educação Básica não querem receitas da Universidade para o desenvolvimento do currículo (o
que elas têm que fazer), mas reivindicam o apoio e o diálogo formativo para (re)pensar e
qualificar suas práticas profissionais.

173
O processo formativo provocou transformações não só em mim, mas em todos os
professores que participaram do grupo, como expressa Selma (GF, T 49, 2016): “ocorreu uma
transformação em nós a partir desses encontros, acho que com certeza iremos levar essas
aprendizagens para nossas aulas, nós aprendemos, nós amadurecemos”. Assim como águas
de um rio que encontram obstáculos para fluir e seguir seu trajeto, elas também são
retroalimentadas diariamente por nutrientes e novas formas de vida. Ao compreender a
docência como águas em constante movimento, parafraseio Heráclito de Éfeso, ao expressar
que ao entrarmos em um rio pela segunda vez, as águas já são outras e nós também já nos
modificamos. Portanto, tudo está em movimento e em modificação.

174
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: O FINDAR DA VIAGEM PELAS ÁGUAS
FORMATIVAS
Após essa viagem pelas águas que conduziram esta investigação, é chegada a hora de
atracar e fazer uma reflexão sobre o processo vivenciado, apontando as experiências,
aprendizagens e conclusões que tiro deste percurso. Ao propor investigar se os filmes
comerciais contribuem na ampliação das compreensões de Saúde e Educação em Saúde em
contextos formativos, busquei criar um grupo e um espaço/tempo de discussões e reflexões
coletivas, a fim de identificar os entendimentos e as re(significações) conceituais dos sujeitos
da tríade formativa (professores em formação inicial, professores da escola básica e professores
formadores) sobre Saúde e Educação em Saúde e o desenvolvimento profissional docente.
Nesse processo, identifiquei que o contexto de formação não depende só do sujeito, mas das
interações que ele estabelece com seus pares.
Desenvolver esta investigação foi fundamental para minha formação de professora e de
pesquisadora. Ao adentrar nas águas formativas, que escorrem, contornam e seguem o seu
caminho, deparei-me com algumas situações, como as ameaças constantes do encerramento do
programa PIBID a nível federal, fato que deixava os participantes apreensivos e em alguns
momentos desmotivados, pois temiam pela não continuidade do programa. Ao ingressar na
Universidade como professora formadora, senti a necessidade de buscar novos referenciais, e
no doutorado assumi o desafio de trabalhar com um referencial metodológico e de análise novos
para mim (o método experimental de Vigotski e a análise microgenética de Goes), além do que,
migrei de área de estudo - História e Filosofia da Ciência - para as questões de Saúde e Educação
em Saúde, na formação de professores e na escola. Este fato exigiu maior empenho e leituras
para compreensão desses referenciais.
Assim, identifico que as águas que conduziram o processo investigativo que desenvolvi
com os professores, atravessaram minha formação pessoal e profissional de maneira a procovar
movimentos de reflexão sobre minha prática de professora, de pesquisadora e de cidadã.
Durante este percurso, os movimentos me conduziram a pensar sobre as dificuldades que ainda
temos para educar em saúde, as necessidades de estabelecer mais diálogos e trabalhos com
outros profissionais de saúde, a fim de pensar em atividades conjuntas na Escola e na
Universidade. Precisamos estabelecer tempos-espaços de formação entre pares, de reflexões
compartilhadas para avaliarmos nossa práxis, bem como elaborar atividades interdisciplinares,
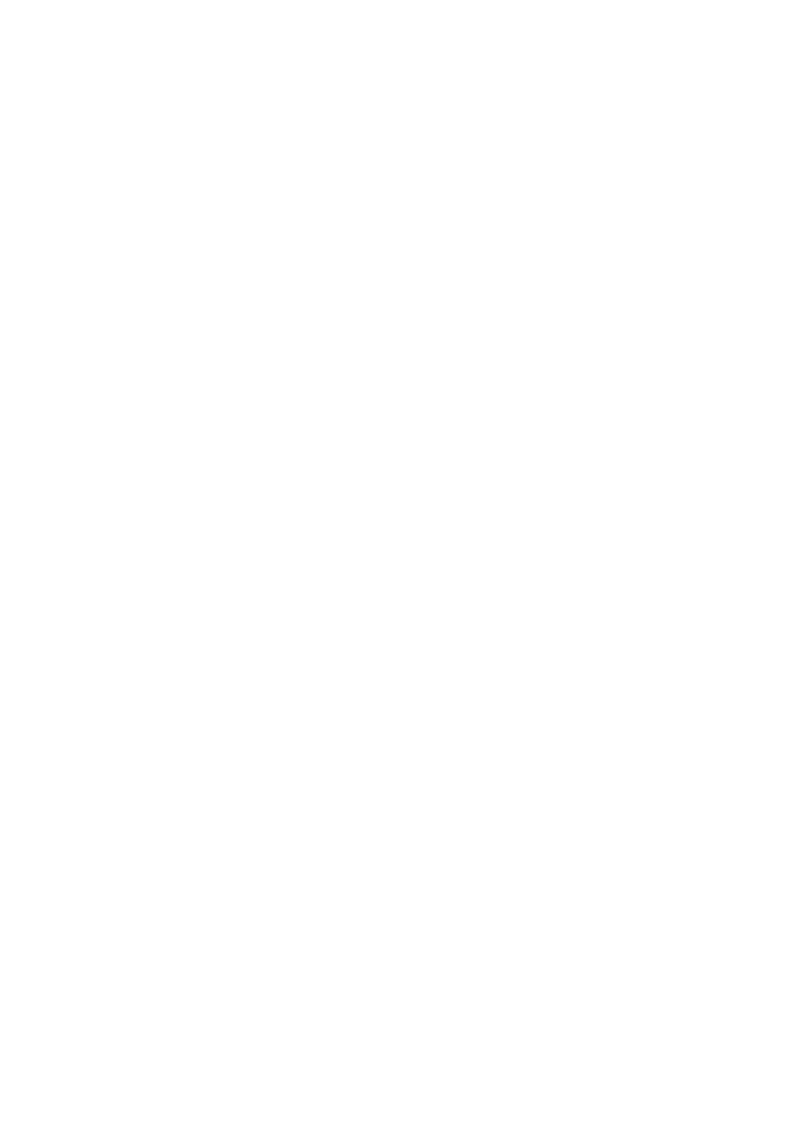
175
visando um ensino de qualidade e também preocupado com a formação da ES em e para a
cidadania.
Na incursão realizada sobre a formação de professores, percebi a partir dos referenciais
teóricos pesquisados que temos grandes desafios a enfrentar no Ensino de Ciência da Natureza
(CN), como os modelos de ensino em que há predomínio do caráter conteudista, a formação
inicial desarticulada do contexto escolar, a dicotomia entre a teoria e a prática, o despreparo de
alguns professores formadores, um ensino da área de CN ainda ancorado na concepção
positivista e um entendimento de saúde embasada na abordagem biomédica. Muitas dessas
situações e compreensões são decorrentes dos encaminhamentos dados ao processo formativo
de professores, no início do século XX, marcas profundas que prevalecem até os dias atuais,
mas que necessitam ser refletidas e modificadas.
A crise e as perguntas acerca do modelo formativo apresentado no parágrafo anterior
geraram insatisfação, questionamentos e a busca de novos caminhos. A nível internacional e
nacional, pesquisadores foram apontando questões, que necessitavam ser repensadas e
contempladas na formação tanto inicial quanto continuada. Neste âmbito, emergem as
pesquisas sobre a formação e as práticas pedagógicas, os saberes docentes, o conhecimento de
conteúdo que os professores detêm e participação em grupos colaborativos de trabalho,
considerando importante neste processo os contextos históricos e sociais em que os
conhecimentos da profissão e dos conteúdos são produzidos. De forma que essa base de
conhecimentos contribua com a constituição da identidade profissional e permita que o
professor compreenda o complexo processo de ensinar e aprender.
Ser professor não é apenas ensinar conteúdos curriculares conceituais. Temos
compromisso com formação cidadã dos alunos. Partindo deste pressuposto, abro um parêntese,
nesta conclusão, para mencionar que durante o período em que realizei a investigação,
aconteceram muitas situações em nível estadual e federal que foram impactando a formação de
professores e consequentemente a Educação no Brasil. Desde 2016, vivenciamos uma
insegurança pelo futuro, o governo federal cortou drasticamente as verbas do Ministério da
Educação, afetando diretamente as políticas públicas de formação de professores; as bolsas de
pesquisas de iniciação científica, mestrados, doutorados e o funcionamento das instituições de
Ensino Superior e os Institutos Federais. Já no Estado do Rio Grande do Sul, cada vez se acentua
a falta de professores nos educandários, bem como a situação de precariedade das escolas
públicas do estado. Todos esses fatores contribuem para a crise na Educação. Mesmo diante
deste cenário, houveram movimentos estudantis, como a primavera secundarista, que

176
reivindicaram os seus direitos de estudante e a manutenção da Educação, assim como no ano
de 2017 ocorreram inúmeros protestos a nível de Brasil em prol do PIBID, movimento
denominado “FICA PIBID”.
Nesse sentido, argumento que, mesmo diante dessas condições e da crise em nível
nacional, investir na formação inicial e continuada e na articulação entre Universidade e Escola
é um dos caminhos para pensar e buscar uma Educação mais justa e comprometida com o
futuro. Ao defender a constituição de grupos de trabalho com professores, aponto que o
convívio com o grupo constituído possibilitou a reflexão e a (re)significação das questões da
ES, visto que o desenvolvimento do processo da tríade ocorreu de forma interativa e mediada
pela linguagem, evidenciando o papel significativo que tiveram as relações sociais entre os
sujeitos na construção dos novos entendimentos de Saúde.
Durante esses meses em que o grupo se reuniu, dialogou sobre as questões de Saúde e
ES, foram acontecendo transformações e evoluções conceituais acerca desta temática, e novas
compreensões foram emergindo, como o direito à vida e à morte, o envelhecimento, a qualidade
de vida, saúde mental e emocional, mas também novos sentidos do ser professor e das práticas
pedagógicas foram sendo apresentadas pelo grupo. Igualmente há de se mencionar que alguns
sujeitos não avançaram tanto no entendimento de saúde, porém isso não significa que não houve
desenvolvimento em suas elaborações, pois, como cita Vigotski (2008), o desenvolvimento
cognitivo não é linear, “pois o caminho para a elaboração e evolução conceitual apresenta
avanços e retrocessos até que ele se efetive.”(RAMOS, 2018, p. 217).
Ao utilizar os filmes para discutir e refletir com o grupo sobre um entendimento
ampliado de saúde, os professores também estabeleceram aproximações dos conteúdos
abordados na biologia à temática saúde, como por exemplo, no filme A vida de Louis Pasteur
(1937) – questões sanitárias de higiene – microbiologia e origem da vida; O curandeiro da Selva
(1992) tratamento – síntese/extração de medicamentos de plantas e a biodiversidade da floresta
Amazônica; O óleo de Lorenzo (1993) – tratamento – conceitos de genética, doenças ligadas
ao sexo e a questão do método científico; Jardineiro Fiel (2005) – Infecções Sexualmente
Transmissíveis, doenças bacterianas (tuberculose), saneamento básico; O Físico (2013) –
questões sanitárias e de higiene, morfofisiologia humana; Uma prova de amor (2009) – as
neoplasias humanas, doação de tecidos e órgãos, ciclo vital humano e Divertida Mente (2015)
– funções neurais e o desenvolvimento humano.

177
A natureza do modelo utilizado na formação que propus, possibilitou identificar que as
questões de Saúde e ES, necessitam de mais discussões na formação de professores e
consequentemente na escola, como apresentado neste texto-tese a compreensão que os
participes tinham de saúde, era quase que exclusivamente a partir da abordagem biomédica, e
as práticas pedagógicas estavam pautadas na apresentação de doenças. Quando o esperado era
o entendimento de saúde para além da prevenção e cura/tratamento. Que saúde é determinada
pelo contexto social dos indivíduos, como o acesso à educação, ao atendimento de saúde, ao
saneamento básico, entre outras questões que se configuram como determinantes da qualidade
de vida em nível individual e coletivo, assim como as relações que os sujeitos estabelecem com
o meio em que estão inseridos.
Desta maneira, ao propor a compreensão de saúde a partir da abordagem ecossistêmica
no ensino, busquei a partir dos filmes uma forma contextualizada, dinâmica, crítica e reflexiva
de levar em conta as dimensões gerais políticas que afetam o fazer docente dos professores de
Ciências da Natureza, tanto em situações de inovação pedagógica, como do contexto vigente
da prática de ensinar e aprender a partir do envolvimento e interação dos sujeitos sobre Saúde
e ES nas escolas. Entendendo que o processo de aprendizagem deve proporcionar ao aluno a
compreensão da realidade mediante um ensino contextualizado, com encaminhamentos
interdisciplinares que visem estabelecer relações entre os conhecimentos de Saúde e ES e o
contexto socioambiental desse sujeito.
Contudo, importa destacar que um domínio importante na formação inicial e continuada
é em relação ao conhecimento pedagógico de conteúdo sobre Saúde, pensando nos seguintes
subdomínios: conhecimento do conteúdo e dos alunos (o que de saúde os alunos sabem e
precisam aprender), conhecimento do conteúdo e do ensino (de que forma os conteúdos de
saúde podem ser explorados didaticamente e devem ser apresentados aos alunos para que haja
aprendizagem); e o conhecimento do conteúdo e do currículo, o domínio desses conhecimentos
vão orientar a prática pedagógica dos professores e contribuirão com um ensino com enfoque
à Educação em Saúde, lembrando que as práticas pedagógicas devem ser sensíveis às histórias,
culturas e comunidades locais, visando uma contextualização dos conteúdos ensinados.
No âmbito do processo de formação que a tríade interativa partilhou, atribuo a
transformação das compreensões e da postura dos participantes ao grau de envolvimento
atingido em nossos encontros. Foram oito meses de atividades de socialização, análises e
reflexões orientadas a partir do uso de filmes e da mediação da pesquisadora. Durante este
período foram vivenciadas angústias, incertezas, novos saberes e ampliação do entendimento

178
de saúde a partir da circulação de novas ideias e compreensões dos modelos. Com base nas
intervenções e discussões no coletivo, um novo conhecimento pedagógico do conteúdo de
saúde foi significado e (re)elaborado pelos professores. Um conhecimento que contempla a
saúde ligada aos determinantes sociais, a ética, a saúde mental, as habilidades socioemocionais,
a cidadania, o respeito mútuo, a tomada de consciência para questões socioculturais ligadas à
saúde (gênero e saúde, violência contra a mulher, discriminação social), o cuidado de si e
promoção da saúde, assim como a compreensão da produção do conhecimento científico a partir
das condições sociais, históricas e políticas que influenciaram o desenvolvimento da Ciência,
e, em particular, da saúde.
No movimento formativo que vivenciei saio convicta do potencial (trans) formador de
ações em grupos colaborativos, e da necessidade de trabalhar e investigar mais sobre as
questões de Saúde e Educação em Saúde, dessa convicção penso nos prováveis desdobramentos
deste estudo, como: ampliar as pesquisas sobre a temática da ES na escola e na formação inicial;
constituir e/ou integrar grupos de pesquisas sobre ES; e desenvolver ações a fim de impulsionar
uma compreensão ampliada de saúde na formação inicial de professores.
No trajeto percorrido, sinalizo que é necessário investir na formação inicial e continuada
para qualificarmos os processos de ensino e de aprendizagem na área das CN, assim como para
contribuir na constituição docente e na prática pedagógica, pois o trabalho coletivo e
colaborativo aumenta o potencial formativo, oferecendo maiores chances para a significação e
produção dos conhecimentos pedagógicos de conteúdo e dos saberes profissionais docentes, a
partir da renovação de convicções e da superação do posicionamento individualista. Todas as
aprendizagens foram forjadas ao abrigo do trabalho colaborativo com os pares.

179
REFERÊNCIAS
ALARCÃO, I. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. 8. ed. São Paulo: Cortez,
2011.
ALMEIDA FILHO, N. Intersetorialidade, transdisciplinaridade e saúde coletiva: atualizando
um debate em aberto. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 34, n. 6, nov./dez.
2000. p. 11-34.
ALMEIDA FILHO, N. de.; JUCÁ, V. Saúde como ausência de doença: críticas à teoria
funcionalista de Christopher Boorse. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.7, n.4, jan,
2002.
p.
879-889.
Disponível
em:
<
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S141381232002000400019&lng=pt
&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 09 nov. 2015.
ANTUNES, J. P. Para além das palavras. In: ZANCUL, M. C. S.; BADIA, D. D.; VIVEIRO,
A. A. (Orgs.). Cinema e educação: algumas leituras possíveis. São Paulo: Cultura Acadêmica,
2015. p. 9-12.
AYRES, A. C. M; SELLES, S. E. História da formação de professores: diálogos com a
disciplina escolar - Ciências no Ensino Fundamental. Revista Ensaio, Belo Horizonte, v.14, n.
02, mai./ago. 2012. p. 95-107.
AZEVEDO, A. L. F.; GRAMMONT, M. J.; CASTRO TEIXEIRA, I. A. C. “Me ajuda a olhar!”:
o cinema na formação de professores. Educação em Foco., n. 24, 2014. p. 123-143.
BAGNATO, M. H. S. O ensino da saúde nas escolas de 1º grau. Pró-posições, Campinas, n.1,
jan./abr. 1990. p. 53-59. Disponível em: <https://www.fe.unicamp.br/pf-fe/publicacao/1653/1-
artigo-bagnatomhs.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2016.
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal; Edições 70, LDA, 2004.
BAROLLI, E. VILLANI, A. A formação de professores de ciências no Brasil como campo de
disputas. Revista Exitus, Santarém, v. 5, n. 1, 2015. p. 72-90.
BARROS, J. A. Pensando o processo saúde doença: a que responde o modelo biomédico?
Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 11, n. 1, jan./jun. 2002. p. 67-84. Disponível em:
<http://www.revistas.usp.br/sausoc/article/view/7070/8539>. Acesso em: 23 abr. 2015.
BASSO, L. Expectativas sociais para a educação escolar básica de qualidade: sentidos e
significados para o desenvolvimento humano. 2016. 139 f. Tese. (Doutorado em Educação nas
Ciências), Pós-graduação em Educação nas Ciências, Universidade do Noroeste do Estado do
Rio Grande do Sul, Ijuí.
BATISTELLA, C. Saúde, Doença e Cuidado: complexidade teórica e necessidade histórica. In:
FONSECA, A. F.; CORBO, A. A. (Orgs.). O território e processo saúde doença. Rio de
Janeiro: EPSJV, Fiocruz, 2007. p. 25-50.

180
_____. Abordagens Contemporâneas do Conceito de Saúde. In: FONSECA, A. F.; CORBO,
A. A. (Orgs.). O território e processo saúde doença. Rio de Janeiro: EPSJV, Fiocruz, 2007b. p.
51-86.
BERNARDET, J. C. O que é cinema. São Paulo: Brasiliense, 1985.
BICCA, A. D. N. Os filmes de ficção científica nos ensinando a viver em uma civilização
cibernética. 2010. 381 f. Tese. (Doutorado em Educação) Programa de Pós-Graduação em
Educação da Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre.
BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em Educação: uma introdução à
teoria e aos métodos. Portugal: Porto Editora, 1994.
BOMFIM, A. et al. Parâmetros curriculares nacionais: uma revisita aos temas transversais meio
ambiente e saúde. Trabalho, Educação e Saúde, v. 11, n. 1, jan./ abr., 2013. p. 27-52.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S198177462013000100003&lng=
pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 11 jun. 2016.
BONOTTO, D. L.; LEITE, F. A.; GÜLLICH, R. I. C. Movimentos Formativos: desafios para
pensar a Educação em Ciências e Matemática. Tubarão: Editora Copiart, 2016.
BRAGA, V. A. S. et. al. Intervenções do enfermeiro às pessoas com obesidade na Atenção
Primária à Saúde: revisão integrativa. REW. Esc. Enferm USP, São Paulo, v. 51, 2017. p. 1-
11. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v51/pt_1980-220X-reeusp-S1980-
220X2017019203293.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2018.
BRASIL. Lei n° 4024/1961. Lei de Diretrizes e Bases Nacionais da Educação, 1961.
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4024-20dezembro-
1961-353722-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 02 dez. 2016.
______. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Ministério da
Educação. Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Currículos e Educação Integral. –
Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.
______. Ministério da Saúde (BRA). Portaria Interministerial (Ministério da Saúde e
Ministério da Educação) n°3.696: Estabelece critérios para adesão ao programa Saúde na escola
(PSE) para o ano de 2010. Brasília, 2010.
______. Ministério da Saúde (BRA). Portaria no- 3.146: Estabelece recursos financeiros para
Municípios com equipes de Saúde da Família, que aderirem ao Programa Saúde na Escola -
PSE. Brasília, 2009.
______. Ministério da Saúde (BRA). Portaria no 2.931: Altera a Portaria no-1.861/GM, de 4
de setembro de 2008, que estabelece recursos financeiros pela adesão ao Programa Saúde na
Escola - PSE e credencia Municípios para o recebimento desses recursos. Brasília, 2008.
______. Lei n° 9394/1996. Lei de Diretrizes e Bases Nacionais da Educação, 1996.

181
______. Lei nº 10.741, de 1º de out. de 2003. Estatuto do Idoso. Brasília, out. 2003.
______. Lei nº LEI N°13.415, de 16 de fev. de 2017. Política de Fomento à Implementação
de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Brasília, fev. 2017.
______. Ministério da Saúde. Relatório da VIII Conferência de Saúde. Brasília, 1986.
______. Parâmetros Curriculares Nacionais: Terceiro e Quarto Ciclos: Apresentação dos
Temas Transversais. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília,
DF, 1997.
______. Constituição de 1988. Constituição: República Federativa do Brasil. Brasília:
Senado Federal, 1998.
CAIME, F. E.; LAMBERTI, M. H.; FERREIRA, M. M. O cinema como fonte histórica na sala
de aula. In: IX Encontro Nacional dos Pesquisadores do Ensino de História, 9., 2011,
Florianópolis. Anais.... Florianópolis: Enpeh, 2011. p. 1-12. Disponível em:
<https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/847799/mod_resource/content/1/O%20CINEMA
%20COMO%20FONTE%20HIST%C3%93RICA%20NA%20SALA%20DE%20AUL
A%20de%20Fl%C3%A1via%20Eloisa%20Caimi%2C%20Mayara%20Hemman%20La
mbert%20e%20Mariluci%20Melo%20Ferreira.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2016.
CAMARGO, G. Emoções, primeira forma de comunicação. Inter-AÇÃO, Curitiba, v. 3,
jan./dez, 1999. p. 9 – 19.
CANDEIAS, N. M. F. Conceitos de educação e de promoção em saúde: mudanças individuais
e mudanças organizacionais. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 31, n. 2, abr. 1997. p.
209-213. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsp/v31n2/2249.pdf>. Acesso em: 05 mai.
2015.
CARNEIRO, V. L. Q. A televisão e o vídeo na escola - Televisão e educação: aproximações.
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica, 2005.
CARVALHO, A. M. P. de. Uma metodologia de pesquisa para estudar os processos de ensino
e aprendizagem em salas de aula. In: SANTOS, F.M.T dos.; GRECA, I. M. A pesquisa em
ensino de ciências no Brasil e suas metodologias. 2. ed. Ijuí: Unijuí, 2011. p. 12-47.
CARVALHO, F. F. B. A saúde vai à escola: a promoção da saúde em práticas pedagógicas.
Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 25, n. 4, 2015. p. 1207-1227.
CARVALHO, A. M. P.; GIL-PÉREZ, D. Formação de professores de ciências: tendências e
inovações. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2011. p. 128.
CARVALHO, A. M. P.; GONÇALVES, M. E. R. Formação continuada de professores: o vídeo
como tecnologia facilitadora da reflexão. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 30, n. 111,
set./dez.
2000.
p.
71-94.
Disponível
em:
<http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/629>. Acesso em: 06 out. 2016.

182
CARVALHO, A.; CARVALHO, G. S. Educação para a saúde: conceitos, práticas e
necessidade de formação. 12. ed. Lisboa: Lusociência, 2006.
CARVALHO, G. S.; JOURDAN, D. Literacia em Saúde na Escola: a importância dos contextos
sociais. In: JÚNIOR, C. A. O. M.; JÚNIOR, A. L.; CORAZZA, M. A. (Orgs.). Ensino de
Ciências: múltiplas perspectivas, diferentes olhares. Curitiba: CRV, 2014. p. 99-122.
CASTRO, N. A. P. Leitura midiática na sala de aula e nos cursos de extensão: interpretando e
construindo conhecimento através de imagens em movimento. In: BARROSO, V. L. M et al.
(Orgs.). Ensino de História: desafios contemporâneos. Porto Alegre: EST Edições;
Exclamações; AnpuhRS, 2010. p. 279-291.
CATELLI, R. E. Coleção de imagens: o cinema documentário na perspectiva da escola nova,
entre os anos de 1920 e 1930. Educação e Sociedade, Campinas, v. 31, n. 111, abr./jun. 2010.
p. 605-624. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
73302010000200016>. Acesso em: 24 set. 2015.
CAVALCANTE, M. M.S. Permanecer ou evadir? Estudo sobre perspectivas de
professores iniciantes egressos do Pibid UECE. 2018. 156 f. Dissertação. (Mestrado em
Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro de
Educação da Universidade Estadual do Ceará), Fortaleza.
CHAVES, S. N. Reencantar a ciência, reinventar a docência. São Paulo: Livraria da Física,
2013.
_______. História da Ciência Através do Cinema: dispositivo pedagógico na formação de
professores de ciências. Alexandria Revista de Educação em Ciência e Tecnologia,
Florianópolis, v. 5, n. 2, set., 2012. p. 83-93. Disponível em:
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/37715/28889>. Acesso em: 09
jul. 2015.
_______. Por Que Ensinar Ciências para as Novas Gerações: uma questão central para a
formação docente. Contexto e Educação, Ijui, v. 22, n. 77, jan./ jun., 2007. p.11-24. Disponível
em: <https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/view/1083/838 >.
Acesso em: 28 nov. 2015.
_______. A construção coletiva de uma prática de formação de professores de Ciências:
tensões entre o pensar e o agir. 2000, 168 f. Tese (Doutorado em Educação). Universidade
Estadual de Campinas, Campinas.
CORTEZ, P. A. et al. A saúde docente no trabalho: apontamentos a partir da literatura recente.
Cad. Saúde Colet., Rio de Janeiro, v. 25, n. 1, jan./ mar., 2017. p. 113-122. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414462X2017000100113&lng=p
t&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 18 abr. 2015.
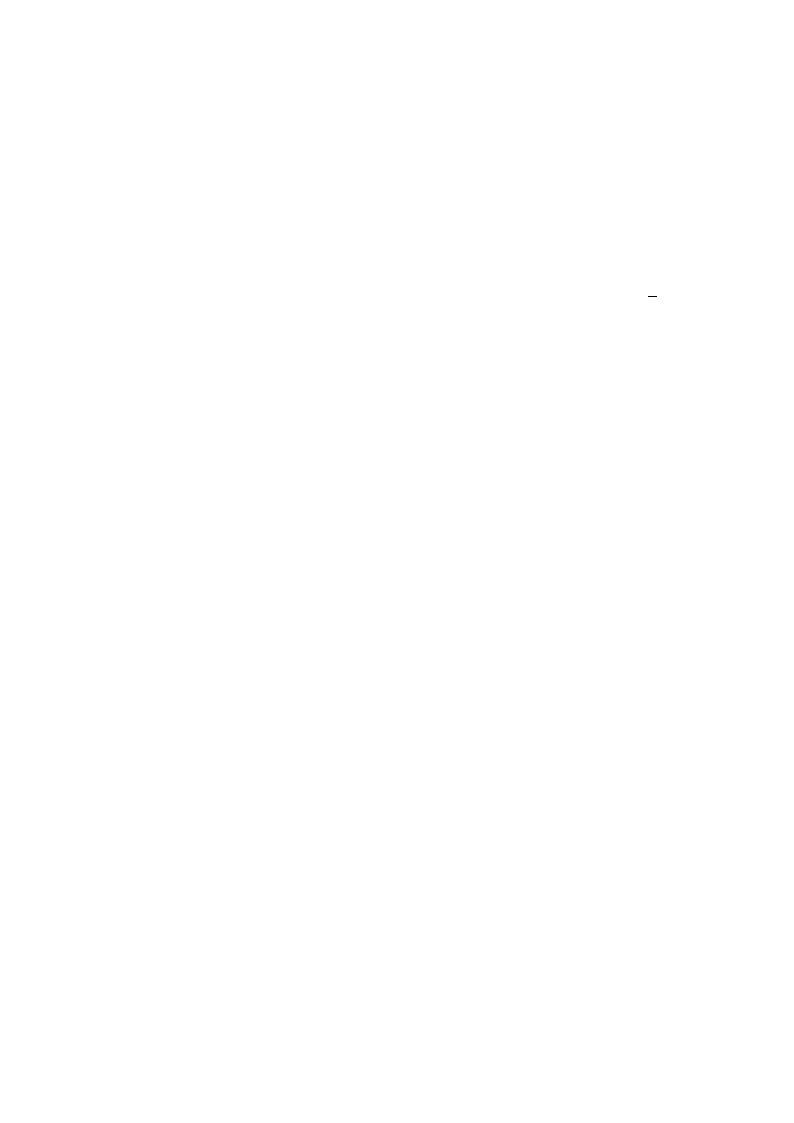
183
COSTA, K. M. G. O PIBID como espaço de pesquisa no processo de formação de
professores de química. 2017, 168 f. Tese. (Programa de Pós-Graduação em EDUCAÇÃO
EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA), Universidade do Estado do Amazonas, Amazonas.
COSTA, S.; GOMES, P.H.M.; ZANCUL, M.S. Educação em Saúde na escola na concepção
de professores de Ciências e Biologia. Disponível em:
<www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiienpec/resumos/R0922-1.pdf>. Acesso: 12 fev. 2016.
CUNHA, M. B.; GIORDAN, M. A ciência no cinema. QNEsc., v. 31, n. 1, fev. 2008.
Disponível em: <http://www.qnesc.sbq.org.br/online/qnesc31_1/03-QS-1508.pdf>. Acesso
em: 01 fev. 2016.
DANTAS, A. A.; MARTINS, C. H.; MILITÃO, M.S. R. O cinema como instrumento didático
para a abordagem de problemas bioéticos: uma reflexão sobre a eutanásia. Revista Brasileira
de Educação Médica, 2011. p. 69-76.
DATTEIN, R. W. et al. O subprojeto Pibid Ciências Biológicas – UFFS Cerro Largo em ação.
In: IV Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFFS, 4., 2014, Cerro Largo. Anais....
Cerro Largo: UFFS, 2014. p. 1-2. Disponível em: <
https://periodicos.uffs.edu.br/index.php/SEPE-UFFS/article/view/1362/1377>. Acesso em: 14
set. 2016.
DEMARCHI, T. A.; RAUSCH, R. B. Princípios que norteiam a formação inicial de professores
na Finlândia. In: 37ª Reunião Nacional da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa
em Educação - ANPED, 37., 2015, Florianópolis. Anais.... Florianópolis: Copiart Ltda – EPP,
2015. p. 1-17. Disponível em: < http://www.anped.org.br/sites/default/files/trabalho-gt08-
3584.pdf>. Acesso em: 28 out. 2015.
DINIZ-PEREIRA, J. E. A pesquisa dos educadores como estratégia para a construção de
modelos críticos de formação docente. In: DINIZ-PEREIRA, J. E.; ZEICHNER, K. (Orgs.). A
pesquisa na formação e no trabalho docente. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011.
11-38 p.
DOMINSCHEK, D. L.; ALVES, T. C. O PIBID como estratégia pedagógica na formação
inicial docente. Revista Internacional de Educação Superior, Campinas, v. 3, n. 3, 2017. p.
624-644.
Disponível
em:
<
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/riesup/article/view/8650626>. Acesso em: 03
jan. 2018.
DUARTE, R. Cinema & Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.
DUARTE, R. et al. Produção de sentido e construção de valores na experiência com o cinema.
In: SETTON, M. G. J. (Org.). A cultura da mídia na escola: ensaios sobre cinema e educação.
São Paulo: Annablume, 2004. p. 37-52.
FALCÃO, Giovana Maria Belém. et. al. Estudos sobre o PIBID no ENDIPE: uma
contribuição à produção de conhecimento sobre a formação docente no brasil. EdUECE- Livro,
2014. p. 03084-03095.

184
FALSARELLA, A. M. Formação continuada e a prática de sala de aula: efeitos da formação
continuada na atuação do professor. Campinas: Autores Associados, 2004.
FENSTERSEIFER, P. E. O imperativo do idoso saudável - dimensões éticas. In:
DALLEPIANE, L. B. (Org.). Envelhecimento Humano: Campo de saberes e práticas em
saúde coletiva. Ijuí: Editora Unijuí, 2009. p. 81-94.
FERNANDEZ, C. PCK - Conhecimento Pedagógico do Conteúdo: perspectivas e
possibilidades para a formação de professores. In: VIII Encontro Nacional de Pesquisa em
Educação em Ciências – ENPEC, n. 8, 2011, Campinas. Atas... Campinas: ABRAPEC, v. 1,
2011. p. 1-12. Disponível em: <http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiienpec/resumos/R0370-
1.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2017.
FIORENTINI, D.; CRECCI, V. Interlocuções com Marilyn Cochran-Smith sobre
aprendizagem e pesquisa do professor em comunidades investigativas. Revista Brasileira de
Educação, Rio de Janeiro, v. 21, n. 65, abr./ jun., 2016. p. 505-524. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v21n65/1413-2478-rbedu-21-650505.pdf >. Acesso em: 29
dez. 2016.
FONSECA, V. Importância das emoções na aprendizagem: uma abordagem
neuropsicopedagógica. Rev. Psicopedag., São Paulo, v. 33, n. 102, set./ dez. 2016. p. 365-384.
Disponível em: <http://www.revistapsicopedagogia.com.br/detalhes/505/importancia-das-
emocoes-naaprendizagem--uma-abordagem-neuropsicopedagogica>. Acesso em: 25 ago.
2015.
FONTANA, R. C. Mediação Pedagógica na sala de aula. Campinas: Autores Associados,
1996.
_______. A elaboração conceitual: A dinâmica das interlocuções na sala de aula. In: SMOLKA,
A. L.; GOES, M. C. R. (Orgs.). A linguagem e o outro no espaço escolar: Vygotsky e a
construção do conhecimento. 4. ed. Campinas: Papirus, 1995. p. 119-148.
FRANCO, M. Hipótese-cinema: múltiplos diálogos. Revista Contemporânea de Educação,
Rio de Janeiro, v. 5, n. 9, jan./ jun., 2010. p. 9-23. Disponível em:
<https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/view/1597/1445>. Acesso em: 17. jul. 2016.
FREITAS, A. P. Zona de Desenvolvimento Proximal: a problematização do conceito através
de um estudo de caso. 2001. 137 f. Tese. (Doutorado em Educação), Universidade Estadual de
Campinas, Campinas.
FREQUEST, A.; MIGLIORIN, C. Da obrigatoriedade do Cinema na Escola, notas para uma
Reflexão Sobre a lei 13.006/14. In: FREQUEST, A. Cinema e Educação: A Lei 13006.
Reflexões, Perspectivas e Propostas. Belo Horizonte: Universo Produção, 2015. p. 4-22.
FRISON, M. D. A produção de saberes docentes articuladas à formação inicial de
professores de química: implicações teórico-práticas na escola de nível médio. 2012. 310 f.

185
Tese. (Doutorado em Educação em Ciências), Programa de Pós-Graduação em Educação em
Ciências: Química da Vida e Saúde. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
FUSARI, J. C. A linguagem do cinema no currículo do ensino médio: um recurso para o
professor. In: TOZZI, Devanil. (Org.). Caderno de cinema do professor II. 2. ed. São Paulo:
FDE, 2009. p. 32-45.
GALIAZZI, M. C. Educar pela pesquisa. Ijuí: Editora Unijuí, 2011.
GARCÍA, C. M. A formação de professores: novas perspectivas baseadas na investigação sobre
o pensamento do professor. 1992. In: NÓVOA, A. Os professores e a sua formação. 2. ed.
Portugal: Editora Porto, 1995. p. 51-75.
GASPARINI, S. M.; BARRETO, S. M.; ASSUNÇÃO, A. A. O professor, as condições de
trabalho e os efeitos sobre sua saúde. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 2, mai./ago.
2005. p. 189-199. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n2/a03v31n2.pdf>. Acesso
em: 20 jul. 2015.
GASTALDO, L. F.; ARENHART, L. O.; ANGST, F. Formação Continuada
Macromissioneira. Tubarão: Editora Copiart, 2015.
GATTI, A.G. Formação de professores no Brasil: características e problemas. Educ. Soc.,
Campinas, v. 31, n. 113, out./dez., 2010. p. 1355-1379. Disponível em
<http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 24 ago. 2017.
GAZZINELLI, M. F. et al. Educação em Saúde: conhecimentos, representações sócias e
experiência de doença. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, jan./ fev. 2005.
p.
200-206.
Disponível
em:
<
http://www.ufrgs.br/cuidadocomapele/arquivos/textos_para_leitura/educacao_em_saude
/Educacao_em_saude_conhecimentos.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2015.
GERALDI, C. M. G.; MESSIAS, M. G. M.; GUERRA, M. D. S. Refletindo com Zeichner: um
encontro orientado por preocupações políticas, teóricas e epistemológicas. In: GERALDI, C.
M. G.; FIORENTINI, D.; PEREIRA, E. M. (Orgs.). Cartografias do trabalho docente:
professor(a)-pesquisador(a). 1. ed. Campinas: Mercado de Letras, 1998. p. 237-276.
GHEDIN, E.; OLIVEIRA, E. S.; ALMEIDA, W. A. Estágio com pesquisa. São Paulo: Cortez,
2015.
GINZBURG, Carlo. O Queijo e os Vermes. São Paulo: Cia das Letras, 1987.
GINZBURG, Carlo. Mitos, Emblemas e Sinais. São Paulo: Cia das Letras, 1989.
GIORDAN, M. Computadores e linguagem nas aulas de Ciências: uma perspectiva
sociocultural para compreender a construção de significados. Ijuí: Editora Unijuí, 2008.
GOES, M. C. R. A abordagem microgenética na matriz histórico-cultural: Uma perspectiva
para o estudo da constituição da subjetividade. Cadernos CEDES, Campinas, v. 20, n. 50, abr.
2000.
p.
25-29.
Disponível
em:
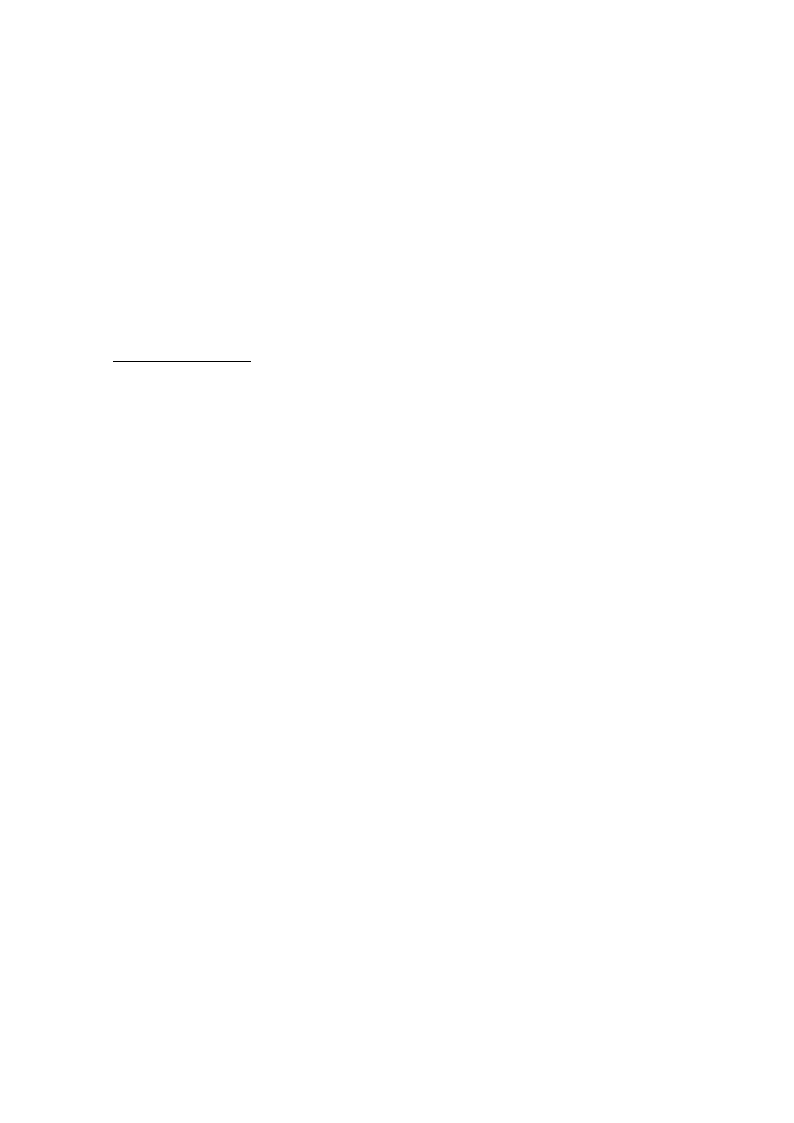
186
<http://www.paulorosa.docente.ufms.br/metodologia/Goes_Analise_microgenetica.pdf>.
Acesso em: 12 fev. 2014.
GOES, M. C. R. A dinâmica discursiva no ato de escrever: Relações oralidade-escritura. In:
SMOLKA, A. L.; GOES, M. C. R. (Org.). A linguagem e o outro no espaço escolar: Vygotsky
e a construção do conhecimento. 4. ed. Campinas: Papirus, 1995. p. 33-62.
GÓMEZ, C. M.; MINAYO, M. C. S. Enfoque ecossistêmico de saúde: uma estratégia
transdisciplinar. Revista de Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio Ambiente
(InterfacEHS), v.1, n. 1, ago. 2006. p. 1-19. Disponível em:
<http://www.revistas.sp.senac.br/index.php/ITF/article/view/413>. Acesso em: 02 jan. 2016.
GONÇALVES, F. D. et al. A promoção da saúde na educação infantil. Interface, Botucatu, v.
12, n. 24, 2008. p.181-192. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1414-
32832008000100014>. Acesso: 12 fev. 2016.
GONDIM, S. M. G. Grupos focais como técnicas de investigação qualitativa: desafios
metodológicos. Paidéia, Ribeirão Preto, v. 12, n. 24, 2003. p. 149-161. Disponível em:
<https://www.revistas.usp.br/paideia/article/view/46653/50409>. Acesso em: 05. nov. 2015.
GRETER, T. C.P. Estilos e Coletivos de Pensamento das Pesquisas de Educação em Saúde
na Escola (2005 a 2015). 2016, 148 f. Dissertação (Mestrado em Educação nas Ciências).
Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul – UNIJUI, Ijuí.
GROSSMAN, P. L. The making of a teacher: teacher knowledge and teacher education. New
York: Teachers College Press, 1990.
GROSMANN, P. Un estúdio comparado: las fuentes del conocimiento didáctico del contenido
em la enseñanza del inglés em secundaria. Profesorado. Revista de currículum y formación
del professor, España, v. 9, n. 2, jul./dez. 2005. p. 1-17. Disponível em:
https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/article/view/42678/24578. Acesso em: 21 mar.
2015.
GRYMUZA, A.M.G; RÊGO, M. R. G. Teoria da atividade: uma possibilidade no ensino de
matemática. Revista Temas em Educação, João Pessoa, v. 23, n. 2, Jul./dez., 2014. p. 117-
138.
GÜLLICH, R. I. C. Investigação-Formação-Ação em Ciências: um caminho para reconstruir
a relação entre livro didático, o professor e o ensino. Curitiba: Editora Appris, 2013.
GÜLLICH, R. I. C.; BOSZKO, C. O PIBID como estratégia didático-pedagógica para os
processos formativos de professores de Ciências Biológicas. In: Encontro Nacional de Didática
e Prática de Ensino. (Org.). A Didática e a Prática de Ensino nas Relações entre Escola,
Formação de Professores e Sociedade. 1. ed. Fortaleza: EdUECE, 2014. p. 239-239.
GUSTAVO, L. S.; GALIETA, T. A Educação em Saúde está contemplada na formação inicial
de professores de Ciências Biológicas? Revista da REnBIO, São Paulo, n. 7, out. 2014.
p.4877-4889.
Disponível
em:

187
http://www.sbenbio.org.br/wordpress/wpcontent/uploads/2014/11/R0209-1.pdf. Acesso em:
13 jun. 2016.
IERVOLINO, S. A.; PELICIONI, M. C. F. A utilização do grupo focal como metodologia
qualitativa na promoção da saúde. Revista da Escola de Enfermagem USP, São Paulo, v. 35,
n.
2,
jun.
2001.
p.115-21.
Disponível
em:<
https://www.revistas.usp.br/reeusp/article/view/41220/44772>. Acesso em: 29 mar. 2016.
IERVOLINO, S. A. Escola promotora de saúde: um projeto de qualidade de vida. 2000. 167
f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Universidade de São Paulo, São Paulo.
IMBERNÓN, F. Formação Docente e Profissional. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
_______. Formação permanente do professorado: novas tendências. São Paulo: Cortez,
2009.
KNAUT, V. T.; PONTAROLO, A. R.; CARLETTO, M. R. Educação em saúde, Ensino de
Ciências e Formação de professores. In: IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em
Ciências (IX ENPEC). n. 15, 2013, Águas de Lindóia, Atas... Águas de Lindóia: ABRAPEC,
2013. p. 1-8.
KORTHAGEN, F. A. J. A prática, a teoria e a pessoa na formação de professores. Educação,
Sociedade & Culturas, Portugal, n. 36, jan./jun. 2012. p. 141-158. Acesso em:
<http://www.fpce.up.pt/ciie/revistaesc/ESC36/Arquivo.pdf.> Acesso em: 16 jun. 2017.
KRASILCHIK, M. Prática de Ensino de Biologia. 4. ed. São Paulo: USP, 2004.
LAROSSA, J. Tremores: escritos sobre experiência. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.
LEONARDO, P. V.; ROSA, R. G. O direito de morrer e a nova percepção de morte: a eutanásia
como proteção da individualidade e da justiça social. In: XXIV ENCONTRO NACIONAL DO
CONPEDI - UFS – Biodireito, n. 24, 2015, Aracaju: CONPEDI, 2015. p. 371-389.
LIBÂNEO, J. C. Reflexividade e formação de professores: outra oscilação do pensamento
pedagógico brasileiro? In: PIMENTA, S. G.; GHEDIN, E. (Org.). Professor reflexivo no
Brasil: gênese e crítica de um conceito. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012. p. 63- 93.
LIMA, M. S. L.; GOMES, M. O. Professor Reflexivo no Brasil: Gênero e Crítica de um
conceito. 7. ed. São Paulo: Editora Cortez, v. 1, 2012. p. 261
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São
Paulo: EPU, 1986.
LÜDKE, M; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo:
EPU, 2001.
______. O que conta como pesquisa? Menga Lüdke (Coord.); Ana Tereza de Carvalho Correa
de Oliveira et. al. São Paulo: Cortez, 2009.

188
MAGIOLINO, L. L. S. Emoções humanas e significações numa perspectiva histórico-
cultural do desenvolvimento humano: um estudo teórico da obra de Vigotski. 2010. 193 f.
Tese. (Programa de Pós-Graduação: Educação). Universidade Estadual de Campina,
Faculdades de Educação, Campinas.
MALDANER, A.O.; FRISON, M. D. Constituição do conhecimento de professor de química
em tempos e espaços privilegiados na licenciatura. In: NERY, B. K.; MALDANER, O. A.
(Orgs.). Formação de Professores: compreensões em novos programas e ações. Ijuí: Editora
Unijuí, 2014. p.43-82.
MALDANER, O. A. Formação de professores para um contexto de referência conhecido. In:
NERY, B. K.; MALDANER, O. A. (Orgs.). Formação de Professores: compreensões em novos
programas e ações. Ijuí: Editora Unijuí, 2014. p. 15-42.
______. A pesquisa como perspectiva de formação continuada do professor de química.
Química Nova na Escola, São Paulo, v. 22, n. 2, mar./abr. 1999. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010040421999000200023>.
Acesso em: 28 set. 2015.
______. Concepções epistemológicas no Ensino de Ciências. In: SCHNETZLER, R. P.;
ARAGÃO, R. M. R. (Org.). Ensino de Ciências: fundamentos e abordagens. São Paulo:
Unimep, 2000. p. 60-81.
______. Formação Inicial e Continuada de Professores de Química: professor pesquisador.
4. ed. Ijuí: Editora Unijuí, 2013.
MARTINS, J. B. A perspectiva metodológica em Vygostsky: o materialismo dialético. Semina:
Ci. Soc./Hum, Londrina, v. 15, n. 3set. 1994. p. 287-295.
MARTINS, L. Abordagens da saúde em livros didáticos de biologia: análise crítica e
proposta de mudança. 2017. 165 f. Tese. (Doutorado em Educação) Ensino, Filosofia e
História das Ciências. Universidade Federal da Bahia, Bahia.
MARTINS, L.; SANTOS, G. S.; EL-HANI, C. N. Abordagens de saúde em um livro didático
de biologia largamente utilizado no ensino médio brasileiro. Investigações em Ensino de
Ciências, Porto Alegre, v. 17, n. 1, abr. 2012. p. 249-283. Disponível em: <
https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/215/149>. Acesso em: 22 jan.
2016.
MARTINS, R. A. Introdução: A História das Ciências e seus usos na Educação. In: SILVA, C.
C. (Org.). Estudos de História e Filosofia das Ciências: subsídios para aplicação no ensino.
São Paulo: Editora Livraria da Física, 2006. p. XVII-XXX.
MASCHIO, M.B. M. et al. Sexualidades na terceira idade: medidas de prevenção para doenças
sexualmente transmissíveis e AIDS. Rev. Gaúcha Enferm., Porto Alegre, set. v. 32, n. 3, 2011.
p. 583 – 589.

189
MATTHEWS, M. R. Science teaching: the role of history and philosophy of Science. London:
British Library Cataloquing, 1994.
MENÉNDEZ, A.; MEDINA, R. M. Cine, historia y medicina. Suplemento de Conecta nº 1.
Issn 1576-4826, (s.d).
MINAYO, M. C. S et al. Qualidade de vida e saúde: um desafio necessário. Ciência e Saúde
Coletiva, Rio de Janeiro, V. 5, n. 1, dez. 2000. p. 7-31. Disponível em: <
9http://www.scielo.br/pdf/csc/v5n1/7075.pdf>. Acesso em: 06 abr. 2015.
MIZUKAMI, M. G. N. Aprendizagem da docência: algumas contribuições de L. S. Shulman.
Revista do Centro de Educação da UFSM, Santa Maria, v. 29, n. 2, jul./dez. 2004. p. 3349.
Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/3838/0>. Acesso em 21
mar. 2015.
MOHR, A. A natureza da educação e saúde no Ensino Fundamental e os professores de
ciências. 2002. 409 f. Tese. (Doutorado em Educação) Programa de Pós-Graduação em
Educação, Centro de Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis.
______. A. Educação em Saúde na Escola: panorama e questionamentos a partir de
depoimentos de professores de Ciências em Florianópolis. In: SELLES, S. E. et al. (Org.).
Ensino de Biologia: histórias, saberes e práticas formativas, Uberlândia: EDUFU, 2009. p.
107-129.
MONTEIRO, P. H. N.; BIZZO, N. A saúde na escola: análise dos documentos de referência
nos quarenta anos de obrigatoriedade dos programas de saúde, 1971-2011. História, Ciências,
Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 22, n. 2, abr./jun. 2015. p. 411-427. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v22n2/0104-5970-hcsm2014005000028.pdf>. Acesso em: 27
abr. 2016.
MORAN, J. M. O vídeo na sala de aula. Comunicação e educação, São Paulo, n. 2, jan./abr.
1995. p. 27-35. Disponível em: < http://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/36131>
Acesso em: 01 dez. 2010.
MOREIRA, A. F. B.; CANDAU, V. M. Indagações sobre o currículo do Ensino
Fundamental: Currículo, conhecimento e cultura. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria
da Educação Básica, 2007.
MOROSINI, M. C. Estado de conhecimento e questões do campo científico. Educação, Santa
Maria, v. 40, n.1, jan./abr. 2015. p. 101-116. Disponível em:
<https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/15822/pdf> Acesso em: 29 set. 2016.
MOTA, D.F.S. Trabalhar a Educação para a Saúde nas escolas: percepções de profissionais
de saúde e de professores. 2011. 159 f. Dissertação (Mestrado em Educação para a Saúde),
Universidade do Porto, Porto.
NAPOLITANO, M. Como usar o cinema na sala de aula. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2013.

190
_______. Cinema: experiência cultural e escolar. In: TOZZI, Devanil. (org.). Caderno de
cinema do professor II. 2. ed. São Paulo: FDE, 2009. p. 10-31.
NÓVOA, A. Pedagogia: A terceira margem do rio. 2013. Disponível em:
<http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/pedagogianovoa.pdf>. Acesso em: 07 mai. 2015.
_______. Professores: Imagens do futuro presente. Lisboa: EDUCA, 2009.
_______. (Org.). Vida de professores. 2. ed. Portugal: Porto Editora, 2007.
_______. Os professores e sua formação. Trad. Graça Cunha, Cândida Hespanha, Conceição
Afonso e José António Souza Tavares. 2. ed. Lisboa: Instituto Inovação Educacional, 1995.
OLIVEIRA JR., W.M. Filmes & Professores: Momentos de uma oralidade muito presente. Pro-
Posições, v. 10, n. 1, mar. 1999. p. 163-178. Disponível em: <https://www.fe.unicamp.br/pf-
fe/publicacao/2001/28-cinevisoes-juniorwmo.pdf> Acesso em: 26 mai. 2015.
OLIVEIRA, B. J. Cinema e imaginário científico (Org.). História da ciência no cinema. Belo
Horizonte: Argumentum, 2005.
OLIVEIRA, M. K. Vigotsky aprendizado e desenvolvimento. Ed. Scipione, 2002.
OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Carta de Ottawa para a promoção da
saúde. 1986. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf>.
Acesso em: 28 dez. 2014.
ONU - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Declaração de Adelaide sobre a Saúde
em
Todas
as
Políticas.
1988.
Disponível
em:
<
http://www.who.int/social_determinants/publications/isa/portuguese_adelaide_statemen
t_for_web.pdf?ua=1>. Acesso em: 28 dez. 2014.
PANSERA-DE-ARAÚJO, M.C. Formação de professores para o Ensino de Ciências da
Natureza: os (des)caminhos da prática docente. In: DURLI, Z.; SILVA, R. D.; RIBEIRO, V.
N. S. (Orgs.). Formação Docente em Perspectiva. Passo Fundo: Editora UPF, 2012. p. 21-40.
PANSERA-DE-ARAÚJO, M.C. Situação de Estudo: da ação à reflexão pedagógica na
formação de professores de Ciências da Natureza. In: GÜLLICH, R. I. C.; HERMEL, E. E. S.
(Orgs.). Ensino de Biologia: construindo caminhos formativos. Curitiba: Prismas Appris,
2013a, p. 25-35.
______. Reflexões sobre os conhecimentos biológicos e pedagógicos constitutivos do professor
no trabalho de sistematização do Ensino de Biologia. In: DUSO, L.; HOFFMANN, M. B.
(Orgs.). Docência Em Ciências e Biologia: proposta para um continuado (re) iniciar. Ijuí:
Editora Unijuí, 2013b. p. 77-106.
______.; EMMEL, R.; CAMBRAIA, A. C. Aproximações e distanciamentos dos currículos de
Ciências Biológicas e Computação: um espaço tempo para educação em saúde. In: BOFF, E.
T. de O.; ARAÚJO, M. C. P. de; CARVALHO, G. S. de (Orgs). Interações entre

191
Conhecimentos, Valores e Práticas na Educação em Saúde. Ijuí: Editora Unijuí, 2016. p.
109 -132.
PASTORINO, I. et al. Educar em Salud: innovaciones em la formación del professorado de
Biología. Memorias del II Congreso Nacional de Producción y Reflexión sobre Educación.
Río Cuarto, 2008. p. 137.
PASTORINO, I.; ASTUDILLO, C.S.; RIVAROSA, A.S. Aportes para uma didáctica de la
Educación para la Salud en la formación inicial de professores de Biologia: diálogos
divergentes, concepciones y prácticas. Revista Educación en Biología, v. 19, n. 1, 2016. p. 73-
82.
jan./dez.
2016.
Disponível
em:
<http://www.revistaadbia.com.ar/ojs/index.php/adbia/article/view/390/pdf>. Acesso em: 16
mai. 2016.
PIASSI, L. P. C. Contatos: a ficção científica no ensino de ciências em um contexto
sociocultural. 2007. 462f. Tese. Faculdade de Educação. Universidade de São Paulo.
PIMENTA, S. G. Professor reflexivo: construindo uma crítica. In: PIMENTA, S. G.; GHEDIN,
E. (Orgs.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. 7. ed. São Paulo:
Cortez, 2012. p. 20-62.
______. Pesquisa-ação crítico-colaborativa: construindo seu significado a partir de experiências
com a formação docente. Educação e Pesquisa. São Paulo, v. 31, n. 3, set./dez. 2005. p. 521-
539. Disponível em: <http://www.unifra.br/professores/13709/selma%20pimenta.pdf >.
Acesso em: 02 fev. 2016.
PINHEIRO, M. A. P. Cinema e Educação: modelos internacionais, impressos e intelectuais
no Brasil do início do século XX. 2015. 232 f. Tese. (Doutorado em Educação). Programa de
Pós-Graduação em Educação do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito
Santo.
PINO, A. As marcas do humano: às origens da constituição cultural da criança na perspectiva
de Lev S. Vigotski. São Paulo: Cortez, 2005.
_____. O social e o cultural na obra de Vigotski. Educação e Sociedade, Campinas, v. 21, n.
71, 2000. p. 45-78. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v21n71/a03v2171.pdf>.
Acesso em: 20 jul. 2014.
PORLÁN, R. et al. La relación Teoría-Práctica en la formación del profesorado. Sevilla:
Díada, 2001.
PORLÁN, R.; MARTÍN, J. El diario del profesor: um recurso para investigación em el aula.
Díada: Sevilla, 1997.
PRECIOSO, J. Educação para a saúde na universidade: um estudo realizado em alunos da
Universidade do Minho. Revista Electrónica Enseñanza de las Ciencias, Ourense v. 3, n. 2,
mai./
ago.
2004.
p.
161-170.
Disponível
em:
<http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen3/REEC_3_2_3.pdf>. Acesso em: 16 mai. 2017.

192
RAMOS, R. Educación para la Salud. Memorias de las VI Jornadas Nacionales de
Enseñanza de la Biología. Buenos Aires, 2005. p. 91.
RAMOS, F. Sequência pedagógica para formação de professores de Ciências e Biologia.
2018. Tese. 219 f. (Doutorado em Ensino e Ciências e Educação Matemática) Universidade
Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Londrina.
RAMOS, M.; STEIN, L. M. Desenvolvimento do comportamento alimentar infantil. Jornal
de Pediatria, v. 76, supl.3, 2000. p. 229 – 237.
REGO, T. C. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. Petrópolis: Vozes,
1995.
REIS, R. H. A constituição do sujeito político, epistemológico e amoroso na alfabetização
de jovens e adultos. 2000. 267 f. Tese. (Doutorado em Educação), Faculdade de Educação,
Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
REZENDE-FILHO, L.A.C; PEREIRA, M.V.; VAIRO, A. C. Recursos Audiovisuais como
temática de pesquisa em periódicos brasileiros de Educação em Ciências. Revista
Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, v, 11, n. 2, 2011.
ROMANELLI, O. História da Educação no Brasil: (1930/1973). Petrópolis: Vozes, 2007.
RUDEK, K.; SANTOS, E.G. Possíveis abordagens de saúde nos enredos de filmes comerciais.
Revista da REnBio, Niterói, v. 9, dez. 2016. p. 4161-4173.
SABOGA-NUNES, L. A. et al. Níveis de alfabetização/literacia para a saúde em duas
populações de diferentes níveis de escolaridade na construção da cidadania. In: BOFF, E.T.O.;
ARAÚJO, M.C.P.; CARVALHO, G.S. (Orgs.). Interações entre conhecimentos, valores e
práticas na Educação em Saúde. Ijuí: Editora Unijuí, 2016. p. 57-88.
SABOGA-NUNES, L.; SORENSEN, K. The European Health Literacy Survey (HLS-EU) and
its Portuguese Cultural Adaptation and Validation (HLS-PT). Aten Primaria. 2013. p. 45-46.
SANTOS, E. G.; PANSERA-DE-ARAÚJO, M.C. A velhice no século XXI e o cinema -
relações com o ensino de biologia. Revista da REnBio, Niterói, v. 9, dez. 2016. p. 1263- 1274.
_____. A História da Ciência no Cinema: Contribuições para a Problematização da
Concepção de Natureza da Ciência. 2011. 124 f. Dissertação. (Mestrado em Educação),
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões – URI, Santo Ângelo.
_____.; PASINI, M.; ANJOS, C. S. A Possibilidade do Uso dos Filmes na Prática Docente:
uma análise nos eventos ANPED e CIECITEC, Revista da REnBio, Niterói, v. 9, dez. 2016.
p. 1856 – 1867.
; PASINI, M.; KARINE, R. Reflexões sobre o uso da mídia cinematográfica no Ensino de
Ciências e Biologia nos ENEBIO. In: IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em
Ciências – ENPEC, n. 9, 2015, Águas de Lindóia. Atas... Águas de Lindóia: ABRAPEC, 2015.

193
_____.; LEITE, F. A. Epistemologias, Narrativa e Formação Docente. Revista da REnBio, v.
7, 2014. p. 1743-1754.
_____.; SCHEID, N. M. J. A. História da Ciência no Cinema: contribuições para a
problematização da concepção de natureza da ciência. Curitiba: Appris, 2014.
SANTOS, M. A.; BARBOSA, M. C. S.; LAZZARETI, A. À luz da lei. In: FREQUEST, A.
Cinema e Educação: A Lei 13006 - Reflexões, Perspectivas e Propostas. Rio de Janeiro:
Universo Produção, 2015. p. 32-39.
SANTOS, P. C. A utilização de recursos audiovisuais no ensino de ciências: tendências entre
1997 e 2007. 2010. 179 f. Dissertação. (Mestrado em Educação), Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo, São Paulo.
SANTOS, J. L. F.; WESTPHAL, M. F. Práticas emergentes de um novo paradigma de saúde:
o papel da universidade. Estud. av. vol.13 no.35, São Paulo Jan./Abr. 1999. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40141999000100007>. Acesso em: 16 mai. 2017.
SCHALL, V. T. Saúde e Afetividade na Infância: o que as crianças revelam e sua importância
na escola. 1996. Tese (Doutorado em Educação), Departamento de Educação, Pontíficia
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
SCHALL, V. T.; STRUCHINER, M. Educação em Saúde: novas perspectivas. Cadernos de
Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.15, n. 2, 1999. p. 1.
SCHALL, V.T. Saúde & Cidadania. In: Pavão, A.C (Org.). Coleção: Explorando o ensino de
Ciências. v. 18, Brasília: MEC, SEB, 2010. p. 179-196.
SCHEID, N. M. J. Contribuições do cinema na formação inicial de professores de Ciências
Biológicas. Vivências. Erechim, v. 4, n. 6, out. 2008. p. 15-22. Disponível em: <
http://www.reitoria.uri.br/~vivencias>. Acesso em: 04 jul. 2009.
SCHNETZLER, R. P.; CRUZ, M. N.; MARTINS, I. C. Marcas e tensões do desenvolvimento
profissional de professores do Ensino Superior. In: 37ª Reunião Nacional da Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPEd, 37., 2015, Florianópolis.
Anais... Florianópolis: Copiart Ltda – EPP, 2015. p. 1-16. Disponível em: <
http://www.anped.org.br/sites/default/files/trabalho-gt08-4080.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2016.
SCHÖN, D.A. Educando o Profissional Reflexivo: um novo design para o ensino e a
aprendizagem. Trad. Roberto Cataldo Costa. Porto Alegre: Artmed, 2000.
SCHORN, S.C.; SANTOS, E.G. Cinema: Instrumento pedagógico na educação emocional. In:
XI Reunião Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação –
ANPED SUL, 11., 2016, Curitiba. Anais... Curitiba: Setor de Educação da UFPR, 2016. p. 1-
13.
Disponível
em:
<
http://www.anpedsul2016.ufpr.br/wp-
content/uploads/2015/11/eixo15_SOLANGECASTRO-SCHORN-ELIANE-
GON%C3%87ALVES-DOS-SANTOS.pdf>.Acesso em: 15 dez. 2016.

194
SCLIAR, M. História do Conceito de Saúde. Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, jan./
abr. 2007. p. 29-41. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/physis/v17n1/v17n1a03.pdf>.
Acesso em: 10 jun. 2015.
SELLES, S. E. Desafios da formação e da prática de professores de Biologia: abrindo janelas.
In: BARZANO, M. et al. (Orgs.). Ensino de Biologia: experiências e contextos formativos.
Goiânia: Índice Editora, 2014. p. 13-25.
SHULMAN, L. S. Conocimiento y enseñanza: fundamentos de la nueva reforma. Profesorado.
Revista de Currículum y Formación de Profesorado, Granada, v. 9, n. 2, jul./dez. 2005. p.
1-30. Disponível em: < https://www.ugr.es/~recfpro/rev92ART1.pdf>. Acesso em: 20 mar.
2015.
________. Knowlegne and teaching: foundations of the new reform. Harvard Educational
Reniew, Cambridge, v. 57, n. 1, abr. 1987. p. 1-22. Disponível em:
<http://hepgjournals.org/doi/abs/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411?code=hepgsite>.
Acesso em: 20 mar. 2015.
SILVA, J.A. Cinema e educação: o uso de filmes na escola. Revista Intersaberes, Curitiba, v.
9, n. 18, jul./dez. 2014. p. 361-373. Disponível em:
<https://www.uninter.com/intersaberes/index.php/revista/article/viewFile/642/421>. Acesso
em: 16 mar. 2015.
SILVA, L. H. A. A perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano: ideias para
estudo e investigação do desenvolvimento dos processos cognitivos em Ciências. In:
GÜLLICH, R. I. C. (Org.). Didática das Ciências. Curitiba/PR: Editora Prismas, 2013. p. 11-
32.
SILVA, L. H. A.; FERREIRA, F. C. A importância da reflexão compartilhada no processo de
evolução conceitual de professores de Ciências sobre seu papel na mediação do conhecimento
no contexto escolar. Ciência & Educação, Bauru, v. 19, n. 2, jun. 2013. p. 425-438. Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151673132013000200013&lng=pt
&tlng=pt>. Acesso em: 12 nov. 2016.
SILVA, R. A. Cinema e Educação. São Paulo: Cortez, 2007.
SMOLKA, A.L. B. A dinâmica discursiva no ato de escrever: Relações oralidade-escritura. In:
SMOLKA, A. L.; GOES, M. C. R. (Orgs.). A linguagem e o outro no espaço escolar:
Vygotsky e a construção do conhecimento. Campinas: Papirus, 1993. p. 33-62.
SMOLKA, A.L. B. O (im)próprio e o (im)pertinente na apropriação das práticas sociais.
Cadernos CEDES, Campinas, n. 50, abr. 2000. p. 26-40. Disponível em:
http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/32357/1/S010132622000000100003.pdf>.
Acesso em: 30 set. 2015

195
SOARES, M. C. S. et al. Como na Faculdade de Educação da UERJ estamos praticando
pensando cinema e o significado da lei nº 13.006/2014. In: FREQUEST, A. Cinema e
Educação: A Lei 13006 - Reflexões, Perspectivas e Propostas. Universo Produção, 2015. p.67-
76.
SOARES, S. M. et al. Oficinas sobre sexualidade na adolescência: Revelando vozes,
desvendando olhares de estudantes do ensino médio. Esc Anna Nery Rev Enferm, 2008. p.
495-491
SOUZA, F. B.; ZANON, L. B. Interações, saberes e fazeres em um movimento de reconstrução
na educação escolar macromissioneira sob o viés da pesquisa-ação. In: GASTALDO, L. F;
ARENHART, L. O.; ANGST, F. (Orgs.). Formação Continuada Macromissioneira.
Tubarão: Editora Copiart, 2015. p. 53-68
TALAVERA, M.; GAVIDIA, V. Dificultades para el desarrollo de la educación para la salud
en la escuela. Opiniones del profesorado. Didáctica de las Ciencias Experimentales y
Sociales.
v.
21,
2007.
p.
119-128.
Disponível
em:
<https://ojs.uv.es/index.php/dces/article/view/2434/1979>. Acesso em: 24 jun. 2016.
TARDIF, M.; LESSARD, C. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência
como profissão de interações humanas. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.
TARDIF, M.; LESSARD, C.; LAHAYE, L. Esboço de uma problemática do saber docente.
Teoria & Educação. v. 1, n. 4, 1991. p. 215-253.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
TRIPP, D. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.
31, n. 3, set./dez. 2005. p. 443-466. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n3/a09v31n3.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2016.
UHMANN, S.; MALDANER, O. A. A interação dialógica constitutiva na formação de
professores. In: BONOTTO, D. L; LEITE, F. A; GÜLLICH, R. I. C. (Org.). Movimentos
Formativos – desafios para pensar a Educação em Ciências e Matemática. Tubarão: Editora
Copiart, 2016. p.75-92.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS. Projeto Institucional PIBID.
Chapecó: UFFS, 2014.
________. Construindo agenda e definindo rumos: I Conferência de ensino, pesquisa e
extensão da UFFS/ Universidade Federal da Fronteira Sul. TREVISOL, J. V.; CORDEIRO, M.
H.; HASS, M. Chapecó, 2011.
USSA, E.O.V. El conocimiento didáctico del contenido biológico: estudio de las
concepciones disciplinares y didácticas de futuros docentes de la Universidad Pedagógica
Nacional (COLOMBIA). 2007. Tese, 633 F. Facultad de Educación Departamento de Didáctica
de las Ciencias Experimentales. Universidad Complutense de Madrid.

196
VARANI, A.; CHALUH, L. N. O uso do filme na formação de professores. ETD – Educação
Temática Digital, Campinas, v. 10, n. 1, jul./dez. 2008. p. 1-23. Disponível em:
<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/1013/1028>. Acesso em: 14
set. 2016.
VENTURINI, T.; PEDROSO, I.; MOHR, A. Educação em Saúde na Escola a partir de uma
perspectiva pedagógica: discussões acerca da formação de professores. In: VI Encontro
Regional Sul de Ensino de Biologia – EREBIO-SUL, 6., 2013, Santo Ângelo. Anais... . Santo
Ângelo:
SBEnBio,
2013.
p.
1-11.
Disponível
em:
<http://santoangelo.uri.br/erebiosul2013/anais/wpcontent/uploads/2013/07/comunicacao/1343
7_130_Tiago_Venturi.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2016.
VIANA, M. C.C V.; ROSA, M.; OREY, D. C. o cinema como uma ferramenta pedagógica na
sala de aula: um resgate à diversidade cultural. Ensino Em Re-Vista, Uberlângia, v. 21, n. 1,
jan./jun.
2014.
p.
137-144.
Disponível
em:
<http://www.seer.ufu.br/index.php/emrevista/article/view/25057/13894>. Acesso em: 24 out.
2015.
VILAÇA, T. Eficácia do paradigma democrático de educação para a saúde no desenvolvimento
da acção e competência de acção de adolescentes em educação sexual. In: BARCA, A. et al.
(Orgs). Libro de Actas do Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía. A.
Coruña/Universidade da Coruña; Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación,
2007.
VILAÇA, M. T. M. Acção e competência de acção em educação sexual: uma investigação
com professores e alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário. 2006. Tese.
(Doutorado em Educação), Universidade do Minho, Braga.
VIGOTSKI, L.S. Pensamento e Linguagem. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
_______. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
_______.
Manuscrito
de
1929.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302000000200002>.
Acesso em: 12 dez. 2015.
______. Obras escogidas II. Madrid, Centro de Publicaciones del M.E.C. y
Visor Distribuciones, 1993.
WENZEL, J.S. A escrita em processos interativos: (re) significando conceitos e a prática
pedagógica em aulas de química. Curitiba: Appris, 2014.
WESTPHAL, M. Promoção da saúde e prevenção de doenças. In: Campos, Gastão Wagner de
Souza et al. (Orgs.). Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Fiocruz.
2006. p. 635-667.
ZABALZA, M. Diários de Aula: um instrumento de pesquisa e desenvolvimento profissional.
Porto Alegre: Artmed, 2004.

197
ZANCUL, M. S.; COSTA, S. S. Concepções de professores de Ciências e de Biologia a respeito
da temática Educação em Saúde na escola. Experiências em Ensino de Ciências, Mato Grosso,
v. 7, n. 2, ago. 2012. p- 67-75. Disponível em: <
http://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID183/v7_n2_a2012.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2016.
ZANCUL, M. S.; GOMES, P. H. M. A formação de licenciados em Ciências Biológicas para
trabalhar temas de Educação em Saúde na escola. Revista Ensino, Saúde e Ambiente, Rio de
Janeiro, v. 4, n.1, abr. 2011. p. 49-61. Disponível em: <
http://ensinosaudeambiente.uff.br/index.php/ensinosaudeambiente/article/view/100>. Acesso
em: 22 abr. 2016.
ZANELA, A.V. Zona de desenvolvimento proximal: análise teórica de um conceito em
algumas situações variadas. Temas de pscicologia, Ribeirão Preto, v, 2, n. 2, ago. 1994.
ZANON, L. B. Interações de licenciandos, formadores e professores na elaboração
conceitual de prática docente: módulos triádicos na licenciatura de Química. 2003, 294 f.
Tese. (Doutorado em Educação), Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Metodista de
Piracicaba, Piracicaba.
ZEICHNER, K. M. A pesquisa-ação e a formação docente voltada para a justiça social: um
estudo de caso dos Estados Unidos. In: ZEICHNER, K. M.; DINIZ-PEREIRA, J. E. (Org.). A
pesquisa na formação e no trabalho docente. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2011. p. 61-
84.
______. A formação reflexiva de professores: ideias e práticas. Lisboa: Educa, 1993.
______. Beyond the divide of teacher research and academic research. Teachers and
teaching: Theory and Practice, v. 1, n. 2, 1995. p. 153-172. Disponível em:
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1354060950010202>. Acesso em: 12 mai.
2016.
______. Para além da divisão entre professor-pesquisador e pesquisador acadêmico. In:
GERALDI, C. M. G., FIORENTINI, D.; PEREIRA, E. M. (Orgs.). Cartografias do trabalho
docente: professor(a)-pesquisador(a). Campinas: Mercado das Letras/ALB, 1998. p. 207-236.
______. Repensando as conexões entre a formação na universidade e as experiencias de campo
na formação de professores em faculdades e universidades. Educação, Santa Maria, v. 35, n.
3, set./dez., 2010. p. 473-504.
______. Uma agenda de pesquisa para a formação docente. Revista Brasileira de Pesquisa
sobre Formação Docente, Belo Horizonte, v. 1, n.1, ago./dez. 2009. p. 13-40. Disponível em:
<http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br/artigo/exibir/1/8/1> Acesso em: 12 mai.
2016.
______. Uma análise crítica sobre a “reflexão” como conceito estruturante na formação
docente. Educação e Sociedade, Campinas, v. 29, n.103, mai./ago. 2008. p. 535-554.
Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 12 mai. 2016.

198
______.; LISTON, D. P. Reflective teaching: an introduction. New Jersey: Lawrence
Erlbaum Associates, 1996.
______. NOFFKE, S. Practitioner research. In: RICHARDSON, V. (Org.). Handbook of
research on teaching. 4. ed. Whashintong: AERA, 2001. p. 298-332.
YOUNG, M. Para que servem as escola? Educação e Sociedade, Campinas, v. 28, n. 101,
set.;
dez.
2007.
p.
1287-1302.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010173302007000400002&script=sci_abstract&tlng=
pt>. Acesso em: 03 jun. 2015. WALLON, H. A evolução psicológica da criança. Lisboa:
Edições, 1968.

199
ANEXO 1
Questionário inicial - Professores Supervisores PibidCiências Biológicas
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
Você está sendo convidado a responder esse questionário que faz parte da coleta de
dados da pesquisa “EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO PROCESSO FORMATIVO DE
PROFESSORES DE CIÊNCIAS DA NATUREZA, MEDIADA PELA ARTE DO
CINEMA NO ENSINO E APRENDIZAGEM”, sob responsabilidade da pesquisadora Eliane
Gonçalves dos Santos, com orientação da professora Doutora Maria Cristina Pansera de Araújo,
que está desenvolvendo o Projeto no âmbito do Curso de Pós-Graduação em Educação em
Ciências – Doutorado da Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ.
Desejamos que você participe da pesquisa respondendo o questionário. Desde já
agradeço sua colaboração.
Doutoranda Eliane Gonçalves dos Santos – Professora Pesquisadora
Questões para os professores Supervisores PibidCiências Biológicas
Perfil e Formação do Professor
1. Nome:
2. Idade:
3. Estado civil:
4. Religião:
5. Número de filhos:
6. Tempo de Formação na graduação:
7. Qual sua graduação, onde graduou-se, ano de conclusão:
8. Pós-graduação: Qual (is)?
9. Tempo de serviço/experiência no magistério em Ciências/Biologia:
10. Número de horas que trabalha:
11. Número de horas em sala de aula:
12. Redes em que trabalha: Número de Escolas em que trabalha:
13. Disciplinas que ministra e para quais níveis de escolaridade:
14. Você identifica na sua formação inicial alguma deficiência na formação em saúde?
15.
16. Qual?

200
Sobre saúde e ensino
17. O que é saúde para você?
18. Que atividades em educação em saúde você desenvolve em suas aulas? Pode citar um
exemplo.
19. Em que anos do Ensino Fundamental ou Médio você trabalha com temas de educação
em saúde com seus alunos?
20. Há professores de outras áreas que desenvolvem em suas aulas assuntos de educação em
saúde? Quem?
21. Ocorrem na escola atividades como: palestras, oficinas, discussões sobre saúde e
educação em saúde? Quem é responsável por essas atividades?
22. Em sua opinião qual é a importância de trabalhar educação em saúde na escola.
23. O que você compreende por modelo biomédico e modelo biopsicossial de saúde?
Filmes no ensino
24. Você gosta de assistir filmes? ( ) sim ( ) não
25. Você pensa que os filmes podem ser instrumentos de aprendizagem? Por quê?
26. Para trabalhar assuntos de saúde já utilizou filmes? Qual (is)? Em que nível de ensino
(Fundamental – Médio)?
27. Com que frequência usa filmes em suas aulas?
28. Você poderia citar quais são as dificuldades que encontra para trabalhar com filmes nas
aulas.

201
Anexo 1.1 Questionário inicial - Professores formadores PibidCiências Biológicas
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
Você está sendo convidado a responder esse questionário que faz parte da coleta de
dados da pesquisa “EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO PROCESSO FORMATIVO DE
PROFESSORES DE CIÊNCIAS DA NATUREZA, MEDIADA PELA ARTE DO
CINEMA NO ENSINO E APRENDIZAGEM”, sob responsabilidade da pesquisadora Eliane
Gonçalves dos Santos, com orientação da professora Doutora Maria Cristina Pansera de Araújo,
que está desenvolvendo o Projeto no âmbito do Curso de Pós-Graduação em Educação em
Ciências – Doutorado da Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ.
Desejamos que você participe da pesquisa respondendo o questionário. Desde já
agradeço sua colaboração.
Doutoranda Eliane Gonçalves dos Santos – Professora Pesquisadora
Questões para os professores formadores PibidCiências Biológicas
Perfil e Formação do Professor
1. Nome:
2. Idade:
3. Estado civil:
4. Religião:
5. Número de filhos:
6. Tempo de Formação na graduação:
7. Qual sua graduação, onde graduou-se, ano de conclusão:
8. Pós-graduação:
9. Tempo de serviço/experiência no magistério superior:
10. Número de horas que trabalha:
11. Componentes curriculares que ministra e para quais fases da graduação:
12. Você identifica na sua formação inicial alguma deficiência na formação em saúde?
Qual?
Sobre saúde e ensino

202
13. O que é saúde para você?
14. Que atividades em educação em saúde você desenvolve em suas aulas? Pode citar um
exemplo.
15. Em alguma fase da graduação você trabalha com temas de educação em saúde com
seus alunos?
16. Em sua opinião qual é a importância de trabalhar educação em saúde na escola?
17. O que você compreende por modelo biomédico e modelo biopsicossial de saúde?
Filmes no ensino
18. Você gosta de assistir filmes? ( ) sim ( ) não
19. Você pensa que os filmes podem ser instrumentos de aprendizagem? Por quê?
20. Para trabalhar assuntos de saúde já utilizou filmes? Qual (is)?
21. Com que frequência usa filmes em suas aulas?
22. Você poderia citar quais são as dificuldades que encontra para trabalhar com filmes
nas aulas

203
Anexo 1.2 Questionário inicial - Bolsistas de Iniciação à Docência PibidCiências Biológicas
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
Você está sendo convidado a responder esse questionário que faz parte da coleta de
dados da pesquisa “EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO PROCESSO FORMATIVO DE
PROFESSORES DE CIÊNCIAS DA NATUREZA, MEDIADA PELA ARTE DO
CINEMA NO ENSINO E APRENDIZAGEM”, sob responsabilidade da pesquisadora Eliane
Gonçalves dos Santos, com orientação da professora Doutora Maria Cristina Pansera de Araújo,
que está desenvolvendo o Projeto no âmbito do Curso de Pós-Graduação em Educação em
Ciências – Doutorado da Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ.
Desejamos que você participe da pesquisa respondendo o questionário. Desde já
agradeço sua colaboração.
Doutoranda Eliane Gonçalves dos Santos – Professora Pesquisadora
Questões para os Bolsistas de Iniciação à Docência PibidCiências Biológicas
1. Nome:
2. Idade:
3. Estado civil:
4. Religião:
5. Número de filhos:
6. Fase da graduação de Ciências Biológicas – Licenciatura que se encontra:
7. Tempo que está no PibidCiências Biológicas:
8. Você identifica na sua formação inicial alguma deficiência na formação em saúde?
Qual?
Sobre Saúde e ensino
9. O que você entende por saúde.
10. O que é para você educação em saúde.
11. Você recorda como assuntos de saúde e a educação em saúde foram abordados na sua
formação da Educação Básica?
12. Você lembra-se de professores de outras áreas que desenvolviam em suas aulas assuntos
de educação em saúde? Quem?

204
13. Em sua opinião qual é a importância de trabalhar educação em saúde na escola.
14. O que você compreende por modelo biomédico e modelo biopsicossial de saúde?
Filmes no ensino
15. Você gosta de assistir filmes? ( ) sim ( ) não
16. Você já elaborou roteiros de aulas ou outras atividades com filmes para serem
desenvolvidas na escola onde exerce suas atividades de bolsista de iniciação à docência?
17. Se a sua resposta foi afirmativa para a questão anterior, usou o filme para abordar que
assunto? Qual filme foi utilizado? Em que nível de ensino (Fundamental – Médio)?
18. Já auxiliou ou propôs atividades de saúde e educação em saúde na escola onde exerce
suas atividades de bolsista de iniciação à docência? Qual?
19. Na sua formação inicial os professores utilizam filmes, vídeos para abordar os
conteúdos que estão sendo ministrados?
20. No seu ver os filmes podem ser instrumentos de aprendizagem nas aulas? Por quê?
21. Você identifica movimentos interdisciplinares entre a apresentação e discussão dos
conteúdos de saúde nos diferentes componentes curriculares cursados?
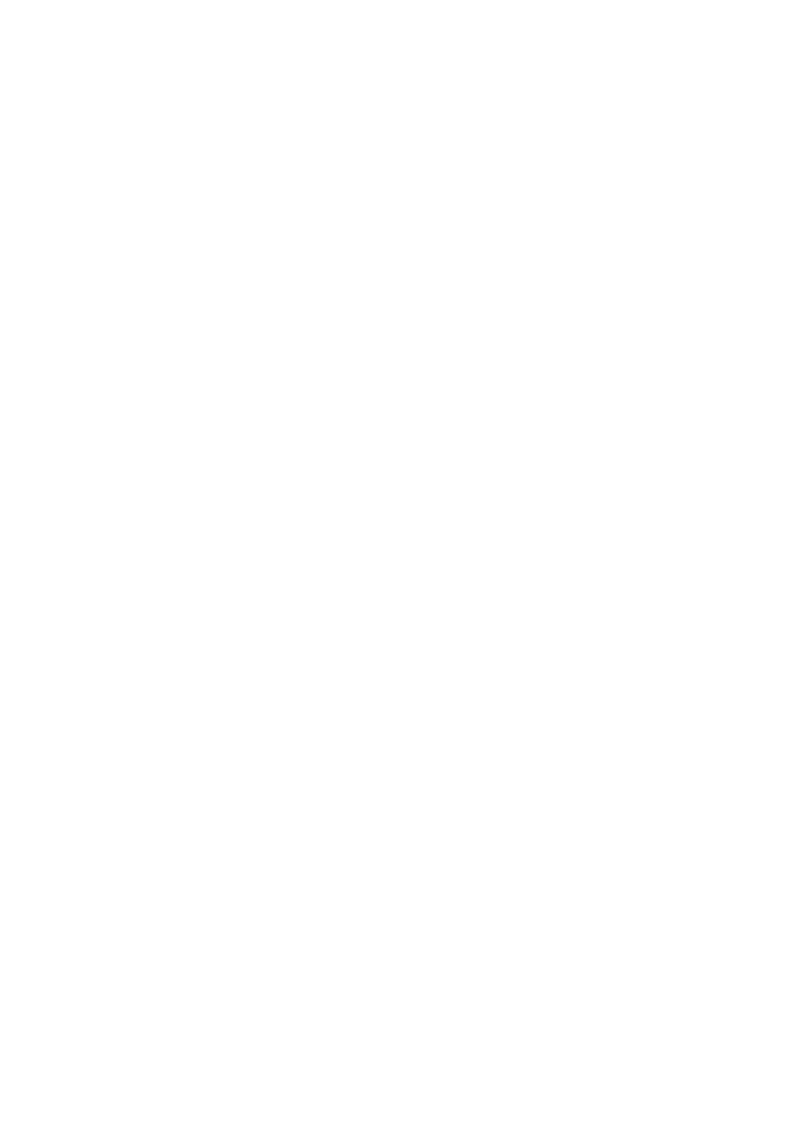
205
ANEXO 2
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu,_____________________________________________________________, RG ou
CPF_____________________, DECLARO para devidos fins de participação na pesquisa:
“EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO PROCESSO FORMATIVO DE PROFESSORES DE
CIÊNCIAS DA NATUREZA, MEDIADA PELA ARTE DO CINEMA NO ENSINO E
APRENDIZAGEM”, na condição de sujeito de pesquisa, que fui devidamente esclarecido da
pesquisa desenvolvida pela Professora Eliane Gonçalves dos Santos, inscrita no CPF: e no RG:,
do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal da Fronteira Sul –
UFFS, bem como doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências da
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, sob orientação
da Professora Dr. Maria Cristina Pansera de Araújo, inscrita no CPF: e no RG, quanto aos
seguintes aspectos:
- objetivos da pesquisa:
a) Reconhecer as concepções de saúde do grupo de professores de Ciências da Natureza em
processo formativo;
b) Promover espaço de interação, diálogo, partilha e troca de experiências para significar a
Educação em Saúde na docência em Ciências da Natureza.
c) Organizar sessões com uso da Arte do Cinema, no processo formativo de professores de
Ciências da Natureza, para discussão e reflexão sobre saúde, cuidado de si, promoção de saúde
e prevenção de doença;
d) Investigar as interações dos professores de Ciências da Natureza em processo formativo por
meio da perspectiva histórico-cultural de Vigotski;
e) Trazer à tona e problematizar as concepções de saúde e educação em saúde apresentadas por
professores em processo formativo;
f) Propiciar espaços de ressignificação das concepções de saúde no ensino e aprendizagem;
g) Analisar as discussões realizadas e os relatos registrados nos Diários de Bordo pelo grupo de
professores de Ciências da Natureza em processo formativo;
h) Analisar os episódios das interações dos professores buscando indícios, minucias do processo
que servirão para construção dos dados, por meio de áudio ou vídeo gravação.
- justificativa e procedimentos que serão utilizados na pesquisa;
- qualquer alteração na metodologia ou uso dos dados serão informados com antecedência, e
para tanto deverá ser solicitado um novo consentimento;

206
- a pesquisadora assume riscos e todo tipo de ônus e encargo decorrente da pesquisa, bem como
se responsabiliza por eventuais ressarcimentos de despesas que eventualmente venham ocorrer
e indenizações referentes a danos que vierem a existir durante todo o percurso da pesquisa;
- garantia de acompanhamento e assistência em todas as fases da pesquisa prestando
informações e primando pela transparência, ética e compromisso com o rigor científico durante
a pesquisa;
- garantia de retirar minhas informações e dados solicitados em qualquer momento da pesquisa,
se vier a desistir da participação mesmo que sem motivo explicitado;
- garantia que o uso das informações prestadas não irão causar maleficência de qualquer e toda
forma ao sujeito da pesquisa;
- garantia de sigilo quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa, assegurando-lhes
absoluta privacidade;
- reclamar ou oferecer denúncia junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal
da Fronteira Sul - Avenida General Osório, 413- D, Edifício Mantelli, 3° andar, Sala 3-1-B,
Bairro Jardim Itália, Chapecó – Santa Catarina – Brasil – CEP: 89802-265-Fone: (49) 2049-
3745; e-mail: cep.uffs@uffs.edu.br.
DECLARO, que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o
que me foi explicado, consinto voluntariamente participar da pesquisa. O presente documento
é assinado em duas vias de igual teor, ficando uma com o sujeito da pesquisa e outra arquivada
com o pesquisador responsável.
Para cada tipo de ação da pesquisa em que você vier a participar, deverá externar o
desejo e o entendimento quanto a participação, marcando um X, nas possibilidades abaixo
listadas.
Tipo de Participação:
( ) Encontros gravados em áudio
( ) Encontros gravados em áudio e imagem
( ) Entrevista individual
( ) Questionário de pesquisa
( ) Texto produzido
( ) Imagem pessoal
( ) Imagem da Escola
( ) Empréstimo de documentos: Planos, Livros, Guias, ...
( ) Comunicação de dados e estatísticas

207
( ) Autorização para anotações acerca do ambiente escolar.
__________________________________
Assinatura do Sujeito da Pesquisa
________________________________
Eliane Gonçalves dos Santos
Pesquisador Responsável
CPF:
_______________________________
Maria Cristina Pansera de Araújo
Pesquisador
CPF:

208
ANEXO 3
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
Você está sendo convidado a responder esse questionário que faz parte da coleta de
dados da pesquisa “EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO PROCESSO FORMATIVO DE
PROFESSORES DE CIÊNCIAS DA NATUREZA, MEDIADA PELO CINEMA NO
ENSINO E APRENDIZAGEM”, sob responsabilidade da pesquisadora Eliane Gonçalves dos
Santos, que está desenvolvendo o Projeto no âmbito do Curso de Pós-Graduação em Educação
em Ciências – Doutorado da Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul –
UNIJUÍ, sob orientação da professora Doutora Maria Cristina Pansera de Araújo.
Desejamos que você participe da pesquisa respondendo ao questionário. Desde já
agradeço sua colaboração.
Doutoranda Eliane Gonçalves dos Santos – Professora Pesquisadora
Doutora Maria Cristina Pansera de Araújo
Questões para os professores formadores PibidCiências Biológicas
1. Nome:
2. Tempo de participação como formador, no PibidCiências Biológicas?
3. Em sua opinião, o que é Educação e Saúde e como se efetiva na escola?
4. O que você compreende por modelo biomédico e modelo biopsicossial de saúde?
5. Quais são as possibilidades de desenvolver a Educação em Saúde na Escola, e, como
você faria, tendo em vista a complexidade do tema?
6. Que conhecimentos você julga necessários ao professor para abordar a educação em
saúde na escola?
7. Verifique a afirmação “filmes podem ser instrumentos de aprendizagem”? Por quê?

209
8. Como você avalia os encontros formativos sobre a educação em saúde e suas
implicações no ensino escolar, realizados em 2016, com a discussão de filmes
comerciais?
9. Você pode apontar aspectos positivos e negativos deste processo?
10. E, qual a sua opinião sobre a utilização de filmes comercias na licenciatura com a
finalidade de promover o desenvolvimento do conhecimento sobre saúde?

210
Anexo 3.1 QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
Você está sendo convidado a responder esse questionário que faz parte da coleta de
dados da pesquisa “EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO PROCESSO FORMATIVO DE
PROFESSORES DE CIÊNCIAS DA NATUREZA, MEDIADA PELO CINEMA NO
ENSINO E APRENDIZAGEM”, sob responsabilidade da pesquisadora Eliane Gonçalves dos
Santos, que está desenvolvendo o Projeto no âmbito do Curso de Pós-Graduação em Educação
em Ciências – Doutorado da Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul –
UNIJUÍ, sob orientação da professora Doutora Maria Cristina Pansera de Araújo.
Desejamos que você participe da pesquisa respondendo ao questionário. Desde já
agradeço sua colaboração.
Doutoranda Eliane Gonçalves dos Santos – Professora Pesquisadora
Doutora Maria Cristina Pansera de Araújo
Questões para os Bolsistas de Iniciação à Docência PibidCiências Biológicas
a. Nome:
b. Tempo de participação como bolsista, no PibidCiências Biológicas?
c. Em sua opinião, o que é Educação e Saúde e como se efetiva na escola?
d. O que você compreende por modelo biomédico e modelo biopsicossial de saúde?
e. Quais são as possibilidades de desenvolver a Educação em Saúde na Escola, e, como
você faria, tendo em vista a complexidade do tema?
f. Que conhecimentos você julga necessários ao professor para abordar a educação em
saúde na escola?
g. Verifique a afirmação “filmes podem ser instrumentos de aprendizagem”? Por quê?
h. Como você avalia os encontros formativos sobre a educação em saúde e suas
implicações no ensino escolar, realizados em 2016, com a discussão de filmes

211
comerciais?
i. Você pode apontar aspectos positivos e negativos deste processo?
j. E, qual a sua opinião sobre a utilização de filmes comercias na licenciatura com a
finalidade de promover o desenvolvimento do conhecimento sobre saúde?
k. Você já elaborou roteiros de aulas ou outras atividades com filmes para serem
desenvolvidas na escola onde exerce suas atividades de bolsista de iniciação à
docência? Pode comentar sobre essa prática e sua finalidade.

212
Anexo 3.2 QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
Você está sendo convidado a responder esse questionário que faz parte da coleta de
dados da pesquisa “EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO PROCESSO FORMATIVO DE
PROFESSORES DE CIÊNCIAS DA NATUREZA, MEDIADA PELO CINEMA NO
ENSINO E APRENDIZAGEM”, sob responsabilidade da pesquisadora Eliane Gonçalves dos
Santos, que está desenvolvendo o Projeto no âmbito do Curso de Pós-Graduação em Educação
em Ciências – Doutorado da Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul –
UNIJUÍ, sob orientação da professora Doutora Maria Cristina Pansera de Araújo.
Desejamos que você participe da pesquisa respondendo ao questionário. Desde já
agradeço sua colaboração.
Doutoranda Eliane Gonçalves dos Santos – Professora Pesquisadora
Doutora Maria Cristina Pansera de Araújo
Questões para os professores Supervisores PibidCiências Biológicas
1. Nome:
2. Tempo de participação como bolsista, no PibidCiências Biológicas?
3. Em sua opinião, o que é Educação e Saúde e como se efetiva na escola?
4. O que você compreende por modelo biomédico e modelo biopsicossial de
saúde?
5. Quais são as possibilidades de desenvolver a Educação em Saúde na Escola, e,
como você faria, tendo em vista a complexidade do tema?
6. Que conhecimentos você julga necessários ao professor para abordar a educação
em saúde na escola?
7. Verifique a afirmação “filmes podem ser instrumentos de aprendizagem”? Por
quê?
8. Como você avalia os encontros formativos sobre a educação em saúde e suas
implicações no ensino escolar, realizados em 2016, com a discussão de filmes
comerciais?
9. Você pode apontar aspectos positivos e negativos deste processo?
10. E, qual a sua opinião sobre a utilização de filmes comercias na licenciatura com
a finalidade de promover o desenvolvimento do conhecimento sobre saúde?

213
ANEXO 4
PLANEJAMENTO DA SESSÃO FÍLMICA PELOS PROFESSORES BOLSISTAS
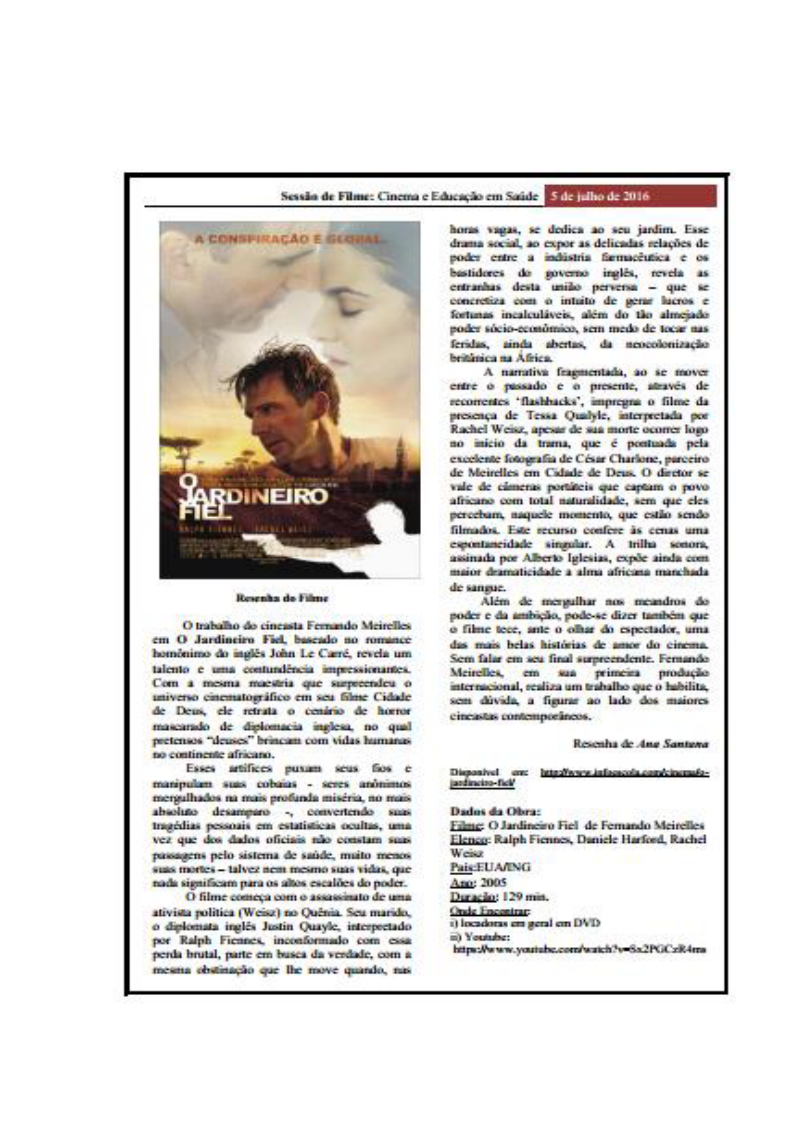
214

215
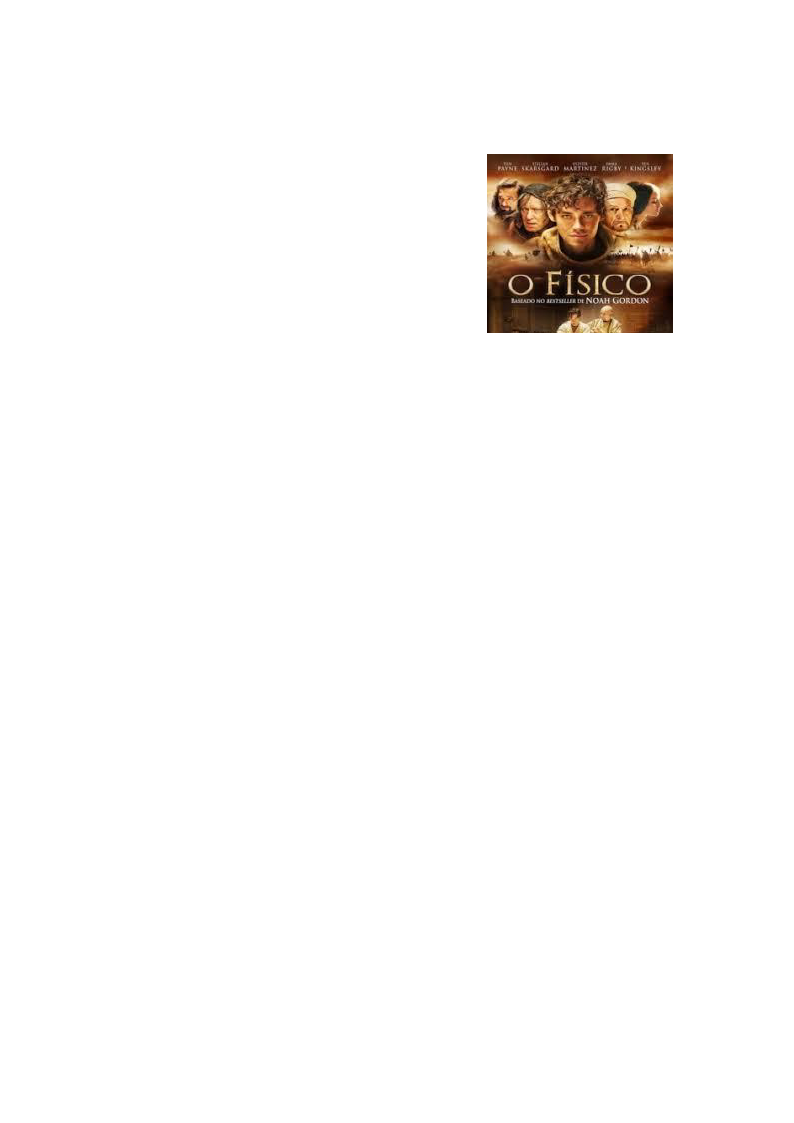
216
O FÍSICO
Lançamento: 9 de outubro de 2014 (155min)
Direção: Philipp Stölzi
Elenco: Tom Payne, Bem Kingsley, Stellan Skarsgärd
Gênero: Drama
Nacionalidade: EUA, Alemanha
Sinopse:
Inglaterra, século XI. Ainda criança, Rob vê sua mãe morrer em decorrência da doença do lado. O garoto
cresce sob os cuidados de Bader, o barbeiro local que promete curar doenças. Ao crescer, Rob acumula
todos os conhecimentos de Bader sobre cuidar de pessoas doentes, mas ele sonha em saber mais. Após
Bader passar por uma operação nos olhos, Rob descobre que na Pérsia há um médico famoso,
responsável por administrar um hospital. Para aprender com ele, Rob faz uma longa viagem rumo à
Ásia.
QUESTIONAMENTOS
1) “Elixir Universal”, bom para piolho, unha encravada, sarna, cegueira, tosse, coceira, dor de
barriga, calvície, impotência sexual e o que mais você imaginar! Atualmente, há o uso desses
“medicamentos milagrosos” (bom para tudo!!!)?
2) Como a religião interferiu nos avanços da medicina? Podem, a medicina e a religião, caminhar
lado a lado?
3) Que modelos (biomédico, comportamental, biopsicossocial, ecossistêmico) podem ser
percebidos no filme?
4) Como era a vista a relação da espiritualidade na época em que o filme se passa? E na atualidade?
5) Como pode ser percebida no filme a questão/ importância das normas de higiene com relação à saúde?
E hoje, temos a devida preocupação com a higiene?
