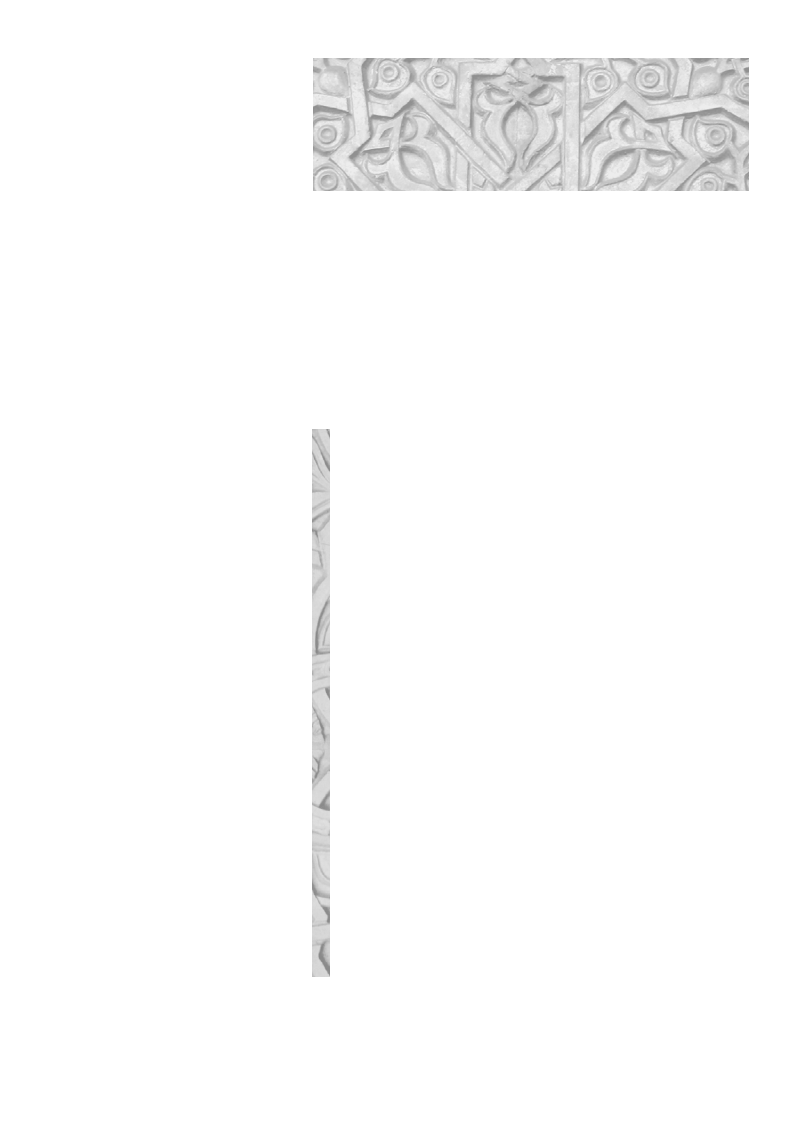
ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO
NOTA DE PESQUISA
Armando Magalhães Corrêa: gente e natureza
de um sertão quase metropolitano
Armando Magalhães Corrêa: people and nature in
an almost metropolitan sertão
José Luiz de
Andrade Franco
Pesquisador do Centro de
Desenvolvimento Sustentável da
Universidade de Brasília
SQN 304, Bloco D, apt 507
70736-040 Brasília – DF – Brasil
jlafranco@aol.com
José Augusto Drummond
Pesquisador do Centro de
Desenvolvimento Sustentável da
Universidade de Brasília
SQN 304, Bloco D, apt 507
70736-040 Brasília – DF – Brasil
jaldrummond@uol.com.br
FRANCO, J. L. de A.; DRUMMOND, J. A.: Armando Magalhães
Corrêa: gente e natureza de um sertão quase metropolitano.
História, Ciências, Saúde – Manguinhos,
v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005.
O texto examina o pensamento social e ambiental de Armando
Magalhães Corrêa (1889-1944), conforme expresso no livro
O sertão carioca (1936). Mostra-se que ele fez parte de uma
geração de conservacionistas pioneiros do Brasil, a qual, ao
contrário do que geralmente se pensa, soube integrar as
dimensões social e natural, aproximando a necessidade de
defender a natureza do imperativo de melhorar as condições de
vida dos habitantes do interior brasileiro. Ao focalizar as
populações do entorno rural da cidade do Rio de Janeiro por
volta de 1930, o autor capta num microcosmo as distâncias
sociais e culturais entre urbanos e sertanejos brasileiros.
Descreve com acuidade o meio natural de uma área em grande
parte urbanizada que vai da baixada de Jacarepaguá à Pedra de
Guaratiba. Trata das atividades produtivas dos seus habitantes e
faz sugestões políticas conservacionistas que vieram a
influenciar as políticas governamentais.
PALAVRAS-CHAVE: Rio de Janeiro; conservacionismo; Museu
Nacional do Rio de Janeiro; recursos naturais; populações rurais;
expansão urbana.
FRANCO, J. L. de A.; DRUMMOND, J. A.: Armando Magalhães
Corrêa: people and nature in an almost metropolitan sertão.
História, Ciências, Saúde – Manguinhos,
v. 12, n. 3, p. 1033-59, Sept.-Dec. 2005.
The article examines the social and environmental thought of Armando
Magalhães Corrêa (1889-1944) as expressed in his book O sertão
carioca (1936). He was part of a generation of pioneer conservationists
in Brazil who—contrary to what is generally believed—were able to
bring the social and natural dimensions together, blending the need to
defend nature with the imperative of improving the living conditions for
people in Brazil’s interior. Focusing on people residing in the rural
outskirts of Rio de Janeiro city around 1930, Corrêa captures a
microcosm that illustrates the social and cultural distances separating
Brazilian urbanites and sertão dwellers. He provides clear descriptions
of the natural world within a largely urbanized area that stretches from
the Jacarepaguá lowlands to Pedra de Guaratiba. He explores the
productive activities of the region’s inhabitants and makes
conservationist suggestions that were to influence governmental policy.
KEYWORDS: Rio de Janeiro; conservationism; Rio de Janeiro Natural
Museum; natural resources; rural populations, urban expansion.
v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005
1033

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND
Introdução e objetivo
1Data desta época a
edição da primeira
geração de leis
brasileiras
relacionadas ao
problema da proteção
da natureza. Entre elas
se incluem o Código
Florestal, o Código de
Caça e Pesca, o
Código de Águas, o
Código de Minas, e o
Código de
Fiscalização das
Expedições Artísticas
e Científicas,
instituídos entre maio
de 1933 e outubro de
1934. Além disso, a
própria Constituição
de 1934 encarregava
os governos central e
estaduais de proteger
as “belezas naturais” e
“monumentos de
valor histórico ou
artístico”. Pouco
depois foram criados
os primeiros parques
nacionais brasileiros:
Itatiaia, em 1937, e
Serra dos Órgãos e
Iguaçu, ambos em
1939. A respeito de
algumas dessas leis,
ver Drummond, 1998-
1999).
O ambiente político-intelectual brasileiro nas décadas de 1930 e
1940 definia-se por um intenso nacionalismo, aliado ao dese-
jo de modernização da sociedade e das instituições do Estado. Di-
versos temas foram objeto de debate e de reformas políticas nesse
período: o trabalho, a indústria, a educação, a saúde, o arcabouço
jurídico-institucional, as manifestações culturais, o patrimônio
histórico, e a proteção à natureza. Setores significativos da socie-
dade mobilizaram-se em torno de cada uma dessas questões.
No caso da proteção à natureza, houve nesse período um ‘gru-
po de interesse’ razoavelmente bem organizado, constituído em sua
maioria por cientistas, intelectuais e funcionários públicos, que
pretendeu fazer que o Estado implementasse políticas relacionadas
à conservação do patrimônio natural brasileiro. A maneira como
esse grupo se inseriu no contexto político-intelectual da época e o
seu relativo sucesso estiveram associados ao fato de terem conectado
as suas preocupações sobre a proteção da natureza com a questão
da identidade nacional.1 Isso representava um empenho no sentido de
articular propostas específicas relacionadas ao conceito de proteção
à natureza com um projeto político mais amplo, de cunho nacio-
nalista. O objetivo principal deste texto é narrar e avaliar a rele-
vância contemporânea e atual de uma contribuição literária exem-
plar da produção desse grupo, o livro O sertão carioca, de Armando
Magalhães Corrêa (1936). Além de uma descrição e de uma análise
de trechos representativos do livro, o Anexo iconográfico reúne
uma amostra das excelentes gravuras de bico de pena com que Corrêa
ilustrou o seu texto.
O Contexto
O esforço de elaboração intelectual desenvolvido por esse grupo
se fundamentava na apropriação de tradições de pensamento que
combinavam um conhecimento científico do mundo natural e a
noção de que esse mundo devia ser conservado por motivos
econômicos e estéticos (a respeito do desenvolvimento do conheci-
mento científico sobre o mundo natural e o surgimento de uma
preocupação com a sua conservação, ver Thomas, 1996; McCormick,
1992; Worster, 1994; Nash, 1982; Nash, 1989; Pádua, 2002; Acot,
1990; e Alphandéry, Bitoun & Dupont, 1992).
No Brasil, esse tipo de perspectiva formou-se, sobretudo, no
interior de certas instituições devotadas à ciência. A principal delas
foi o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ao realizar pesquisas nos
campos da história natural, da biologia e da antropologia, os cien-
tistas e professores dessa instituição logo despertaram para o pro-
blema da destruição do patrimônio natural pelas ações humanas.
1034
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO
Vários deles se dedicaram ao ativismo e à formulação de um pensa-
mento focalizados na proteção da natureza. Entre eles podemos
citar Cândido de Mello Leitão, Paulo Roquette-Pinto, Bertha Lutz,
Heloísa Alberto Torres, Armando Magalhães Corrêa e Alberto José
Sampaio. Frederico Carlos Hoehne, que teve em São Paulo atuação
destacada em favor da proteção da natureza, também começou a
sua carreira como botânico e taxonomista no Museu (Franco, 2002;
Engemann et al., no prelo).
Esses intelectuais desempenharam, também, um papel impor-
tante junto a grupos cívicos que se organizaram em torno da ques-
tão da proteção à natureza. Destacavam-se associações como o Cen-
tro Excursionista Brasileiro, cujos guias foram credenciados como
guardas florestais; a Federação Brasileira para o Progresso Femini-
no, que tinha a bióloga Bertha Lutz como uma de suas líderes; a
Sociedade de Amigos de Alberto Torres (Armando Magalhães
Corrêa foi um de seus fundadores); a Sociedade Geográfica do Rio
de Janeiro; a Sociedade de Amigos das Árvores (fundada, em 1931,
por Alberto José Sampaio) e a Sociedade dos Amigos do Museu
Nacional (constituída por funcionários do Museu Nacional). Em
São Paulo, Frederico Carlos Hoehne organizou a Sociedade de
Amigos da Flora Brasílica, que incluía em seu quadro de sócios
fundadores, além de cientistas e funcionários públicos, horticultores
e fazendeiros inovadores (Dean, 1996).
Alguns dos cientistas citados destacaram-se não só pela sua
militância em favor da proteção à natureza, mas também pelo fato
de terem escrito textos que visavam discutir teoricamente o assun-
to e propor programas de atuação efetiva (os dados biográficos
usados a seguir vêm de Franco, 2002). Alberto José Sampaio (1881-
1946) entrou para o quadro de professores do Museu Nacional em
1912. Estudioso das Orquidáceas, Filicíneas e Bignoniáceas, foi um
dos mais importantes botânicos brasileiros de sua época e um dos
principais incentivadores da proteção à natureza no Brasil: com
apoio do Museu Nacional e da Sociedade dos Amigos das Árvores,
organizou a Primeira Conferência Brasileira de Proteção à Nature-
za, realizada no Rio em 1934, da qual foi também o relator; minis-
trou incansavelmente palestras e escreveu sobre a questão da con-
servação da natureza, procurando articular o seu vasto conheci-
mento no campo da biologia com o projeto de nacionalidade pro-
posto por Alberto Torres (ver Sampaio, 1934; 1935; 1926).
Cândido Firmino de Mello Leitão (1886-1948), também profes-
sor do Museu Nacional, era zoólogo de destaque, tendo ocupado a
presidência da Academia Brasileira de Ciências em 1943-1945. Espe-
cialista em aracnídeos, interessou-se também pela distribuição geo-
gráfica dos animais, pela conformação de seus habitats e por suas
formas de comportamento. Dotado de extensa erudição, defendeu
em muitos de seus escritos a conservação da natureza, especial-
v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005
1035

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND
mente no interesse do desenvolvimento da ciência (ver Leitão, 1947;
Leitão, 1940; Leitão, 1935).
Frederico Carlos Hoehne (1882-1959) atuou sobretudo em São
Paulo, onde trabalhou desde 1917. Primeiramente, ligou-se a uma
Seção de Botânica que migrou por diversas repartições públicas.
Em 1942 fundou o Instituto de Botânica e o Jardim Botânico do
Estado, os quais dirigiu até 1950. Administrou, também, a Reserva
Biológica do Alto da Serra de Cubatão e organizou campanhas,
entre 1924 e 1926, pela preservação das florestas do Jabaquara e do
Morro do Jaraguá. A sua formação, no entanto, se deu no Museu
Nacional, no Rio de Janeiro, instituição onde iniciou, em 1907, como
jardineiro-chefe, a sua carreira de funcionário público, e onde apren-
deu os segredos da história natural, sobretudo da botânica, com
Alberto José Sampaio. Durante a sua vida profissional, viajou por
grande parte do Brasil, tornando-se um profundo conhecedor da
biogeografia do país. Escreveu sobre as possibilidades de aprovei-
tar, sem comprometer, os recursos naturais nas diversas regiões, e
sobre locais em que poderiam ser criadas reservas de proteção da
fauna e da flora (Hoehne, 1937; 1930a; 1936; 1930b; 1949; 1943-
1951).
O presente artigo analisa O sertão carioca, livro de autoria de
Armando Magalhães Corrêa (1889-1944) publicado pela Imprensa
Nacional, em 1936. Ele caracteriza bem o tipo de pensamento pro-
duzido na década de 1930 sobre a proteção da natureza no Brasil.
O foco na obra de Corrêa justifica-se também pela pouco conhecida
influência que ele exerceu sobre uma geração mais nova de cientis-
tas, que desempenhou um papel importante para o surgimento do
ambientalismo brasileiro principalmente nas décadas de 1970 e 1980,
entre os quais podemos mencionar Alceo Magnanini, Adelmar
Coimbra Filho, Harold Edgard Strang, Luiz Emygdio de Mello
Filho, José Cândido de Melo Carvalho, Wanderbilt Duarte de Bar-
ros e Augusto Ruschi (sobre essa geração mais nova de conserva-
cionistas brasileiros, ver Urban, 1998; Medeiros, 1995).
O sertão carioca – anotações de um visitante contumaz ao
sertão metropolitano
O carioca Armando Magalhães Corrêa (Rio de Janeiro, 1889-
1944) foi escultor, desenhista, professor e escritor. Iniciou os seus
estudos de nível superior na Escola Militar de Realengo, transfe-
rindo-se mais tarde para a antiga Escola Nacional de Belas-Artes,
onde fez o curso de escultura e foi discípulo de Rodolfo Bernardelli.
Durante o curso, ganhou um prêmio de viagem de estudos ao es-
trangeiro, em 1912, e fez um curso de aperfeiçoamento em Paris.
Participava regularmente de mostras artísticas, como escultor, in-
clusive o Salão Nacional de Belas-Artes do Rio de Janeiro, tendo
1036
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO
2 Consta que O Sertão
Carioca foi publicado
como o volume 167,
do ano de 1933, da
Revista do Instituto
Histórico e Geográfico
Brasileiro. No entanto,
este número do
periódico só foi
impresso pela
Imprensa Nacional em
1936, portanto, com
um atraso de três anos.
obtido várias premiações entre 1910 e 1930. Deu aulas de modela-
gem e de arte decorativa na Sociedade dos Amigos de Alberto Tor-
res, da qual foi um dos fundadores. Existem esculturas de sua au-
toria expostas nos prédios da antiga Câmara dos Deputados e da
Escola Nacional de Belas Artes (ambos no Rio).
Colaborou assiduamente no importante jornal carioca Correio
da Manhã, escrevendo e ilustrando, com desenhos a bico-de-pena,
estudos do passado e do presente da cidade do Rio de Janeiro, in-
clusive as matérias que deram origem ao livro O sertão carioca. Ou-
tras séries de textos publicados no mesmo jornal tiveram os títulos
de “Terra Carioca” e “Ilhas da Guanabara”. Corrêa escreveu pelo
menos mais um livro sobre aspectos históricos da cidade do Rio de
Janeiro, focalizando os chafarizes da cidade, aproveitando artigos
da série “Terra Carioca” (Corrêa, 1939. Os dados biográficos foram
retirados de Sarmento, 1998; Cavalcanti, 1973; Engemann et al.,
no prelo).
Segundo Sarmento (1998), Corrêa era também um naturalista
autodidata. Foi nessa condição que trabalhou por muitos anos como
conservador na Seção de História Natural do Museu Nacional do
Rio de Janeiro. Aprendeu, também por conta própria, a desenhar
plantas e animais, habilidade muito valorizada pelos estudiosos da
botânica e da zoologia do seu tempo, quando eram limitadas as
possibilidades de registro fotográfico de espécimes raros e paisa-
gens agrestes. Os seus conhecimentos de história natural e a sua
capacidade de produzir imagens sobre a natureza o transforma-
ram em professor do Museu Nacional e da Escola de Belas Artes do
Rio de Janeiro.
Após muitas excursões de campo a Jacarepaguá, Barra da Tijuca
e Guaratiba, e às encostas do maciço da Pedra Branca, acabou com-
prando um sítio em Jacarepaguá, onde fixou residência. Com base
nesse sítio, passava fins de semana e períodos mais prolongados
caminhando extensamente e fazendo anotações sobre os aspectos
naturais e humanos daqueles locais então ainda ermos da periferia
da grande urbe carioca.
Como já destacado, Corrêa exercia, também, atividade jorna-
lística. O sertão carioca nasceu de uma série de artigos publicados no
jornal carioca O Correio da Manhã, nos anos de 1931 e 1932. Ramiz
Galvão, diretor da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
(IHGB), pouco depois disso, incentivado por Ricardo Palma e por
Roquette-Pinto, fez que a série de reportagens fosse coligida e edi-
tada na forma de livro,2 baseado, quase todo, em informações pri-
márias recolhidas no trabalho de campo do próprio autor, na forma
de extensas e assíduas caminhadas por trilhas, estradas, fazendas,
areais, praias, lagoas, aquedutos, barragens e pontes. Corrêa, ao
longo de vários anos, fez anotações, conversou com moradores e
compôs excelentes gravuras (ver o Anexo Iconográfico a este artigo),
v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005
1037
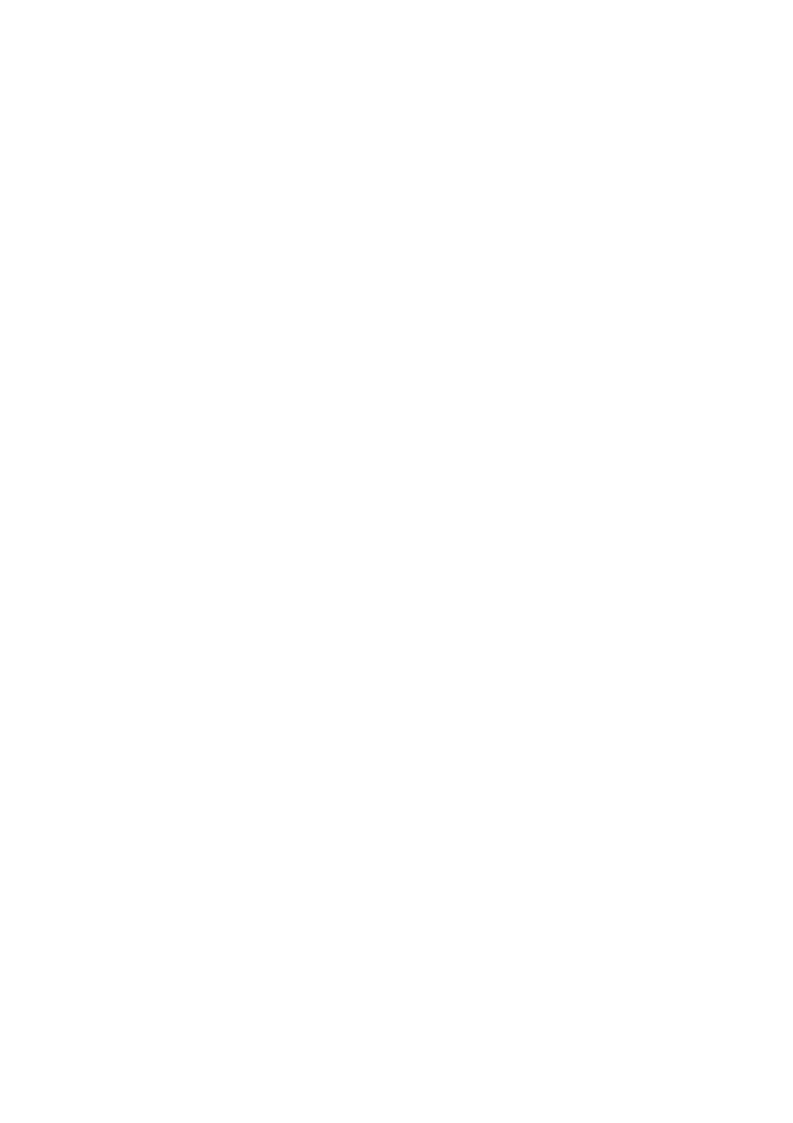
JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND
3 Engemann et alli
(no prelo) sugerem a
possibilidade de este
livro de Armando
Magalhães Corrêa ter
inspirado a concepção
de um livro mais
famoso – e também de
difícil acesso –
intitulado Tipos e
Aspectos do Brasil,
publicado
originalmente pelo
IBGE em 1939. Este
livro é caracterizado
por textos descritivos
da natureza e dos
habitantes de muitas
paisagens naturais
brasileiras,
acompanhados de
excelentes ilustrações
de Percy Lau.
ilustrando as paisagens, os objetos, as casas e os tipos humanos
que encontrava.3
O objetivo do texto era, por meio do estudo de uma região vizi-
nha à cidade do Rio de Janeiro, que compreendia os maciços da
Tijuca e da Pedra Branca e a baixada de Jacarepaguá, chamar a
atenção para o que Corrêa julgava ser o principal problema enfren-
tado pelo país, ou seja, o da falta de assistência, por parte dos pode-
res públicos, às gentes e às terras do sertão. Queria destacar que os
problemas dos sertanejos e dos sertões não ocorriam apenas em
lugares ermos e distantes da capital federal. Começavam a poucas
dezenas de quilômetros do seu centro asfaltado e agitado. Assim:
O problema fundamental no Brasil é o de uma sadia brasilidade,
a começar pelo reflorestamento, a conservação dos mananciais,
para garantia de nossa fauna, e assim possa haver meios de sub-
sistência aos seus habitantes. Particularizando o sertão carioca,
o fiz como exemplo dessa calamidade que abrange todo o terri-
tório brasileiro. (Corrêa, 1936, p. 237)
Corrêa queria mostrar que nas vizinhanças da própria capital
federal existia uma realidade pouco conhecida daqueles que viviam
em meio aos confortos do mundo urbano. Essa realidade ‘sertane-
ja’ representava para ele, no entanto, a condição da maior parcela
da sociedade brasileira. O próprio título do livro incluía a expres-
são ‘sertão carioca’ que, embora constasse de mapas e outros docu-
mentos antigos e da época, buscava causar no leitor um efeito
desconcertante, ao combinar duas palavras como que opostas. A
palavra ‘sertão’ – designação genérica dada até hoje pelos brasilei-
ros citadinos aos lugares ermos, ignotos e inóspitos do vasto inte-
rior brasileiro – era justaposta a ‘carioca’ – gentílico reservado aos
urbaníssimos habitantes da cidade do Rio de Janeiro, metrópole
cosmopolita que fora capital colonial e imperial e ainda era a capi-
tal republicana e a maior cidade do país.
Corrêa descreve, com base em conhecimento de primeira mão e
com forte carga empática, o ambiente e a faina diária dos habitan-
tes desse insuspeitado sertão carioca. Eram tipos humanos os mais
variados, muito diferentes das pessoas encontradas nos subúrbios
e bairros mais centrais do Rio – pescadores, caçadores, machadeiros,
carvoeiros, esteireiras, cesteiros, tamanqueiros, cabeiros, oleiros,
bananeiros, manobreiros de represas, e uma miríade de vendedores
ambulantes que percorriam a área rural, os subúrbios e a área ur-
bana, abastecendo a grande cidade com um grande repertório do
que poderíamos chamar, com liberdade poética, de ‘drogas do ser-
tão’ (expressão muito usada para designar os produtos naturais
extraídos da Amazônia). Esses produtos eram feitos com materiais
extraídos das matas, das águas doces, salobras e salgadas, e dos
campos circundantes.
1038
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO
Corrêa examina principalmente os componentes naturais da
paisagem – espécies de animais (inclusive peixes) e de plantas, for-
mações vegetais, relevo, litorais, correntes marinhas, lagoas, rios
(alguns deles mananciais importantes para abastecimento da capi-
tal) e assim por diante. No entanto, o seu olhar recai também sobre
componentes humanos ou influenciados pelos humanos – aque-
dutos e barragens em operação, fortificações abandonadas, estra-
das e trilhas, casas e prédios diversos, sítios e fazendas, animais
domésticos, canoas, barcos, carroças, veículos automotores e ou-
tros meios de transporte, áreas de fabricação de carvão vegetal e
tijolos, áreas de retirada de lenha, oficinas domésticas e instrumen-
tos (como teares e ferramentas de marcenaria) de vários tipos de
artesãos.
A impressão geral do autor era de que a retirada de matérias-
primas das florestas, restingas e mangues estava empobrecendo o
ambiente e colocando em perigo a própria reprodução do modo de
vida dos sertanejos e dos recursos naturais. Um dos exemplos cita-
dos era a questão da lenha no, então, Distrito Federal, que:
não pode ficar sem solução, principalmente pela barateza desse
combustível, que fornece o calor tão indispensável à vida
econômica de um povo, desde a choupana mais humilde à mais
importante indústria. O aumento de ano para ano da população,
nas zonas urbana, suburbana e rural, e do consumo no tráfego
das estradas de ferro e mesmo nas indústrias de todos os gêneros,
o gasto da lenha aumenta proporcionalmente, resultando uma
destruição sistemática de alqueires de matas, que ficam abando-
nadas, depois da derribada, à esterilização, em prejuízo das gera-
ções vindouras e com grande depreciação do solo; precisamos,
pois, cuidar do replantio das árvores de corte. (Corrêa, 1936, p. 69)
A lógica da imprevidência não era recente e eram necessárias
providências urgentes, pois:
A flora carioca foi desde os tempos coloniais devastada pelo ho-
mem, quer para a construção, quer para a lenha e carvão, trans-
formando a exuberante vegetação secular em depauperada capo-
eira. As nossas serras e planícies, pobres pelas constantes quei-
mas, transformaram-se completamente, só recebendo pelos ven-
tos espécimes de imigração. Assim é preciso que o governo proíba
esse abuso, pois, sem a sistematização do corte e o replantio obri-
gatório, estaremos perdidos. (Corrêa, 1936, p. 73)
Corrêa defendia o reflorestamento com essências nativas e con-
siderava que o eucalipto – com o qual se ensaiaram no Brasil os
primeiros esforços de replantio de florestas em larga escala – secava
e esterilizava a terra, devendo ser plantado apenas em alagados e
nas margens das estradas de ferro (sobre a trajetória do eucalipto
v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005
1039

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND
1040
no Brasil, ver Leão, 2000). Para ele, as matas sentiam falta de árvo-
res nutridoras da fauna, razão pela qual muitas aves e animais,
que encantavam os cariocas, estariam desaparecendo. A experiên-
cia de replantio da Floresta da Tijuca, realizada ainda no Império,
era para Corrêa motivo de orgulho nacionalista e de júbilo de na-
turalista:
O patriotismo, o bom senso e o amor pela natureza tudo podem:
o exemplo aí está em Manoel Gomes Archer que, não sendo botâ-
nico, nem técnico, nem especialista, mas sim um apaixonado da
floresta, tornou-se o precursor da silvicultura no Brasil, na obra
gigantesca que executou, cobrindo com verdadeira cúpula
verdejante esse templo da natureza, sustentado por miríades de
colunas de essências nacionais, como se fosse uma incomensu-
rável sala hipostila, orgulho dos filhos desta terra, a Floresta da
Tijuca. (Corrêa, 1936, p. 19)
No entanto, mesmo nas matas da Tijuca (ver Drummond, 1997),
na época sob a responsabilidade da Inspetoria de Águas e Esgotos
do Rio de Janeiro, Corrêa assinalava que a caça era praticada sem
que as autoridades tomassem providências. Da Barra da Tijuca a
Sernambetiba, nas matas do maciço da Pedra Branca e, principal-
mente, nos mananciais, onde a fauna procurava refúgio, Corrêa
era testemunha da perseguição implacável a ela. Ele defendia a ne-
cessidade de uma legislação imediata, pois: “Sem código rural, flo-
restal e leis que regulamentem a caça e a pesca no Distrito Federal,
teremos, para breve, a terra carioca transformada em um deserto”
(Corrêa, 1936, p. 173).
Corrêa, embora admirasse os sertanejos peri-urbanos que en-
trevistava e cujas atividades descrevia tão bem, não os poupava da
sua parcela de responsabilidade pelas alterações ambientais denun-
ciadas. Para ele, na maior parte das vezes, era a própria população
residente que a devastava, apesar de necessitar da terra e dos seus
recursos, sem ter consciência do prejuízo que causava: “Estes po-
bres trabalhadores não calculam o mal que fazem a eles e aos
seus descendentes. O Nordeste teve as suas matas e, por culpa
de seus habitantes, é, hoje, deserto” (Corrêa, 1936, p. 125).
Ao contrário do que comumente se diz hoje em dia a respeito
dos cientistas ‘protetores da natureza’ dessa geração, Corrêa mos-
tra tanta sensibilidade em relação às chamadas ‘questões sociais’
quanto seria possível a um cientista natural de sua época. Ele rela-
cionava a fragilidade da proteção da natureza do ‘sertão carioca’
diretamente às precárias condições de vida dos seus habitantes. Fazia
isso de uma maneira certamente menos empática que a maioria dos
defensores atuais das supostas ‘virtudes ambientalistas’ das cha-
madas ‘populações tradicionais’, mas era muito mais percuciente,
pois enxergava as nuances.
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO
Corrêa não idealizava a vida dura dos sertanejos cariocas, nem
exagerava as suas virtudes ‘ambientalistas’. Para ele, a população
pobre que habitava o ‘sertão carioca’ estava quase completamente
carente de assistência; faltavam-lhe saneamento, escolas e assistên-
cia médica. O fruto do seu trabalho era mal remunerado pelo pró-
prio Estado, ou acabava por gerar lucros nas mãos de intermediá-
rios, açambarcadores e rendeiros. Corrêa acreditava até na possibi-
lidade de que os próprios sertanejos, na medida em que as autori-
dades lhes proporcionassem a necessária assistência e elaborassem
as leis adequadas, se transformassem nos principais protetores do
seu ambiente. Corrêa defendia, por exemplo, em relação à Lagoa de
Marapendi, situada entre as restingas de Jacarepaguá e Itapeba,
que ela fosse:
entregue à proteção da Confederação dos Pescadores do Brasil,
para serem conservadas e aumentadas as espécies de nossa fauna,
como reserva biológica lacustre, pois os dirigentes dessa institui-
ção são verdadeiros patriotas pelo auxílio moral e material que
dispensam a essa justa causa da Proteção à Natureza. (Corrêa,
1936, p. 153)
Muitos pensam que essa idéia de conservar a natureza com a
participação das populações residentes é uma inovação radical dos
cientistas sociais e dos ambientalistas brasileiros dos anos recentes.
Nesse caso, Corrêa propunha uma associação instituída e organi-
zada, ciente de seus próprios interesses e dos interesses que seriam
os da “pátria como um todo”. Ele acreditava, portanto, que em-
bora as populações sertanejas tendessem a uma existência mais
autônoma e em harmonia com o ambiente, era necessário lhes pro-
porcionar, por meio da educação, uma formação moral e patriótica,
além de conhecimentos técnicos. A assistência médica e sanitária
deveria lhes garantir os confortos da vida moderna. Em suas
andanças pelos locais mais ermos do ‘sertão carioca’, freqüentemente
rejubilava-se com os seus habitantes e com a paisagem na qual
viviam e da qual tiravam o seu sustento:
Em cada sítio novo aparece uma observação interessante, quer da
fauna, flora ou costumes de seus habitantes; é um renovar cons-
tante de emoções próprias para aqueles que procuram coisas no-
vas e inéditas. Essa região, quer pela quantidade de árvores frutí-
feras, quer pelo afastamento do centro populoso e dificuldade de
condução, torna-se isolada e, portanto, ambientada para um ver-
dadeiro viveiro da nossa fauna. (Corrêa, 1936, p. 160)
Corrêa defendia a necessidade de uma regulamentação eficaz que
garantisse a sobrevivência, no Brasil, do que considerava uma na-
tureza inigualável. Assim, em relação à questão do controle sobre
v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005
1041

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND
a caça, apresentava recomendações que levavam em conta os usos
humanos da fauna, da flora e das águas das florestas, recomenda-
ções essas que não divergem radicalmente dos preceitos da recente
Lei dos Crimes Ambientais:
a) a caça deverá ser regulamentada, tendo por fim defender a nos-
sa fauna;
b) as licenças deverão ser dadas aos naturalistas oficiais e aos ama-
dores, somente válidas por um ano;
c) não deve ser permitida a caça nas matas dos nossos mananciais
nem em nossas reservas biológicas e florestais, para refúgio e
nidificação de nossa fauna;
d) deverá ser proibida a caça de animais ou aves tidas como úteis,
destruidora dos insetos e répteis nocivos, como por exemplo, o
tamanduá e o tatu, os saneadores de nossas terras, o primeiro
como perseguidor da formiga e o segundo do cupim;
e) deverá ser expressamente proibido matar as fêmeas acompanha-
das de seus filhos, assim como os animais que ainda não te-
nham chegado ao pleno desenvolvimento;
f) a caça só deverá ser permitida nos meses de março a agosto, com
severas penalidades aos infratores;
g) deverão ser criadas reservas naturais integrais, constituídas em
domínios nacionais intangíveis, de acordo com o “Office
International pour la Protection de la Nature”, em suas legisla-
ções, pois o Brasil é um de seus signatários.
(Corrêa, 1936, p. 174)
Estávamos, segundo Corrêa, defasados, no que diz respeito à
proteção da natureza, até mesmo em relação aos países africanos,
considerados sempre em sentido pejorativo, pois em lugares como
o Camerum (atual Camarões) já havia, segundo ele, leis e parques
nacionais estabelecidos com o propósito de:
assegurar a conservação das espécies animais e vegetais, as parti-
cularidades geológicas, mineralógicas ou geográficas, conjunto
que constitui o aspecto local do país, criados talvez para o interes-
se da ciência e para evitar o desaparecimento das riquezas natu-
rais em detrimento dos interesses econômicos futuros. (Corrêa,
1936, p. 174)
Desse modo, devíamos criar os nossos parques nacionais, com
o objetivo de proteger uma natureza que, além de preencher as
nossas necessidades econômicas, era fonte de conhecimento cientí-
fico, apreciação estética e de identidade nacional. Anos antes das
primeiras leis conservacionistas e da criação dos primeiros parques
nacionais brasileiros, ele defendia parques a serem estabelecidos
como verdadeiros santuários, onde:
1042
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO
Toda a caça ou pesca, todas as explorações florestais, agrícolas ou
mineiras, as escavações ou pesquisas, sondagens, desmontes ou
construções, os trabalhos tendentes a modificar o aspecto do ter-
reno ou da vegetação, todo ato de natureza a trazer perturbações
à fauna, toda introdução de espécies zoológicas ou botânicas, quer
sejam indígenas ou importadas, selvagens ou não, serão estrita-
mente interditas sobre toda a extensão dos parques nacionais
assim constituídos. E será proibido, sem autorização do adminis-
trador, penetrar, circular ou acampar nessas reservas, como in-
troduzir armas de fogo, armadilhas e cães. (Corrêa, 1936, p. 174)
Assim, Correa, ao mesmo tempo em que enxergava nas popula-
ções ‘sertanejas’ cidadãos capazes de resguardar com a sua presen-
ça e as suas atividades o patrimônio natural da nação, previa, anos
antes da criação do primeiro parque nacional brasileiro, a necessi-
dade de haver áreas a serem submetidas a formas mais severas de
proteção. No seu ideal de paisagem conservada, portanto, estavam
contempladas duas grandes dimensões – que mais tarde ganharam
os nomes de “usos diretos” e “usos indiretos” dos recursos natu-
rais, ou, ainda mais modernamente, de áreas de “uso sustentável”
e outras de “proteção integral”.
Tendo em vista o atraso do Brasil na criação de reservas estrita-
mente protegidas, Corrêa fazia um apelo eloqüente às autoridades:
Assim, senhores do poder, criai as nossas reservas ou parques
nacionais, aproveitai as matas dos nossos mananciais,
transformais a lagoa de Marapendi em reserva biológica da nossa
fauna lacustre, como um viveiro permanente para a conservação
das espécies, e assim teremos começado a verdadeira defesa da
natureza. (Corrêa, 1936, p. 175)
A proteção à natureza no âmbito de um projeto nacional
A proteção à natureza por meio da criação de áreas de reserva,
no entanto, deveria se inserir em um projeto mais amplo de
brasilidade, que teria na relação entre o homem e a terra a sua
principal base de sustentação. As palavras de Corrêa a seguir trans-
critas atestam a vinculação de seu ideal sobre a natureza com o
ideal, tão em voga na sua época, de construção da nacionalidade:
A riqueza de um povo, principalmente o nosso, em formação, está
na vida originária das pequenas lavouras e indústrias, que for-
mam a parte econômica e básica dele; um país, sem meios pró-
prios de subsistência e sem meios de obter os utensílios de seu uso
doméstico, não vive, vegeta, são ensinamentos elementares da
geografia humana... As grandes indústrias, as valorizações, os
empréstimos e os colonos são balões de oxigênio, que não resol-
v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005
1043
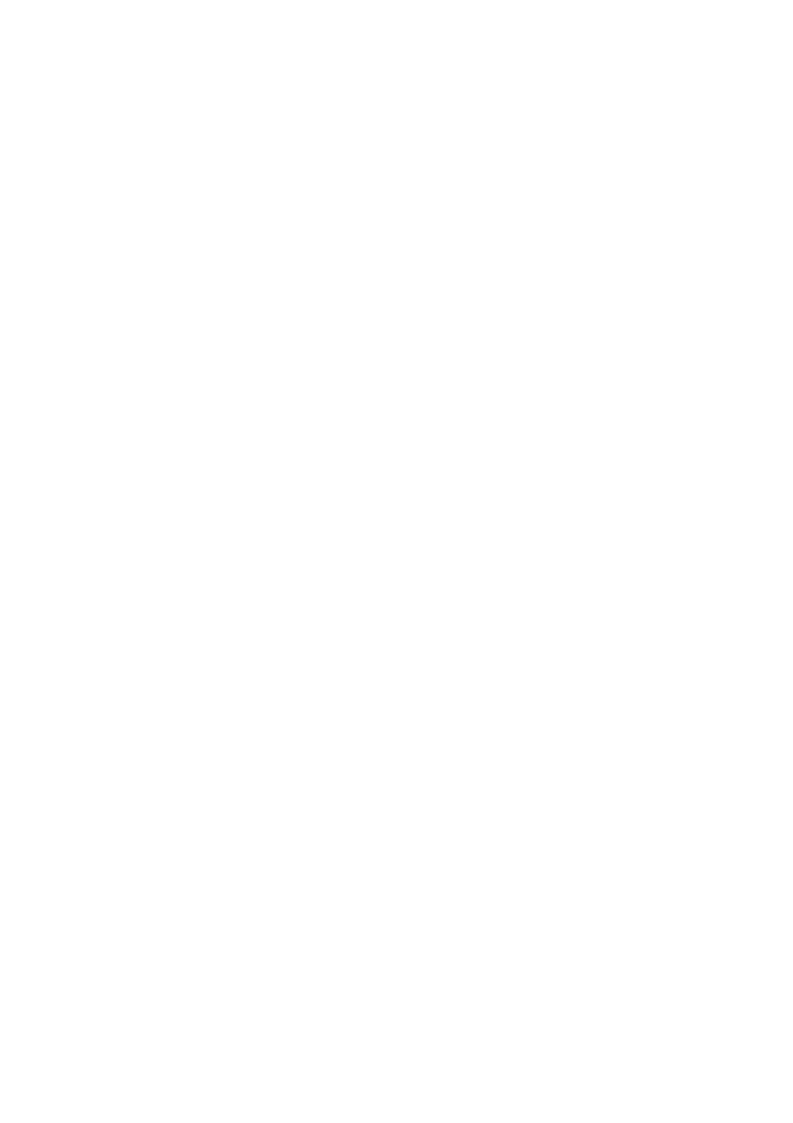
JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND
1044
vem o problema de uma nacionalidade, como a nossa, que preci-
sa viver por si e para si. (Corrêa, 1936, p. 236-7)
Para Corrêa, a sociedade brasileira deveria se desenvolver a par-
tir de um projeto político original, que levasse em conta as particu-
laridades do meio natural e valorizasse a população nacional, espe-
cialmente os sertanejos, que viviam em contato mais direto com a
natureza, “fonte de toda a riqueza e beleza de um povo”. No en-
tanto, mesmo no Rio de Janeiro, capital federal, os habitantes dos
sertões estavam “abandonados completamente pelos poderes pú-
blicos, sem código rural, sem assistência médica eficiente, sem
instrução adequada, vivem esquecidos nessa vasta região do Dis-
trito Federal, como se não fossem brasileiros” (Corrêa, 1936, p. 236).
Vale acrescentar que a análise que Corrêa fazia da sociedade bra-
sileira era fortemente influenciada pelo pensamento de Alberto Tor-
res (1865-1917), notório propugnador de um ‘projeto nacional’
integrador e autoritário. Para ilustrar as suas opiniões, Corrêa ci-
tava trechos de um texto de Torres, As fontes da vida no Brasil, entre
os quais podemos destacar o seguinte:
Os brasileiros são todos estrangeiros na sua terra, que não apren-
deram a explorar sem destruir, e que têm devastado com um des-
cuido de que as afirmações dos meus trabalhos dão ainda um
pálido reflexo. Os que habitam as cidades fazem-se, por sua vez,
ainda mais estrangeiros, exibindo uma fictícia civilização de lu-
xos mentais e de luxos materiais, inteiramente alheios à vida na-
cional; e os que nos dirigem e nos governam, estranhos à realida-
de da nossa existência, agitam e mantêm essa efervescência de
interesses e paixões que formam toda a superfície da nossa vida
pública, com o fervilhar de atos, e, principalmente, com a brilhan-
te ebulição intelectual, que lhe é própria – opostos, e até hostis aos
sentimentos, aos interesses e aos direitos da Nação, e de que a
atitude crítica e condenatória, comum a quase todos os nossos
intelectuais, é o expressivo e deplorável modelo... Deste estado de
desencontro, de ignorância e de conflito, entre a terra e os seus
habitantes, entre as raças e o meio cósmico, e entre as raças, o
meio, as instituições, os costumes e as idéias, resultam os traços
que formam o relevo convulsionado da nossa estrutura nacional.
(Torres, citado por Corrêa, 1936, p. 237)
Corrêa defendia o estabelecimento de um vínculo mais direto do
homem brasileiro com a terra e a adoção de um estilo de vida fru-
gal. Embora não dispensasse a disseminação ampla dos confortos
trazidos pela modernidade, principalmente aqueles que garantiam
conquistas nas áreas da saúde, do saneamento, da educação e da
tecnologia aplicada, considerava desnecessários os luxos caracte-
rísticos de uma sensibilidade por demais afetada pela vida urbana.
Ele propunha um modelo de sociedade em que fossem reduzidos os
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO
desequilíbrios entre a cidade e o campo e no qual a percepção esté-
tica da natureza e a utilização dos recursos econômicos por ela
proporcionados configurassem um desenho harmônico. Fica evi-
dente a idéia de uma totalidade orgânica, unindo homem e nature-
za, produto, de um lado, de uma perspectiva romântica, e, de ou-
tro, da moderna ciência da ecologia.
Em O sertão carioca aparecem também as mencionadas preocupa-
ções de Corrêa com a relação entre a proteção da natureza e um
projeto nacionalista, cujo objetivo era a reorganização da socieda-
de brasileira. A respeito desse projeto, Corrêa citava Alberto
Sampaio, seu colega do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que ele
considerava a maior autoridade nos assuntos ligados à conserva-
ção da natureza. O trecho, extraído de uma conferência pronun-
ciada por Corrêa na Sociedade Nacional de Agricultura, é repre-
sentativo das estratégias elaboradas com o propósito de conquistar
adeptos para a causa da proteção à natureza:
O lema – rumo aos campos – tem sua efetividade dependente
desse sistema que, encarando por outro lado o turismo, que se
pronuncia cada vez mais intenso no Brasil, não se poderá limitar
à essência quantitativa e qualitativa do povoamento, a ser basea-
do desde logo no trabalhador nacional, mas abranger todos os
fatores úteis, quais sejam, dentre outros, a tranqüilidade, o con-
forto possível, e a alegria da vida rural, as belezas da natureza
protegida pelo homem e os lenitivos da cinematografia e da
radiotelefonia à monotonia da vida rural etc. Enfim, toda série de
fatores que determinam o apego ao solo e à vida agropecuária ou
de outras indústrias extrativas rurais. Na África, na Ásia e em
todas as regiões assoladas pelas endemias, o habitat rural tem
como preocupação preliminar o saneamento; onde impere o
banditismo e desrespeito à vida e à propriedade, faz-se mister
polícia e assistência judiciária enérgica; onde domine o empirismo
retrógrado, faz-se mister assistência agronômica e zootécnica,
todas essas interferências governamentais, devendo ser perma-
nentes e progressivas, como elemento de um sistema demogênico
e educativo adequado, a ser mantido sem desfalecimento; o senso
estético exterioriza-se por fim como conse-qüência. (Sampaio, ci-
tado por Corrêa, 1936, p. 238)
O sertão carioca encerra-se com uma conclamação ao “esforço
abnegado dos verdadeiros patriotas”, que desejam um “Brasil gran-
de e forte”, com “leis brasileiras para os brasileiros”, elaboradas
mediante estudos “nossos” e à “nossa feição”. Propõe colocar em
prática um complexo programa de reformas que priorizasse:
1) Saneamento rural:
a) Profilaxia de infecções e infestações;
b) Profilaxia da inanição e moléstias de carência;
v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005
1045

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND
c) Combate ao alcoolismo;
d) Eugenia.
2) Educação rural: ensino obrigatório, de acordo com o meio;
3) Polícia e assistência judiciária;
4) Povoamento, tendo por base o sertanejo e como condicionantes:
a) Açudagem e outras obras hidráulicas no Nordeste;
b) Pequenas indústrias rurais;
c) Grandes indústrias;
d) Habitat disperso, habitat aglomerado e habitat misto, con-
forme as zonas;
e) Estradas de rodagem;
f) Turismo, monumentos naturais, arquitetura paisagística;
g) Reflorestamento, caça, pesca, reservas naturais (florestas
protetoras, mananciais etc.);
h) Crédito agrícola;
i) Comércio rural especializado: bancos rurais, cooperativas,
feiras, transportes etc.;
j) Latifúndios e suas divisões em granjas ou pequenas pro-
priedades;
k) Combate ao loteamento rural, sem observância do tipo
próprio e que deve comportar parques, estradas arborizadas
e todas as condições de higiene e eugenia;
l) Desenvolvimento adequado da agricultura, da pecuária e
das indústrias, sob moderno controle estatístico, preven-
tivo de superprodução, para evitar as contingências de va-
lorizações fictícias.
(Corrêa, 1936, p. 238-9)
De novo, Corrêa escreve como um cientista natural (ainda que
autodidata) conservacionista da década de 1930, mas profundamente
preocupado com aspectos sócio-econômicos de fundo da sociedade
brasileira, desmentindo os clichês contemporâneos de que homens
como ele não se preocupavam com pessoas, mas apenas com ani-
mais e plantas.
Corrêa tinha, na verdade, forte simpatia pelas populações do
‘sertão carioca’ que ele conhecia tão bem, e em primeira mão, e cuja
vida descreveu tão bem, talvez melhor do que qualquer outro. Como
já destacamos, ele admitia que, além de serem alvo de políticas de
assistência social, sobretudo nas áreas de saúde e educação, os ser-
tanejos cariocas poderiam ser um elemento ativo na proteção da
natureza.
Com efeito, o seu livro exerceu considerável influência sobre
diversas associações da cidade do Rio de Janeiro, incluindo clubes
cívicos, associações de professores e sindicatos de pescadores (Dean,
1046
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO
AGRADECIMENTO
Os autores agradecem
a Rogério Ribeiro de
Oliveira, Dina Lerner
e Regis Argüelles
pelas informações
repassadas e pela
cessão de diversos
documentos
pertinentes.
1996). O tipo de engajamento representado por Corrêa indicava a
inserção da conservação da natureza em um movimento mais am-
plo de reforma social e de resgate de comunidades que hoje chama-
ríamos de ‘tradicionais’, um movimento que pressionava autori-
dades do governo federal e que em alguma medida foi ouvido por
elas. Indicativo de suas relações e influência pessoal é o fato de
Corrêa ter sido um dos fundadores, em 1932, da Sociedade de Ami-
gos de Alberto Torres, da qual participaram personalidades que
tiveram destacada participação política no período Vargas. Entre
elas, destacam-se Sabóia Lima, Alcides Gentil, Cândido Mota Fi-
lho, Francisco José de Oliveira Viana, Juarez Távora, Ari Parreiras
e Plínio Salgado (Kuntz, 2001).
É fácil ‘torcer o nariz’ hoje para o viés autoritário do reformismo
nacionalista de Vargas e seus contemporâneos e, assim, diluir a
importância dos apelos desses conservacionistas em prol da natu-
reza brasileira e – sim – dos cidadãos brasileiros mais desvalidos,
habitantes dos sertões ermos e dos nem tão ermos. No entanto,
numa época como a atual, em que nos acostumamos a ouvir e ler
freqüentes e altissonantes afirmações sobre a importância da natu-
reza para a identidade brasileira, para o bem-estar e para o próprio
futuro dos brasileiros, o texto marcadamente descritivo e modera-
damente ‘doutrinário’ de Armando Magalhães Corrêa sobre o ser-
tão carioca é refrescante e instrutivo. Está a merecer uma reedição
crítica.
Corrêa não poderia ter sido mais empático em relação aos ser-
tanejos cariocas, a não ser que professasse alguma linhagem de
ideologia socialista, o que ele aparentemente não fez. Exigir de
um cientista natural ‘despolitizado’ uma postura socialmente
hiper-sensível – tão generalizada entre os ambientalistas ‘sociais’
da atualidade – é um anacronismo que beira o ‘patrulhamento’
ideológico, uma atitude que impede uma avaliação adequada das
idéias de Corrêa, dos seus contemporâneos e dos seus seguidores.
Por último, cabe destacar que o livro de Corrêa é, sim, instigan-
temente ‘anacrônico’, mas por outro motivo. Ao descrever com
detalhes paisagens naturais e rurais que hoje em dia estão quase
de todo apagadas pela expansão urbana, e ao abordar com simpa-
tia os tipos humanos desaparecidos desse sertão peri-urbano,
Corrêa nos incita a aprender mais sobre paisagens e pessoas simi-
lares que sobrevivem em muitos outros sertões ainda existentes
pelo Brasil afora.
v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005
1047
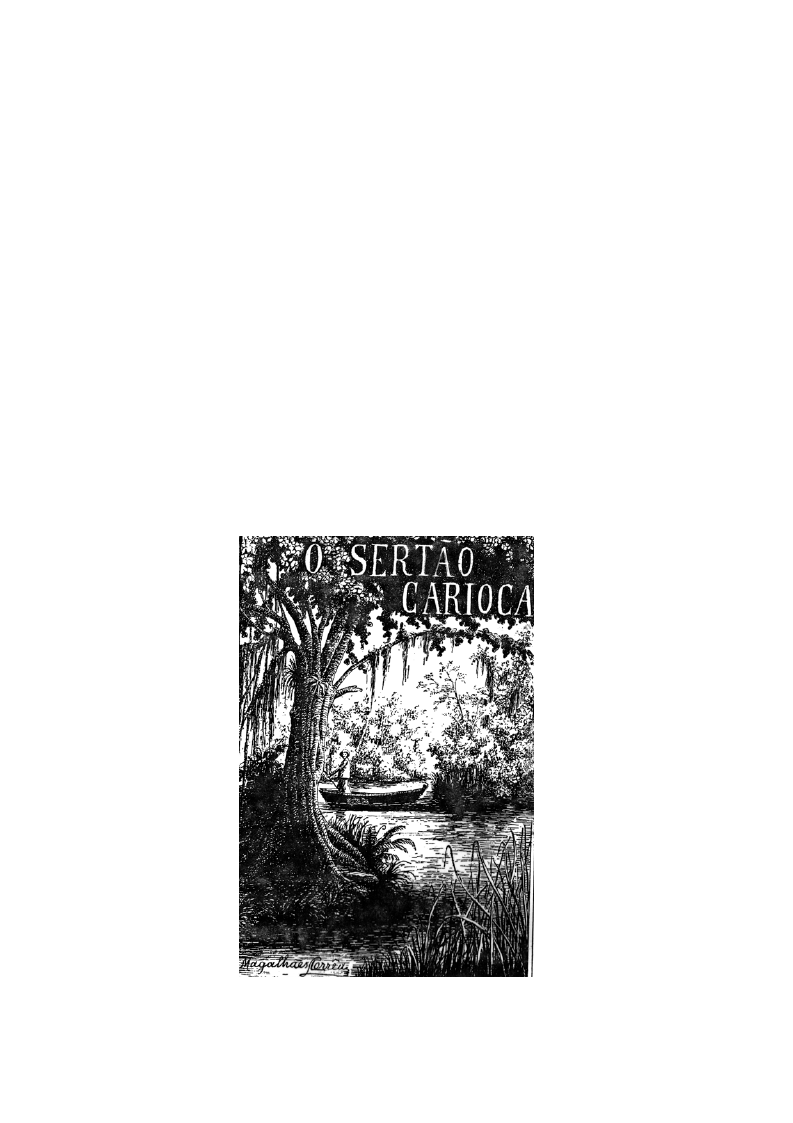
JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND
Anexo Iconográfico
Ilustrações selecionadas de O sertão carioca, de Armando Magalhães Corrêa
Durante as suas excursões ao ‘sertão carioca’, Armando Magalhães Corrêa fazia ano-
tações sobre paisagens naturais, atividades produtivas, prédios e equipamentos (açudes,
pontes, barragens etc.), registrando ainda informações obtidas em entrevistas e obser-
vações sobre os habitantes. Desenvolvia essas anotações de campo para compor os tex-
tos dos diversos capítulos de O sertão carioca.
Corrêa recolhia também elementos para compor ilustrações relacionadas a cada capí-
tulo. Essas ilustrações, feitas a bico de pena, registram paisagens, construções e perso-
nagens daquela periferia urbana de há muito incorporada à cidade e para sempre altera-
da. Na escassez ou mesmo ausência de outras formas de documentação visual de muitos
recantos remotos que Corrêa visitava nos anos 1920-1930, essas ilustrações, além de
suas qualidades intrínsecas, têm hoje um grande valor como registros raros de paisa-
gens e pessoas que não mais existem nos locais por ele assiduamente percorridos.
Segue-se uma seleção das dezenas de ilustrações estampadas na edição original de
O sertão carioca. Cada ilustração está acompanhada da legenda original, escrita pelo au-
tor, da página e do capítulo da edição original, e de um breve comentário redigido pelos
autores do presente artigo.
1048
Capa de O sertão
carioca
Retrata a natureza e
a gente do ‘sertão’,
personagens
principais do livro.
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro
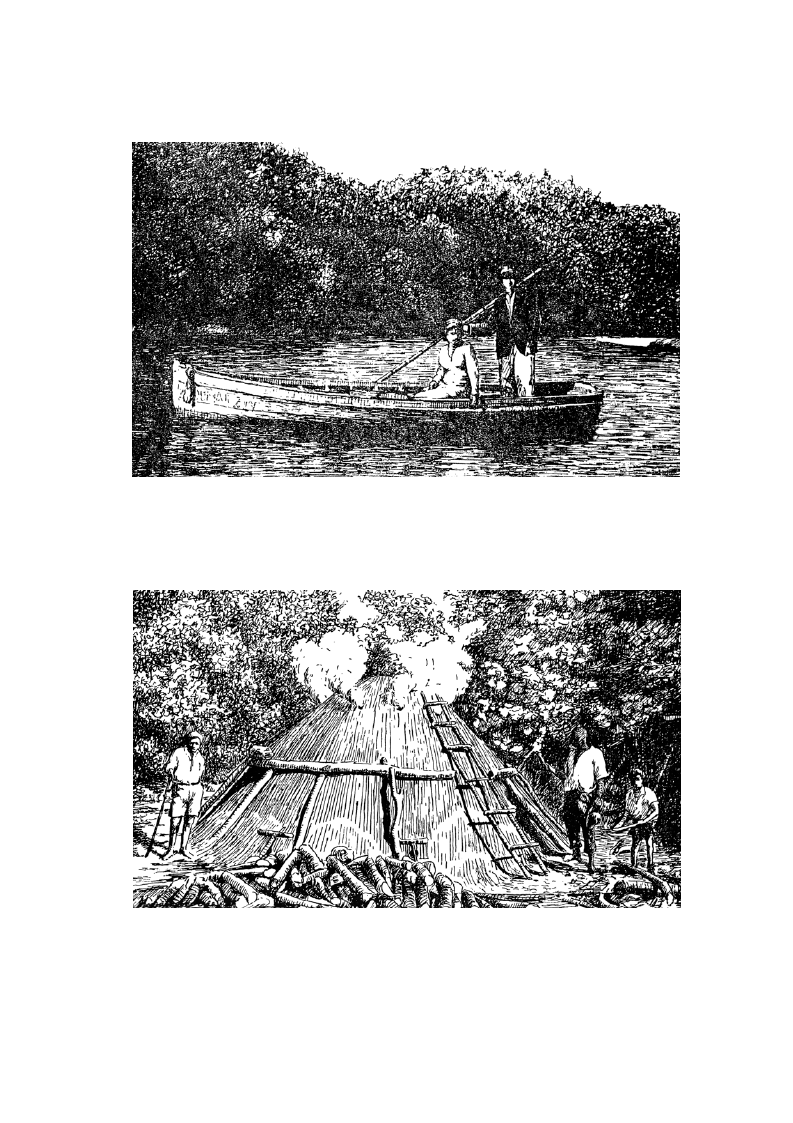
ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO
“Passagem em caíque do continente à restinga de Jacarepaguá – Barra da Tijuca” p. 56, Capítulo 2 (item III)
O pescador, considerado por Corrêa como parceiro potencial na proteção à natureza, trabalhava também no
transporte de turistas que, nos fins de semana, faziam passeios e piqueniques na restinga de Jacarepaguá. Fazia isso
nas horas vagas, como forma de complementar a sua renda. Oferecia mesas e ambiente aconchegante para o
lanche, à sombra de pitangueiras, pelo que cobrava uma pequena taxa.
“O balão em pleno funcionamento – Cafundá” p. 88, Capítulo 2 (item V)
Um dos maiores usuários da madeira do ‘sertão carioca’ era o carvoeiro. Ele empregava a rudimentar técnica do
‘balão’ para produzir carvão vegetal, usado como fonte de calor em inúmeras indústrias urbanas. A demanda era
grande e fixa. O carvoeiro derrubava qualquer tipo de mata e aproveitava todas as espécies lenhosas, sem se
preocupar com replantios ou com o desnudamento de encostas muito inclinadas.
v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005
1049
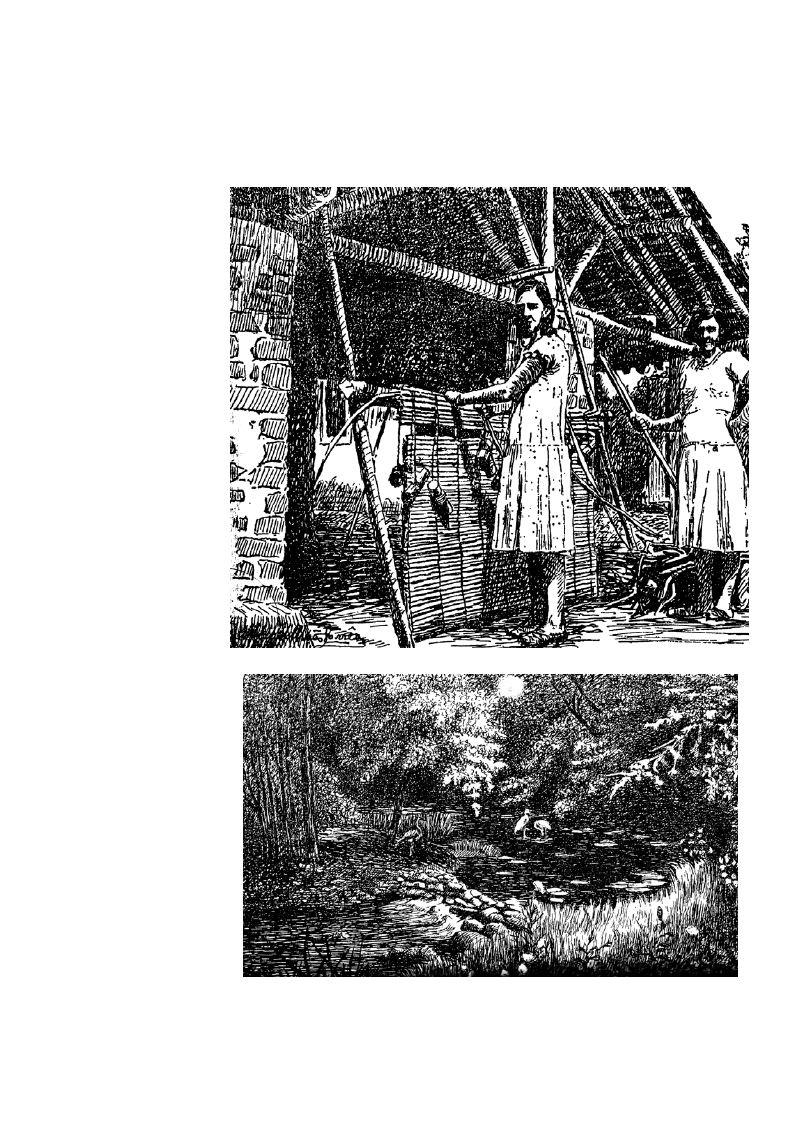
JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND
“O tendal (tear) das
esteiras – Pavuna”
p. 96, Capítulo 2
(item VI)
A indústria das
esteiras era
tradicionalmente
uma atividade
feminina e familiar.
Ainda pequenas, as
meninas aprendiam
as técnicas com as
suas mães. A
matéria-prima
empregada eram as
fibras de tabua,
junco e tiririca,
plantas
características de
beiras de rios e
lagoas e de lugares
pantanosos. O
comércio ficava por
conta dos homens,
que transportavam a
carga em lombos de
burros ou em
carroças.
“A natureza”
p. 106, Capítulo 2
(item VIII)
Desenho que revela a
sensibilidade do autor
para as paisagens
naturais, reproduzindo a
riqueza e diversidade da
flora em harmonia com
elementos da fauna – as
garças. O apurado
sentido estético e a
precisão dos traços
fizeram de Corrêa um
profissional solicitado e
respeitado, tanto na
Escola de Belas Artes do
Rio de Janeiro como no
Museu Nacional.
1050
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro
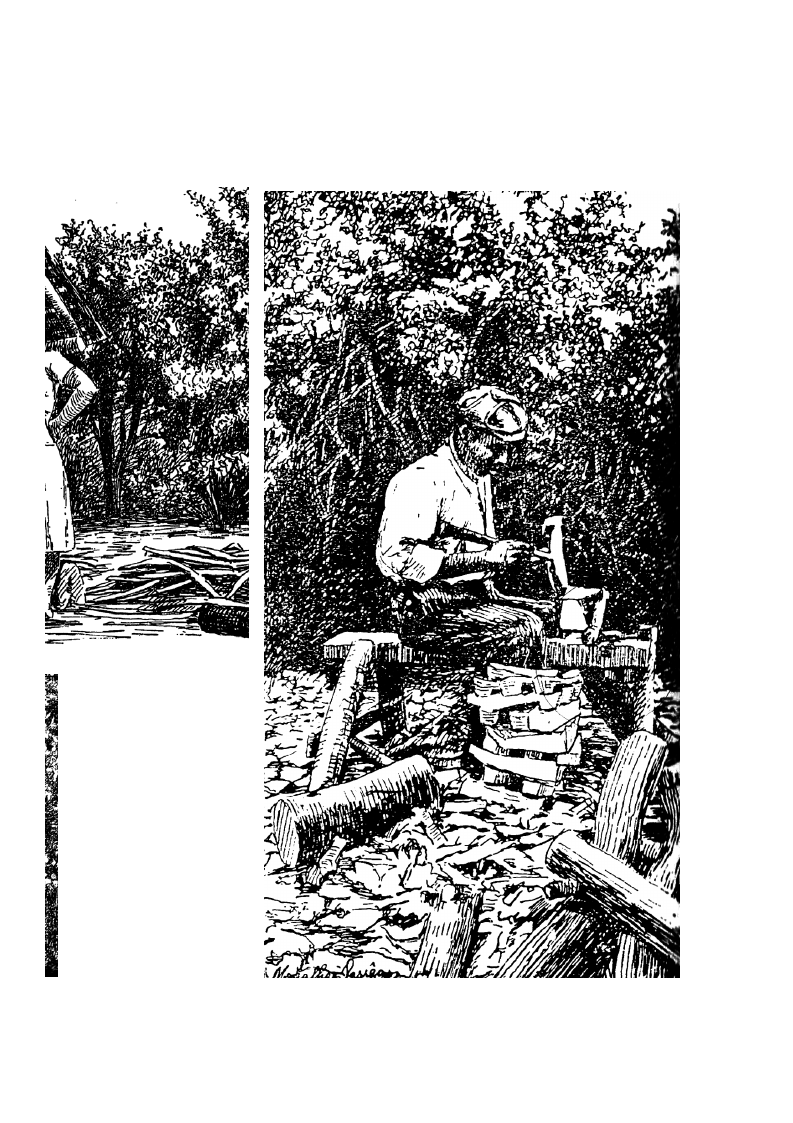
ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO
“O tamanqueiro”
p. 116, Capítulo 2
(item VIII)
O tamanqueiro usava
madeiras selecionadas do
‘sertão carioca’ para
fazer tamancos, calçados
então muito populares
nas cidades. A árvore
mais usada era a
‘tamanqueira’ ou
‘caixeta’ (Tabebuia
obtusifolia), encontrada
em matas alagadas no
entorno das lagoas da
baixada de Jacarepaguá.
Além de venderem toras
brutas para fábricas
urbanas, alguns
tamanqueiros fabricavam
calçados nas suas oficinas
artesanais domésticas.
v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005
1051
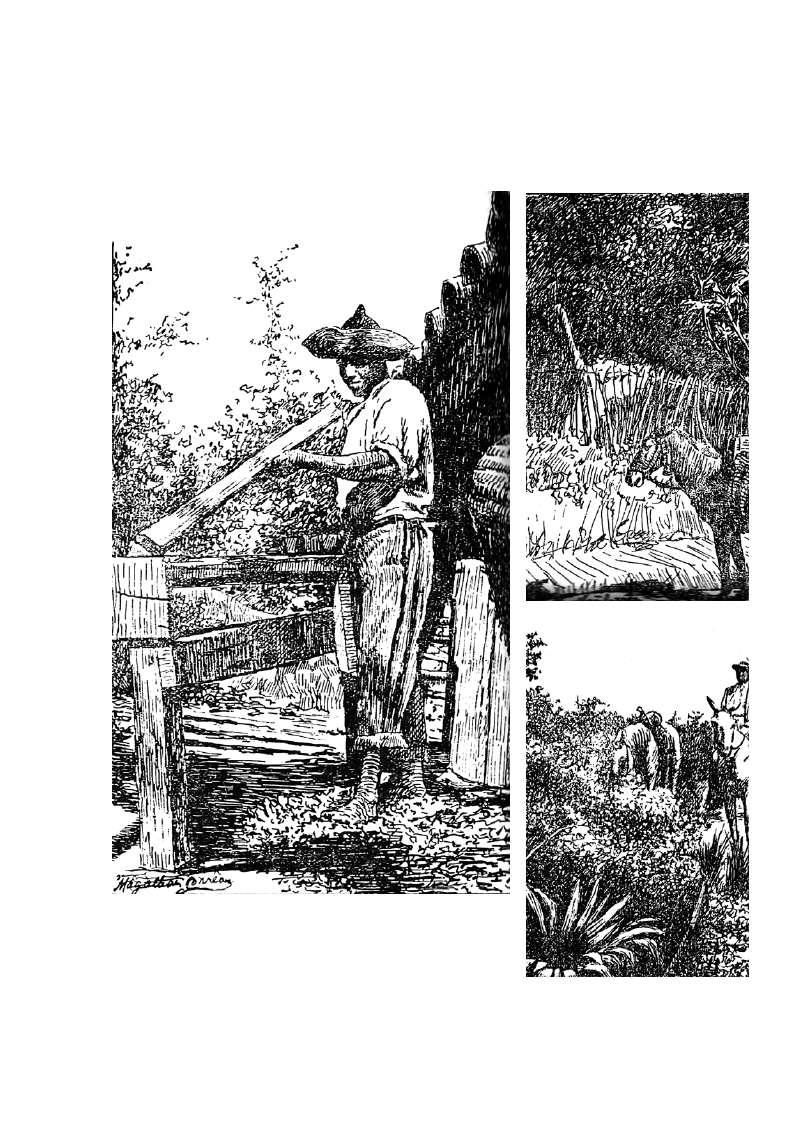
JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND
“O cabeiro” p. 125, Capítulo 2 (item IX)
A indústria de cabos (para machados, picaretas, marretas, foices etc.) também
ajudava a derrubar as matas primárias e secundárias do ‘sertão carioca’. O cabeiro
coletava as toras brutas – de árvores e arbustos jovens – de espécies com madeira
resistente e as processava em pequenas oficinas. Usava burros para transportar
os cabos prontos, vendidos às dúzias em feiras suburbanas e fábricas.
1052
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro
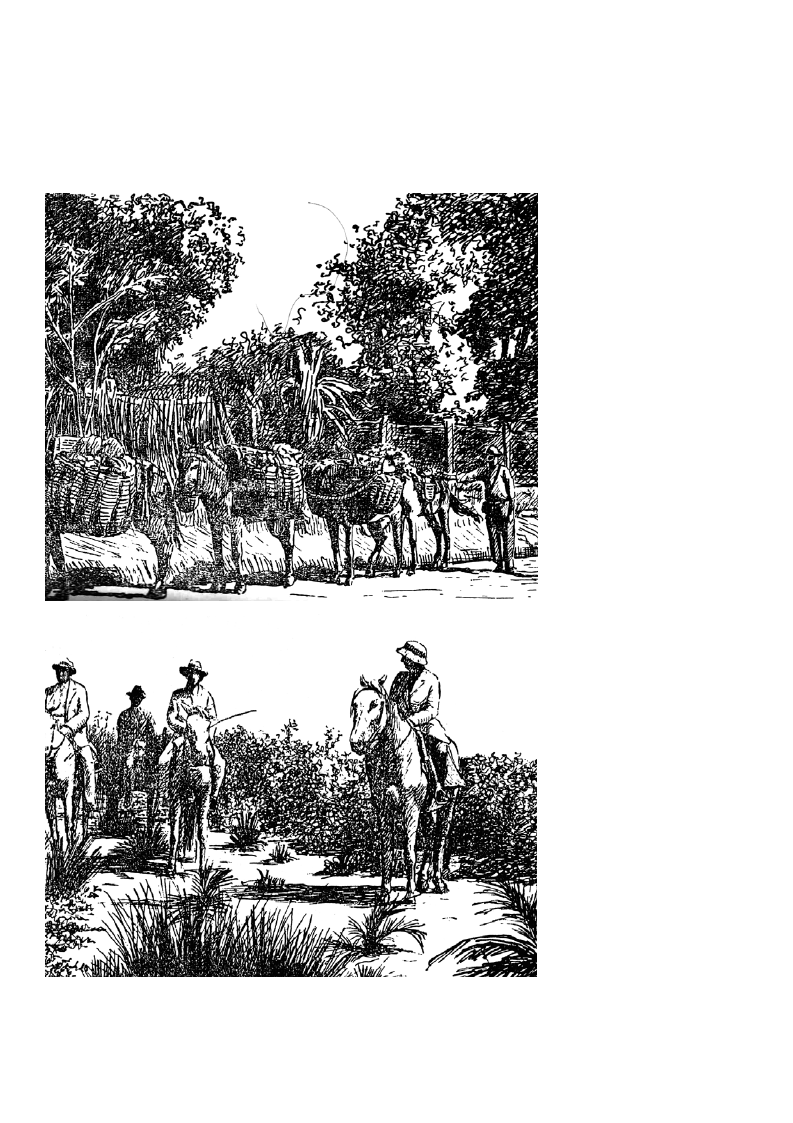
ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO
v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005
“A tropa de banana”p.
144, Capítulo 2 (item XI)
O tropeiro da banana
viajava durante a
madrugada pelas estradas
rurais para vender o
produto nas feiras
suburbanas e urbanas.
Corrêa estudou a cadeia
produtiva da banana,
chamando a atenção para
os perigos ligados à sua
transformação em cultura
de exportação, pois isso
levaria ao estabelecimento
da monocultura e ao
desmatamento, sem trazer
grandes ganhos para
agricultores e tropeiros,
explorados por
intermediários.
“Restinga de Itapeba entre
a lagoa Marapendy e
Lagoinha”, p. 152, Capitulo
2 (item XII)
Em duas horas,
excursionistas e
naturalistas faziam, a
cavalo, um circuito que ia
do Pontal de Sernambetiba
à Lagoa de Marapendy,
passando pelo rio das
Taxas, pelos campos das
Flechas na Restinga de
Itapeba, pela base do
Morro do Rangel, até
retornar ao Pontal.
Corrêa fez esta excursão
acompanhado de um
morador da região, o
norte-americano J. W.
Finch, e de Paulo Roquette
Pinto, Alberto José
Sampaio, Brade e
Bertha Lutz, embora
provavelmente tenha feito
o mesmo trajeto em
outras ocasiões.
1053
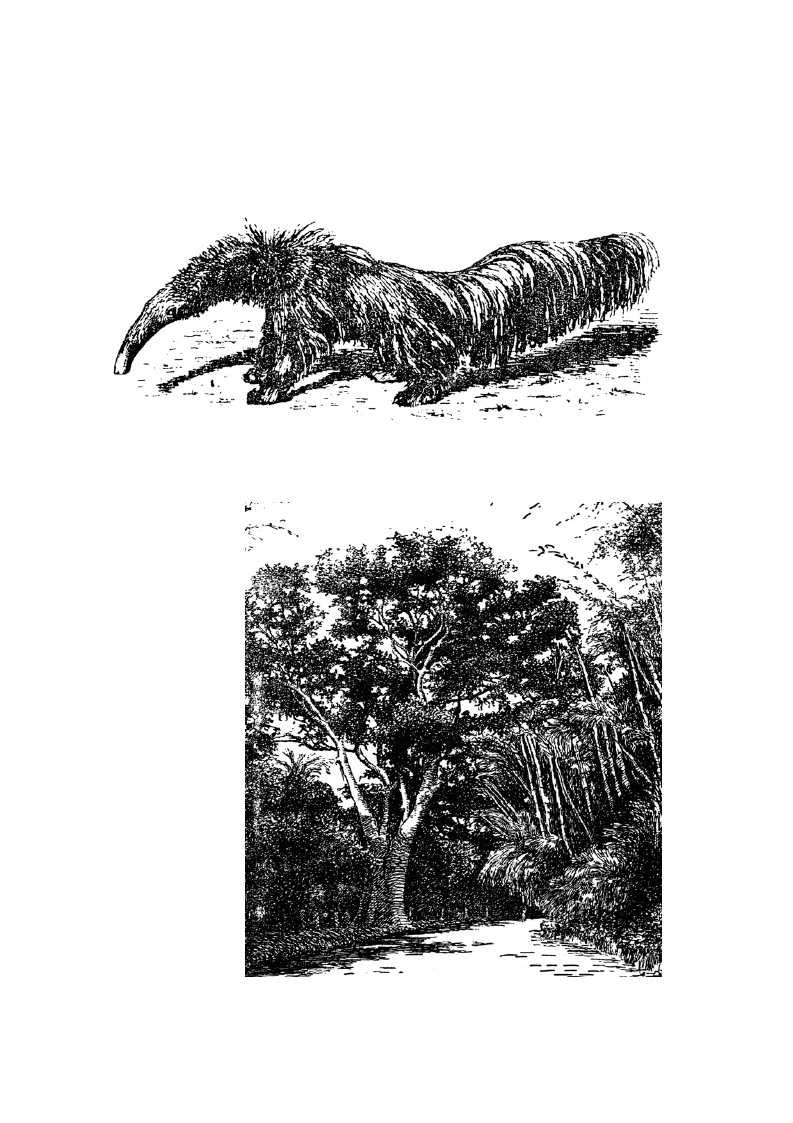
JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND
“Tamanduá-bandeira”p. 175, Capítulo 2 (item XIV)
O tamanduá-bandeira (Myrmecophago tetradactyla), edentado encontrado, à época, nos campos e capões de mata do
‘sertão carioca’. Hoje não é mais possível encontrar essa espécie na região. Corrêa demonstrava preocupação de
que isso viesse a acontecer, sugerindo o controle sobre a caça e a criação de reservas naturais integrais, intangíveis.
“Ubaete – grande
árvore – Estrada de
Guaratiba”
p. 184, Capítulo 2
(item XV)
Os caminhos que levavam
ao ‘sertão carioca’, com
paisagens exuberantes –
serras, rios, lagoas,
igapós, restingas, o litoral
e as ilhas –, as localidades
a que davam acesso –
sítios, fazendas,
engenhos, granjas,
represas, colônias de
pescadores, pequenos
povoados etc. –, as
árvores – como jequitibá,
peroba, canela e pau-
brasil – e as histórias das
pessoas foram os temas
dos escritos de Corrêa.
1054
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro
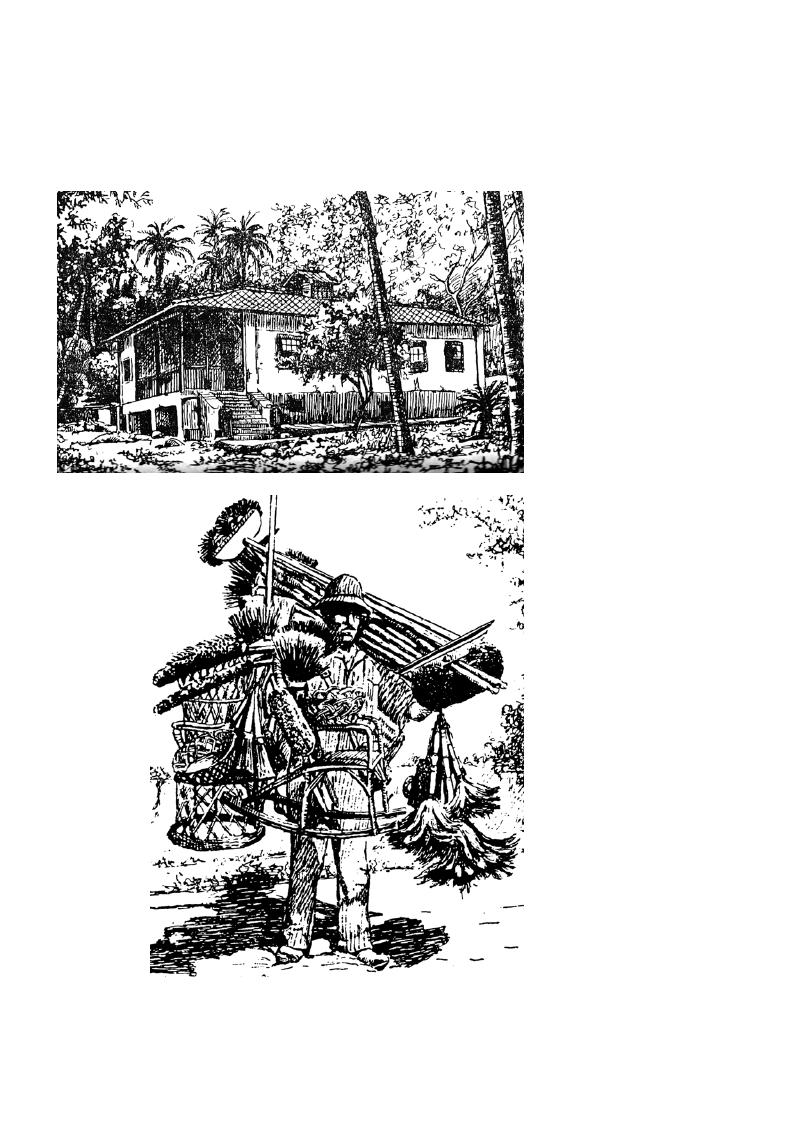
ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO
“Casa da Fazenda da
Independência” p. 202,
Capítulo 2 (item XVII)
Este prédio é um componente
histórico do ‘sertão carioca’.
Era a casa da fazenda de
Manuel Gomes Archer
(1821–1905), executor do
reflorestamento que criou a
Floresta da Tijuca. Na década
de 1860, Archer fazia
excursões regulares a essa
fazenda e recolhia mudas de
espécies arbóreas nativas,
usadas no replantio feito no
Maciço da Tijuca. Na época das
excursões de Corrêa, o local
estava sob a guarda de
funcionários do Ministério da
Agricultura.
v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005
“O vassoureiro” p. 239,
Capítulo 2 (item XXI)
O vassoureiro aparece na
seção “Ambulantes urbanos e
suburbanos” de O sertão
carioca, junto com leiteiro,
quitandeiro, tripeiro,
vendedor de plantas,
pombeiro de aves e outros.
Corrêa chama o vassoureiro
de um “clássico no Rio”, pois
ele percorria “todos os
recantos” da cidade,
vendendo os seus produtos.
Vassouras, escovas e
espanadores tinham
componentes produzidos
provavelmente por outros
moradores do ‘sertão’, como
criadores de aves e cabeiros.
1055
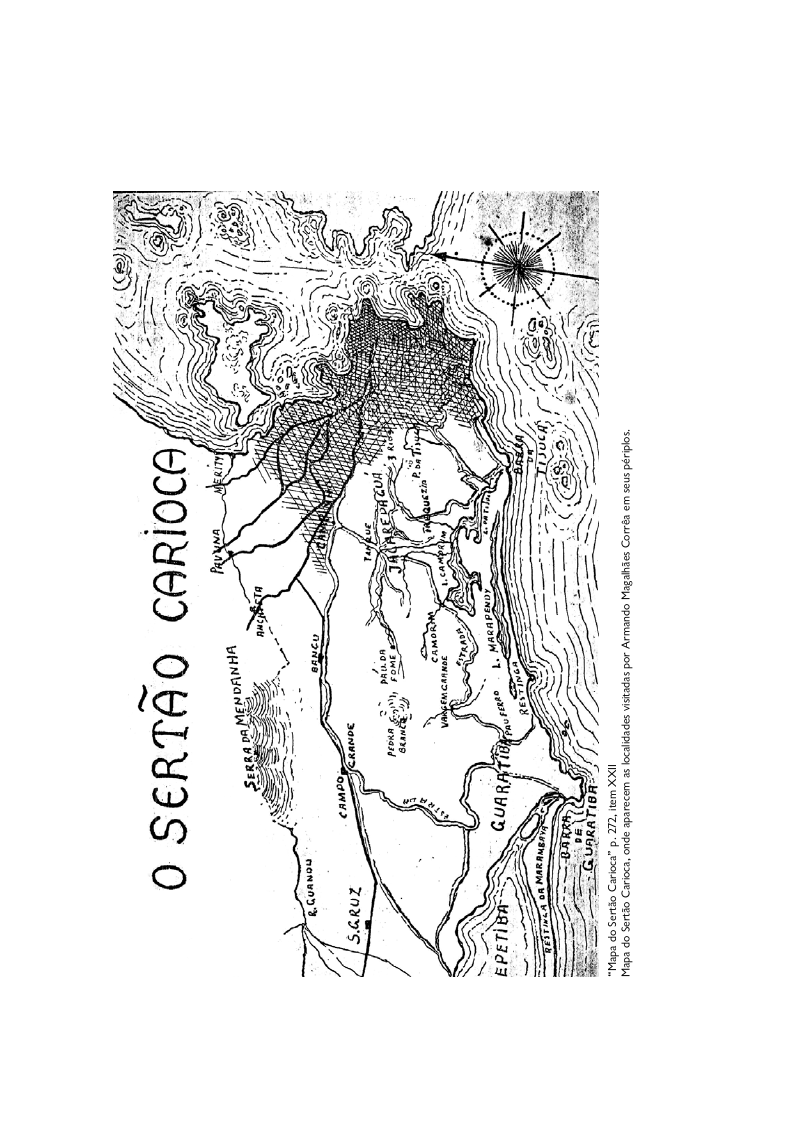
JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND
1056
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO
FONTES
Corrêa, Armando
Magalhães
1936
Corrêa, Armando
Magalhães
1939
Hoehne, Frederico
Carlos
1930a
Hoehne, Frederico
Carlos
1930b
Hoehne, Frederico
Carlos
1936
Hoehne, Frederico
Carlos
1937
Hoehne, Frederico
Carlos
1949
Hoehne, Frederico
Carlos
1943-1951
Leitão, Cândido
de Mello
1935
Leitão, Cândido
de Mello
1937
Leitão, Cândido
de Mello
1940
Leitão, Cândido
de Mello
1947
Roquette-Pinto,
Paulo
1934
Sampaio, Alberto
José
1926
Sampaio, Alberto
José
1933a
Sampaio, Alberto
José
1933b
O sertão carioca.
Rio de Janeiro: Imprensa Nacional.
Terra carioca: fontes e chafarizes.
Rio de Janeiro, Imprensa Nacional.
As plantas ornamentais da Flora Brasílica, volume I.
São Paulo: Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio.
Araucarilândia: observações gerais e contribuições ao estudo da flora e
fitofisionomia do Brasil. São Paulo: Secretaria de Agricultura,
Indústria e Comércio.
As plantas ornamentais da Flora Brasílica, volume II.
São Paulo: Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio.
Resenha histórica para a comemoração do vigésimo aniversário da Seção de
Botânica e Agronomia Anexa ao Instituto Biológico de São Paulo.
São Paulo: Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio.
Iconografia de Orchidaceas do Brasil. São Paulo: Indústrias Gráficas
F. Lanzara.
Relatório Anual do Instituto de Botânica, nos de 1943 a 1951.
São Paulo: Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio.
A vida maravilhosa dos animais.
São Paulo: Cia. Ed. Nacional.
A biologia no Brasil.
São Paulo: Cia. Ed. Nacional.
A vida na selva.
São Paulo: Cia. Ed. Nacional.
Zoogeografia do Brasil. 2. ed., revisada e ampliada.
São Paulo: Cia. Ed. Nacional.
Proteção à natureza.
In: Revista Nacional de Educação, n. 16-17, jan./fev.
O problema florestal brasileiro em 1926.
In: Archivos do Museu Nacional, v. XXVIII.
Clubes de Amigos da Natureza.
In: Revista Nacional de Educação, n. 13-14, out./nov.
Proteção à Natureza no Brasil.
In: Revista Nacional de Educação, n. 15, dez.
v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005
1057

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND
Sampaio, Alberto
1934a
Sampaio, Alberto
José
1934b
Sampaio, Alberto
José (relator)
1935a
Sampaio, Alberto
José (relator)
1935b
Sampaio, Alberto
José
1935c
Torres, Alberto
1982a
Torres, Alberto
1982b
Torres, Alberto
1990
Phytogeographia do Brasil.
São Paulo: Cia. Ed. Nacional.
A Primeira Conferência Brasileira de Proteção à Natureza.
In: Revista Nacional de Educação, n. 18-19, mar./abr.
Relatório Geral da Primeira Conferência Brasileira de Proteção à
Natureza. In: Boletim do Museu Nacional, v. XI, n. 1, março.
Relatório Geral da Primeira Conferência Brasileira de Proteção à
Natureza. In: Boletim do Museu Nacional, v. XI, n. 2, junho.
Biogeographia dynamica.
São Paulo: Cia. Ed. Nacional.
O problema nacional brasileiro.
Brasília: UnB.
A organização nacional.
Brasília: UnB.
As fontes da vida no Brasil.
Rio de Janeiro: FGV.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Acot, Pascal
1990
Alphandéry, Pierre;
Bitoun, Pierre;
Dupont, Yves
1992
Cavalcanti, Carlos
(org.)
1973
Dean, Warren
1996
Drummond,
José Augusto
1997
Drummond, José
Augusto
1998, 1999
Engemann, Carlos;
Silveira, Angela Rosa da;
Oliveira
Franco, José Luiz
de Andrade
2000
História da Ecologia.
Rio de Janeiro: Campus.
O equívoco ecológico: riscos plíticos.
São Paulo: Brasiliense.
Dicionário Brasileiro de Artistas Plásticos.
Brasília: Instituto Nacional do Livro.
A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica Brasileira.
São Paulo: Companhia da Letras.
Devastação e preservação ambiental no Rio de Janeiro.
Niterói: UFF.
A Legislação Ambiental Brasileira de 1934 a 1988: Comentários de um
cientista ambiental simpático ao conservacionismo. Ambiente e Sociedade,
II (3 e 4), 2º semestre de 1998, 1º semestre de 1999.
Rogério Ribeiro de Magalhães Corrêa, o viajante do século XX.
In: Oliveira, Rogério Ribeiro de. (org.) As marcas do homem na floresta:
história ambiental de um trecho urbano de Mata Atlântica.
Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio(no prelo)
Natureza no Brasil: idéias, políticas, fronteiras (1930-1992).
In: Silva, Luiz Sérgio Duarte da. (org.) Relações Cidade-Campo: fronteiras.
Goiânia: UFG/Agepel.
1058
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO
Franco, José Luiz
de Andrade
2002
Kuntz, Rolf
2001
Leão, Regina
Machado
2000
McCormick, John
1992
Medeiros, Rogério
1995
Nash, Roderick
1982
Nash, Roderick
1989
Pádua, José
Augusto
2002
Sarmento, Carlos
Eduardo
1998
Thomas, Keith
1996
Urban, Teresa
1998
Worster, Donald
1994
Proteção à natureza e identidade nacional: 1930-1940.
Tese de Doutorado, Departamento de História da UnB, Brasília.
Alberto Torres: a organização nacional. In: Mota, Lourenço Dantas (org.)
Introdução ao Brasil: um banquete no trópico. v. 2. São Paulo: Senac.
A floresta e o homem.
São Paulo: Edusp/Ipef.
Rumo ao paraíso: a história do movimento ambientalista.
Rio de Janeiro: Relume-Dumará.
Ruschi: o agitador ecológico.
Rio de Janeiro: Record.
Wilderness and the American Mind.
New York: Yale University Press.
The Rights of Nature: a History of Environmental Ethics.
Wisconsin: Wisconsin University Press.
Um sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental no Brasil
Escravista (1786-1888). Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Pelas veredas da capital: Magalhães Corrêa e a invenção formal do sertão
carioca. Rio de Janeiro: CPDOC.
Disponível em www.cpdoc.fgv.br
O homem e o mundo natural.
São Paulo: Companhia das Letras.
Saudade do matão: relembrando a história da conservação da natureza no
Brasil. Curitiba: UFPR/Boticário/MacArthur Foundation.
Nature’s Economy: A History of Ecological Ideas.
Cambridge: Cambridge University Press.
Recebido para publicação em setembro de 2004.
Aprovado para publicação em março de 2005.
v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005
1059
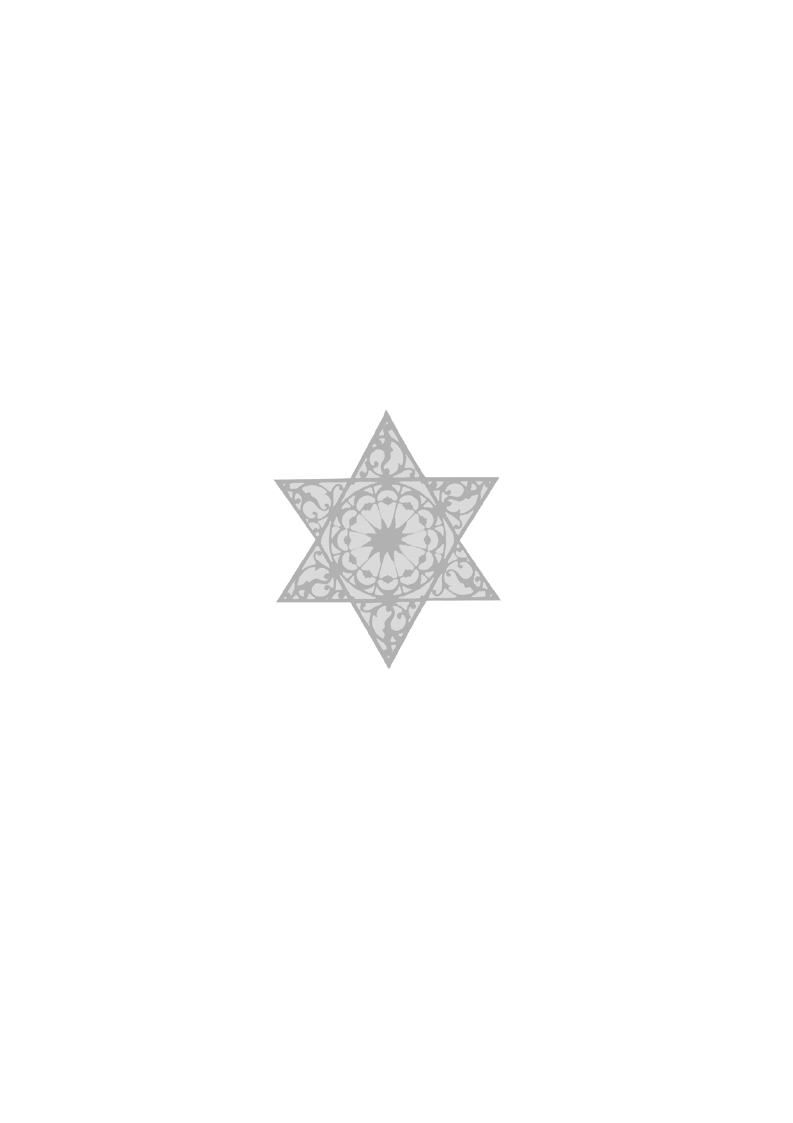
JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND
1060
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro
