
0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA – PPGP MESTRADO
ACADÊMICO
SIGRID GABRIELA DUARTE BRITO
CRIANÇA-NATUREZA: ASPECTOS COGNITIVOS E AFETIVOS DA CRIANÇA NA
RELAÇÃO COM A NATUREZA
MANAUS – AM
2018

1
SIGRID GABRIELA DUARTE BRITO
CRIANÇA-NATUREZA: ASPECTOS COGNITIVOS E AFETIVOS DA CRIANÇA NA
RELAÇÃO COM A NATUREZA
Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Psicologia-PPGPSI,
da Universidade Federal do Amazonas -
UFAM como exigência para a obtenção do
título de Mestre em Psicologia.
Orientação: Profa. Dra. Maria Inês
Gasparetto Higuchi
MANAUS – AM
2018
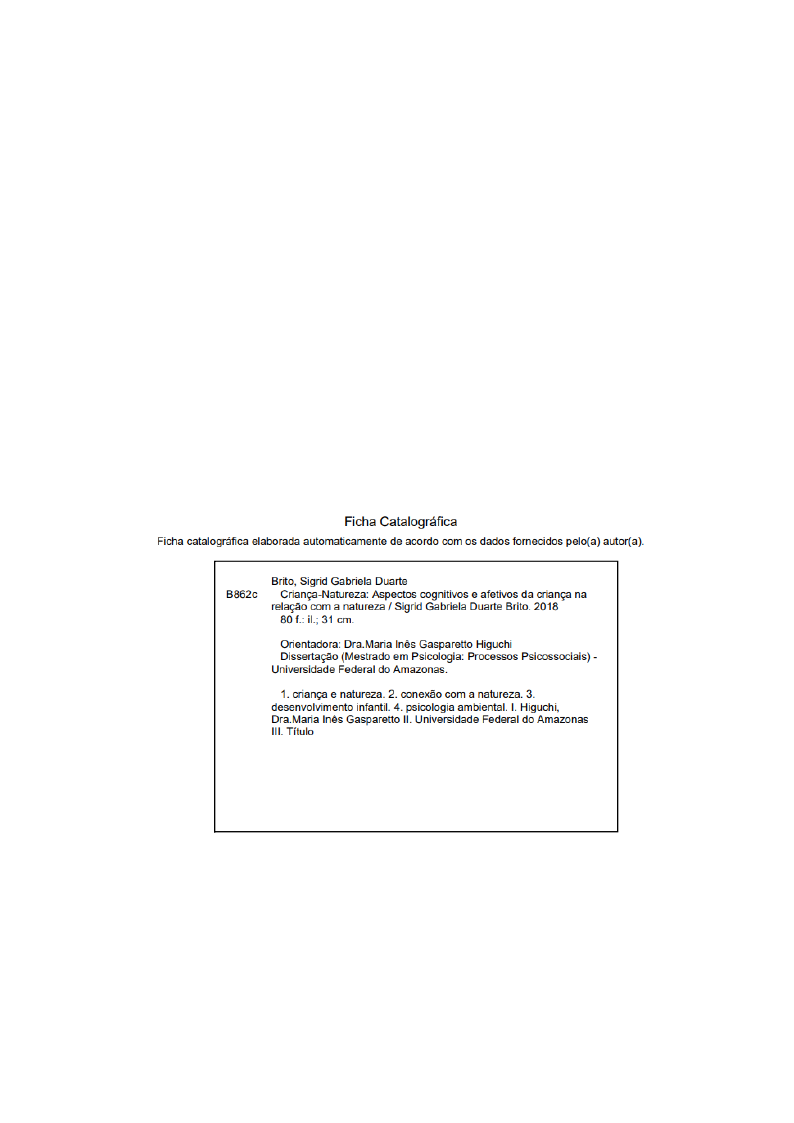
2
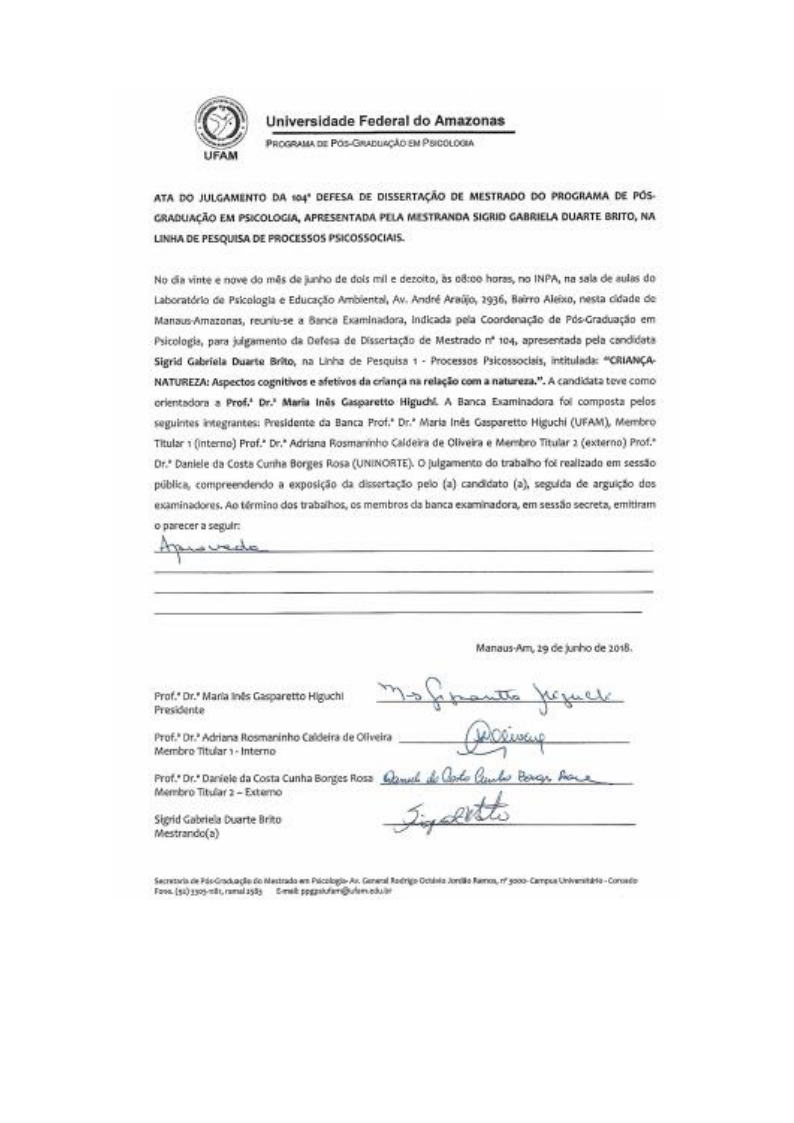
3

4
AGRADECIMENTOS
A gratidão é uma sensação incrível de perceber que não estamos
desamparados, e foi assim que me senti durante esse caminho. Então, gratidão...
A Deus por me fazer forte e resiliente.
A meu esposo, Carlinhos, pelo apoio incondicional e um companheirismo
sublime durante esses quase 900 dias vivenciados em busca do “elo perdido”.
Aos meu pais, Claudionor e Ana, por, desde cedo, fazerem-me acreditar no
meu potencial.
Aos meus irmãos, Tácio e Mário, por sempre me socorrerem nas emergências.
À minha orientadora, Maria Inês Gasparetto Higuchi, cuja elegância e
inteligência peculiares ultrapassam o papel de orientar no âmbito científico, com um
profundo acolhimento humano, sensatez e uma ética voltados para o desenvolvimento
das pessoas.
Ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI), pela oportunidade
de qualificação, e aos professores pelo compartilhamento do conhecimento.
Aos colegas do curso pela convivência e apoio mútuos durante todas as fases
do mestrado, especialmente à líder de turma, Tamara Menezes, que estava sempre a
postos para buscar e socializar as informações pertinentes ao curso.
Aos servidores e pesquisadores do Laboratório de Psicologia e Educação
Ambiental (LAPSEA) pelas pequenas gentilezas e apoio técnico, especialmente Elisa
e Denise.
Ao Governo do Estado de Roraima pela liberação integral para essa
qualificação.
À minha amiga, companheira e comadre Maria Angélica Fortunato Barreiros (in
memoriam). Você tinha razão quando dizia “fica tranquila que tudo vai dar certo”. Sei
que você está aqui!
E aos meus tesouros, Letícia e Danilo, razões de uma incômoda indagação: o
que eu estou fazendo para deixar um planeta melhor para as crianças?!

5
A natureza não é um lugar para se visitar – é nossa morada.
Gary Snyder

6
RESUMO
Este estudo teve como objetivo compreender a relação da criança com a natureza a
partir de aspectos cognitivos e afetivos de 75 meninos e meninas de 7 a 11 anos de
idade, residentes na cidade de Boa Vista-RR. A relação com a natureza é também
nomeada como conexão com a natureza, sendo compreendida como um sentimento
individual que envolve emoção, cognição e sensação de pertencimento. A pesquisa
de caráter qualitativo teve como base o método clínico piagetiano, a partir da técnica
do desenho seguida de uma entrevista individual. Os dados decorrentes da entrevista
foram submetidos à análise de conteúdo. Os resultados mostraram que a natureza é
compreendida pela criança como um lugar bonito e divertido, porém longe do seu
próprio habitat, o que revela um distanciamento afetivo entre a criança e o mundo
natural. As crianças demonstram afeto e atitudes de cuidado em relação à natureza,
embora não se evidencie um aprofundamento nessa relação, cujos cuidados estejam
atrelados a pequenas ações como jogar o lixo, não poluir e não desmatar. Concluiu-
se que é preciso desenvolver ações educativas em todos os contextos (familiares,
sociais e culturais) para reconectar a criança à natureza, a fim de aumentarmos a
probabilidade de ações pró-ambientais no futuro e proporcionar melhor bem-estar
físico e mental à criança.
Palavras-chave: criança e natureza, conexão com a natureza, desenvolvimento
infantil, psicologia ambiental.

7
ABSTRACT
This study aimed to understand the relationship between the child and nature from
cognitive and affective aspects in 75 boys and girls from 7 to 11 years of age and that
live in the city of Boa Vista-RR. The relation to nature is also named as connection with
nature which is understood as an individual feeling, which involves emotion, cognition
and sense of belonging. The qualitative research was based on the Piagetian clinical
method, based on the drawing technique followed by an individual interview. Data from
the interview were submitted to content analysis. The results showed that nature is
understood by the child as a beautiful and fun place, but far from its own habitat, which
reveals an affective distance between the child and the natural world. Children show
affection and positive attitudes towards nature, although there is no evidence of a
deepening in this relationship and care is tied to small actions such as throwing away
garbage, not polluting and not deforesting. It was concluded that it is necessary to
develop educational actions in all contexts, family, social and cultural to reconnect the
child to nature in order to increase the probability of pro-environmental actions in the
future and provide better physical and mental well-being to the child.
Keywords: children and nature, connection to nature, child development, environment
psychology.

8
LISTA DE TABELAS
Tabela 01 Tipos de brincadeiras prediletas das crianças............................... 36
Tabela 02 Distribuição das crianças em função do entendimento de
natureza e idade............................................................................ 46
Tabela 03 Distribuição das crianças em função do entendimento de
natureza do gênero....................................................................... 48

9
LISTA DE FIGURAS
Figura 01 Natureza como espaço de FFR..................................................... 41
Figura 02 Natureza como espaço de FFR..................................................... 41
Figura 03 Natureza como EUH...................................................................... 43
Figura 04 Natureza como EUH...................................................................... 43
Figura 05 Natureza como EIA....................................................................... 45
Figura 06 Natureza como EIA....................................................................... 45

10
Sumário
INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 11
TRAJETÓRIA METODOLÓGICA.............................................................................17
1. CONTEXTUALIZANDO O SER CRIANÇA E A NATUREZA...............................21
1.1 Espaços da Criança .......................................................................................25
1.2 Os Espaços e Tipos de Lazer da Criança ....................................................30
1.3 Atividades de Lazer da Família .....................................................................32
1.4 Atividades Cotidianas da Crianças ..............................................................35
2. A CONSTRUÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE NATUREZA...........................38
2.1 Natureza como Espaço de Flora, Fauna e Rios (FFR) ................................40
2.2 Natureza como Espaço Útil ao Ser Humano (EUH).....................................42
2.3 Natureza como Espaço Importante Ameaçado (EIA) ..................................44
3. RELAÇÃO DE AFETIVIDADE PARA COM A NATUREZA .................................51
3.1 O que a Criança diz Gostar e Não Gostar da Natureza ...............................52
3.2 O que a Criança diz Ser Belo e Feio na Natureza........................................54
3.3 O que a Criança diz sobre a Natureza ser Boa ou Ruim.............................55
4. RELAÇÃO DE CUIDADO PARA COM A NATUREZA ........................................60
4.1 O que a Criança diz do Cuidado de Outras Pessoas para com a
Natureza ................................................................................................................ 60
4.2 O que a Criança diz Sentir diante dos Maltratos à Natureza ......................62
4.3 O que a Criança diz Poder Fazer para Ajudar a Natureza ..........................63
REFERÊNCIAS ........................................................................................................69
APÊNDICE 1 – Minuta carta de anuência do gestor da escola ...........................78
APENDICE 2 – Minuta do TCLE enviado aos Pais/Mães .....................................88
APÊNDICE 3 – Protocolo da entrevista com os pais das crianças.....................82
APÊNDICE 4 – Protocolo de pesquisa ..................................................................83
ANEXO A – Parecer de aprovação do CEP ...........................................................84

11
INTRODUÇÃO
No campo ecológico, a natureza tem um lugar especial devido a seus
benefícios aos ecossistemas e a todos os organismos que formam este planeta. Ao
trazer a natureza para o campo da Psicologia, inclui-se uma dimensão importante da
constituição do sujeito psicológico, uma vez que a natureza é uma condição vital da
existência humana física e mental. No campo psicológico, a natureza vem sendo
redescoberta como protagonista no reequilíbrio das emoções e cognições do sujeito
que dela tem-se distanciado devido ao modo de vida urbano industrial. Este estudo
foca-se em verificar a relação criança-natureza e suas implicações na formação de
comportamentos pró-ambientais.
Embora a natureza seja ou deva ser considerada protagonista nos campos da
ecologia ou da psicologia, a imposição da vida urbana e a pressão desenvolvimentista
têm posto em risco a existência dessas áreas naturais. Muitos ambientalistas,
acadêmicos e parte da sociedade têm procurado reverter tal situação, mas a distância
ainda é grande. Com certo alívio, nas últimas décadas, a preocupação sobre a crise
ambiental tem estimulado a criação de parques e reservas naturais, não apenas
considerando seu papel ecológico, mas também como áreas que possibilitam a
restauração e a redução do estresse urbano e gerador de bem-estar psicológico e,
portanto, promotor de saúde (CAVALCANTE; ELALI, 2011).
O fato de que a natureza possui elementos que proporcionam bem-estar tem
sido estudado por diferentes perspectivas teóricas, com certo destaque para a
perspectiva da biofilia, que tem ganho força no meio acadêmico. A biofilia se baseia
na hipótese de que o ser humano tende a prestar atenção, preocupar-se ou responder
positivamente à natureza (ULRICH, 1993). Na perspectiva da biofilia, as crianças têm
atenção especial, uma vez que são consideradas vulneráveis sob o prisma
socioambiental. Tal apreensão se deve pelo fato de que a maior parte das crianças,
mais de um bilhão (UNICEF,2012), vive “confinada” em cidades, portanto, sujeita a
um alto grau de estresse e com limitação de liberdade para atividades de exploração
cognitiva e sensorial.
Nos espaços urbanos, a natureza é gradativamente substituída pelas moradias
e vias de acesso, de tal forma que pouco espaço verde é reservado. Ademais, a vida
agitada dos pais, as grandes distâncias de deslocamento (que geram estresse no

12
trânsito) e o medo da violência urbana (que faz com que as pessoas procurem
moradias cada vez mais “protegidas”, como condomínios fechados, especialmente
verticalizadas, inclusive nos programas sociais de habitação para pessoas em
vulnerabilidade social) distanciam as crianças do ambiente mais natural, o que
desfavorece o exercício da exploração e espontaneidade. Ressalta-se, ainda, o poder
da tecnologia como alternativa de lazer e brincar infantil que, usada em demasia, sem
outras escolhas que permitam a criança a se movimentar e interagir com outras
crianças em espaços coletivos, aprisionam, ainda mais, os pequenos ao confinamento
urbanoide.
Todo esse distanciamento da natureza poderá ter um custo elevado para o
desenvolvimento das crianças, desembocando numa geração com “transtorno de
déficit da natureza” (LOUV, 2016) 1 . A redução do contato com a natureza traz
consequências nefastas não apenas à saúde da criança, como também à capacidade
social futura de um cuidado mais adequado na manutenção do ambiente natural
(CHENG; MONROE, 2012; GENG et al., 2015). Nesse sentido, os adultos são
convocados a repensar o mundo que apresentam às crianças que os sucedem.
As crianças, em qualquer sociedade planetária, vivem num mundo estruturado
pelos adultos e muito do que elas são é aprendido na relação convivida com as
pessoas que estão no seu cotidiano (VYGOTSKY, 1998; HIGUCHI, 1999). Isso vale
na relação com o meio ambiente, em que os adultos na sociedade urbana
industrializada se movem de forma prioritária, por meio de uma visão antropocêntrica.
Apesar desse modo de pensar ser combatido, ainda persiste implícito nas ações com
a natureza (GONÇALVES, 1989).
A separação ser humano e natureza (cultura e natureza, história e natureza) é
uma característica marcante do pensamento que tem dominado o mundo ocidental,
cuja matriz filosófica se encontra na Grécia e Roma clássicas. A sociedade humana
se comporta como se fosse dona, proprietária da natureza, e essa forma de pensar e
agir como agente superior estaria homologando práticas de exploração e dominação
que colocam a natureza em risco (GONÇALVES, 1989). No entanto, há que se
considerar que, em todas as sociedades, a natureza se movimenta ora como realidade
1 Transtorno de déficit da natureza: caracterizado pela diminuição do uso dos sentidos, dificuldade de
atenção e índices mais altos de doenças físicas e emocionais, sendo detectado individualmente, em
famílias e em comunidades, podendo até alterar o comportamento humano nas cidades (LOUV, 2016).

13
concreta, ora como realidade abstrata; e, em grande parte delas, é percebida como
uma fonte inesgotável de recursos para os humanos.
Não é raro se definir a natureza, em nossa sociedade industrial urbanizada, por
aquilo que se opõe à cultura, sendo esta tomada como algo a ser dominado
(GONÇALVES, 1989). Para o autor, essa expressão “dominar a natureza” só tem
sentido a partir da premissa de que o ser humano é “não natureza” e, portanto, tal
crença compromete a unicidade e a indivisibilidade da realidade transacional de que
ambiente e humanos são dimensões de um mesmo mundo. Essa forma de pensar se
embasa, historicamente, em três momentos da relação humana com a natureza:
inicialmente, o ser humano molda-se a ela adaptando-se, depois confronta-se com a
natureza em posição de ataque e, por fim, tenta restituir os ambientes por ele
degradados e preservar os que ainda restam (CORTEZ, 2011).
Com alívio, embora tardio, dada a constatação dos problemas ambientais e,
consequentemente, com o advento do movimento ambientalista, na década de 1970,
que teve como marco a conferência das nações unidas sobre o ambiente humano,
liderada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em Estocolmo, na Suécia, a
natureza ressurge como uma dimensão existencial dos humanos em que, estando em
risco, toda a sociedade também seria atingida. O olhar diferenciado à natureza passa
a ser solicitado para que os humanos compreendam essa relação de
interdependência.
Diante dessa realidade da “crise ambiental”, vários estudos afirmam que a
natureza é um aspecto do mundo a ser reabilitado, reconhecido e valorizado
(GONÇALVES, 1989; MORIN, 2000). Para reverter esse processo, vários autores
sustentam diferentes medidas, seja educativa, de gestão pública ou de mobilização
social (BORTOLOZZI; ARCHIMEDES, 1999; MARIANO et al., 2011). De modo
especial, o público infanto-juvenil tem sido foco de ações visando uma mudança dessa
forma de exploração sem medida e distanciamento da natureza.
A escolha da criança como foco desta pesquisa deve-se à necessidade de
compreender como está sendo o processo de construção das crianças, na faixa etária
de 7 a 11 anos, em relação a cognição e a afetividade com a natureza. Pela condição
peculiar do desenvolvimento infantil, tem-se, ainda nessa relação, aspectos relativos
à sua saúde integral e, também, um campo fértil para a aprendizagem de
comportamentos pró-ambientais que possam vir a mitigar os danos ao planeta.

14
Processos educativos, especialmente de educação ambiental, têm tratado da
necessidade de cuidado e proteção da natureza. Por um lado, a natureza é vista como
algo ameaçado e que, por isso, precisa ser defendida; por outro, a natureza é tratada
como fonte potencial de bem-estar a todas as espécies e, naturalmente, também dos
seres humanos (HIGUCHI; SILVA, 2013). Em ambos os casos, está implícita a
necessidade de sensibilização em relação aos comportamentos nocivos e ao próprio
distanciamento que as pessoas possuem em relação à natureza. Concorrem nessa
tendência educativa a problematização de aspectos socioculturais (valores que
permeiam a relação constituída pela relação dos grupos sociais) e aspectos
psicossociais como os cognitivos (compreensão da dinâmica ecológica para sustentar
a relação de interdependência ambiental e uso de seus recursos) e os aspectos
afetivos (reconhecimento da relação de significados emocionais) (HIGUCHI;
AZEVEDO; FORSBERG, 2012).
A preocupação com o meio ambiente passa a ter importância mundial e os
esforços para reverter a problemática dão origem a diversas iniciativas, dentre elas a
educação ambiental (GONÇALVES, 1989; HIGUCHI; REIGOTA, 2001; AZEVEDO,
2004). Embora exista o movimento de ressignificação da natureza, a partir dos
emergentes processos educativos e sociais, as crianças urbanas convivem com
ambientes degradados e sua vida na cidade pouco contempla a aproximação com a
natureza. Estudo realizado em Parintins, no Amazonas, mostrou que áreas
degradadas parecem ser o único espaço de lazer e recreação para crianças desse
município, colocando, assim, em risco a saúde das mesmas (TEIXEIRA, 2015).
Por outro lado, em ambientes preservados, a criança tem a possiblidade de
maior contato com a diversidade biológica (plantas, animais) e física (água, ar, terra,
rochas, etc.), o que lhe proporciona um estado emocional mais equilibrado, com
menor probabilidade de sentir ansiedade e, notadamente, mais disponível para a
aprendizagem (CHENG; MONROE, 2012; LOUV, 2016). As possibilidades de brincar
em áreas livres permitem à criança correr, pular, subir em árvores, nadar e,
consequentemente, aumentar o gasto de energia, com o subsequente aumento da
produção de serotonina e dopamina 2, proporcionando, assim, maior bem-estar e
2 Neurotransmissores produzidos naturalmente pelo cérebro que ajudam a regular o humor, o sono, o
apetite, a atividade motora e as funções cognitivas, podendo interferir no bem-estar geral do organismo.
Fonte: BALLONE, G. J.; MOURA, E. C. Serotonina. Disponível em: www.psiqweb.net. Acesso em: 27
maio 2018.

15
auxílio no controle do peso e equilíbrio emocional (RISSOTTO; TONUCCI, 2002;
WELLS; EVANS, 2003; SUKHODOLSKY et al., 2008).
Estudos indicam que as crianças vêm se distanciando do contato com a
natureza e, por conta disso, aumentando também a falta de sensibilidade com a
proteção do ambiente natural (HIGUCHI; ROSA; FORSBERG, 2013; LOUV, 2016).
Esse distanciamento é um dos fatores que pode determinar a falta de conexão afetiva
com a natureza e, por conseguinte, impedir comportamentos pró-ambientais,
considerando que tal afinidade é um importante preditor de atitudes na vida adulta
contrárias ao comportamento ambiental (CHENG; MONROE, 2012). As autoras
sustentam que a afinidade emocional, a empatia e a simpatia são elementos
essenciais para predizer comportamentos pró-ambientais.
Na literatura brasileira são encontrados poucos estudos envolvendo a temática
acerca da afinidade infantil em relação à natureza, dentre eles os apresentados por
Higuchi (2003), Peres (2013) e Machado et al. (2016). Embora ainda incipientes,
essas referências teóricas estimulam novas investigações acerca dos estados de
conexão com a natureza que possam nos revelar importantes informações, tanto para
a saúde integral da criança quanto na promoção de comportamentos pró-ambientais,
como o cuidado com os recursos naturais. Considera-se, portanto, que estudar
aspectos de afinidade emocional com a natureza nos revela não só temáticas
ecológicas de valorização da natureza, mas também e, sobretudo, particularidades
relacionadas ao bem-estar psicológico das pessoas que vivem em cidades marcadas
pelo estresse urbano.
Não há ordem de prioridade ou proeminência de importância dos aspectos
ecológicos e psicossociais ao se referir à natureza e a seu status na relação criança-
natureza. No entanto, este estudo focará com mais profundidade a relação afetiva
com a natureza, o que se considera um requisito motivacional para desembocar nos
respectivos campos de conhecimento e ação. Interessa, neste estudo, compreender
os laços afetivos para com a natureza pela sociedade urbanizada, cuja expressão
mais autêntica pode ser encontrada nas crianças.
Diante desses pressupostos teóricos, questiona-se como se dá a relação das
crianças com a natureza. Como as crianças vivenciam os escassos espaços naturais?
Como as crianças que moram em Boa Vista, uma das capitais da região amazônica,
percebem a natureza presente na região onde moram?

16
Como profissional da psicologia, mais especificamente atuante em unidades de
saúde públicas, nas quais trabalhei com mulheres e crianças vulneráveis por
violências domésticas e de outros riscos urbanos (trânsito, segurança pública,
deficiências infra estruturais e ausência de logradouros de lazer, dentre outros), ouvi
colegas dizerem que “o código de endereçamento postal, às vezes, diz mais da saúde
do paciente do que o código genético”. Essa frase anedotista traduz uma percepção
empírica de que a identidade de lugar e o contato pessoa-ambiente, principalmente
em cidades muito urbanizadas, podem revelar alguns níveis de transtornos
psicossociais recorrentes.
A pesquisa teve como objetivo geral compreender a relação afetiva com a
natureza e suas implicações para o comportamento pró ambiental de crianças de 7 a
11 anos, residentes na cidade de Boa Vista-RR. Buscou-se, ainda, analisar os
entendimentos atribuídos à natureza e seus elementos constituintes, procurando
identificar atitudes, afetos e sentimentos que marcam a relação com a natureza, além
de verificar aspectos de preocupação e cuidado com o ambiente natural.
Nesse sentido, a relevância deste estudo perpassa pela possibilidade de
ampliação do olhar sobre o desenvolvimento infantil, sob a perspectiva da psicologia
ambiental, compreendendo de que forma a afinidade para com a natureza contribui
para a saúde da criança e, em especial, para uma formação cidadã, responsável e
proativa nas questões relativas ao cuidado com o meio ambiente, seja ele natural ou
construído.
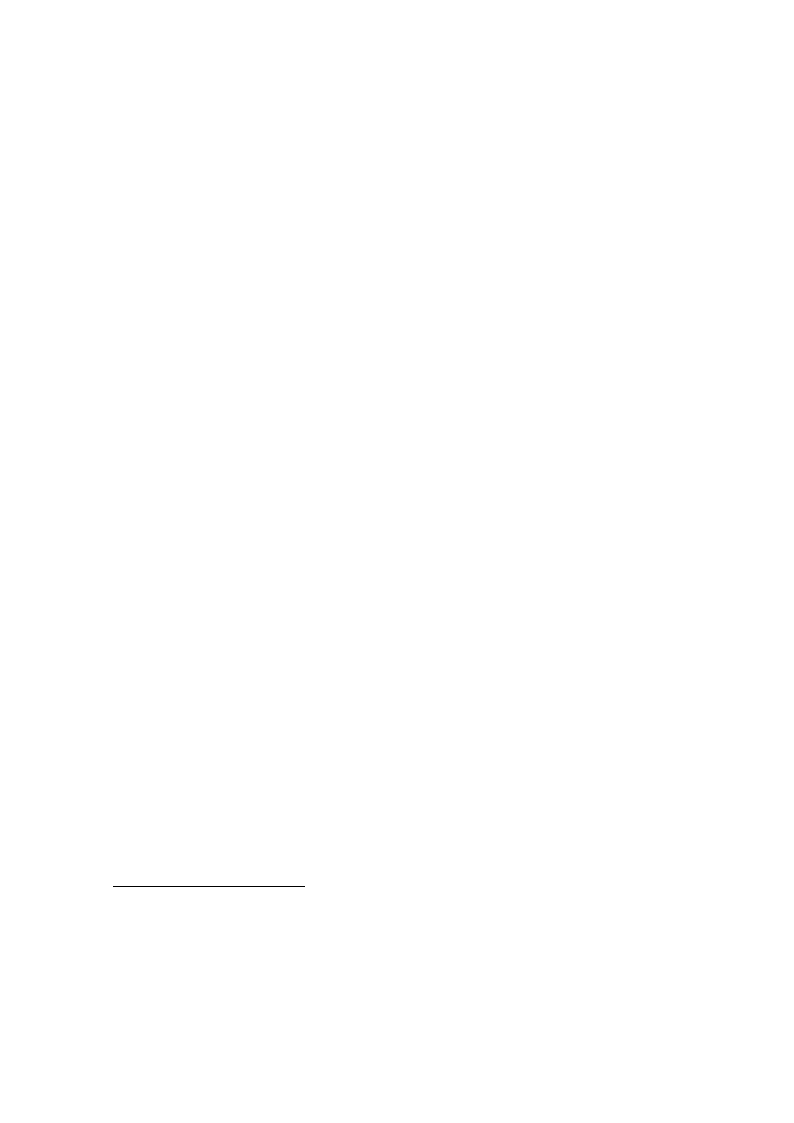
17
TRAJETÓRIA METODOLÓGICA
Estudo de abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva
(GODOI; MATTOS, 2006), realizado com crianças de 7 a 11 anos de idade, do 2° ao
6° ano do ensino fundamental de seis escolas, sendo duas da rede pública municipal,
duas da rede estadual e duas da rede privada, situadas em áreas geográficas distintas
da cidade de Boa Vista-RR3.
Nesta pesquisa, o método clínico piagetiano se constituiu como técnica
principal de coleta dos dados. Esse método é descrito por Delval (2002) como um
procedimento para investigar como as crianças pensam, percebem, agem e sentem,
procurando descobrir o que está por trás das aparências de sua conduta, seja em
ações ou palavras. Essencialmente, é um método de entrevista verbal, porém, sua
relevância está no tipo de atividade do pesquisador da interação com o sujeito.
Caracteriza-se, ainda, pela flexibilidade em se ajustar às condutas do sujeito, podendo
o pesquisador intervir a qualquer momento da experiência para tornar mais clara a
interação com a criança.
Segundo Delval (2002), o método pode ser utilizado com ou sem apoio de
material, que podem ser objetos ou brinquedos lúdicos que desencadeiam o diálogo.
Nesse estudo, optou-se por incluir a técnica do desenho como ponto de partida para
a execução do método, desenhos esses produzidos pela criança a partir de uma
solicitação específica e logo após foram ouvidos os argumentos narrativos da criança
relacionados à sua afinidade e vivência com a natureza. Essa técnica é vantajosa para
aplicar em crianças pequenas, pois permite que elas expressem mais facilmente seu
modo de sentir e pensar no desenho do que verbalmente.
O desenho infantil é um dos aspectos mais importantes para o desenvolvimento
integral do indivíduo e constitui-se um elemento mediador de conhecimento e
3 A cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, situa-se no extremo Norte do país, na região
amazônica, e se destaca pelo traçado urbano organizado de forma radial e planejada. Construída no
período entre 1944 e 1946 pelo engenheiro civil Darcy Aleixo Derenussun, tendo sua projeção inspirada
nas ruas e avenidas parisienses. A cidade possui em torno de 350 mil habitantes, tendo clima tropical
úmido, com temperaturas elevadas a maior parte do ano, com média de 20 a 38°C, estando localizada
à margem direita do rio Branco, possuindo uma área de 5.711,9 km². A principal fonte geradora de
emprego advém do setor público, seguida do comércio. O IDHM, em 2010, foi de 0,752 e a renda per
capita de R$ 935,19 (IBGE, 2017). A natureza se faz presente em várias áreas da cidade ao
observarmos praças e ruas arborizadas, assim como igarapés que a circundam e são utilizados como
lazer pela população.

18
autoconhecimento para crianças pequenas. A partir do desenho, a criança organiza
informações, processa experiências vividas e pensadas, revela seu aprendizado e
pode desenvolver um estilo de representação singular do mundo (GOLDBERG;
YUNES; FREITAS, 2005). Ademais, a criança, por meio do desenho, interage com o
meio ambiente, experimenta novas realidades e as compartilha com o mundo; ao
desenhar, a criança expressa a maneira pela qual se sente existir (DERDYK, 1989).
Para ajuste na técnica, realizou-se um teste piloto com 10 crianças antes do
início da pesquisa para a verificação da efetividade da coleta de dados, bem como se
as perguntas do entrevistador eram compreensíveis às crianças e se as respostas às
perguntas produziam a riqueza de dados esperados, além de verificar se o tipo de
abordagem era uma forma eficiente e eficaz. Com esse procedimento, a técnica foi
ajustada e deu-se início à pesquisa com as crianças, alunos das escolas e turmas
selecionadas para o estudo.
Todo o procedimento ético foi seguido de forma que, inicialmente, foi
encaminhado o termo de anuência aos gestores das escolas participantes
(APÊNDICE 1) e, após a autorização das mesmas, um termo de consentimento
(APÊNDICE 2) foi enviado aos pais e responsáveis das crianças juntamente com um
questionário do perfil sociodemográfico da família (APÊNDICE 3). A pesquisa seguiu
os princípios éticos, as diretrizes e as normas regulamentadoras de pesquisas
envolvendo seres humanos do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Saúde
(CNS) 466/20124. Por ser parte de uma pesquisa de maior abrangência, formulada e
coordenada pela orientadora5, este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em
pesquisa do INPA e aprovado no CAAE 63687616.9.0000.0006 sob o parecer n.
1.900.249.
O procedimento de coleta foi realizado nas dependências das escolas no
período de março a junho de 2017. O procedimento incluiu a distribuição de folhas A4
brancas e um lápis preto B2 para as crianças que aguardavam na sala de aula.
Embora as instruções do desenho tenham sido de forma coletiva a todo o grupo
presente na sala, as crianças foram convenientemente separadas para evitar cópias.
Pedia-se para a criança desenhar “tudo o que ela sabia sobre a natureza e o que
4 Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html.
5 Chamada Universal MCTI/CNPq – Edital nº 01/2016. Pesquisadora coordenadora: Maria Inês
Gasparetto Higuchi, do INPA/CSAS/LAPSEA, sob o título “Conexão com a Natureza: afinidade de
jovens pais/mães e filhos/as para com a natureza”.

19
costumava fazer nela” (ver APÊNDICE 4). Após a realização do desenho, que durava
em média 20 minutos, as crianças, uma a uma, foram solicitadas a ir a outra sala para
falar sobre esse desenho e responder questões próprias sobre o estudo em questão.
Todo o processo demorou em torno de 35 minutos para cada grupo de alunos. O
critério de inclusão adotado foi de crianças de 7 a 11 anos de idade, que estivessem
regularmente matriculadas nas escolas escolhidas e que não apresentassem
dificuldades de comunicação.
Participaram deste estudo 75 crianças, sendo 51% meninos e 49% meninas,
com idade de 7 a 11 anos. Delval (2002) recomenda, como norma geral, um mínimo
de 10 sujeitos para cada idade e um máximo de 14, considerando que abaixo desse
número é difícil tirar conclusões e fazer comparações estatísticas e, acima disso, as
respostas podem repetir o mesmo padrão, restringindo, portanto, a coleta de
informações novas. A seleção das crianças participantes foi feita por conveniência e
acessibilidade (GIL, 1999).
Entre essas crianças, 55% eram alunos de escolas privadas e 45% de escolas
públicas. De acordo com o questionário preenchido pelos pais, essas crianças eram
provenientes de família com orientação religiosa diferenciada, sendo que 51% das
famílias se declararam católicas, 34% evangélicas e 15% não informaram a religião.
Apesar de ter sido solicitado aos pais/mães sobre sua ocupação, grande parte não
informou e outros descreveram ocupações muito gerais, em alguns casos se tratava
do vínculo empregatício (empregado, desempregado, aposentado, entre outros) ou
ainda o tipo de atividade (autônomo, funcionário público, militar, entre outros). Sendo
assim, o que nos resta informar é que se trata de uma amostra de crianças cujos
pais/mães atuavam nas mais diversas profissões e ocupações.
Os pais informaram, ainda, sobre o tipo de moradia, sendo que a grande
maioria das crianças (88%) mora em casa e apenas 12% em apartamentos. Entre os
que moram nas casas, 75% afirmam ter quintal arborizado e 65% dessas famílias
afirmam ter em sua residência animais de estimação (cachorro e/ou gato). Tais fatores
indicam que a maioria das crianças tem um contato com elementos da natureza, seja
vegetação próxima e/ou animais domésticos.
Considerando esse perfil das famílias e crianças, apresentamos os capítulos
referentes aos resultados dessa pesquisa a partir das atividades de lazer e,
sucessivamente, adentrando nos entendimentos, nas afetividades e na preocupação
ambiental. A estrutura deste trabalho compreende quatro capítulos. O capítulo 1

20
apresenta a composição teórica do estudo, cuja primeira seção contextualiza e
problematiza o entendimento referente ao desenvolvimento da criança, destacando
diferentes estudiosos da infância com diferentes concepções acerca do ser criança. A
segunda seção abordará os espaços onde o desenvolvimento infantil acontece, como
casa, escola, espaços públicos e sua interação com a importância do brincar. Por fim,
a terceira seção irá abordar o tema da criança e sua relação com a natureza,
envolvendo o processo de desenvolvimento, os espaços onde o brincar acontece e os
aspectos culturais da relação humana com o ambiente natural e construído.
No capítulo 2 são apresentados os entendimentos das crianças atribuídos à
natureza e seus elementos constituintes, tendo como inspiração o desenho produzido
e, a partir dele, o desencadeamento do pensamento para conceituar cognitivamente
a natureza. O entendimento se produz a partir do desenho, mas consubstanciado pela
narrativa produzida a partir da entrevista mediada com a pesquisadora.
No capítulo 3 focam-se nas atitudes, afetos e sentimentos que marcam a
relação com a natureza destas crianças, destacando-se, assim, o papel da
subjetividade diante das relações criança-natureza. Tais atitudes também emergem a
partir do desenho, distanciando-se porém daquele quadro produzido para adentrar no
mundo real da criança, onde ela se coloca diante dos dilemas que a pesquisadora vai
sugerindo.
Já no capítulo 4 discutem-se os aspectos de preocupação e cuidado com o
ambiente natural abordados pelas crianças. Novamente, o desenho inicia a
conversação, mas a criança é levada a pensar nos problemas ambientais que cercam
a natureza e o uso dos humanos diante desse cenário. Aqui, a relação toma um rumo
que integra aspectos éticos e moralidade diante dos problemas ambientais. Por fim,
essa dissertação se encerra com um texto abordando, de forma conjunta, o que a
criança apresenta no seu sentido cognitivo, afetivo e ético sobre a natureza.

21
1. CONTEXTUALIZANDO O SER CRIANÇA E A NATUREZA
Ao longo da história da infância, várias perspectivas foram se modificando no
entendimento da sociedade sobre o que é ser criança. A concepção que se tem hoje
da infância, como condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, destoa bastante
da velha sociedade tradicional que via a criança como um ser incompleto, buscando
a vida adulta. Papalia, Olds e Feldman (2009) destacam que o conceito de períodos
de desenvolvimento nada mais é do que mera construção social, ou seja, uma ideia
sobre a natureza da realidade, aceita pela sociedade em determinado momento.
O aprofundamento do sentido da infância foi evoluindo à medida que
estudiosos foram se aprofundando nesse tema, especialmente pedagogos e
fundadores da psicologia. Destacam-se aqui, entre o final do século XIX e o início do
século XX, Sigmund Freud e George Herbet Mead. Freud acreditava que a criança
estaria longe de ser considerada uma tábula rasa, como defendia Locke; pelo
contrário, ela estaria dotada de um aparelho psíquico, de impulsos instintivos e de
capacidade de enfrentar os obstáculos como separação, ansiedade, dentre outras
(PINTO,1997). Já George Mead, filósofo norte americano, considerado fundador do
interacionismo simbólico, procurou estudar os processos pelos quais se desenvolve
na criança o sentido do eu (self) e do outro. Para esse pensador, o jogo infantil,
entendido no sentido de representação de papeis (o brincar, o faz de conta), constitui
um passo essencial no processo de construção da autoconsciência da criança
(PINTO, 1997).
Na década de 30 do século passado, os critérios para explicar o ser criança
como um fenômeno do desenvolvimento infantil seguiam uma tendência biológica,
nem sempre simplificada, centrada no funcionamento do sistema nervoso central,
identificada como teoria maturacional (GESELL, 1928; MCGRAW, 1935). Gesell
baseou sua teoria em hereditariedade e premissas evolutivas, e assumiu que a
maturação era a força reguladora no desenvolvimento da criança – na opinião dele, o
ambiente tinha uma importância pequena. Os trabalhos de Gesell e outros autores
marcaram o período normativo/descritivo dos anos 1940, que durou até os anos 1970.
Entre os anos 1930 e 1940, as teorias do comportamento (behaviorismo) se
destacaram frente às teorias psicanalíticas; experimentos laboratoriais apoiavam o
conceito de que o ambiente era determinante no desenvolvimento da criança. Na

22
década de1960 surgem, então, os teóricos da aprendizagem social, dentre eles
destaca-se Albert Bandura, ao observar que a aprendizagem acontecia com muita
frequência através da imitação social. O que faz as crianças imitarem, conforme
Bandura, seria o desejo de se parecerem com adultos que expressam poder, o desejo
de possuírem algo. O impacto desta teoria levou à criação de métodos como
“modificação de comportamento”, que combinam reforçamento, modelagem e
manipulação de dicas situacionais com o objetivo de mudar os comportamentos das
crianças (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2009).
A perspectiva do desenvolvimento a partir da visão da epistemologia genética
de Piaget (1896-1980) revolucionou a forma de entendimento do desenvolvimento
infantil, que inclui o fato de que a criança vai construindo seu conhecimento sobre si
e sobre os outros, considerando o mundo ao seu redor de forma gradativa e
majorante. Isso se dá pelo uso de mecanismos mentais como a organização e a
adaptação a partir de dois processos básicos chamados de assimilação e
acomodação. De acordo com Piaget, sempre existe uma tensão entre assimilação e
acomodação, a qual é regulada pela equilibração, isto, é, uma forma de auto regulação
que a criança usa para dar coerência e estabilidade nas suas concepções do mundo.
O conceito de equilibração ajuda a criança a compreender a inconsistência de suas
experiências, sendo que nem sempre uma mudança no ambiente significa uma
mudança na estrutura conceitual (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2009).
Lev S. Vygotsky (1896-1934), psicólogo russo, descreveu suas experiências
com crianças, que se popularizaram no ocidente somente nos anos 1970. Suas ideias
complementam as de Piaget (1896-1980), embora nunca tenham trabalhado juntos,
de modo a revolucionarem definitiva e incontestavelmente a concepção de
desenvolvimento da inteligência. Vygotsky (1998) advogava que a aprendizagem
conceitual emergia das funções de linguagem. A criança era capaz, então, de fazer
uso da linguagem antes de abstrair o significado conceitual de sua comunicação. Ele
acreditava que a aprendizagem, favorecida pelo ambiente social, caracteriza uma
zona de desenvolvimento proximal (ZDP) que, posteriormente, foi redefinida por Moll
(1990) como unidades de análise da explicação psicológica, na medida em que a ZDP
deve ser mais pensada como um sistema de interações socialmente definido, do que
como um atributo dos sujeitos (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2009; VIOTTO FILHO;
PONCE; ALMEIDA, 2009). Percebe-se, assim, uma gradativa evolução das teorias do
desenvolvimento que, inicialmente, enfatizava critérios meramente biológicos. A partir

23
disso, passou-se a considerar o contexto sociocultural, as influências do meio
ambiente interacional e da família como integrantes da formação das crianças e
possíveis fatores preditivos de atitudes e comportamentos.
Diversas discussões têm sido feitas acerca das convergências e divergências
entre o epistemólogo suíço Piaget e o bielo-russo Vigotsky. Piaget procurou
estabelecer um nexo lógico entre a psicologia e a biologia, descrevendo o
desenvolvimento das crianças em estágios; já Vygotsky enfatizava a influência dos
contextos culturais no desenvolvimento infantil, além dos instrumentos linguísticos,
sendo que os sujeitos que adquirem conhecimentos são socialmente interativos. E a
partir dessa interação, a criança é capaz de resolver problemas e, por isso, a
importância do meio social proposta por Vygotsky com mais ênfase do que Piaget
sobre o meio físico. Embora haja divergências conceituais entre os dois autores, eles
tendem a ser mais complementares que excludentes, uma vez que priorizam aspectos
distintos do desenvolvimento cognitivo, revelando a riqueza e a complexidade da
mente humana (CASTORINA, 2001; SANTANA; ROAZZI; DIAS, 2006; ANDADRE;
STADLER, 2009).
Na década de 1990, começaram a emergir novos estudos na ciência do
desenvolvimento, que passou a conceber como pressuposto básico o comportamento
que se manifesta em função do contexto em que ele ocorre, e não separado deste.
Além disso, os estudos relativos ao desenvolvimento infantil transcenderam a
psicologia e a educação para outras áreas do conhecimento, como biologia, genética
e ecologia. Desse modo, faz sentido incluir os múltiplos sistemas que influenciam o
desenvolvimento individual, tais como os processos fisiológicos, culturais, as
interações sociais e os genes que se integram através do tempo, de forma a promover
(ou não) a saúde e o funcionamento adaptativo (MAGNUSSON; CAIRNS, 1996).
Outra importante mudança de concepção do ser criança diz respeito à
compreensão dinâmica e epigenética 6 , que implica que o desenvolvimento é
construído a partir de interações genéticas e ambientais, as quais, juntas, definem a
trajetória do desenvolvimento do indivíduo. Assim, mediante a natureza emergente do
desenvolvimento e a existência de uma multiplicidade de possibilidades não
previsíveis, a partir de um estado inicial, a causalidade deixa de ser vista como linear,
simples ou mesmo óbvia, passando a ser probabilística, não mais determinista, como
6 Epigenética é definida como as mudanças na expressão do gene que não alteram a sequência do
DNA, mas que são herdáveis pela mitose e ao longo das gerações (TANG; HO, 2007).

24
defendiam os primórdios dos estudos em desenvolvimento humano. Com essa
concepção, supera-se a compreensão do desenvolvimento como algo predestinado e
que se desenrola a partir de algo que já está determinado (DESSEN; MACIEL, 2014).
O conceito de desenvolvimento “probabilístico” se ajusta a esse estudo do
comportamento pró-ambiental que pretende compreender a relação criança-natureza,
suas implicações para a saúde e o seu desenvolvimento, bem como a concepção já
referenciada por autores que afirmam que uma forte conexão com a natureza na
infância pode ser um importante preditor de comportamento proativo em relação ao
meio ambiente (CHENG; MONROE, 2012; GENG et al., 2015).
Dada a complexidade, a dinâmica e a mutabilidade do curso de
desenvolvimento das pessoas, não se pode afirmar, com precisão, como serão suas
atitudes pró-ambientais apenas baseadas nas experiências infantis positivas de
contato e afeto para com a natureza; é preciso uma compreensão ampla e sistêmica
de todo seu contexto e percurso de vida. Da mesma forma, as trajetórias de
desenvolvimento ocorrem em um mundo também em mutação e não se limitam à
infância, mas ocorrem em todo o curso de vida do indivíduo, da concepção à sua
morte e entre gerações, sendo imprescindível a descrição da pessoa inserida em um
contexto através do tempo e do espaço (DESSEN; COSTA JÚNIOR, 2005).
Este estudo enfoca a concepção dinâmica do desenvolvimento que,
diferentemente das teorias que utilizam a cronologização do curso de vida, classifica
as fases ou estágios da vida humana, limitando, assim, os leques de possibilidades
do “vir-a-ser” dos indivíduos (CASTRO, 2013).
Nessa perspectiva, a teoria ecológica de Bronfenbrenner (1996), caracterizada
pela ênfase na busca de contextos naturalísticos, contribui com a definição de
ambiente como um sistema estruturado de estâncias cujas influências se articulam
(LORDELO, 2002). Considera-se, portanto, que a criança, brincando no espaço
externo junto à natureza, com tempo, liberdade e com outras crianças, recebe
estímulos constantes e variados, trabalha e enriquece a sua percepção do espaço e
desenvolve a sua sensibilidade, coordenação motora, imaginação, mente e
criatividade, socializando-se, trocando experiências, criando vínculos com outras
crianças e com adultos de diversas classes sociais, crenças, raças, culturas e etnias
e aprende a ser solidária (DE OLIVEIRA; NIGRIELLO, 2004).
No cotidiano de nossa sociedade brasileira como isso se manifesta e
operacionaliza a construção de espaços infantis? Nos ambientes urbanos percebe-
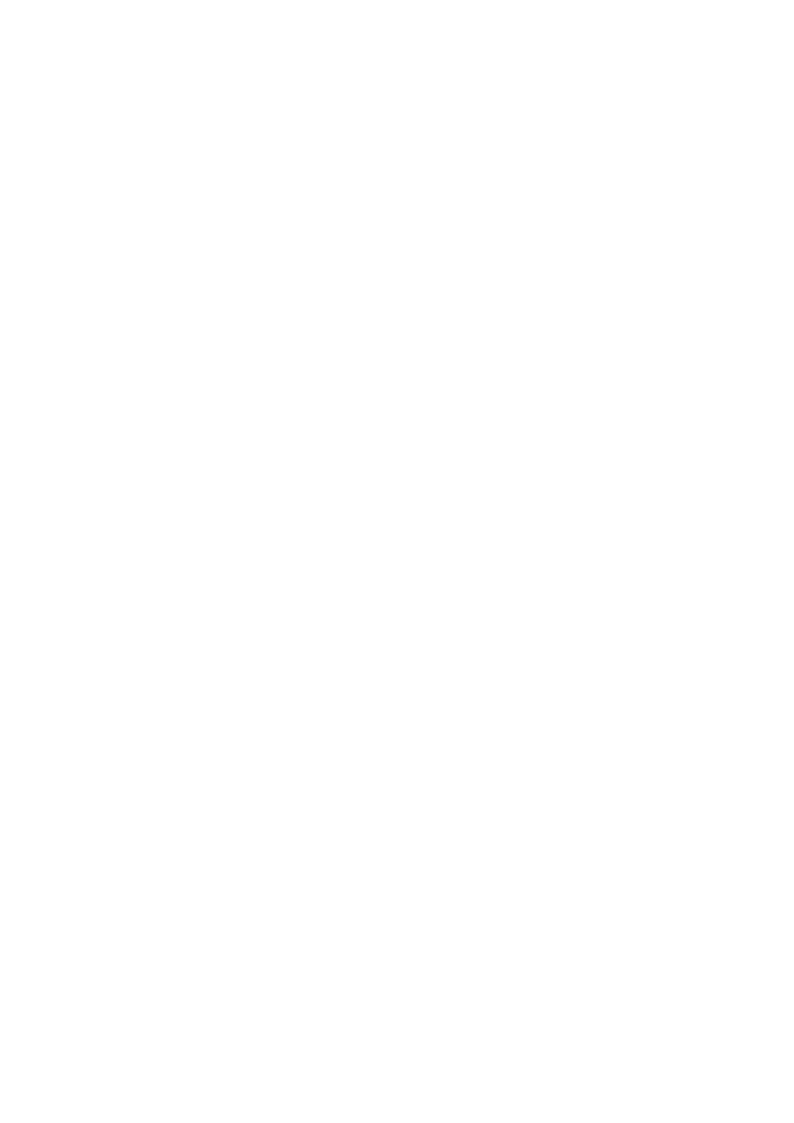
25
se, cada vez mais, a verticalização das moradias, com poucos (ou nenhum) espaço
ao ar livre para a movimentação das crianças. Da mesma forma, as escolas e creches
tendem a “confinar” as crianças entre paredes que restringem seus movimentos e
potencial criativo, tendo o aspecto “limpeza” e “estética” como motivadores.
A partir do marco conceitual utilizado nesse estudo, a história de cada criança
se compõe a partir do espaço que vivencia no dia-a-dia, da imagem do lugar, da
experiência sensorial, motora, emocional e social, do aprendizado, da imaginação e
da memória, com a percepção diferente da do adulto. Entre todos os tipos de espaço,
é o espaço público, o espaço de todos, que proporciona uma fonte de estímulos,
riquezas, conhecimentos, aprendizados, inter-relacionamentos e desempenha um
importante papel no processo de sua formação; é a rua o espaço público que
encontramos por toda a cidade. Mas estaria a rua disponível como espaço de
vivências para as crianças que vivem em cidades grandes?
Se a rua já não pertence mais às crianças, restam outros espaços que poderiam
assegurar benefícios de liberdade na exploração do ambiente e de relações sociais.
É no parque urbano verde que a criança se liberta e, espontaneamente, recria seu
mundo. Mas o que dizer quando a rua já não incorpora mais esses valores, e os
parques verdes não existem? Atualmente, as crianças apresentam mudanças na
percepção e exploração dos espaços, pois não os vivenciam (DE OLIVEIRA;
NIGRIELLO, 2004). Inegavelmente, os espaços da criança estão sendo
ressignificados, e com pouca margem de benevolência.
1.1 Espaços da Criança
A infância é um tempo ótimo de exploração do mundo, tempo crítico de
reconhecer coisas, tempo inicial de se aventurar em outros lugares para aumentar o
espectro de vida que vem pela frente; é o espaço que se oferece à criança, portanto,
permite ou limita essa possibilidade. Embora a pluralidade de movimento da criança
seja inerente à cultura de cada grupo social, ela se entrelaça tanto na produção da
infância quanto na produção do espaço e lugar, gerando territorialidades infantis de
tal forma que a criança é criança de algum lugar, e o ser criança se faz em algum lugar
(LOPES; VASCONCELLOS, 2006).
As territorialidades são produzidas a partir de valores e modos sociais
específicos de cada sociedade, que designa ao espaço uma condição não estável,

26
mas diretamente associada aos acordos sociais estabelecidos entre aquele(s) que
detêm direitos e aquele(s) que aceitam ou não estes direitos (GÜNTHER, 2003).
Assim, nos espaços de movimentação apresentados à criança estão subjacentes
ideias e valores vigentes no grupo social (VYGOTSKY, 1998). Esses valores que são
produtos socioculturais produzem, por sua vez, diferentes arranjos psicológicos e
socioambientais. É nesse cenário espacial que diferentes formas de ser criança se
revelam e cujos traços psicossociais são carregados por toda vida.
A apropriação do espaço se dá desde criança a partir de tensões entre o que é
seu e o que é dos outros, o que é perto e o que é distante, o que é permitido e o que
é proibido, o que é de brincar e o que é de morar, o que é de dormir e o que é de se
alimentar, e tantos outros (CRUZ, 2008). É nessa dialética que o espaço se torna
social e que acaba por entranhar na identidade do ser social, que se forma desde
muito cedo. Esse entendimento é produzido na relação dialética da criança com os
adultos com quem convive e do mesmo modo com os lugares de seu cotidiano
(VYGOTSKY, 1998; HIGUCHI, 1999; TUAN, 2013).
Brincar significa diversão, distração, agitação, movimento e faz de conta, sendo
que as brincadeiras fazem parte do mundo das crianças, em todas as idades. A
brincadeira é o lúdico em ação, sendo importante em todas as fases da vida, mas na
infância torna-se essencial para o desenvolvimento humano saudável, pois o lúdico
também produz aprendizagem e revela, através da linguagem da fantasia, as
vivências infantis, seus sentimentos, suas percepções e seus temores. O brincar
prepara a criança para futuras atividades de trabalho, evocando atenção e
concentração, estimulando a autoestima e desenvolvendo relações de confiança
consigo e com os outros (ROLIM; GUERRA; TASSIGNY, 2008).
A infância, em muitas cidades brasileiras, era marcada por muitas brincadeiras
de rua que aconteciam com seus pares numa distância relativa entre sua casa e as
dos colegas. As crianças se reuniam na própria rua onde moravam ou em praças
próximas às residências e jogavam bola, brincavam de esconde-esconde, pega-pega,
queimada, ciranda de roda, dentre outras. Movimentavam o corpo e se permitiam
fazer uso da criatividade, inventando e reinventando novas brincadeiras.
Com a crescente urbanização e a ausência de políticas públicas mais
acolhedoras, o que se tem observado com frequência nas brincadeiras infantis é a
inserção de jogos eletrônicos, maior tempo de exposição à televisão, poucas
brincadeiras que movimentam o corpo e um tempo maior de exposição a lugares

27
fechados, como apartamentos ou escolas sem espaços ao ar livre. Nas escolas
comumente se observam brincadeiras dirigidas e controladas por adultos, o que pode
também limitar a criatividade dos pequenos e a própria exploração do ambiente.
O uso da tecnologia na vida das pessoas e nas brincadeiras infantis é um
caminho que parece ser inovador e transformador se usado com cautela. Porém, pode
se tornar um problema para o desenvolvimento das crianças quando é a única
alternativa de lazer ou quando o tempo de exposição a telas de vídeo game e
computadores são excessivas, limitando as possibilidades de brincadeiras
diversificadas que estimulem o movimento do corpo, as habilidades motoras e a
criatividade.
Na Espanha, as crianças passam cerca de 990 horas anuais (2,5 horas/dia)
vendo televisão, jogando no computador ou com outros aparatos eletrônicos
(HOFFERTH; SANDBERG, 2001). No Brasil, a média de tempo de exposição das
crianças à televisão é de 1.350,5 horas anuais (3,7 horas/dia), conforme pesquisa do
Instituto Sophia Mind (2011). Tais dados são alarmantes, mas parecem se justificar
pelo reduzido acesso a áreas externas, à violência urbana, a jornadas de trabalho
intensa dos pais que, cansados ou impossibilitados, dispõem de pouco tempo de
convivência com os filhos. Os jogos, os vídeos, os desenhos infantis e o acesso a
informações despertam a curiosidade e estimulam o imaginário, mas quando em
excesso podem até causar problemas de saúde, como obesidade infantil,
sedentarismo, noites mal dormidas, dores de cabeça e dependência.
A dinâmica de vida das grandes cidades inclui uma rotina produtora de estilos
de vida marcadas pela “correria” do dia a dia para as famílias. As grandes distâncias
a serem percorridas da casa para o trabalho, por vezes, com um trânsito intenso de
veículos atordoados na luta contra o tempo, numa vida em busca de sobrevivência,
resultam em tempo escasso para o lazer e o descanso. A poluição visual e auditiva e
o medo da violência podem aumentar, ainda mais, esse estresse.
Nesse contexto, os Espaços Verdes Urbanos (EVU) revelam-se cada vez mais
importantes na melhoria da qualidade de vida humana, promovendo estilos de vida
saudáveis e contatos sociais com impactos positivos na saúde física e mental. Os
EVU são definidos como todos os jardins, parques urbanos e todas as áreas livres
que estão revestidas por vegetação nos meios urbanos (SILVA, 2014).
Os Espaços Verdes Urbanos (EVU) permitem a realização de uma
multiplicidade de funções interligadas entre si, que têm em comum satisfazer as

28
necessidades da sociedade humana (SOUSA et al., 2015). A necessidade de espaços
verdes urbanos é uma consequência da evolução que as cidades têm sofrido ao longo
do tempo e, nesse sentido, os EVU assumem cada vez mais importância nas políticas
regionais e municipais. A presença do ecossistema natural, dentro dos limites das
cidades, contribui para a saúde pública e aumenta a qualidade de vida dos cidadãos
urbanos, principalmente em relação à qualidade do ar e à redução de ruídos (ODUM,
1971). Desta forma, tais ambientes saudáveis também contribuem para amenizar a
carga do estresse mental e auxiliam na concentração (FISCHER, 1997).
O campo conceitual da promoção da saúde se enquadra não apenas como
forma de enfrentar graves problemas que afetam as populações humanas e seu
entorno, mas principalmente para constituir um ambiente saudável (WHO, 1991;
RIBEIRO, 1997). Portanto, o olhar do psicólogo na saúde deve ultrapassar as
tradicionais avaliações diagnósticas “individualizantes” e “patologizantes”, e
aprofundar-se em análises que envolvam o meio ambiente no qual o sujeito está
inserido enquanto ser social, cultural e de relações interativas com suas próprias
dinâmicas de vida.
Por sua condição peculiar de desenvolvimento, as crianças estão ainda mais
vulneráveis às variáveis ambientais. Muitas das demandas psicológicas que chegam
até o profissional de psicologia, em diferentes espaços, como organizações, escolas,
instituições ou clínicas, podem estar intrinsicamente relacionados com esses
fenômenos ambientais. A saúde individual é influenciada não apenas pelas
características intrínsecas de cada indivíduo, mas também pelo seu local de
residência e de trabalho e, ainda, pelas características do seu ambiente natural, social
e econômico e pela qualidade e acessibilidade dos serviços públicos aí existentes.
Edgar Morin (1973) incita-nos à reflexão de que o ser humano está se isolando
da natureza e da sua própria natureza. O desenvolvimento da cultura permitiu que o
ser humano se adaptasse aos ambientes mais diversos e que os adaptasse a si, que
fosse buscar nos nichos ecológicos exteriores os recursos que lhe eram necessários,
o que levou a julgar que a humanidade, cada vez mais senhora da natureza, tinha se
emancipado desta. O autor destaca, ainda, um ranço de dicotomia presente no estudo
ser humano-natureza, em que a teoria do ser humano baseia-se não só na separação,
mas também na oposição entre as noções de homem e de animal, de cultura e de
natureza – e tudo aquilo que não se ajusta a este paradigma é condenado como
“biologismo”, “naturalismo” e “evolucionismo”. Integrar todas essas nuances como

29
inter-relacionadas entre si, eis o desafio do resgate do paradigma perdido (MORIN;
NEVES, 1973).
Richard Louv (2016) criou o termo “Transtorno de déficit da natureza” (Nature
Deficit Disorder) para referir-se à tendência de que as crianças têm cada vez menos
contato com a natureza, resultando em uma ampla gama de problemas de
comportamento. Descreve, assim, que os custos da alienação em relação à natureza
incluiriam a diminuição no uso dos sentidos, a dificuldade de atenção e os índices
mais altos de doenças físicas e emocionais. O transtorno pode ser detectado
individualmente, em famílias e em comunidades, podendo alterar o comportamento
humano nas cidades, uma vez que estudos consagrados relacionam a ausência de
parques e espaços abertos (ou a inacessibilidade a eles) a altos índices de
criminalidade, depressão e outras mazelas urbanas (LOUV, 2016).
Existem múltiplas razões que explicam essa alienação da infância com a
natureza, sendo que as principais estão relacionadas ao processo de urbanização
acontecido nos últimos anos. Louv (2016) alega que as causas para o fenômeno
incluem o medo dos pais da violência urbana, acesso restrito às áreas naturais e a
atração pela televisão ou computador. O autor destaca que há um contraste entre a
diminuição do número de visitas aos Parques Nacionais nos Estados Unidos e o
aumento do consumo de meios eletrônicos por crianças. Um dos motivos, segundo
ele, deve-se à cobertura da mídia sensacionalista e aos pais paranoicos que têm
assustado as crianças para não frequentarem áreas naturais (matas, campos, etc.),
enquanto promove uma litigiosa cultura do medo, que favorece a prática de esportes
seguros com regras ao invés de brincadeiras criativas (LOUV, 2016).
Quanto aos benefícios físicos, Liu, Wilson e Qi Ying (2007) avaliaram a relação
entre a quantidade de vegetação em torno dos locais de residência das crianças e o
risco de sobrepeso na infância, concluindo que as crianças têm menos risco de
obesidade e, portanto, de todas as doenças associadas a ela, quanto mais natureza
houver próximo à sua residência (LIU et al., 2007).
Entre os benefícios psicológicos que o contato com a natureza possibilita, o
estudo de Collado (2013), na Espanha, revelou que a presença da natureza na escola
teve um impacto positivo sobre o bem-estar das crianças. A natureza presente no
pátio da escola teve impacto positivo no bem-estar das crianças que estavam
submetidas a estresse familiar, cujos pais discutiam com frequência, enquanto que o
grupo de crianças submetidas às mesmas condições de estresse familiar, que
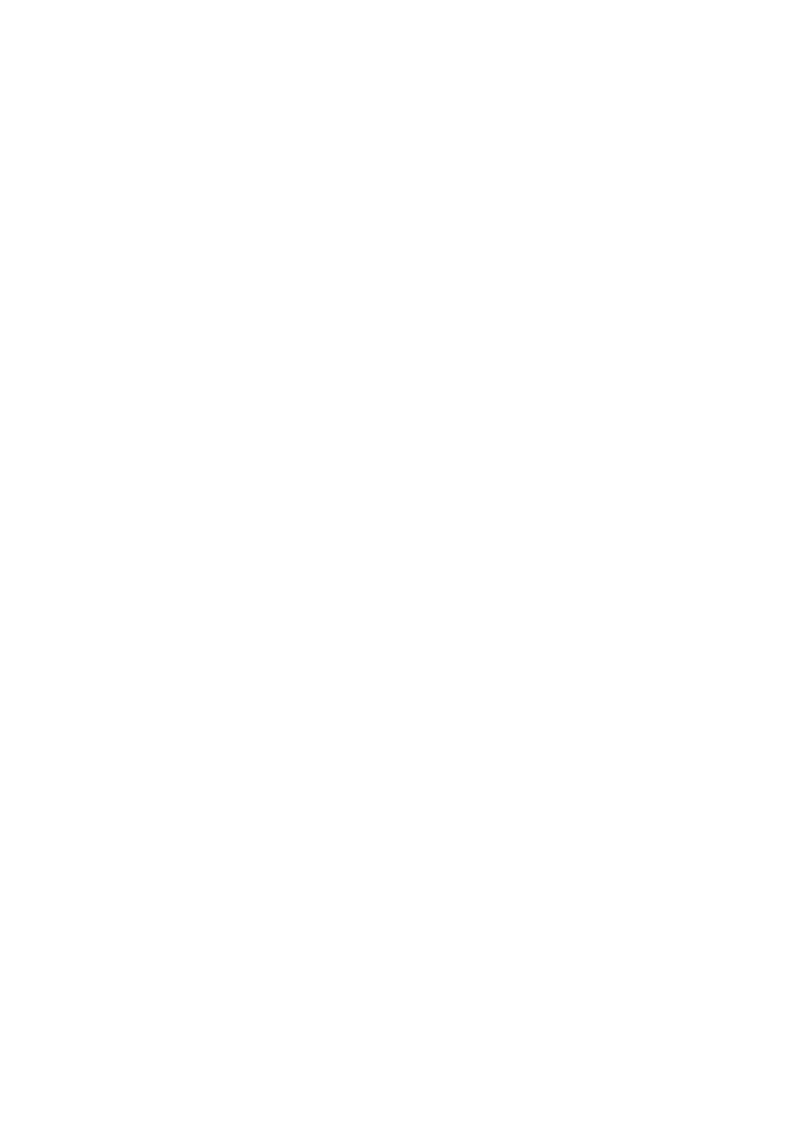
30
estudavam em escolas que tinham carência de áreas naturais, apresentaram maiores
índices de estresse (CORRALIZA; COLLADO; BETHELMY, 2012).
O contato da criança com a natureza pode influenciar positivamente o respeito
a ela, decorrendo em implicações importantes para a conservação do patrimônio
natural; além disso, esse contato frequente também implica na saúde emocional das
crianças. Collado, Staats e Corraliza (2013) realizaram um estudo em acampamentos
de verão espanhóis, alguns organizados em ambientes naturais e outros em
ambientes completamente urbanizadas. Os resultados dessa pesquisa demonstraram
que o contato direto com o ambiente natural aumentou os sentimentos de ligação
emocional e o apego das crianças com a natureza, que tem uma influência direta e
positiva sobre a própria saúde psicológica.
Cheng e Monroe (2012) também relataram que as experiências com a natureza
têm influência positiva nas crianças, sendo que aquelas que moram mais próximas a
áreas naturais tendem a ter menos estresse. Além disso, essas experiências infantis
podem aumentar a probabilidade de, na vida adulta, engajarem-se em comportamento
pró-ambiental. Essas pesquisas revelaram, ainda, que a maioria dos profissionais da
área de meio ambiente foi influenciada pelas experiências que tiveram na infância com
a natureza, ao escolherem sua profissão.
Assim, de acordo com os estudos apresentados, a integração da natureza no
cotidiano da criança, seja em ambientes residenciais, sociais e escolares, podem
contribuir de forma positiva no desenvolvimento das mesmas, favorecendo a
aprendizagem, a convivência familiar e comunitária e influenciando na saúde física e
no seu bem-estar. A construção de uma relação afetiva com o ambiente natural,
através dessas experiências, pode ainda favorecer atitudes pró-ambientais na vida
adulta.
Com base nesses pressupostos teóricos, este estudo se debruçou para
compreender a relação afetiva da criança com a natureza e suas implicações no
comportamento pró-ambiental.
1.2 Os Espaços e Tipos de Lazer da Criança
Por meio do brinquedo e da ação lúdica a criança expressa sua realidade,
ordenando e desordenando, construindo e desconstruindo um mundo que lhe seja
significativo e que corresponda às necessidades intrínsecas para seu

31
desenvolvimento global (MELO; VALLE, 2005). O brincar estimula a criança em várias
dimensões, como a intelectual, a social e a física; a brincadeira a leva para novos
espaços de compreensão que a encorajam a prosseguir, a crescer e a aprender.
Vygotsky (1998) enfatiza em seus estudos de desenvolvimento humano o
aprendizado, o brincar e as relações entre ambas.
Tem-se, portanto, que para entendermos o desenvolvimento da criança é
necessário levar em conta as necessidades dela e os incentivos que são eficazes para
colocá-las em ação, sendo que o seu avanço está ligado a uma mudança nas
motivações e incentivos. A criança satisfaz certas necessidades no brincar, mas essas
necessidades vão evoluindo no decorrer dos anos de vida. Assim como as
necessidades das crianças vão mudando, é fundamental conhecê-las para
compreender a singularidade do brinquedo como uma forma de atividade.
Piaget (1975) afirma que o brincar é uma forma de assimilar o real e adaptar-
se ao mundo social dos adultos, permitindo, então, suprir suas necessidades afetivas
e cognitivas. Para Piaget, na brincadeira “do faz-de-conta’’ a criança cria símbolos
lúdicos desenvolvendo uma linguagem própria para reviver momentos que julgam
interessantes. A escola pode contribuir significativamente no desenvolvimento da
criança, cuja existência de áreas livres espaçosas, com partes ensolaradas e partes
sombreadas, tem assumido cada vez mais importância na delimitação dos ambientes
destinados à educação infantil, uma vez que tais locais permitem às crianças correr,
pular, exercitar e participar de jogos ativos, estabelecendo maior contato com a
natureza (ELALI, 2003).
Esses espaços oferecem, ainda, uma grande multiplicidade de affordances7
(GIBSON, 1986; GÜNTHER, 2003; PERES, 2013) que permitem a diversificação das
brincadeiras, passando a criança a explorar várias possibilidades de atuação e de
desenvolvimento de sua criatividade. O brincar ao ar livre, em contato com a natureza,
pode trazer benefícios inclusive à sua saúde. No entanto, atualmente, a interface dos
espaços e a formação da criança está marcada pelo isolamento, de tal forma que as
paredes congregam territórios exíguos de relações, muitas vezes apenas virtuais.
Transforma-se a criança e as infâncias nessa realidade de territórios fechados, onde
o mundo só se vê por um buraco, que não é mais da fechadura, mas de telas de tevê,
7 Palavra usada no original, sem tradução, criada artificialmente por Gibson para designar o que o
ambiente oferece ao animal (humano e não humano), em cuja interface ambiente-animal determina um
uso para sua atividade, para o bem ou para o mal.

32
computador, celular ou tablet. A característica principal da infância, o brincar, passa a
ser configurado dentro de contextos formatados pelo mercado consumidor de objetos
e processos tecnológicos (KAHN; KELLERT, 2002; CLEMENTS, 2004;
DRIESSNACK, 2009).
Há vários espaços possíveis para realizar as brincadeiras, seja em casa, na
rua, na escola, em praças públicas; contudo, nem sempre as crianças têm acesso a
lugares seguros e adequados para exercerem tão importante atividade. Um estudo
realizado em Manaus-AM, no bairro periférico de Ouro Verde, mostrou que crianças
expostas a condições infra estruturais e urbanísticas precárias, vivenciavam uma
infância com uma série de limitações sociais e ambientais. Em moradia inadequada,
sem espaços privativos internos para a criança brincar, restam as ruas do bairro que
oferecem riscos (violência, trânsito, saneamento básico precário) à saúde e à
segurança da criança, devido a carência de espaços coletivos seguros como praças
e parques próximos à sua residência (CRUZ, 2008; CRUZ; HIGUCHI, 2009). Já estudo
realizado na Noruega (GUNDERSEN et al., 2016) mostrou que o fato de um lugar ter
disponibilidade e acesso livre a áreas livres e ambientes naturais não significa,
necessariamente, que as pessoas as utilizarão, pois haveria nesse processo um
desconhecimento acerca de como a população avalia a disponibilidade e o acesso a
áreas naturais próximas a sua residência.
Se brincar é vital para a criança, o contexto espacial onde essas brincadeiras
acontecem é imprescindível, uma vez que é nessa confluência entre o fazer e o lugar
que as crianças se reconstroem e recriam diferentes espaços e diferentes fazeres.
Preocupa, portanto, quando se constata que a criança vem se afastando
gradativamente do ambiente natural, pois muitas crianças residentes em ambientes
urbanos não têm acesso e contato com a natureza.
1.3 Atividades de Lazer da Família
Esta pesquisa procurou investigar as principais atividades de lazer que as
crianças realizam com suas famílias e, para tanto, foi solicitado aos pais que
respondessem a um questionário com informações acerca do tipo de lazer que a
família usualmente tinha como hábito na cidade de Boa Vista. As famílias
expressaram ter em seu rol de lazer uma grande diversidade, seja de espaço ou de
atividades, tais como: praças (23); parques (14); visitas e encontros com familiares e

33
parentes para passeios e gastronomia (14); balneários de rios, praia, piscina e clubes
aquáticos (11); shopping centers (9); sítios (9); assistir TV e outras mídias eletrônicas
como filmes, vídeo games e outros programas (8); cinema (7); prática esportivas como
patinação, pescaria, bicicleta, patins, etc. (7); clubes (5); igrejas (5); viagens de férias
(5); jogos e brincadeiras com amigos no ambiente doméstico (5); e, não informado (7).
Observa-se que as atividades em ambientes fechados são citadas 29 vezes no
questionário pelos pais, ao passo que os ambientes abertos são citados 69 vezes; já
as atividades e ambientes mistos foram citados 24 vezes. Verificou-se, desta maneira,
que dentre os ambientes abertos as praças e os parques foram os mais citados (37).
Importante observar que o contexto onde a criança brinca pode interferir na
maneira como elas interagem (CIVVILETTI, 1992; SAGER, 1996), pois contextos
abertos como pátios e parques proporcionam brincadeiras sociais com mais
frequência do que em ambientes fechados, o que pode ser benéfico às crianças
(FROST, 1989).
Estudo realizado na cidade de Buenos Aires-Argentina (STEFANI; ANDRÉS;
OANES, 2014) investigou as preferências de 516 indivíduos, entre crianças,
adolescentes e adultos, acerca do que brincam (crianças) ou brincavam na infância e
onde brincavam (adolescentes e adultos). Foram perguntadas às crianças de 7 a 12
anos: “do que você brinca? E onde você brinca?”. E aos adolescentes e adultos: “do
que você brincava e onde você brincava?”. O estudo revelou que, das 206 crianças
entrevistadas, aproximadamente 50% afirmaram preferir brincadeiras que incluíam
movimento do corpo e 30% delas afirmavam preferir jogos eletrônicos. Apesar de ser
um percentual menor, chama a atenção essa preferência de brincadeiras por jogos
virtuais.
Em relação aos espaços onde a brincadeira acontece, a casa (27%) e a escola
(18%) foram referenciadas por quase metade das crianças, enquanto os espaços das
ruas foram os menos citados (5%), mostrando como as crianças estão confinadas
cada vez mais a espaços fechados. Enquanto que os resultados dos adultos foram
bastante divergentes do grupo de crianças, uma vez que 60% afirmaram brincar,
quando criança, preferencialmente com brincadeiras motoras (categoria descrita por
brincadeiras ou jogos que movimentem intensamente o corpo) e os espaços onde as
brincadeiras aconteciam eram, principalmente, ruas (26%) e casa (24%), mostrando,
assim, uma mudança do brincar em relação a gerações anteriores, especialmente nos
tipos de brincadeiras e nos espaços onde elas aconteciam.

34
A inserção das tecnologias como alternativas lúdicas tem resultado em novos
espaços lúdicos e sociais, uma espécie de “praça” virtual (STEFANI; ANDRÉS;
OANES, 2014). Esses novos espaços são caracterizados por serem fechados,
distanciando ainda mais as crianças das possibilidades de brincarem ao ar livre.
Outro estudo realizado no Brasil por Luz et al. (2013) investigou o uso dos
espaços urbanos pelas crianças de 6 a 12 anos residentes em Criciúma, Estado de
Santa Catarina. A pesquisa apontou que características físicas dos espaços públicos
intervêm no comportamento social das crianças, de modo especial a presença ou não
de vegetação e sua relação com o desenvolvimento infantil. Tais resultados
corroboraram com estudos prévios que identificavam que a presença de vegetação
em espaços como playgrounds, praças e vizinhança está relacionada ao aumento no
nível de interação e diversidade nos tipos de brincadeiras, além de estimular as
habilidades sociais (HERRINGTON; STUDTMANN, 1998; BARBOU, 1999;
FJÙRTOFT; SAGEIE, 2000; ROSSETI; SOUZA, 2005), além de trazer benefícios à
saúde física, como redução da obesidade, uma vez que esses espaços propiciam
atividades físicas (BELL; WILSON; LIU, 2008). As brincadeiras ao ar livre, ou seja, em
espaços abertos são aquelas que mais propiciam o movimento do corpo.
Para 63% das crianças deste estudo o lazer ocorre de forma mais intensa em
espaços abertos a partir de jogos coletivos de regras (vôlei, pega-pega, futebol, dentre
outros), corroborando com os resultados obtidos por Rosseti e Souza (2005), sendo
que os jogos mais citados foram futebol (19%), vôlei (8%) e basquete (7%). Alguns
estudos já apontaram a influência que os ambientes possuem na escolha de
brincadeiras pelas crianças, além de como os espaços verdes urbanos (EVU)
proporcionam diferentes elementos que estimulam ou retraem certas atividades das
crianças (PERES, 2017). Silva (2014) destaca, ainda, a importância dos EVUs na
qualidade de vida das pessoas, mesmo que com área verde diferenciada daquela
nativa ou selvagem. Parques e praças permitem à criança mais possibilidades de
movimento e maior liberdade para correr, o que pode contribuir para amenizar o
estresse mental e auxiliar na concentração (FISCHER, 1994).
Importante ressaltar que as praças da cidade de Boa Vista contêm elementos
naturais, como árvores e grama, mas em sua maioria predomina construções de
concreto em meio ao contexto urbano. Nos parques predominam amplos espaços de
vegetação e lagos, mas há espaços construídos reservados para shows e eventos
culturais. Destacam-se, dentre esses espaços, o complexo Ayrton Senna, o parque

35
Anauá e a praça do Mirandinha que ainda possuem grande parte de vegetação nativa
e dispõem de acesso facilitado, com transporte público que permite uma alta
frequência de famílias de baixa renda8.
As atividades de lazer, como passeios a banhos e praças, são comuns da
população da cidade de Boa Vista, especialmente no verão seco, entre os meses de
agosto e março. A cidade é cercada, geograficamente, por lavrados e igarapés com
água morna e, na maioria, rasos, o que torna o “banho” seguro e agradável para as
crianças, sendo muito desses locais de fácil acesso. Além dos igarapés, existem dois
rios que cortam a cidade, ambos propícios ao lazer, também no período do verão
seco: são o rio Cauamé e o rio Branco, sendo o segundo fonte de abastecimento de
água potável para a cidade. Essa característica geográfica, aliada ao clima quente
predominante o ano todo, possivelmente favorecem esses hábitos das famílias boa-
vistenses de frequentarem ambientes naturais, que além de proporcionarem
momentos de lazer, permitem às crianças um contato com a natureza, pois nesses
sítios (banhos) há predominância de água corrente, lavrado, pássaros e árvores
frutíferas, como caju, buritizais, araçás, manga dentre outras.
Considerando a importância dos espaços para o desenvolvimento infantil, que
podem limitar ou facilitar a plenitude das possibilidades da criança, as áreas livres são
fundamentais para o seu bem-estar. Nesse aspecto, o espaço livre deveria ser alvo
de políticas públicas planejadas e que se ampliassem a todas as zonas da cidade.
1.4 Atividades Cotidianas da Crianças
Antes de iniciar as entrevistas com as crianças, foi solicitado aos pais que
respondessem a um questionário com informações acerca da rotina de seus filhos.
Dentre as questões, destaca-se a que se refere aos tipos de brincadeiras preferidas
da criança. As respostas dadas pelos pais culminaram em diversas brincadeiras,
tendo, em média, dois tipos de brincadeiras prediletas para cada criança, resultando
em 92 predileções. Após a análise, as brincadeiras prediletas foram agrupadas em
quatro categorias abaixo identificadas, considerando o conteúdo latente: a)
brincadeiras ao “ar livre”, como correr, jogar bola, pega-pega, manja, queimada e a
8 Ressalta-se que, recentemente, esse cenário tem sido largamente modificado com a imigração de
venezuelanos que têm ocupado (acampado) as praças públicas, inibindo um pouco a população de
frequentar esses espaços (ONU, 2017; folhabv.com, 2018; g1.globo.com, 2018).
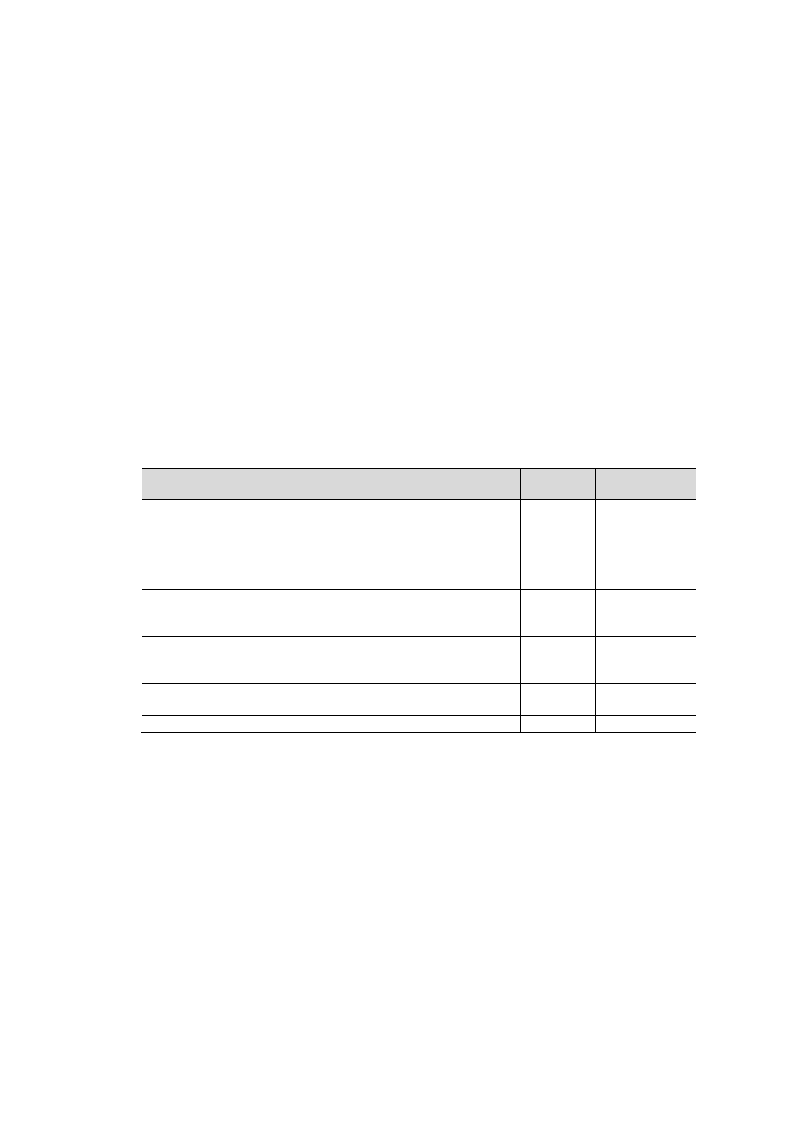
36
prática de esportes; b) brincadeiras que envolvem o uso de tecnologia, como
videogames, jogos eletrônicos e televisão; c) brincadeiras com brinquedos
manufaturados, como bonecas, carrinhos e casinha; e, d) brincadeiras com os animais
de estimação, como cães e gatos (TABELA 01).
Nota-se na Tabela 01 o predomínio de brincadeiras ao ar livre, como andar de
bicicleta, jogar bola, nadar, passear no parque, entre outras, ressaltando-se, neste
sentido, que não se sabe a frequência cotidiana com que esses eventos ocorrem na
vida da criança. No entanto, a maioria, cerca de 63% das brincadeiras prediletas das
crianças se referem às atividades ao ar livre, sendo que as brincadeiras citadas
envolvem algum tipo de contato com a natureza, bem como a possibilidade de
movimentar o corpo.
Tabela 01 – Tipos de brincadeiras prediletas das crianças.
Tipo
Ar livre
(brincadeiras de grupos, bicicleta, futebol, nadar, patins, skate,
pular corda, manja, esconde-esconde, correr, jogar bola,
banho de rio, subir em árvores, passear na rua, andar no
parque, regar plantas, vôlei, pular corda, etc.)
Qtd.
Citações
58
Tecnologia
(uso do computador, celular, TV, tablet para jogar games, ver
18
filmes e desenhos animados)
Brinquedos
(lego, bonecas/os, baralho, desenho, escolinha, casinha,
13
outros)
Animais
(brincar com pets – cachorro ou gato, por exemplo)
3
Total
92
(%)
Citações
63
20
14
3
100
O uso de dispositivos tecnológicos pelas crianças, como predileção de lazer,
chegou a cerca de 20% das citações dos pais. Vários estudos têm mostrado que
quando realizadas em excesso, as práticas virtuais podem causar problemas de
saúde, como obesidade infantil, sedentarismo, dores de cabeça e até mesmo
dependência (ROSEN et al., 2012). Constatou-se que o uso da tecnologia já se
apresenta levemente superior ao uso de brinquedos manufaturados, como bonecas,
carrinhos e jogos, que tiveram 14% das preferências, conforme as respostas dos pais.
Brinquedos clássicos que estimulam a brincadeira espontânea e o contato com
outras crianças, seja no espaço familiar com irmãos ou primos, ou na escola com os
companheiros da sala de aula, são essenciais para o desenvolvimento cognitivo,

37
afetivo e social (PAIVA; COSTA, 2015). Alguns estudiosos citam que a tecnologia
parece substituir silenciosamente os hábitos tradicionais que envolvem a interação
física com as pessoas e o meio ambiente (PAIVA; COSTA, 2015). Porém, esse estudo
demonstrou um contexto diferenciado, em que as crianças ainda vivenciam os
espaços da cidade através da preferência por atividades realizadas em praças e
parques.
Assim, constata-se na descrição dos tipos de brincadeiras das crianças uma
gradativa mudança, comparada às décadas anteriores, em seu modus operandi de
vivenciar o lúdico. Neste estudo, no entanto, evidenciou-se um indicativo de que
brincar ao ar livre é uma preferência presente. Brincadeiras de rua ou em ambientes
ao ar livre permitem grande interação com outras crianças e, consequentemente, uma
maior proximidade com a comunidade, além de possibilitarem amplo movimento do
corpo em espaços abertos. Um estudo realizado pela UNICEF (2012), cujo objetivo
era mapear a situação da infância em todo o mundo, destacou que cerca de 50% das
crianças vivem em espaços urbanos. Neste sentido, dentre as inúmeras
recomendações para melhorar a qualidade de vida dessas crianças referiram a
criação de espaços seguros para brincar, priorizando o acesso à natureza. O
documento justifica que várias evidências mostram que a exposição a árvores, água
e outros aspectos da paisagem natural tem impacto positivo sobre a saúde física,
mental, social e espiritual das crianças.
Sendo assim, oferecer alternativas às crianças para que o seu desenvolvimento
aconteça de forma plena inclui políticas de gestão pública para incorporar, na cidade,
espaços adequados para que as crianças tenham, além de aparatos tecnológicos
dentre as alternativas do brincar, espaços públicos abertos e seguros não só dentro
dos muros da sua casa e da escola.
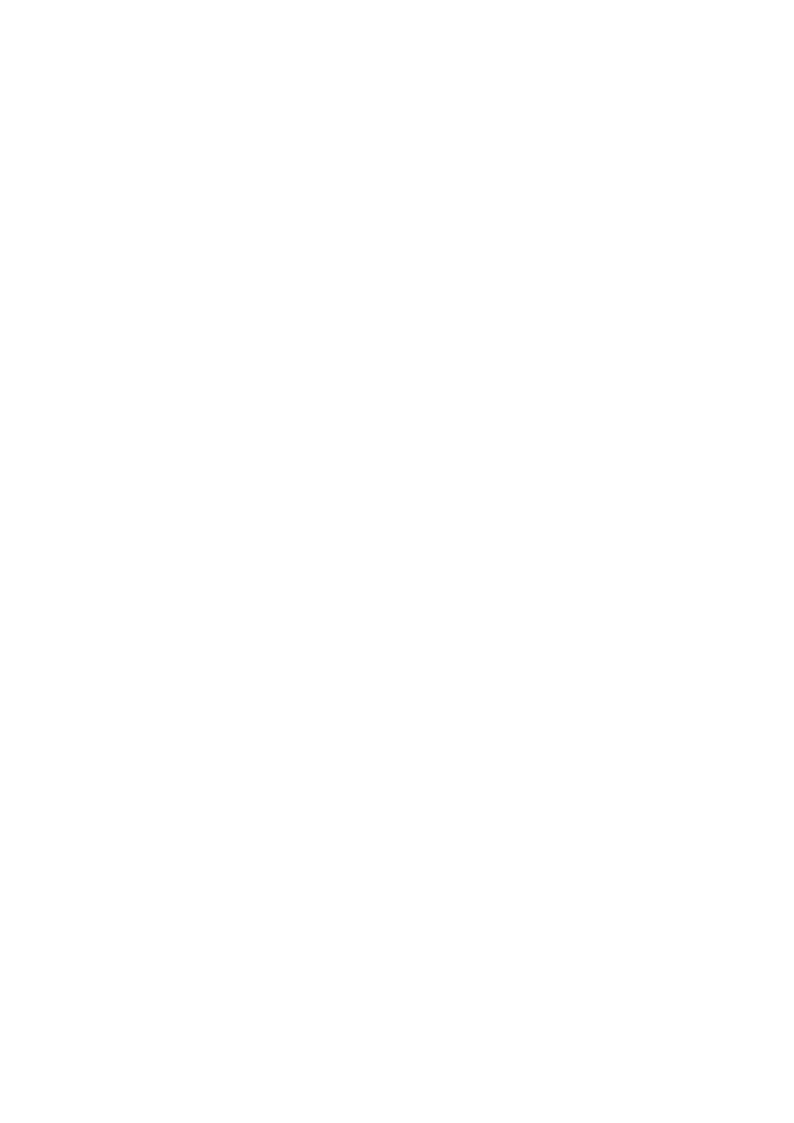
38
2. A CONSTRUÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE NATUREZA
As discussões acerca do conceito de natureza são bastante amplas e envolvem
aspectos filosóficos, religiosos e éticos, tendo diferentes concepções dependendo do
tempo e do contexto cultural em que está inserida. Lenoble (1969) afirma que a
natureza que o homem conheceu e conhece é sempre pensada no espaço e no
tempo, não existindo apenas uma natureza pensada, diferindo nos diferentes grupos
sociais, lugares e épocas históricas.
O historiador social Keith Thomas (1983) abordou o antropocentrismo do
homem e sua crença na superioridade em relação às demais criaturas da natureza. A
floresta, apesar de ser considerada selvagem, hostil e perigosa, possui um caráter
utilitarista reconhecido pelo ser humano. Atualmente, o ser humano começa a
reconhecer sua relação de interdependência com a natureza e isso pode ser
constatado com a criação de leis ambientais para a preservação da natureza, bem
como programas educacionais voltados para esse fim. A natureza, hoje, passa a ser
vista como um patrimônio que inclui florestas, rios, animais, dentre outros, e que dela
dependemos e, portanto, necessita ser preservada. Mas estariam as crianças
construindo um conhecimento sobre a natureza? Como a criança vai elaborando os
conceitos de natureza e a complexidade cognitiva atrelada?
Piaget (1975) afirma que a criança constrói o seu conhecimento do mundo e
das coisas que a cercam a partir de sua ação sobre o meio em que vive. Então, é na
interação da criança com seu contexto familiar, social e cultural que ela vai
experenciando, construindo seus significados e conceitos. Desta forma, a partir dessa
concepção piagetiana de desenvolvimento, a criança pode construir sua definição
singular acerca do que é a natureza.
Nesta pesquisa, para compreender o que a criança entende e relaciona como
natureza, foram analisadas as respostas dadas a partir dos desenhos produzidos
pelas crianças. Tal técnica se refere ao método clínico piagetiano (DELVAL, 2002),
que recomenda a introdução de questões que facilitam acessar o que a criança pensa
sobre a natureza. A técnica escolhida foi do desenho, que é uma forma criativa da
criança expressar a percepção dos ambientes em que vivem, além de o desenho
expressar, ainda, ideias, sentimentos, percepções e descobertas, podendo revelar
conceitos (GOLDBERG; YUNES; FREITAS, 2005). Piaget (1926) descreve os

39
principais tipos de respostas: as espontâneas (as que a criança dá espontaneamente,
sem intervenção do entrevistador ou dos adultos) constituem a peça mais valiosa para
o pesquisador na entrevista clínica; as desencadeadas (surgidas na entrevista diante
das perguntas do entrevistador, mas elaboradas pelo sujeito); as sugeridas (produto
da entrevista e influenciadas pela intervenção do experimentador); as fabuladas
(histórias criadas pelas crianças ao longo da entrevista, pouco relacionadas com o
tema e de caráter pessoal, pouco interessantes para o estudo do problema); e, as
respostas não importistas (qualquer coisa que a criança diz para livrar-se do
entrevistador, que não são interessantes à pesquisa).
A análise dos desenhos e das entrevistas das crianças deu origem a criação
de categorias, isto é, grupos de respostas que traziam um entendimento similar em
seu conteúdo. Primeiramente, listaram-se os diferentes tipos de respostas emitidas
pelas crianças e, em seguida, separaram-se em subgrupos por similaridades de
conteúdo. Por fim, foram estabelecidos alguns critérios de análise que serviram como
base para elaborar as três categorias distintas.
A questão norteadora da entrevista acerca do entendimento da criança sobre o
que é a natureza baseou-se na seguinte questão: “se alguém que morasse fora do
planeta perguntasse a você o que é a natureza, como você explicaria a esse
extraterrestre?”. Como a atividade de desenho antecedia a entrevista, considerou-se
a manifestação gráfica produzida como parte do entendimento do que seria a natureza
para a criança. Porém, esse registro gráfico obviamente não reproduziria todo o
entendimento da criança acerca do que seria a natureza, em sua definição. O
desenho, como representação mental, ofertou-nos um caminho para esse
entendimento, pois, por si só, não nos oferecia todos os elementos da construção do
pensamento da criança acerca da natureza.
Ao definir a natureza, a criança traz elementos perceptivos do entendimento
dado a esse mundo real. Segundo Higuchi, Azevedo e Forsberg (2012), a percepção
é entendida a partir de um julgamento, o qual é oriundo dos nossos próprios
referenciais. As respostas das crianças às perguntas que foram feitas após a tarefa
do desenho revelaram categorias que expressam diferentes níveis de entendimentos
sobre a natureza, deixando aparente um desenvolvimento gradual na concepção da
natureza, que inclui desde os simples elementos naturais até a presença dos
elementos essenciais da natureza e sua função utilitarista e vital para a sobrevivência
do ser humano.

40
A partir das descrições das crianças, emergiram três categorias distintas acerca
dos conceitos dados à natureza: a) Espaço da flora, fauna e rios; b) Espaço útil aos
seres humanos; e, c) Espaço importante ameaçado. Inicialmente, foram propostas as
categorias e sua descrição e, depois, foram agrupadas as narrativas que se ajustavam
com as respectivas categorias. Para validar tais categorias, foram feitas avaliações
por dois juízes com experiência em pesquisa, mas que não participaram desse estudo.
O grau de concordância ideal seria entre 80 e 90%, porém Delval (2002) ressalta que,
na prática, isso é muito difícil de ocorrer e que elas devem ultrapassar os 50%, pois
do contrário não seriam categorias precisas. Sendo assim, neste estudo, a
concordância foi de 75%, sendo, portanto, considerado com razoável nível de
concordância.
2.1 Natureza como Espaço de Flora, Fauna e Rios (FFR)
A categoria nomeada Espaço de flora, fauna e rios foi apontada pela maioria
das crianças (63%). Nessa forma de entendimento, a criança percebe a natureza
como um local próprio para um tipo de espaço diferente dos humanos, pois é um
espaço diferente e é o lugar de árvores, plantas, animais e rios. Essa descrição remete
ao imaginário infantil da floresta como um lugar diferente daquele que se vive na
cidade; esse lugar, ainda que distante e com alguns riscos, é visto como um lugar
bonito e admirável que, eventualmente, se pode visitar e brincar.
As crianças descreveram a natureza como um lugar repleto de árvores, plantas,
bichos selvagens e água, representada por rios e lagos. A descrição parece com as
imagens da floresta, um lugar distante e cheio de coisas interessantes.
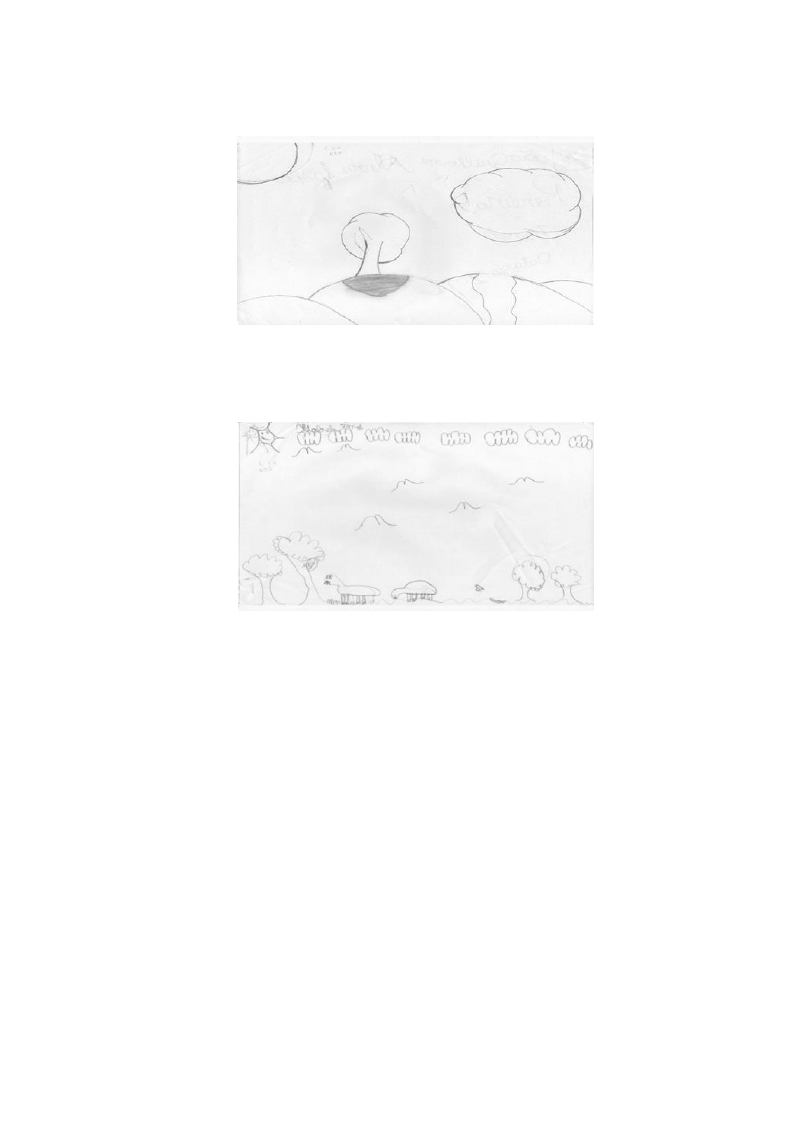
41
Figura 01 – Natureza como espaço de FFR.
“(...) a natureza é onde fica os animais selvagens, fica as
frutas, plantas e um monte coisa mais” (Masc., 7anos).
Figura 02 – Natureza como espaço de FFR.
“Ia mostrar as árvores, os animais, as aves, as minhocas”
(Fem., 8 anos).
No primeiro desenho, de um menino de sete anos, percebem-se imagens
elementares da natureza, com destaque para a árvore, a nuvem e o sol, enquanto
que, no segundo desenho, de uma menina de oito anos, observa-se a inclusão de
elementos naturais mais diversificados, com maior riqueza de detalhes e com a
inserção de animais em movimento. No entanto, observa-se um entendimento
rudimentar, em que a classificação, seja de plantas ou animais, mistura-se com
representantes de espécies como se fossem entes diferenciados (por exemplo: frutas
e plantas; animais e minhocas).
Esse tipo de pensamento foi nomeado por Piaget de Inteligência Simbólica ou
Pré-operatória, ou seja, a criança pensa de forma simbólica a partir de imagens
mentais que ligam o mundo real às analogias elaboradas pelos seus pensamentos.
Outra característica dessa fase, apontada pelo autor, diz respeito à imitação de
modelos nos quais a criança pode reproduzir em suas expressões verbais ou não-

42
verbais, como na técnica do desenho, os modelos relacionados ao seu próprio
contexto.
Esse pensamento, ainda bastante elementar, carece de classificação, pois a
natureza é um constructo de relativa complexidade e, para entendê-la, a criança teria
que saber que para ser natureza tem que ter características “naturais”: saber dos
bichos, saber da classificação deles (taxonomia) e, da mesma forma, no que se refere
às plantas. Essa categoria foi o tipo mais simplório de entendimento – não relaciona
com nada, não faz correspondência entre os elementos citados, tanto no desenho
como na fala.
2.2 Natureza como Espaço Útil ao Ser Humano (EUH)
Na categoria denominada Espaço útil ao Ser Humano, a natureza é concebida
como um celeiro de serviços e produtos para a sobrevivência dos humanos, uma vez
que ela oferece o oxigênio para os humanos viverem e alimentos para sobreviverem.
Constituindo-se de tal importância funcional e utilitária, os humanos devem cuidá-la e
preservá-la. Essa categoria de entendimento foi manifestada por 32% das crianças.
Algumas das respostas apresentadas nessa forma de entendimento foram
aquelas que indicavam a natureza como vital à sobrevivência dos humanos, na qual
as crianças descreveram o ar puro, o oxigênio, a água e o alimento como condições
essenciais à sobrevivência do ser humano. Há, aqui, uma percepção de causalidade
e dependência entre o que a natureza oferece e o que as pessoas e os animais
necessitam para sobreviverem. Algumas respostas incluíram, ainda, o pensamento
mais elaborado de que, devido a esses recursos que a natureza nos oferece, surge a
necessidade de preservá-la. Seguem alguns desenhos e narrativas.
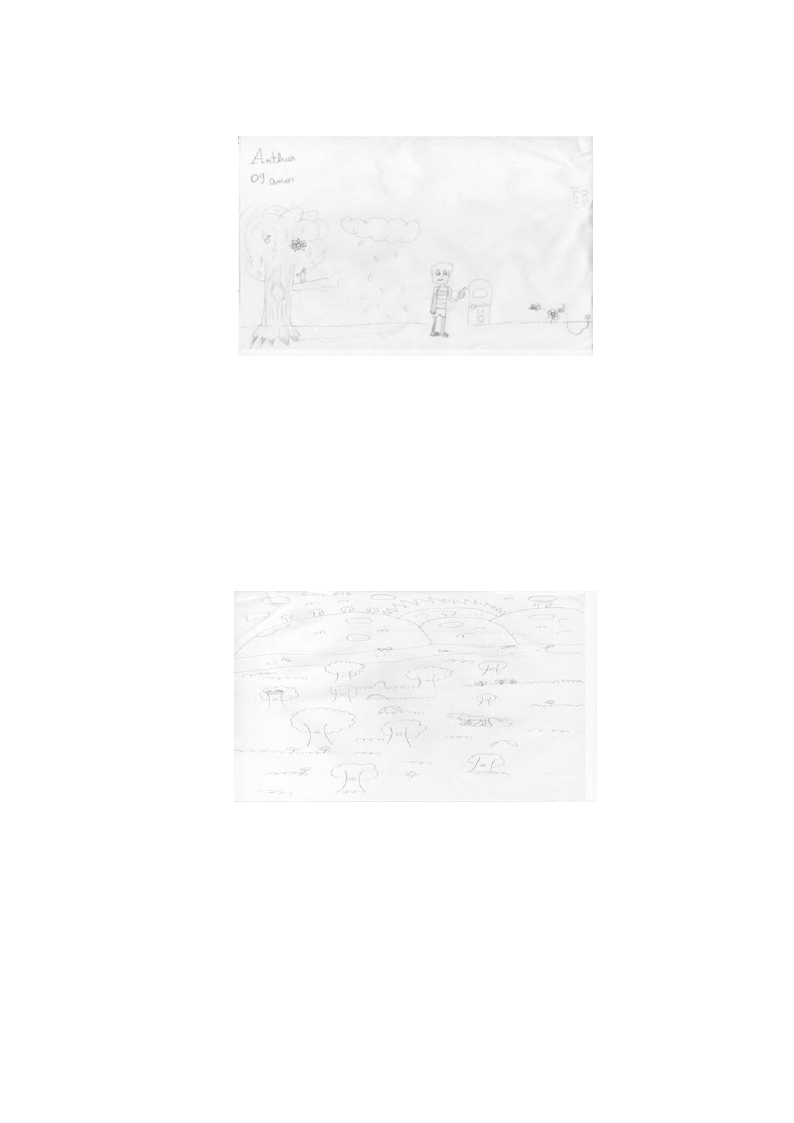
43
Figura 03 – Natureza como EUH.
“Eu explicar que a natureza é um lugar onde a maioria a
gente vê verde, mas se olhar de perto, dá pra vê mais
coisas, e eu explicaria também que a natureza precisa ser
limpa, porque sem ela, a gente não consegue viver, eu
explicaria também pra ele que a natureza era um lugar
aonde vivem animais, e aonde tem um lugar onde tem
frutos, flores, um monte de coisas e isso que eu queria
falar” (Masc.,9 anos).
Figura 04 – Natureza como EUH.
“Eu ia explicar que a natureza é muito legal porque a
natureza tem árvores que fazem a gente ficar com mais
energia, as plantas, as vezes as árvores dão frutas pra
gente nos alimentar e os frutos dá mais energia pra gente
e tem vitamina C” (Masc., 10 anos).
No primeiro desenho, do menino de nove anos, foram colocados elementos
naturais, com destaque para a árvore, com riqueza de detalhes como raiz, folhas,
frutos e passarinhos, além de uma pessoa realizando coleta de lixo. Já o segundo
desenho, de um menino de 10 anos, também traz elementos como árvores, sol,

44
montanhas e animais em movimento. Na sua fala, percebe-se a natureza como algo
útil às pessoas, pois fornece o alimento, gerando energia para os humanos, o que
mostra um pensamento um pouco mais elaborado, uma vez que elucida uma relação
de consequência entre variáveis.
Observa-se nessa segunda categoria que as crianças possuem percepção da
relação de interdependência entre o ser humano e a natureza, ou seja, aparece como
característica associada que, se ela é vital para nossa sobrevivência, logo precisamos
cuidar, evitar que ela se acabe; aqui começam a emergir aspectos de significado social
e relações entre a natureza e as pessoas. Essa forma mais elaborada do pensamento
difere das concepções da primeira categoria (FFR), em que a criança ainda não
conseguia estabelecer relações causais entre os elementos da natureza, seus
fenômenos e sua interligação com os seres humanos.
2.3 Natureza como Espaço Importante Ameaçado (EIA)
Essa categoria de entendimento foi manifestada por 5% das crianças. Aqui a
natureza é concebida como um lugar que deve ser respeitado por si só ou pela sua
importância à vida no planeta, mas que está sendo maltratado pelas pessoas e que
está em risco de ser destruído. Nesse entendimento, a natureza é concebida como
um local bonito e de muitas possibilidades de diversão. Está presente nessa
concepção elementos sociais que extrapolam o ente em si, para abarcar questões
éticas na relação dos humanos para com a natureza, conforme pode ser observado
nos desenhos e nas respostas que seguem.
Nessa categoria nota-se, ainda, que há uma evolução do conceito em relação
à natureza ao perceber a sua importância para a sobrevivência do ser humano, bem
como a necessidade de preservá-la. O conhecimento é construído de forma gradativa
e fatores como a idade foram relevantes neste estudo, pois, à medida que a criança
se aproximava da fase piagetiana das operações formais (a partir de 11-12 anos), sua
compreensão acerca da natureza se ampliava de forma a ser capaz de construir
teorias e estabelecer relações de causa e efeito.
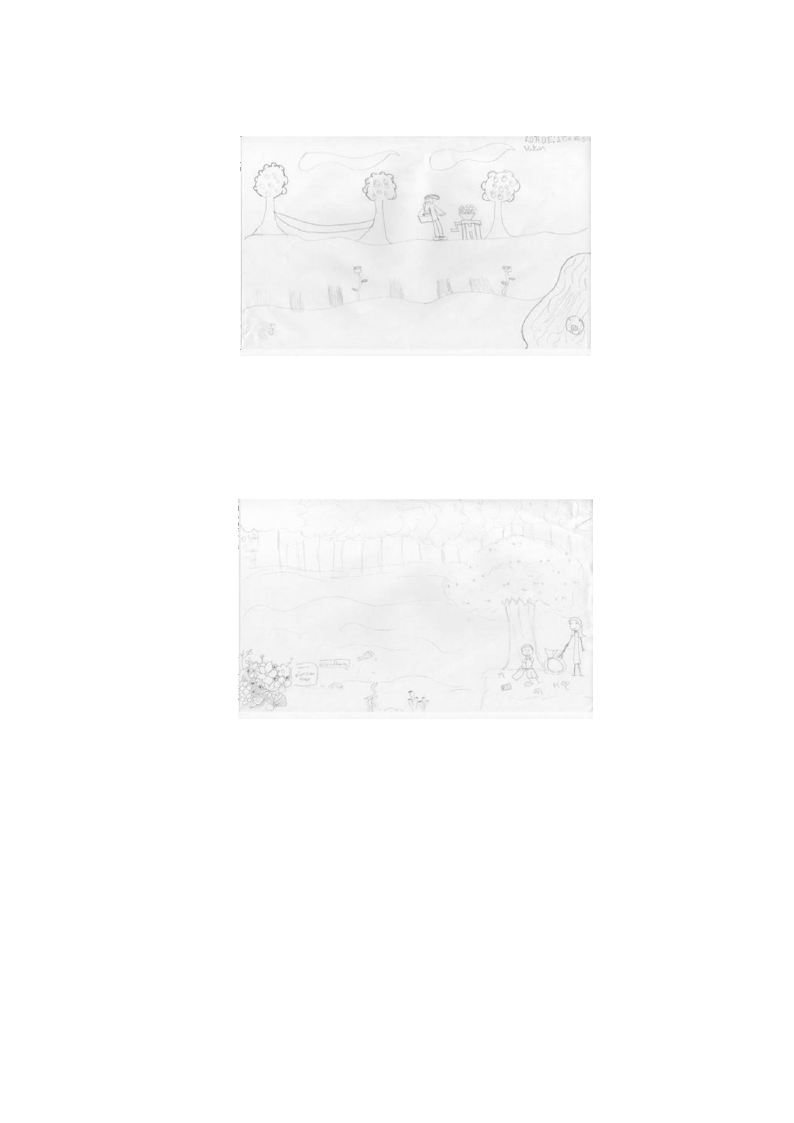
45
Figura 05 – Natureza como EIA.
“Eu diria que a natureza é importante, porque ela é quem
dá o ar pra gente respirar, e também porque a natureza nós
preservamos, porque se o homem desmatar muito, é não
existiria o ar, oxigênio” (Masc., 10 anos).
Figura 06 – Natureza como EIA.
“Esse vegetal, esse verde, cheio de riqueza, uma coisa
bonita que a gente tá destruindo nessa terra, e daqui a
pouco vai ficar tudo poluído, não vai sobrar mas nada,
somente as máquinas do homem e essas coisas” (Fem., 11
anos).
Atrelada a essa capacidade da criança em estabelecer relações de causa e
efeito, faz-se relevante compreender que um sistema em desenvolvimento é
composto de um organismo e seu contexto, não sendo possível separá-los, sendo que
é nessa dimensão que é possível compreender os determinantes do comportamento
da criança (SAMEROFF; SUOMI, 1996). Essa concepção se coaduna com a ideia do
funcionamento dinâmico do indivíduo, de forma contínua e recíproca em interação
com seu ambiente, incluindo as relações com outros indivíduos e grupos
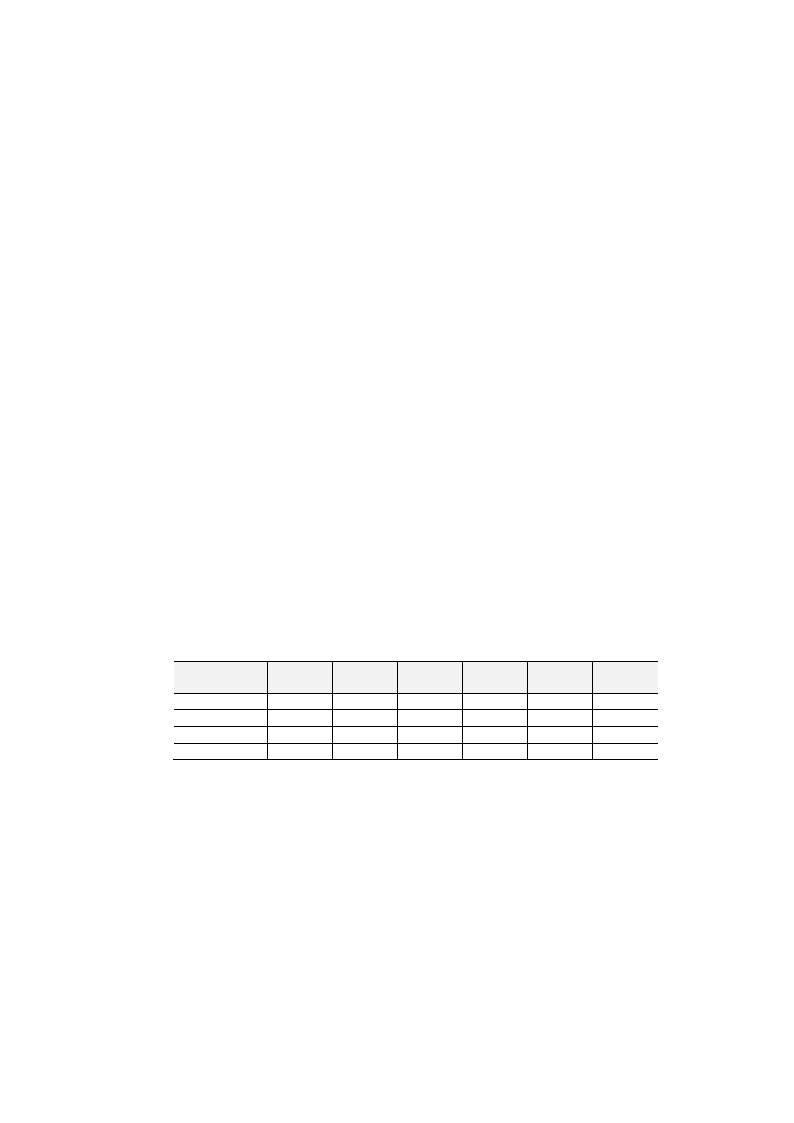
46
(MAGNUSSON; CAIRN, 1996). As crianças dessa pesquisa encontram-se em pleno
desenvolvimento de suas potencialidades, sendo esses fatores imprescindíveis para
a compreensão da dinâmica cognitiva das crianças, além das variáveis referenciadas
como idade e gênero.
A evolução dos conceitos acerca da natureza se apresenta na categoria (EIA)
de forma abrangente e holística, evidenciando, ainda, a capacidade cognitiva de
abstrair um conhecimento mais elaborado e crítico, ressaltando-se que, nessa
categoria, prevaleceram as respostas de crianças acima de 10 anos. Essa fase do
desenvolvimento humano é enfatizada por Piaget (1967; 1975) e Vygotsky (1998) pela
capacidade de apreensão da realidade e dos entendimentos acerca dos fenômenos
como sendo gradativos e majorantes. Esse entendimento culmina no que Piaget
(1967; 1975) descreve como estágios das operações formais, em que o raciocínio
hipotético dedutivo se concretiza, sendo a criança capaz de fazer generalizações e
aplicá-las a diversos conteúdos.
Além das variáveis como idade, gênero e escolaridade, há que se destacar as
experiências sociais de cada criança, bem como as interações com o seu meio
ambiente e o contexto onde ele ocorre. A Tabela 02 apresenta a distribuição das
crianças de acordo com a idade e o tipo de entendimento de natureza.
Tabela 02 – Distribuição das crianças em função do entendimento de natureza e idade.
Idade
Natureza
EFF
EUH
EIA
Total
7 anos
5
1
-
6
8 anos
15
2
-
17
9 anos
10
6
-
16
10 anos 11 anos
8
9
4
11
-
4
12
24
Total
47
24
4
75
Observa-se que 63% (47) das crianças manifestaram um entendimento de
natureza de forma mais simplista e pouco elaborada, ou seja, a natureza como espaço
de flora, fauna e rios. Já 32% (24) consideraram natureza como espaço útil ao ser
humano e apenas 5% (4) a percebem como vital aos seres humanos e aos animais.
Ou seja, as categorias expressam uma complexidade majorante, de um entendimento
mais simples para um mais elaborado. Nessa sequência, encontrou-se mais crianças
com entendimento elementar, um aumento relativo no entendimento intermediário e
menos crianças com um entendimento mais elaborado. Para comprovar se essa
sequência teria algum indicador determinante, foi aplicado o teste de Pearson.

47
A correlação de Pearson procura calcular a intensidade da associação linear
entre as variáveis, demonstrando se há ou não correlação entre elas. O coeficiente
pode variar de -1 a 1, sendo que uma correlação 0 significa que duas variáveis não
estão relacionadas (COZBY, 2003). Analisou-se, então, a relação idade e categorias
referentes à concepção da natureza. Por meio do teste de Pearson (r) constatou-se
uma correlação positiva entre a idade de 11 anos e a categoria EIA (Espaço
Importante Ameaçado) – com (r=0,275). Além disso, a idade de 8 anos se
correlacionou positivamente com a categoria EFF (Espaço de Flora, Fauna e animais),
com r=0,299. Assim, percebe-se que idade é um fator determinante para a
compreensão da criança na formação de conceitos mais elaborados acerca da
natureza.
Piaget (1926) afirma que quando interrogamos crianças de diferentes idades
acerca de fenômenos que as interessam, tem-se respostas bem diferentes de acordo
com o nível dos sujeitos interrogados, que evolui com a idade, sendo que o
desenvolvimento dos estágios pode ser acelerado ou retardado, dependendo da
experiência de vida do indivíduo. As crianças de 11 anos estão em transição entre a
fase das operações concretas e a fase das operações formais, quando já começam a
raciocinar de forma abstrata. No caso das crianças maiores, trazem aspectos dos
problemas ambientais embutidos no conceito de natureza, como se fosse associado
e indivisível; talvez, algumas décadas passadas essas mesmas crianças não estariam
trazendo esses aspectos sociais para o conceito de natureza. Nessa fase, a criança
se mostra capaz de inferir consequências entre os fenômenos e a pensar de forma
hipotético-dedutiva, o que permite à criança a construção de reflexões e teorias
(PIAGET, 1967).
O pensamento da criança muda qualitativamente de certos períodos de
desenvolvimento para outros, razão pela qual Piaget (1975) classificou o
desenvolvimento cognitivo em diferentes estádios. Vygotsky (1998), por sua vez,
destaca que o comportamento e o desenvolvimento da inteligência resultam de uma
construção progressiva do sujeito em interação com o meio físico e social. Na relação
com o adulto, a criança reconstrói dentro dela a linguagem intrínseca referente à
produção cultural na qual está inserida, num processo que ele denominou de sócio
histórico.
Embora crianças da mesma idade apresentem concepções acerca da natureza
em diferentes níveis de elaboração, deve-se levar em consideração os fatores do seu
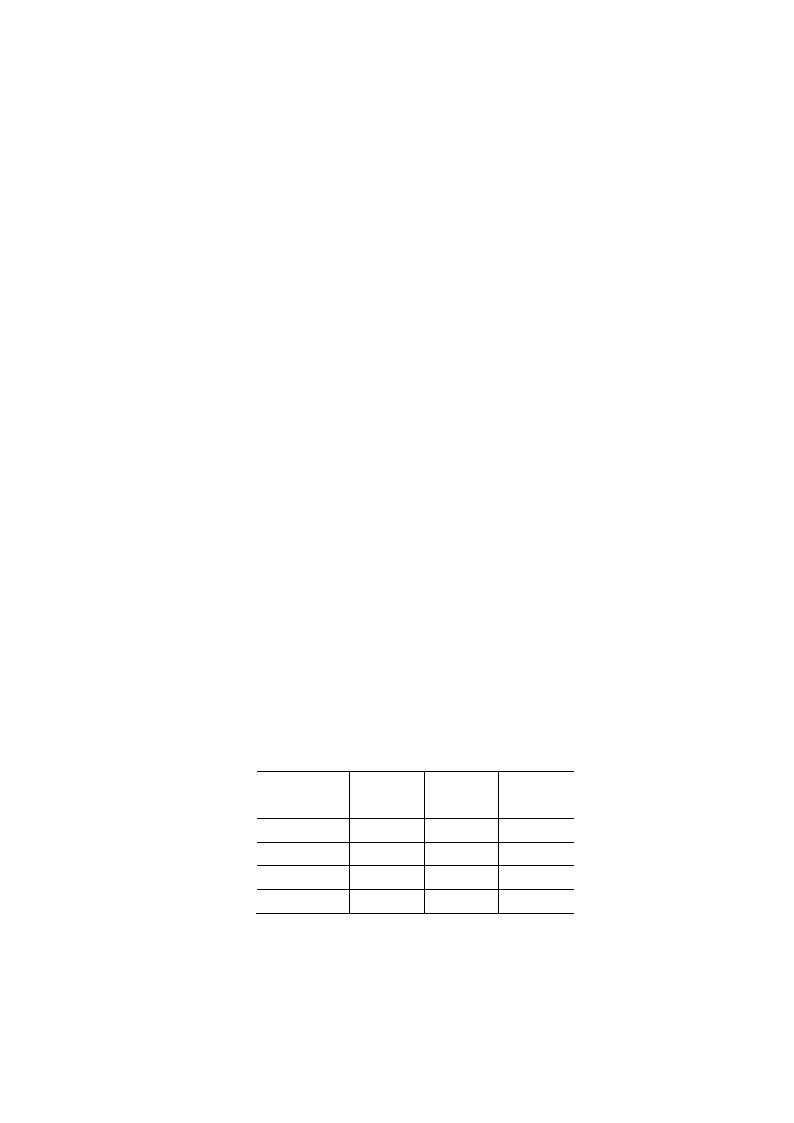
48
meio físico e social, e, ainda, como as experiências do seu cotidiano acerca da
natureza ajudam a construir suas concepções referentes ao tema. Neste sentido, uma
mesma situação vivenciada por diferentes crianças pode suscitar respostas diferentes
ou comportamentos diferentes.
Pensamos e raciocinamos de forma qualitativamente diferente, nas diferentes
fases do desenvolvimento intelectual, porém pode-se variar a idade em que atingimos
cada estádio, por isso nota-se a diversidade de “leituras de mundo” entre crianças da
mesma idade cronológica. A percepção da criança concebendo a natureza como
espaço de diversão e lazer pode revelar como o contato com espaços verdes pode
ser prazeroso e benéfico para o bem-estar infantil. O lazer pode ser compreendido
como abstração teórica que possui elementos subjetivos como prazer, diversão e
ludicidade, além de elementos objetivos. Neste contexto, o tempo desencadeia um
estado prazeroso de quem pratica (RIBEIRO; HIGUCHI, 2012).
Se a idade se mostra uma variável que está associada a uma estrutura de
entendimento, estaria o gênero influenciando também? As análises a partir do teste
de Pearson, conduzidas para verificar a função do gênero no entendimento de
natureza, revelaram não haver correlação entre elas, diferentemente da idade. A
distribuição das crianças em função do gênero e o tipo de entendimento é aleatória e
segue uma tendência indistinta do fato de ser menina ou menino. Em ambos os casos,
a sequência de entendimento permanece inalterável, ou seja, tanto meninos quanto
meninas têm um entendimento que inicia de forma mais simplória, se especializa e
fica mais elaborado com a idade (TABELA 03).
Tabela 03 – Distribuição das crianças em função do entendimento de natureza do gênero.
Gênero
Natureza
Masc.
Fem.
Total
EFF
21
25
46
EUH
15
9
24
EIA
2
3
5
Total
38
37
75
A pesquisa revela que a concepção utilitarista da natureza, que pode ser
percebida em algumas definições elaboradas pelas crianças que a descrevem de
forma simplista e desconectadas de uma ligação sistêmica entre o ser-humano e a
natureza. As crianças são utilitaristas muito em função do que elas aprendem com os

49
adultos e, também, pela característica do pensamento egocêntrico, pertinente à fase
do desenvolvimento humano em que elas se encontram.
As diferentes concepções acerca da natureza evidenciadas nos desenhos e na
linguagem verbal das crianças pesquisadas mostram uma relação evolutiva em
congruência com o desenvolvimento das mesmas. Há diferenças de entendimento em
cada faixa etária, de modo que as crianças mostram uma sofisticação do conceito de
natureza, não se limitando ao real, mas introduzindo questões simbólicas que são
construídas a partir do contexto socioambiental vivido por elas.
Da perspectiva da epistemologia genética, a natureza é compreendida de um
ponto mais restrito para mais amplo. As crianças pequenas não consideram a
natureza como um ecossistema, mas um ajuntamento de coisas, sem uma inter-
relação entre os eventos. À medida que a criança amadurece cognitivamente, ela
consegue também estabelecer conexões de interdependência entre os eventos e os
fenômenos naturais, bem como descrever relações de causa e efeito, inclusive no que
se refere ao dano ambiental decorrente do comportamento humano. As crianças
maiores de 10 anos demonstraram capacidade de, além de perceberem a relação
holística dos fenômenos naturais, integrarem em sua compreensão aspectos sociais
e éticos em relação à natureza, ou seja, transcendem o ecossistema. As crianças
maiores integram, nesse entendimento, aspectos sociais que, por alguma razão,
passam a ficar como uma “amálgama” ao conceito de natureza, ou seja, espaço a ser
protegido, por exemplo.
Algumas crianças diferenciam os espaços da realidade em que as pessoas
vivem. A natureza é, assim, um espaço circunscrito que contém um aglomerado de
aspectos diferenciados do espaço dos humanos; nesse sentido, natureza é um
espaço distante de sua vivência cotidiana. Isso fica evidente quando a criança se
refere a “um lugar que”, “lá tem”, “lá é legal”, como se na cidade ou mesmo na sua
casa não fossem percebidas formas de vida pertencentes a esse meio ambiente
natural descrito com árvores, flores, animais, dentre outros.
As crianças pequenas (entre 7 e 8 anos) destacaram a natureza como algo
distante de sua realidade, isto é, uma floresta selvagem e perigosa, repleta de animais,
árvores, flores e de uma beleza peculiar, porém tendem a considerá-la desconectada
de seu próprio ambiente. Já as crianças que percebem a natureza como algo útil e
importante para nossa sobrevivência, a admiram, mas ainda não a consideram como
parte intrínseca da realidade em que vive. As poucas crianças que dizem que

50
entendem a natureza como essencial para o funcionamento global do planeta e que o
comportamento humano é o grande responsável pela destruição da natureza parecem
tê-la mais próxima de suas vivências, seja real ou simbolicamente.
A pesquisa evidenciou que o entendimento de natureza vai gradativamente se
ampliando das atribuições propriamente físicas, passando inexoravelmente a
incorporar dimensões socioculturais, em que as relações pessoa-natureza estão
inevitavelmente presentes na construção desse entendimento. Neste sentido,
percebe-se que as crianças estão construindo, a partir da idade, um conceito de
natureza que não separa o ambiente das questões sociais relacionadas. Apesar da
idade ser considerada um bom indicador da evolução dos estágios do conhecimento
humano (PIAGET, 1975), não é o único fator determinante para as diferentes
experiências que a criança assimila acerca do mundo e do seu meio ambiente. Outras
variáveis, como cultura, escola, família, lugar onde vive e os espaços em que está
autorizado a circular, também interferem nesse complexo processo de evolução da
criança.

51
3. RELAÇÃO DE AFETIVIDADE PARA COM A NATUREZA
Historicamente, a natureza tem sido apresentada pela literatura infantil como
um lugar de fantasias, isto é, algo distante e enigmático, a que pouco acesso se teria.
Dentre as várias opções que a natureza oferece, a floresta ocupa um lugar
proeminente nas fábulas e estórias infantis, pois quase nunca é um lugar para passeio
ou brincadeiras, sendo assustadora pela sua estranheza, o que para a criança
significa perigo e, portanto, um contraste antagônico com o afetuoso mundo do
aconchego da casa. Nesses contos, a floresta também amedronta pela sua
imensidão, seu cheiro e o tamanho de suas enormes árvores que estão além da
escala de experiência da criança; é o habitat de feras perigosas e é o lugar de
abandono, um não-mundo, escuro e caótico, onde a pessoa se sente absolutamente
perdida (TUAN, 2006). Essa percepção, contudo, pode ser ressignificada a partir de
uma aproximação controlada e lúdica, e, assim, reconectar a criança com a natureza.
Louv (2014; 2016) traz em sua obra uma profunda reflexão acerca das
vantagens que os seres humanos têm em se conectarem e reconectarem à natureza
neste mundo digital em que vivemos atualmente. E um dos mais fortes argumentos
diz respeito aos benefícios à saúde mental das pessoas, de qualquer idade, não como
uma panaceia exclusivista ou que substituiria as terapêuticas tradicionais, mas como
uma relevante ferramenta para manter ou melhorar o equilíbrio emocional. O autor
descreve, também, diversos relatos de experiências de pessoas que estavam, de
alguma forma, afetadas emocionalmente e que, ao buscarem maior contato com
ambientes naturais, passaram a se sentir melhor. Outros estudos mostram que a
aproximação com a natureza tem influência positiva no bem-estar psicológico
(melhora do humor e da autoestima, redução do estresse, diminuição de sentimentos
de raiva, confusão, depressão e da tensão), além de gerar benefícios à saúde física
(DAVIS; REA; WAITE, 2006; BARTON; HINE; PRETTY, 2009; GENG et al., 2015).
O contato com a natureza, então, aumenta os sentimentos de ligação
emocional e apego das crianças com o seu ambiente, que tem uma influência direta
e positiva sobre a sua saúde psicológica (CHENG; MONROE, 2012; COLLADO;
STAATS; CORRALIZA, 2013). A presença da natureza no cotidiano da criança, seja
em ambientes residenciais, sociais e escolares, pode contribuir de forma positiva no
desenvolvimento das mesmas, favorecendo a aprendizagem, a convivência familiar e

52
comunitária e influenciar na sua saúde física. Observa-se, assim, que as crianças
podem ter experiências afetivas no contato com a natureza que consolidam o
equilíbrio emocional, sendo que a afetividade envolve sentimento, empatia e afinidade
emocional. Considerando-se que a afetividade é um importante aspecto na conexão
com a natureza, traz-se aqui uma análise do que as crianças dizem sentir sobre a
natureza.
Os conceitos de conexão com a natureza afirmam a existência de um
sentimento individual, emocional e cognitivo em relação à natureza que incluiria,
também, sentimentos de pertença, envolvendo uma conexão experiencial com o
mundo natural (SCHULTZ, 2002; MAYER; FRANTZ, 2004; PERRIN; BENASSI, 2009;
GENG et al., 2015). O desejo de filiação e conexão com outras espécies animais é
positiva e revela-se na infância, sendo transversal a todas as culturas, o que não exclui
sentimentos de medo e aversão a determinados seres vivos (ALMEIDA;
VASCONCELOS; TORRES, 2013).
3.1 O que a Criança diz Gostar e Não Gostar da Natureza
Para as crianças, falar sobre o que gosta da natureza envolve um sentimento
que vai sendo construído cognitivamente de forma diferenciada. Gostar da natureza é
algo sentido, porém ao justificar esse sentimento constatamos que a grande maioria
(75%) das crianças apenas diz gostar dos elementos característicos que estão
presentes na categoria natureza. As árvores, as plantas, os animais e os rios são
citados como motivos de seu sentimento positivo. No entanto, esses sentimentos são
vagos e identificados, genericamente, pelo elemento que está na natureza, sem
explicações ou justificativas, por exemplo “[gosto] dos animais, flores e frutos”;
“árvores e a animais”; “flores, grama e da diversidade da natureza”; “pássaros, sol,
nuvem e frutas”. Nesse sentido, os resultados do presente estudo corroboram com os
resultados de um estudo realizado em Portugal (ALMEIDA; VASCONCELOS;
TORRES, 2013), em que as plantas e os animais eram elementos de maior
agradabilidade para as crianças.
Outra parcela das crianças (8%) mencionou que gosta das árvores, das plantas
e dos animais presentes na natureza. Observa-se que, em algumas ocasiões, as
justificativas são simplórias, mas correspondem a uma função de utilidade genérica,
como “as plantas são úteis ao homem”; “porque dão o oxigênio”. Em outros momentos,

53
o gostar extrapola a função real do elemento da natureza, como a de que “animais e
plantas nos fazem respirar” ou de que “flores e frutos que dão alimento” – embora a
inclusão dos animais na função da fotossíntese caracteriza-se uma justificativa
equivocada e que nem todas as flores possam ser classificadas como alimento. No
entanto, mesmo sem precisar com exatidão a função utilitária da natureza, observa-
se que está presente nas justificativas das crianças um sentimento de gratidão à
natureza, que seus elementos constituintes proporcionam para as pessoas.
Por outro lado, algumas crianças (5%) fundamentam seus sentimentos sobre
gostar da natureza pelo simples afeto que surge na relação vivida e sentida com os
elementos citados, tais como: “gosto do hipopótamo porque começa com a letra do
seu nome e são fofinhos”; “das arvores porque são bonitas”; “do cachorro porque são
companheiros e dos peixinhos porque são fofinhos”; “das árvores porque me divirto
nelas”.
Para as outras crianças (5%), o sentimento de gostar da natureza incorpora
não apenas os elementos presentes naquele lugar, mas sentimentos elaborados a
partir de uma relação vivida ou passível de trazer satisfação no seu cotidiano, tais
como: “gosto de coletar formigas”; “gosto do jeito da natureza ser, de sua beleza que
atrai as pessoas”; “gosto da perfeição da natureza”; “gosto de tomar banho de rio e
observar os pássaros”. Nesse sentimento, as justificativas apontam uma
transcendência do objeto em si para incluir as ações que emergem desse encontro
entre as crianças e a própria natureza; estão implícitas, nesse sentimento,
justificativas mais elaboradas do que as anteriormente apresentadas, mesmo que
ainda rudimentares.
Apesar das diferentes formas de justificativa sobre o sentimento, não resta
dúvida de que todas as crianças dizem gostar da natureza. A natureza é, portanto, um
objeto de sentimento positivo que se expressa por diferentes formas e conteúdos, e
que, em alguns momentos, pouco se compreende sobre esse sentimento.
Se gostar é uma unanimidade, não gostar é um sentimento que poucas
crianças dizem ter. Apenas 23% das crianças afirmaram não gostar da natureza, seja
“por causa dos insetos”; “dos animais que caçam/comem uns aos outros”; “por causa
das árvores espinhosas”; “por causa dos animais ferozes” ou “por causa das plantas
venenosas”. Observa-se nessas falas um elemento de medo ou perigo presente nas
justificativas. Em alguns casos, no entanto, a referência de desagrado se instala de
forma pouco clara, talvez por algum mal-estar causado na sua relação com um

54
determinado elemento, como é o caso de algumas crianças citarem “gato”; “grama”;
“capim”. Já a grande maioria das crianças (77%) diz não ter desagrado ou algum
aspecto negativo em particular sobre a natureza.
3.2 O que a Criança diz Ser Belo e Feio na Natureza
A beleza da natureza para a criança é algo inerente, porém presente de forma
distinta nos seus elementos, uma vez que o que é belo aos olhos de uma, pode não
ser aos olhos de outra, o que torna essa experiência subjetiva. Assim, emergiram
diversas respostas com sensibilidades estéticas pouco aprofundadas. Ao explicitarem
sobre o que é belo, grande parte (83%) das crianças refere a beleza a elementos
genéricos, de pouca distinção estética, tais como “plantas, árvores”; “árvore e
animais”; “pássaros, gramas e frutas”. A beleza atribuída à natureza, a partir desses
elementos, compõe uma apreciação indefinida, quase uma sensação sem admiração
específica; apesar do atributo beleza ser notificado por muitas crianças, tal empatia
se trata de uma afetividade indiferenciada.
Os animais, em particular, sempre foram um foco de atenção e interesse para
os seres humanos, tendo uma enorme diversidade deles no planeta. Para as crianças,
os animais costumam causar encantamento, medo e curiosidade. Alguns animais,
como a onça, bicho típico da região amazônica, incorpora uma beleza imponente no
mesmo grau que o temor. No entanto, os zoológicos e documentários de TV
disseminam esse caráter estético como um atributo para sua preservação e, no caso
desse estudo, algumas crianças reproduziram essa admiração.
O belo considerado em alguns animais por algumas crianças (7%) segue o
padrão de difusão midiática. Desse modo, “o flamingo” junto com “o macaco”, “o
peixe”, “o tigre branco”, “as borboletas” são apontados como bonitos por alguma razão
que, no universo infantil, não se justifica a partir de uma racionalidade evidente. Alguns
desses animais, embora não façam parte da convivência cotidiana da criança, podem
ser vistos em zoológicos ou em mídias visuais, o que causa curiosidade nos
pequenos. Desta forma, observa-se, mesmo que superficialmente, uma empatia em
relação aos animais, aspecto evidenciado por Cheng e Monroe (2012) ao investigarem
as atitudes afetivas com a natureza.
A pesquisa também constatou que grande parte das crianças ao apontar sobre
o que seria belo na natureza, se reporta ao âmbito dos organismos biológicos, e

55
algumas delas trazem a beleza para fora desse espaço, inserindo no contexto da
natureza elementos físicos como “o sol”, “arco-íris”, “cachoeiras”, “mar”, “igarapé”,
“céu” (8%); outras (2%), reportam aspectos de contemplação que a natureza oferece,
tais como “paisagens, montanhas e o nascer do sol” e o “céu, estrela e nuvens”.
As crianças, de modo geral, recusam-se a ver o feio presente na natureza. A
maioria (88%) respondeu que não havia nada feio na natureza, e dos 12% que
apontaram algo feio, a metade partiu do princípio de uma atribuição do que é feio a
partir de um julgamento moral do que as pessoas fazem com a natureza, como “não
acho legal o que fazem com a natureza, desmatam, destroem”, ou seja, elas não
conseguem ver aspectos negativos advindos da própria natureza. Outros confundem
feio com medo real ou simbólico, como “sangue de animais mortos” ou “animais
selvagens, como o tubarão”, o que, na verdade, suscita sentimentos de medo ou o
“caranguejo, porque ele pica”.
3.3 O que a Criança diz sobre a Natureza ser Boa ou Ruim
A capacidade de julgar uma realidade como sendo “boa” ou “ruim” advém da
construção de valores morais, ainda na infância. Piaget (1994) destaca que os valores
morais são construídos a partir da interação do sujeito com os ambientes sociais
vivenciados pelas crianças, principalmente na convivência com os adultos, sendo que
esse desenvolvimento moral envolve sentimentos, crenças e valores. Na pesquisa, a
natureza aqui foi “julgada” como boa ou má a depender do que ela tem para oferecer
de benefícios ou o despertar de temores relacionados a situações como condições
climáticas adversas ou a presença de animais ameaçadores. Tal como o sentimento
de agrado para com a natureza, as crianças, em sua grande maioria (71%),
expressam, sobretudo, a condição benéfica presente na natureza. Em alguns
momentos, no entanto, essa “natureza boa” pode vir a ser uma “natureza ruim” no
entendimento de 16% das crianças, enquanto que algumas crianças (13%) não
souberam responder.
As avaliações que atribuem à natureza uma condição de moralidade positiva
se embasam em diferentes perspectivas, de forma simplória, mais relacionadas à sua
função ecossistêmica e fonte de recursos, tais como: “é boa porque as árvores
transmitem oxigênio e o gás carbônico ajuda na sobrevivência das árvores e dos seres
humanos”; “é boa porque sem ela não tem água para beber e nem comida”; “boa

56
porque nos dá frutas gostosas”; “boa porque sem ela não haveria animais nem planta
e seria muito quente”. A natureza ainda é considerada boa quando ela atende às
necessidades e desejo das pessoas, como “boa no momento de brincar e fazer festa”;
“colabora com nossa saúde com o oxigênio e alimentação”; “ela é boa quando deixa
cheirar e tocar as flores”; “é boa dependendo do tempo que tá fazendo”; “mais boa
quando eu pego peixes”; “boa no inverno porque chove e molha a plantação do vô”.
Observa-se que, nessa questão, a avaliação reflete um pensamento egocêntrico,
próprio dos primeiros estágios de moralidade. Nessa etapa, as crianças agem em
benefício de suas próprias necessidades, não sendo capazes, ainda, de distinguir o
certo do errado em sua plenitude (PIAGET, 1994).
Lourenço (2002) destaca que se colocar no lugar do outro seria a “regra de
ouro” para o indivíduo pautar suas ações, observando-se que, para a criança nessa
idade, o outro (nesse caso os elementos da natureza) está ainda sendo reconhecido
em sua essência: o peixe, a árvore, a chuva teriam uma função que agrada algumas
pessoas em particular e, desta forma, a alteridade ainda está longe de ser vivenciada
nessa idade. Porém, a construção dessa alteridade está em curso e vai se
estabelecendo a partir das relações com outras pessoas e suas próprias experiências.
Assim, o status de ser uma natureza “boa” ou “ruim” vem sendo desenvolvido muito
em função dessa relação com o grupo social no qual a criança está inserida, e que
trilha normas distintas ao se tratar do mundo natural.
A natureza “boa” vem sendo disseminada intensamente nas ações que visam
uma proteção ambiental. Nesse sentido, apesar de Kohlberg (1984) defender que a
essência da moralidade está mais relacionada ao sentido de justiça do que no respeito
pelas normas sociais, atualmente a natureza vem sendo posta como vítima devido a
ação humana que a destrói. A criança acompanha esse discurso midiático e real e
adota posturas que mostram esse desejo de “justiça” – seria o início rudimentar da
ética ambiental, a qual se estabelece no campo das ações compartilhadas. Nesse
sentido, a ética ambiental parte de um pressuposto da coletividade, em que a criança
está engajada num mundo estruturado pelos adultos e, a partir das ações por eles
desempenhadas, o todo é influenciado e, em particular, a criança, daí o surgimento
da preocupação com a preservação e com a conservação do ambiental (CAPRA,
1996; SANTOS, 2016).
A natureza se mostra-se boa, na fala das crianças, no sentido simbólico, como
entidade capaz de favorecer a contemplação e a valorização da vida que seus

57
elementos proporcionam, tais como: “mais boa, quando o sol vai se pondo, fica mais
bonita a paisagem”; “é boa quando as flores crescem, se reproduzem”; “boa, quando
os bichos cantam, é bom ouvir o barulho deles e é saudável para as crianças”; “boa
quando cedo se ouve o barulho da cachoeira e o assobio dos pássaros” e “boa, porque
é inspiradora a todos nós”; “os animais estão com vida e cheia de frutos e os animais
no seu canto”. Percebe-se, desta forma, uma sensibilidade emocional que se descola
de sua função material, como algo mais profundo e intangível, mas havendo
conotação de equilíbrio, já que a vida se desenvolve imersa de um visível
contentamento e harmonia para as crianças.
Spinoza (2008) afirma que os afetos primários de alegria e tristeza fazem
emergir todos os outros sentimentos, uma vez que o afeto é visto não somente do
ponto de vista da paixão, mas também da ação, ou seja, ser afetivo não significa ser
passivo. O autor compreende o afeto como afecções do corpo pelas quais a potência
de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada. Desta forma, os afetos
direcionados à natureza que movem as crianças podem causar um ímpeto à boa ação,
ou não.
Segundo o depoimento das crianças, a natureza “ruim” pode ser justificada pelo
fato de conter, em si, elementos perigosos, como as “flores venenosas”, os “animais
como lobo e hiena que matam qualquer pessoa”, pela condição climática e
meteorológica que causam desconforto às pessoas ou, ainda, pelo estrago a si
própria, “quando tá muito quente e maltrata as plantas”; “quando chove e machuca as
árvores, cai raio e estraga as frutas”. Algumas crianças admitem que a natureza se
torna “ruim” pelas condições que está submetida em termos de depredação. Neste
sentido, para elas, a natureza fica “ruim quando a floresta é queimada” ou “quando tá
poluída”, isto é, nessas manifestações os elementos externos tornam a natureza ruim,
como que por uma consequência diante de algo negativo a ela dirigido.
A criança, como qualquer outro sujeito, vive de forma social a partir de relações
com algo ou alguém e de movimentos intermitentes e diferenciados, incluindo tanto
as emoções simples até os sentimentos mais complexos (SALOMONI, 2009). A
afetividade para com a natureza se ajusta, pois, em torno de sentimentos e emoções
que emergem tanto de objetivações sociais, quanto de experiências subjetivas
(HELLER, 1979). Portanto, tal como o adulto, a criança incorpora a afetividade em
relação à natureza de forma gradativa e qualitativa a partir dessas vivências. A
afetividade para com a natureza, ou para alguns elementos constituintes, passa a ser

58
manifestada por pensamentos e ações de caráter coletivo e individual, boa ou má
(SAWAIA, 2007); a condição de ser boa ou má como conhecimento relacionado à
natureza se forma a partir dessas experiências entre a subjetividade e a objetividade
(SOLOMONI, 2009).
A afetividade é uma dimensão muito importante nos estudos acerca da conexão
com a natureza, ao lado da cognição. Gostar da natureza e ter bons sentimentos em
relação aos seus elementos constituintes é referenciado pelas crianças, neste estudo,
a partir das falas sobre animais, árvores, flores, frutos, sol, rios, céu, estrelas, dentre
outros. Por meio desses elementos, a criança torna tangível o constructo natureza,
traduzido em vínculos afetivos em relação aos distintos elementos, ainda não em sua
totalidade, mas pelas respectivas relações que vão tecendo laços entre criança e
natureza. Assume-se, portanto, que esses sentimentos, esses “elos”, podem indicar o
início de uma possível conexão com o mundo natural.
Considera-se que a afetividade nas crianças é construída de forma gradativa a
partir, principalmente, das experiências com determinado objeto. Aqui, no entanto, a
natureza possui uma complexidade bastante alta, cujo vínculo e entendimento não
ocorrem como outro objeto dotado de simplicidade. Piaget (1994) ressalta que durante
todo o curso do desenvolvimento há uma equivalência entre as construções afetivas
e cognitiva, e o raciocínio moral seria a consequência dessas duas construções.
Porém, a forma com que esses elementos naturais foram manifestados pelas
crianças deste estudo revela uma intimidade relativa destas com o mundo natural,
uma vez que a maioria das crianças usa de vivências genéricas de tal forma que a
afetividade ainda é pouco aprofundada. Por um lado, as crianças ainda não têm um
desenvolvimento que as permite fazer elaborações cognitivas e afetivas mais
elaboradas. Desta maneira, percebem-se sentimentos centrados em experiências
ditadas pelos adultos, isto é, há uma forte desejabilidade social de que as crianças
sintam tais sentimentos desagradáveis em relação ao mundo natural quando
degradado. Como Vygotsky (1998) alerta, as crianças aprendem muito com os adultos
com os quais convivem e, embora transformando determinados sentimentos, muitos
são efetivamente reproduzidos até que a criança os reelabore por si só. Conclui-se,
por fim, que, para essas crianças, a natureza desencadeia aspectos afetivos que lhes
fazem gostar e não gostar dela; aspectos que são bonitos e que são feios, aspectos
que são ruins e bons. Nessa complexidade, instaura-se a afetividade para com a

59
natureza e para consigo mesmo, não como uma unidade indivisível, mas como partes
que vão se comunicando emocional e racionalmente.

60
4. RELAÇÃO DE CUIDADO PARA COM A NATUREZA
A maioria dos problemas ambientais da atualidade são decorrentes das ações
dos seres humanos, sendo que as ações de cuidado e preservação necessitam da
atuação das pessoas para se concretizarem. Mudanças no padrão de consumo, no
uso racional dos recursos, no respeito ao ecossistema e ao ciclo de vida das criaturas
vivas são aspectos importantes para que a proteção e o cuidado sejam de fato
efetivados (STERN, 2011; CHENG; MONROE, 2012). Incluem-se, ainda,
comportamentos proativos de prevenção aos danos ambientais, bem como de ações
de educação em todos os segmentos da sociedade. A criança que se envolve nessas
ações, desde cedo, terá mais elementos para que, no futuro, possam enfrentar, de
forma responsável, os problemas decorrentes na relação com a natureza. Estariam
essas crianças preocupadas com essa relação humano-natureza?
4.1 O que a Criança diz do Cuidado de Outras Pessoas para com a Natureza
A questão norteadora da pesquisa acerca dos cuidados com a natureza refere-
se aos cuidados ou não das pessoas em relação à natureza. Constataram-se, então,
três categorias de entendimento sobre essa relação de cuidado das pessoas para com
a natureza: a) cuidam mais ou menos (57%); b) não têm cuidado (25%); e, c) cuidam
bem (14%).
A maioria das crianças (57%) afirma que algumas pessoas cuidam bem da
natureza e que outras cuidam mal. Cuidar bem seria ter um desempenho ecológico
esperado, como “preservar as florestas” ou “colocar lixo na lata de lixo”. No entanto,
ao justificar o cuidado que algumas pessoas têm, as crianças pouco se aprofundam,
de modo que o não cuidado das pessoas é mais saliente para essas crianças e pode
ser evidenciado quando elas falam que as pessoas “jogam lixo e poluem os rios
matando os peixes”; “queimam as árvores e maltratam os animais”; “cortam as árvores
para fazer lápis, papel, cadeira e mesas”; “matam a natureza e vão fazer as cidades”.
Observa-se, porém, a ingenuidade presente nas crianças, mas que reflete muito do
discurso que é propalado na mídia e até nas escolas, cuja compreensão da criança
ainda se acha limitada. Nesse grupo, no entanto, percebe-se que algumas crianças já
conseguem ter uma avaliação mais elaborada sobre o cuidado, o qual estaria

61
associado a um sentimento de apego, pois “aquelas [pessoas] que gostam da
natureza cuidam, mas as que não gostam maltratam”, e “a maioria não cuida, maltrata
e sente raiva”.
Embora algumas crianças (25%) considerem que as pessoas, de modo geral,
não têm cuidado para com a natureza, mesmo sem justificar ou identificar o tipo de
ação degradante, muitas delas acreditam que as pessoas não têm cuidado para com
a natureza e se utilizam de narrativas onde referem tais ações negativas, e outras que
explicam as consequências. A depredação do ambiente, tais como a poluição do ar e
dos rios, o mau uso dos recursos naturais e os maus tratos aos animais são
mencionados pelas crianças como falta de cuidado ambiental. Para essas crianças,
as pessoas “não cuidam bem, cortam árvores e matam os animais”; “não cuidam bem
porque destroem a natureza jogando lixo e queimando as árvores”; e “não cuidam
bem porque jogam lixo na água”. Outras crianças conseguem associar uma dada ação
humana degradante com sua consequência na natureza, de tal forma que consideram
que “não cuidam bem, porque matam, cortam e arrancam as flores e isso não é bom
pra gente, porque iríamos morrer sem comida, plantas e flores” e “não [cuidam], pois
queimam, desmatam causando o efeito estufa e destruindo a camada de ozônio”.
Um grupo menor de crianças (14%) afirma que as pessoas cuidam bem da
natureza quando “cuidam, não arrancando as árvores, [...] nem matando os
passarinhos, não machucando as árvores para não arrancar” ou quando “cuidam de
árvores, frutas e animais machucados”.
Algumas crianças (25%) foram mais taxativas ao considerar que as pessoas
não cuidam da natureza, porém a maioria das crianças (57%) fez ponderações
relativas sobre a diversidade das atitudes das pessoas com a natureza, sendo capaz
de perceber diferentes comportamentos entre aquelas que efetivamente cuidam e
diferenciando das outras que não cuidam, o que demonstra um maior
desenvolvimento da percepção moral desse grupo de crianças. Os aspectos ligados
à moral e à ética são fundamentais para a formação de um comportamento voltado à
sustentabilidade. Essa moral ecológica é denominada ethos ambiental e envolve, em
sua construção, aspectos contextuais e psicossociais (CORDEIRO; HIGUCHI, 2016).
Os cuidados para com o outro e, especialmente, em relação a pessoa e ao ambiente
envolvem afeto e atitudes de compromisso. Esse cuidado com o outro é um aspecto
existencial do ser humano, representado por uma atitude de preocupação,
responsabilidade e envolvimento afetivo com o outro, assim como com o lugar e as
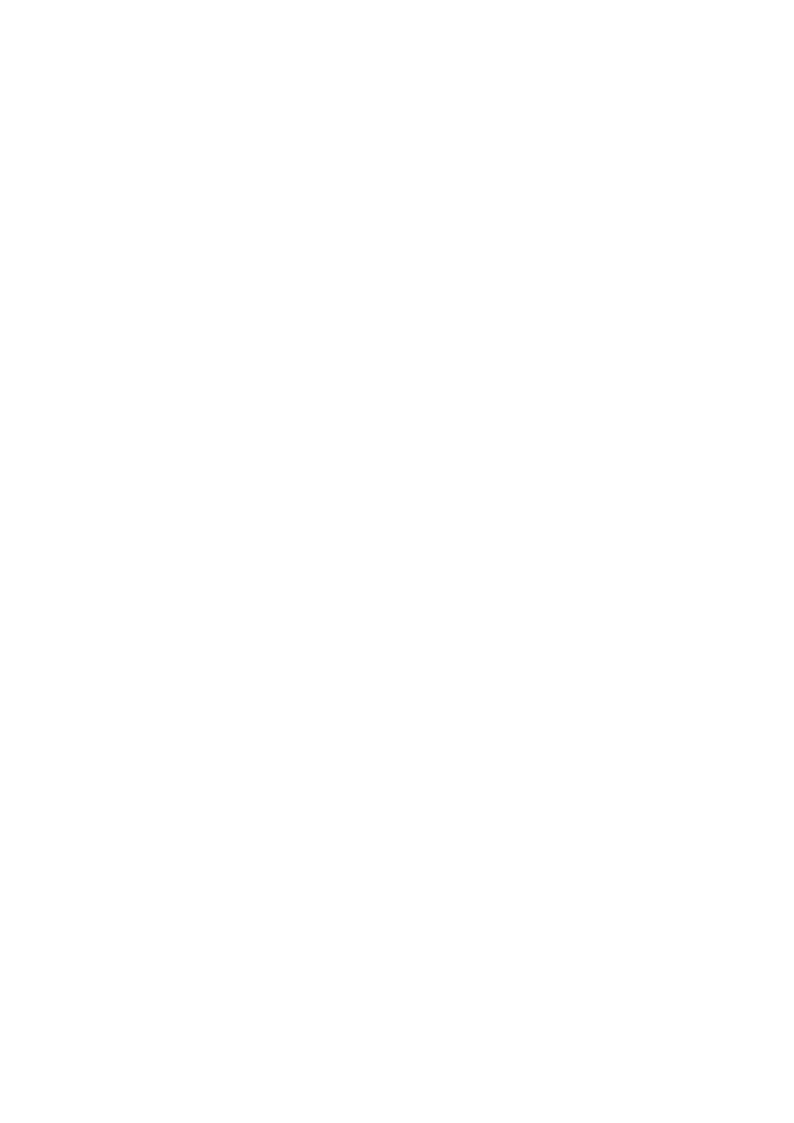
62
coisas que compõem o meio ambiente em que estamos inseridos (BOFF, 1999;
HIGUCHI et al., 2009). Esse cuidado ainda não se manifesta de forma tão intensa no
desempenho das crianças, mas é aprendido com os adultos com os quais ela convive.
Insere-se, nesse contexto, a expressão comportamento ecológico, definido
como a ação humana que busca contribuir para proteger o meio ambiente ou mitigar
o impacto ambiental. O comportamento ecológico pode ser intencional ou não, ser
aprendido e aplicado na vida cotidiana, provocando mudanças no meio. E pode ser
ainda compreendido como conduta psicológica, manifesta que resulta em proteção ou
preservação do meio ambiente (CORRAL-VERDUGO; ENCINAS-NARZAGARAY,
2001; PATO; CAMPOS, 2011). As crianças, neste estudo, apontaram o descarte
adequado do lixo e o uso da bicicleta como meio de transporte como sendo ações de
comportamento ecológico, além do cuidado com as plantas e os animais.
As crianças podem aprender esses comportamentos em sua rotina diária e nas
diversas fases da vida, assim como em vários espaços domésticos, educacionais e
sociais. Esses diferentes contextos foram denominados por Brofenbrenner (1996)
como camadas de sistemas, sendo que uma das camadas mais influentes no
desenvolvimento das crianças é o microssistema, que são os ambientes imediatos
como a própria casa, considerados as mais efetivas fontes de interferência. Em
seguida, destacam-se os mesosistemas, que são microssistemas como a escola e os
grupos sociais mais próximos das crianças. Assim, nas relações com seus pares que
ocorrem nos mais diversos espaços físicos, as teias vão se construindo e formando
uma base que define formas de cuidado ou não em prol da natureza.
4.2 O que a Criança diz Sentir diante dos Maltratos à Natureza
A degradação da natureza em nada parece sensibilizar 3% das crianças. No
entanto, para as demais 97% é um fato evidente, e que faz aflorar sentimentos
desagradáveis, sendo que estes foram de tristeza, raiva, pena, dó, aperto no coração.
Dentre essas crianças, 32% não conseguiram justificar o tipo de sentimento
manifestado e as demais (65%) justificaram os sentimentos de forma distinta.
Uma parcela das crianças (38%) justificou os sentimentos de tristeza a partir
do mau comportamento humano, ou seja, de cortar, queimar as árvores, matar
animais ou poluir a natureza. Tais ações são efetivamente concretas, mas a criança
ainda não parece conseguir elaborar a dimensão das consequências. Para essas

63
crianças, fica evidente uma de sensibilidade ecocêntrica para com a natureza, sem
colocar-se como ente prejudicado por essa condição de agravo que a natureza vive:
“triste, quando cortam as árvores, flores e coisas dos animais”; “triste, especialmente
com a morte e captura dos animais para venda”.
Sentimentos desagradáveis, no entanto, podem surgir, ainda, pelo fato de que,
ao maltratar a natureza, as pessoas podem ser atingidas. Algumas crianças (12%)
pesquisadas referiram tais sentimentos a partir de justificativas utilitaristas e
antropocêntricas, ou seja, de que ao maltratar a natureza as pessoas serão atingidas.
Desta forma, as crianças relatam que ficam “triste, porque a natureza é uma coisa que
ajuda a gente a sobreviver” e “sem plantas não podemos respirar”. Outro grupo de
crianças (7%) falou dos sentimentos a partir de uma avaliação das supostas pessoas
que maltratam a natureza, sendo que tal julgamento refere-se ao fato de que “elas não
gostam da natureza” ou “não tem sentimentos por ela”. A investigação constatou,
também, que 8% tiveram percepções bem peculiares em relação aos demais, como:
“fico triste, dá vontade de falar pra alguém brigar com ele” e “me sinto mal, pois a
natureza faz parte da gente, a gente é da natureza, podemos ter raciocínio, mas
somos animais também”.
A construção do julgamento moral na criança se delineia a partir da interação
do sujeito com os diversos ambientes sociais e se concretizará ao longo do tempo nas
relações estabelecidas com os adultos (PIAGET, 1994). O desenvolvimento da
capacidade do julgamento moral envolve, ainda, a ética, entendida nesse contexto
como a prática cotidiana dos comportamentos de certo ou errado que a criança já
começa a exercitar.
4.3 O que a Criança diz Poder Fazer para Ajudar a Natureza
Ajudar a natureza, no entendimento da maioria das crianças deste estudo,
inclui, principalmente, cuidar da fauna como “não maltratar os animais”, “impedir que
as pessoas matem os animais” e “libertar os pássaros pra eles sobreviverem”. As
crianças manifestaram, ainda, o cuidado para com a vegetação, como “regar as
plantas”, “[dar] água pras árvores”; “posso regar as plantas”; “plantar mais coisas”,
“plantar árvores, frutos”.
As crianças consideram que podem ajudar a natureza a partir de
comportamentos que devem ser evitados, tanto no sentido da produção e do descarte
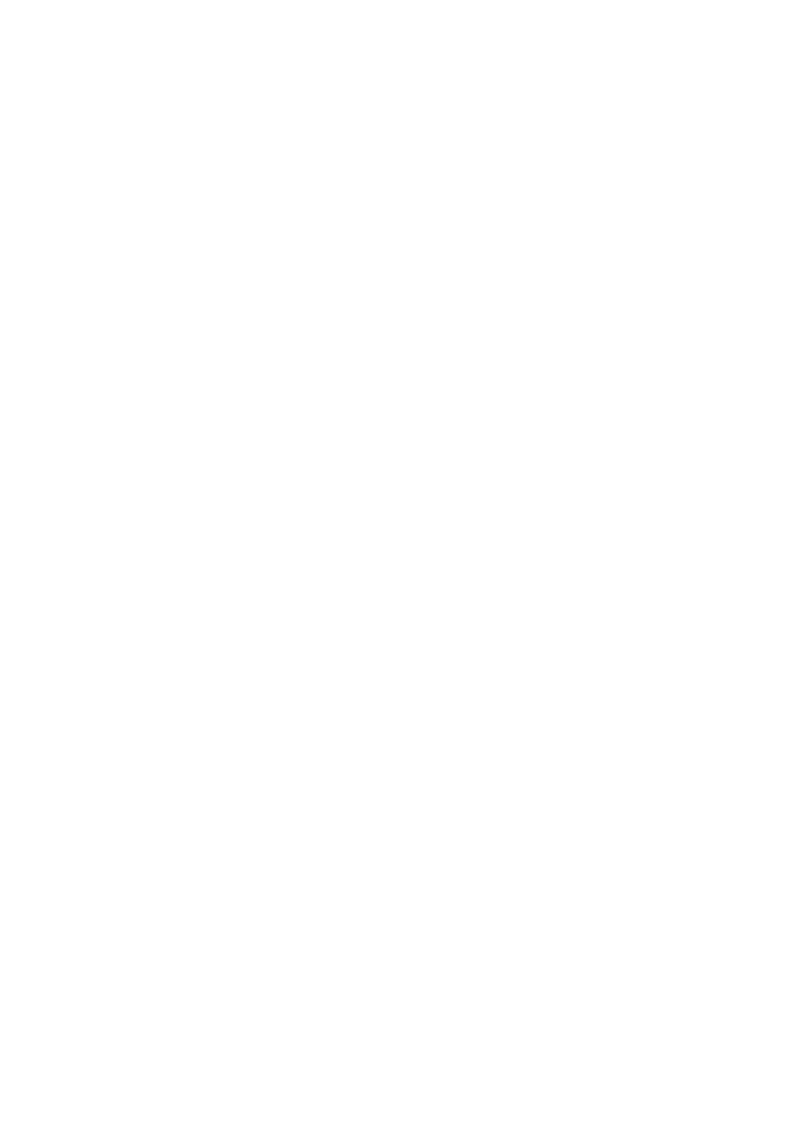
64
de resíduos, como “pegar o lixo e jogar na lixeira”, “recolher o lixo” e “não jogar lixo
nos rios”, ou no sentido de reduzir práticas que trazem consequências insustentáveis,
como “parar de poluir o ar” e “não fazer poluição sonora e de fumaça”. Em algumas
respostas, observa-se que a criança tem noção da importância do envolvimento de
mais pessoas nessas atividades e considera que “[posso ajudar dizendo] para as
pessoas não poluírem a natureza”.
As preocupações e os cuidados compreendidos pelas crianças, em qualquer
dessas formas descritas, revelam duas categorias distintas de ações: aquelas
propositivas, que sugerem ações afirmativas acerca do que se deve fazer para ajudar
a natureza (55%), e as ações não-propositivas, que se convertem em conteúdo de
cunho negativo, como aqueles comportamentos que não se devem fazer, ou de evitar
que aconteçam (45%).
Essas diferentes perspectivas de verbalização desses cuidados em relação à
natureza estariam ligados à forma como a criança recebe a informação sobre como
se relacionar com o meio ambiente. Instruções pautadas apenas no que não pode
fazer empobrecem a possibilidade de aprendizagens proativas e que promovam
cuidados mais efetivos e sistemáticos, com consequente mudança de
comportamentos em níveis coletivos, não apenas individuais.
Diante desses resultados, considera-se que a Educação Ambiental pode ser
relevante para a transformação da sociedade, especialmente no que se refere às
ações de proatividade nos cuidados ambientais desde tenra infância. Reigota (2001)
destaca que a educação ambiental visa a formação de cidadãos críticos e atuantes
na promoção de uma educação eficaz; são as ações cotidianas que podem revelar o
que o cidadão faz de concreto para que esses cuidados aconteçam ou não. Desta
forma, a criança, ao ser educada apenas para o “não fazer”, a fim de minimizar os
problemas ambientais já existentes, precisa, também, aprender ações afirmativas em
prol da natureza. A criança, neste sentido, pode se municiar de maior embasamento
ético e crítico, vivenciando novas formas de coexistência no planeta que a possibilitem
conviver de forma plena e saudável com a natureza.

65
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A relação da criança com a natureza se dá em várias dimensões que
processam aspectos cognitivos e afetivos, sendo justamente essa relação que nos
indica como a criança pensa e sente efetivamente os vínculos de conexão com a
natureza.
Esse estudo trouxe elementos para compreender como a criança constrói seu
conhecimento acerca do que ela entende como natureza, observando-se que esse
conhecimento confirma a teoria proposta pela epistemologia genética de Piaget. Desta
maneira, as crianças mostraram um entendimento majorante acerca da natureza e de
seus elementos constituintes, sendo inicialmente um amontoado de elementos que,
com o passar dos anos, se processa até que seja capaz de entender a coexistência
de elementos que se associam e formam um ecossistema.
O entendimento da natureza foi evidenciado, nesse estudo, pela maioria das
crianças, principalmente a partir de elementos que adornam os ambientes como
flores, árvores, rios e animais encantadores, sendo quase sempre um lugar distante e
pouco acessível, diferente do habitat urbano da criança; um lugar para se visitar e se
divertir, e que ainda oferece coisas boas à sobrevivência da espécie humana. A
criança não se coloca como parte integrante desse contexto natural, o que seria
condição essencial para a conexão com a natureza.
A variável idade foi um fator relevante nessa construção da concepção acerca
da natureza, uma vez que, à medida que as crianças se aproximavam da fase
piagetiana das operações formais, as elaborações foram evoluindo em complexidade,
sendo possível a criança avaliar a importância da natureza para a sobrevivência de
todas as espécies de vida, assim como a vulnerabilidade à qual a natureza se
encontra. Considerou-se, também, que os contextos familiar, cultural e social são
importantes nesse processo, pois as vivências contribuem para a proximidade e a
afetividade para com a natureza.
Na mesma dimensão dos aspectos cognitivos, a afetividade na relação com a
natureza é apontada pelos estudiosos como sendo um importante fator preditivo de
futuros comportamentos pró-ambientais. Essa afetividade é construída de forma
gradativa a partir, especialmente, das experiências vivenciadas na vida cotidiana da
criança nos espaços naturais. Entretanto, percebe-se, nessa relação, pouco

66
aprofundamento, sendo seus elementos limitados principalmente às árvores e aos
animais, simbolizados no imaginário da floresta, muitas vezes distante das vivências
reais da criança.
Ressalta-se que a cidade de Boa Vista é cercada por áreas naturais, tendo
como cenário a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, que inclui em suas
peculiaridades densas áreas de lavrados e uma infinidade de rios, igarapés e lagos,
alguns deles dentro do perímetro urbano e de fácil acesso. Estar em contato com a
natureza perpassa, então, como uma das alternativas de lazer das pessoas, sendo
ainda uma importante fonte de bem-estar físico e social, especialmente para as
crianças. E é exatamente nessa possibilidade de contato que as relações afetivas
entre criança e natureza são construídas e os benefícios decorrentes dessa relação
afetam positivamente o desenvolvimento das mesmas.
Este estudo revelou aspectos positivos acerca da afetividade das crianças em
relação à natureza, quando afirmam gostar e admirar, evidenciando vivências
concretas nessa relação. Destacam-se a admiração aos animais e às plantas, mesmo
que estejam em espaços distantes e longe do alcance da criança, como a floresta e
seus animais exóticos. Infere-se que esse contato reduz o distanciamento da natureza
e, consequentemente, aumenta a probabilidade para que, no futuro, a criança seja
proativa na proteção ao ambiente natural.
Para a criança, o cuidado com a natureza limitou-se, principalmente, em evitar
o maltrato aos animais ou descartar de forma adequada o lixo. Considerando a
limitação da idade, este cuidado, por mais singelo que seja, já mostra sinais de uma
preocupação voltada para uma relação mais amistosa com a natureza. Considerando-
se que é prevista no currículo escolar a inserção da educação ambiental, essas
crianças poderão, gradativamente, apresentarem condutas mais protetivas em
relação à natureza se tais processos educativos forem eficientes e eficazes nessa
direção.
O estudo mostrou alguns aspectos peculiares do comportamento das crianças
no contexto da cidade de Boa Vista que, embora seja uma capital com características
em comum dos demais centros urbanos brasileiros, ainda preserva um estilo de vida
mais interiorano, em que as praças e os passeios ao ar livre fazem parte da vida
cotidiana das crianças e, em algumas escolas das zonas mais distantes do centro da
cidade, nota-se o uso de bicicletas como principal meio de transporte para o
deslocamento escolar.

67
Porém, atualmente, a cidade passa por um importante movimento migratório
de refugiados venezuelanos que têm ocupado espaços públicos, como praças e
parques, causando receio na população em frequentar esses espaços, além de outras
demandas decorrentes do crescimento populacional, como violência urbana e
aumento do fluxo do trânsito. Ainda não se sabe como esses fatores podem, a longo
prazo, interferir nos hábitos da população, especialmente na vida das crianças.
A literatura aponta que o comportamento humano está na origem de inúmeros
problemas ambientais, cujas perspectivas de solução perpassam pelo mesmo
comportamento humano, ou seja, nas de políticas de cidadania, educação ambiental
e ações de conservação. As escolas são espaços privilegiados na formação de
cidadãos mais críticos e conscientes de sua função no planeta, sendo preciso
comprometimento das instituições públicas no sentido de fomentar ações educativas
sistemáticas e adequadas às crianças. Portanto, compreender as variáveis que
influenciam o comportamento ambiental é um dos caminhos apontados pelos
estudiosos para intervir nesse contexto.
A partir deste estudo, e de toda a literatura acerca da conexão da criança com
a natureza, devem-se analisar quais os caminhos possíveis para se efetivar as
mudanças necessárias para nos reconectarmos ao mundo natural. Vários autores
citados neste trabalho destacam que o princípio da natureza começa em casa,
estendendo-se à escola para a inserção de um simples jardim até construções
autossustentáveis que geram, além de conforto ambiental, economia energética, uso
de materiais inofensivos ao meio ambiente e aplicação de princípios biofílicos que
promovem saúde, além de beleza ambiental.
É imperioso dizer, ainda, que o princípio da natureza não é antiurbano, mas sim
um princípio pró-cidade, cujo objetivo é fazer com que nas cidades brotem as
sementes da natureza, preservar as plantas nativas e plantar outras tantas. Essas
mudanças serão possíveis na medida em que as pessoas se envolverem efetivamente
no planejamento das políticas públicas voltadas à qualidade de vida e ao bem-estar
das cidades. Não é necessário, entretanto, abrir mão das tecnologias para se
reconectar à natureza, pois ela, inclusive, pode ajudar na interação entre a natureza
e o ambiente urbano, sendo aplicada na busca de soluções criativas e sustentáveis.
É nesse mundo que as crianças poderão se inserir com propriedade e terem uma
relação com a natureza que as tornem adultos melhores do que temos sido.

68
Os estudos acerca da relação ou da conexão com a natureza enfatizam a
relevância do afeto como importante preditor de comportamentos proativos em
relação ao meio ambiente. Esses sentimentos surgem, principalmente, a partir de
vivências reais ainda na infância. Educar as crianças para que efetivamente cuidem
da natureza e de todo o ambiente que a circunda é uma tarefa complexa que exige a
participação ativa da família, da escola e de outros segmentos sociais, incluindo
organizações não governamentais. Embora as crianças apresentem atitudes em
relação aos cuidados com o meio ambiente, parece não haver uma prática cotidiana
que garanta, no futuro, de fato, comportamentos pró-ambientais e um exercício pleno
da cidadania. Ou seja, conhecimento não basta, é preciso amar para que o ímpeto de
agir aconteça; é preciso se sentir conectado à “tecnologia” da vida, onde a natureza é
mais um contexto de concretude desse estado existencial que proporciona meios de
uma relação que requer condutas mais apropriadas de afeto e uso.

69
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, A.; VASCONCELOS, C.; TORRES, J. Percepções do Bem-estar animal
em crianças do 1°ciclo. Investigações em Ensino de Ciências, n. 1, v. 18, p. 161176,
2013.
ANDRADE, P.M.; STADLER,R.C.L. Pontos e contrapontos nas abordagens de Piaget
e Vygotsky: Contribuições para a educação infantil. I Simpósio Nacional de Ensino
de Ciência e Tecnologia-2009.
BARBOU, A. C. The impact of playground design on the play behaviors of children
with differing levels of physical competence. Early Childhood Reseach Quartely, n.
14, v. 1, p. 75-98, 1999.
BARTON, J; HINE, R.; PRETTY, J. The health benefits of walking in greenspaces of
hight natural. Journal of Integrative Environmental Sciences, v.6, n.4, p.261-278,
2009.
BELL, J. F.; WILSON, J. S.; LU, G. C. Neighborhood greenness and 2-year changes
in body mass index of children and youth. American jornal of Preventive Medicine,
v. 6, n. 35, p. 547-553, 2008.
BOFF, L. Saber cuidar: ética humana-Compaixão pela terra. Petrópolis: Vozes, 1999.
BORTOLOZZI, A.; ARCHIMEDES, P. Crise ambiental da modernidade e a produção
do espaço-lugar do não cidadão. Boletim Paulista de Geografia, n. 76, p. 7-21, 1999.
BROFENBENNER, U. A ecologia do desenvolvimento humano: experimentos
naturais e planejados. Porto Alegre: Artmed, 1996.
CAPRA, F. A Teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos.
Trad. Eichemberg. N.R. São Paulo: Cultrix,1996.
CASTORINA, J.A. Piaget e Vygotsky: Novos contribuições para o debate. 6° ed. São
Paulo: Ártica, 2001.
CASTRO, L. R. de. O futuro da infância e outros escritos. v. 7. Rio de Janeiro: 7
Letras, 2013.
CAVALCANTE, S.; ELALI, A. G. (orgs.). Temas Básicos em Psicologia Ambiental.
Petrópolis: Vozes, 2011.
CIVILETTE, M. V. P. Modalidade do objeto e interação social de pares de 24 a 36
meses. Subsídio para uma proposta educacional na creche. Rio de Janeiro: 1992.
Tese (Doutorado em Psicologia - não publicado) - Universidade Federal do Rio de
Janeiro, 1992.

70
CHENG, J. C. H.; MONROE, M. C. Connection to nature children’s affective attitude
toward nature. Environment and Behavior, v. 44, n. 1, p. 31-49, 2012.
CLEMENTS, R. An investigation of the state of outdoor play. Contemporany issues
in early childhood, v. 3, p. 275-290, 2004.
COLLADO, S.; STAATS, H.; CORRALIZA, J. A. Experiencing nature in children's
summer camps: Affective, cognitive and behavioural consequences. Journal of
Environmental Psychology, n. 33, p. 37-44, 2013.
CORDEIRO, T. B.; HIGUCHI, M. I. G. Ecoethos da Amazônia: um estudo sobre a
construção do raciocínio moral ecológico-Segmento infantil. Relatório Técnico bolsa
do PIBIC/INPA-CNPq/MCTI-PAIC/FAPEAM. Manaus: Inpa, 2016.
CORRAL-VERDUGO, V.; ENCINAS-NARZAGARAY, L. Variables disposicionales,
situacionales y demográficas en el reciclaje de metal y papel. Medio Ambiente y
Comportamiento Humano, v. 2, n. 2, p.1-19, 2001.
CORRALIZA, J. A.; COLLADO, S.; BETHELMY, L. Nature as a moderator of stress in
urban children. Procedia-Social and. Behavioral Sciences, v. 38, p. 253-263, 2012.
CORTEZ, A. T. C. O Lugar do Homem na Natureza. Revista do Departamento de
Geografia, v. 22, p. 29-44, 2011.
CRUZ, P. A criança num ambiente urbano densamente povoado: aspectos de
restrição e uso do espaço. Manaus: 2008. 58 f. Dissertação (Mestrado em Ciências
do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia) - Programa de Pós-Graduação em
Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, Universidade Federal do
Amazonas, 2008.
CRUZ, P. G.; HIGUCHI, M. I. G. A produção do espaço urbano e a inserção da criança
nesse ambiente. In: PEREIRA, H. S.; REBÊLO, G. H.; SCHOR, T.; NODA, H. (orgs.).
Pesquisa Interdisciplinar em ciências do ambiente. Manaus: EDUA, 2009.
COZBY, P.C. Métodos de pesquisa em ciências do comportamento. São Paulo:
Atlas, 2003.
DAVIS, B.; REA, T.; WAITE, S. The special nature of the outdoors: Its contribution to
the education of children aged 3-11. Australian Journal of Outdoor Education, v.
10, n. 2, p. 3-12, 2006.
DE OLIVEIRA, C. M. A. S.; NIGRIELLO, P. O. A. O ambiente urbano e a formação
da criança. São Paulo: Aleph, 2004.
DELVAL, J. Introdução à prática do método clínico: descobrindo o pensamento das
crianças. Trad. Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2002.
DERDYK, E. Formas de pensar o desenho: desenvolvimento do grafismo infantil.
São Paulo: Scipione, 1989.

71
DESSEN, M. A.; COSTA, J. R. L. (orgs.). A ciência do desenvolvimento humano.
Tendências atuais e perspectivas futuras. Porto Alegre: Armed, 2005.
DESSEN, M. A.; MACIEL, D. A. A ciência do desenvolvimento humano: desafios
para a psicologia e a educação. Curitiba: Juruá, 2014.
DRIESSNACK, M. Children and nature-deficit disorder. Journal for Specialists in
Pediatric Nursing, v. 14, n.1, p. 73-75, jan. 2009.
ELALI, G. A. O ambiente da escola: uma discussão sobre a relação escola–natureza
em educação infantil. Estudos de Psicologia, v. 8, n. 2, p. 309-319, 2003.
FISHER, G. Psicologia Social do Ambiente. Portugal: Instituto Piaget, 1997.
FJÙRTOFT, I.; SAGEIE, J. The natural environment as a playground for children
landscape description and analyses of a natural playscape. Landscape and Urban
Planning, v. 48, n. 1-2, p. 83-97, 2000.
FOLHA DE BOA VISTA. Venezuelanos dormem em praça. Disponível em:
www.folhabv.com/notícias/venezuelanos dormem em praça. Acesso em: 21 fev. 2018.
FROST, J. L. Play environment for young children in the USA. Children´s
Environments Quarterly, v. 6, n. 4, p. 17-24, 1989.
G1.GLOBO. Por dia 800 Venezuelanos entram no Brasil pela cidade de
Pacaraima
(RR).
Disponível
em:
g1.globo.com./Pordia800Venezuelanosdormemempraça. Acesso em: 21 fev. 2018.
GENG, L. et al. Connections with nature and environmental behaviors. PloS one, v.
10, n. 5, p. 1-9, 2015.
GESELL, A. Infancy and human growth. 2. ed. v. 1. Michigan: The Macmillan
Company, 1928.
GIBSON, J. J. The Ecological Approach to Visual Perception. Hildale: Erlbaum,
1986.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
GODOI, C. K.; MATTOS, P. Entrevista qualitativa: instrumento de pesquisa e evento
dialógico. In: GODOI, C. K.; MELO, R. B. de; SILVA, A. B. (orgs.). Pesquisa
qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas, estratégias e métodos. São
Paulo: Saraiva, 2006. p. 301-323.
GOLDBERG, L. G.; YUNES, M. A. M.; FREITAS, J. de. O desenho infantil na ótica da
ecologia do desenvolvimento humano. Psicologia em estudo, v. 10, n. 1, p. 97-106,
2005.
GONÇALVES, C. W. P. Os (des)caminhos do meio ambiente. São Paulo: Contexto,
1989.

72
GUNDERSEN, V. et al. Children and nearby nature: a nationwide parental survey from
Norway. Urban forestry &Urban greening, v. 17, n. 1, p. 116-125, 2016.
GÜNTHER, H. Mobilidade e affordance como cerne dos estudos pessoa-ambiente.
Estudos de Psicologia, v. 8, n. 2, p. 273-280, 2003.
HELLER, A. Teoria de los Sentimientos. 3. ed. Madrid: Editorial Fontamara, 1979.
HERRINGTON, S.; STUDTMANN, K. Landscape intervention: new directions for the
desing of children outdoor play environments. Landscape and Urban Planning, v.
42, n. 2-4, p. 191-205, dec. 1998.
HIGUCHI, M. I. G. House, street, bairro and mata: ideas of place and space in an
urban location in Brazil. Inglaterra: 1999. 372 p. Tese (Doutorado em Antropologia
Social) - Brunel University, 1999.
HIGUCHI, M. I. G. Crianças e meio ambiente: dimensões de um mesmo mundo. In:
NOAL, F. O.; BARCELOS, V. H. L. (orgs.). Educação ambiental e cidadania. Santa
Cruz do Sul: EDUNISC, 2003. p. 201-230.
HIGUCHI, M. I. G.; AZEVEDO, G. de. Educação como processo na construção da
cidadania ambiental. Revista Brasileira de Educação Ambiental, Brasília, v. 1, n. 0,
p. 63-70, 2004.
HIGUCHI, M. I. G.; SILVA, K. Entre a floresta e a cidade: percepção do espaço social
de moradia em adolescentes. Psicologia para América Latina, n. 25, p. 5-23, 2013.
HIGUCHI, M. I. G.; AZEVEDO, G. de; FORSBERG, S. S. A floresta e sociedade: ideias
e práticas históricas. In: HIGUCHI, M. I. G.; HIGUCHI, N. (orgs.). A floresta
amazônica e suas múltiplas dimensões: uma proposta de educação ambiental.
Manaus: Ed. dos Autores, p. 311-329, 2012.
HIGUCHI, M. I. G.; ROSA, D. C.; FORSBERG, S. S. The amazon forest in the
understanding of children and adolescents of Northern and Central-Western Brazil.
Ecopsychology, v. 5, n. 3, p. 188-196, 2013.
HOFFERTH, S. L.; SANDBERG, J. F. Changes in American children’s time, 1981–
1997. Advances in Life Course Research, v. 6, n. 1, p. 193-229, 2001.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Panorama das cidades, 2017.
Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rr/boa-vista/panorama. Acesso em:
23 maio 2018.
INSTITUTO SOPHIA MIND. Crianças passam 3,7 horas por dia assistindo
televisão.
2011.
Disponível
em:
http://www.sophiamind.com/pesquisas/criancaspassam-37-horas-por-dia-assistindo-
televisao. Acesso em: 21 nov. 2016.
KAHN, P. H.; KELLET, S. R. Children and Nature. Cambridge: MIT Press, 2002.

73
KOHLBERG, L. Essays on moral development. v. 1. São Francisco: Harper &
Row,1984.
LENOBLE, R. História da ideia de natureza. Lisboa: Edições 70, 1969.
LIU, G. C.; WILSON, J. S.; QI, Y. J. Green neighborhoods, food retail and childhood
overweight: differences by population density. American Journal of Health
Promotion, v. 21, n. 4s, p. 317-325, 2007.
LOPES, J. J. M.; VASCONCELLOS, T. de. Geografia da infância: territorialidades
infantis. Currículo sem Fronteiras, v. 6, n. 1, p. 103-127, 2006.
LOURENÇO, O. Psicologia do desenvolvimento moral: teoria, dados e
implicações. Coimbra: Almeida, 2002.
LOUV, R. O princípio da natureza: reconectando-se ao meio ambiente na era digital.
1. ed. São Paulo: Cultrix, 2014.
LOUV, R. A última criança na floresta: resgatando nossas crianças do transtorno do
déficit de natureza. 1. ed. São Paulo: Aquariana, 2016.
LUZ, G. M.; KUHNEM, A. O uso dos espaços urbanos pelas crianças: explorando o
comportamento do brincar em praças públicas. Psicol. Reflex. Crít., v. 26, n. 3, p.
552-560, 2013.
MACHADO, Y. S. et al. Brincadeiras infantis e natureza: investigação da interação
criança-natureza em parques verdes urbanos. Temas em Psicologia, v. 24, n. 2, p.
655-667, 2016.
MAGNUSSON, D.; CAIRNS, R. B. Developmental science: toward a unified
framework. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
MARIANO, Z. F. et al. A relação homem-natureza e os discursos ambientais. Revista
do Departamento de Geografia, v. 22, p. 158-170, 2011.
MAYER, F. S.; FRANTZ, C. M. The connectedness to nature scale: A measure of
individuals’ feeling in community with nature. Journal of Environmental Psychology,
v. 24, n. 4, p. 503-515, dez. 2004.
MCGRAW, M. B. Growth: a study of Johnny and Jimmy. New York: Appleton-Century
Company, 1935.
MELO, L. de L.; VALLE, E. R. M. do. O brinquedo e o brincar no desenvolvimento
infantil. Psicologia Argumento, v. 23, n. 40, p. 43-48, 2005.
MORIN, E. O paradigma perdido: a natureza humana. Portugal: Europa-América,
2000.
ODUM, E. P. Fundamentos da ecologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
1971.

74
ONU. Mais de 52mil venezuelanos já pediram refúgio em outros países: Brasil é
o 2° com mais solicitações. Disponível em: htpps//nacoesunidas.org. Acesso em: 20
jan. 2018.
PAIVA, N. M. M.; COSTA, J de S. A influência da tecnologia na infância:
desenvolvimento ou ameaça? 2015. Disponível em: www.psicologia.pt. Acesso em:
02 out. 2017.
PAPALIA, D. E.; OLDS, S. W.; FELDMAN, R. D. O Mundo da criança: da infância à
adolescência. 11. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2009.
PATO, C. M. L.; CAMPOS, C. B. Comportamento ecológico. In: CAVALCANTE, S.;
ELALI, G. A. Temas básicos em psicologia ambiental. Petrópolis: Vozes, p. 122
143, 2011.
PERES, P. M. S. Percepção da interação criança-natureza por cuidadores no
Parque Municipal da Lagoa do Peri. Florianópolis: 2013. Dissertação (Mestrado em
Psicologia) - Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Centro de Filosofia e
Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, 2013.
PERES, P. M. S. Mediação dos Pais na Interação Criança-Natureza. Florianópolis:
2017. Tese (Doutorado em Psicologia) - Programa de Pós-Graduação em Psicologia,
Universidade Federal de Santa Catarina, 2017.
PERRIM, J. L.; BENASSI, V. A. The connectedness to nature scale: a measure of
emotional connection to nature? Journal of Environmental Psychology, v. 29, n. 4,
p. 434-440, 2009.
PIAGET, J. El método clínico. [Introducción a La representación del mundo em el
niño]. Trad. cast. revis. J. Delval (comp.). v. 1. Madrid: Alianza, 1926.
PIAGET, J. O raciocínio da criança. Rio de Janeiro: Record, 1967.
PIAGET, J. O nascimento da inteligência na criança. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.
PIAGET, J. A Construção do real na criança. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.
PIAJET, J. O juízo moral na criança. São Paulo: Summus, 1994.
PINTO, M. A. Infância como construção social. In: PINTO, M.; JACINTO, M. As
crianças: contextos e identidades. Braga-Portugal: Universidade do Minho,
p.3373,1997.
REIGOTA, M. O que é educação ambiental. São Paulo: Brasiliense, 2001.
RIBEIRO, R. C. A construção de um município saudável: descentralização e
intersetorialidade- Experiência de Fortaleza. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 6, n.
2, p. 47-54, 1997.

75
RIBEIRO, M. N. L.; HIGUCHI, M. I. G. A floresta como espaço de lazer e turismo. In:
HIGUCHI, M. I. G.; HIGUCHI, N. (eds.). A floresta amazônica e suas múltiplas
dimensões: uma proposta de educação ambiental. Manaus: Ed. do Autor, p. 331-357,
2012.
RISSOTTO, A.; TONUCCI, F. Freedom of movement and environmental knowledge in
elementary school children. Journal of Environmental Psychology, v. 22, n. 1, p.
65-77, 2002.
ROLIM, A. A. M.; GUERRA, S. S. F.; TASSIGNY, M. M. Uma leitura de Vygotsky sobre
o brincar na aprendizagem e no desenvolvimento infantil. Revista Humanidades, v.
23, n. 2, p. 176-180, 2008.
ROSEN, L. D.; CHEEVER, N. A.; CARRIER, L. M. iDisorder: Understanding our
obsession with technology and over - coming its hold on us. New York: Palgrave
Macmillan, 2012.
ROSSETI, C. B.; SOUSA, M. T. C. C. Preferência lúdica de uma amostra de crianças
e adolescentes da cidade de Vitória. Psicologia: teoria e prática, São Paulo, v. 7, n.
2, p. 87-114, dez. 2005.
SAGER, F. O brincar e os conflitos entre as crianças. Porto Alegre: 1996.
Dissertação (Mestrado em Psicologia do Desenvolvimento - não publicado) - Curso
de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, 1996.
SALOMONI, M. S. Moradores do Universo: afetos e significados da relação
exclusão/inclusão social em programas de melhoramento urbano. Fortaleza: 2009.
Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Programa de Pós-Graduação em
Ciências Humanas, Universidade Federal de Fortaleza, 2009.
SAMEROFF, A. J.; SUOMI, S. J. Primates and persons: a comparative
developmental understanding of social organization. New York: Cambridge University
Press, 1996. B.B.
SANTANA, S.M.; ROAZZI, A.; DIAS, M. das Paradigmas do desenvolvimento
cognitivo: Uma breve retrospectiva. Estudos de psicologia. Vol.11, .n.1, p.71-78,
2006.
SANTOS, E. S. A ética de adolescentes de Manaus diante de dilemas
socioambientais na Amazônia. Manaus: 2016. 115 f. Dissertação (Mestrado em
Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia) - Programa de PósGraduação
em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, Universidade Federal do
Amazonas, 2016.
SAWAIA, B. B. O sofrimento ético-político como categoria de análise da dialética
exclusão/inclusão. In: SAWAIA, B. B. (org.). As artimanhas da exclusão - análise
psicossocial e ética da desigualdade. 7. Rio de Janeiro: Vozes, 2007.

76
SCHULTZ, P. W. Inclusion with nature: understanding the psychology of human-nature
interactions. In: SCHMUCK, P.; SCHULTZ, P. W. (eds.). The Psychology of
Sustainable Development. New York: Kluwer, 2002. p. 61-78.
SILVA, J. F. D. Contributo dos espaços verdes para o bem-estar das populações
- estudo de caso em Vila Real. Coimbra: 2014. Dissertação (Mestrado em Geografia)
- Departamento de Geografia, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra, 2014.
SOUSA, A. L. et al. Parque Verde Urbano como espaço de desenvolvimento
psicossocial e sensibilização socioambiental. PSICO (PUCRS Online), Porto Alegre,
v. 46, n. 3, p. 301-310, jul./set. 2015.
SPINOZA, B. Ética. Trad. Tomaz Tadeu. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.
STEFANI, G.; ANDRÉS, L.; OANES E. Transformaciones lúdicas: um estudio
preliminar sobre tipos de juegos y espacios lúdicos. Interdisciplinaria, v. 31, n. 1, p.
39-55, jun. 2014.
STERN, P.C. Contributions of Psychology to Limiting Climate Change. American
Psychologist. v.66, n.4, p.303-314, 2011.
SUKHODOLSKY, D. G. et al. Parent-rated anxiety symptoms in children with pervasive
developmental disorders: frequency and association with core autism symptoms and
cognitive functioning. Journal of Abnormal Child Psychology, v. 36, n. 1, p. 117128,
2008.
TANG, W. Y.; HO, S. M. Epigenetic reprogramming and imprinting in origins of disease.
Rev. Endocr. Mesa. Disord., v. 8, n. 2, p. 82-173, 2007.
TEIXEIRA, G. K. M. D. Ambiente degradado e infância vulnerável: apropriação, uso
e significação das crianças sobre a Lagoa da Francesa em Parintins/AM. Manaus:
2015. 144 f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na
Amazônia) - Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e
Sustentabilidade na Amazônia, Universidade Federal do Amazonas, 2015.
THOMAS, K. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação as
plantas e aos animais (1500-1800). Trad. João Roberto Martins Filho. São Paulo:
Companhia das Letras, 2010.
TUAN, Y. F. Paisagens do medo. São Paulo: UNESP, 2006.
TUAN, Y. F. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. Londrina: Eduel, 2013.
ULRICH, R. S. Biophilia, biophobia and natural landscapes. The Biophilia
Hypothesis, v. 7, p. 73-137, jan. 1993.
UNICEF. Situação mundial da infância. 2012. Disponível em:
www.unicef.org./sowc2012. Acesso em: 05 fev. 2018.

77
VIOTTO FILHO, I. A. T.; PONCE, R. de F.; ALMEIDA, S. H. V. de. As compreensões
do humano para Skinner, Piaget, Vygotsky e Wallon: pequena introdução às teorias e
suas implicações na escola. Psicologia da Educação, n. 29, p. 27-55, dez. 2009.
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. Trad. José Cipolla Neto, Luis Silveira
Menna Barreto e Solange Castro Afeche. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
VYGOTSKY, L. S. Pensamento e Linguagem. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1998.
WELLS, N. M.; EVANS, G. W. Nearby nature a buffer of life stress among rural
children. Environment and Behavior, v. 35, n. 3, p. 311-330, 2003.
WHO. Declaração de Sundsvall. In: BRASIL/FIOCRUZ. Promoção da Saúde: Cartas
de Ottawa, Adelaide, Sundsvall e Santa Fé de Bogotá. Brasília: Ministério da
Saúde/IEC, 1991. p. 31-40.

78
APÊNDICE 1
MINUTA CARTA DE ANUÊNCIA GESTOR DA ESCOLA
Gestor(a) da ESCOLA XXX
NESTA
Boa Vista, 07/02/2017.
Senhor(a) Gestor(a),
Ao cumprimentar o(a) senhor(a), venho respeitosamente solicitar a V.Sa.,
autorização para desenvolver a pesquisa com crianças de 7ª 11 anos de idade (2º ao
6º. Ano), na pesquisa “CONEXÃO COM A NATUREZA: afinidade de jovens pais/mães
e filhos/as para com a natureza”, sob minha coordenação, que tem como objetivo
estudar o comportamento de afinidade emocional com a natureza em jovens
pais/mães residentes na região metropolitana de Manaus-AM e Boa Vista RR, e suas
implicações nas experiências proporcionadas aos filhos/as.
Essa pesquisa faz parte de um projeto submetido ao CNPq e tem vários
subprojetos adicionados que são executados por estudantes de doutorado, mestrado
e iniciação científica, incluindo pais/mães e filhos/as. Este estudo com crianças será
realizado pela pesquisadora Sigrid Gabriela Duarte Brito, mestranda do programa
de Pós-graduação em Psicologia da UFAM. A pesquisa tem como título “conexão
emocional da criança com a natureza e suas implicações para o desenvolvimento
psicossocial”. Sua autorização nos é muito importante, uma vez que contribuirá para
compreendermos os tipos de ligação que os pais estabelecem com o ambiente natural
e como isso se manifesta na educação de seus filhos.
A participação de sua escola inclui uma mostra de 18 crianças (7 a 11 anos de
idade), as quais farão uma atividade de desenho (que será feito coletivamente) e após
essa atividade uma conversa (individual) quando a pesquisadora fará algumas
perguntas sobre o assunto e o desenho feito. Essa atividade leva em torno de 20
minutos. As respostas dadas serão áudio-gravada, para melhor fidelidade das
respostas dadas e necessita de seu consentimento. O dia, horário e local serão
acordados previamente com a escola a fim de não perturbar as atividades escolares.
Os procedimentos da pesquisa, incluem previamente vossa anuência e
posteriormente a anuências dos pais com o consentimento da criança.
Lembro que a participação da criança na pesquisa é voluntária, por isso não
terá nenhuma despesa e também não receberá pagamento em troca. As questões
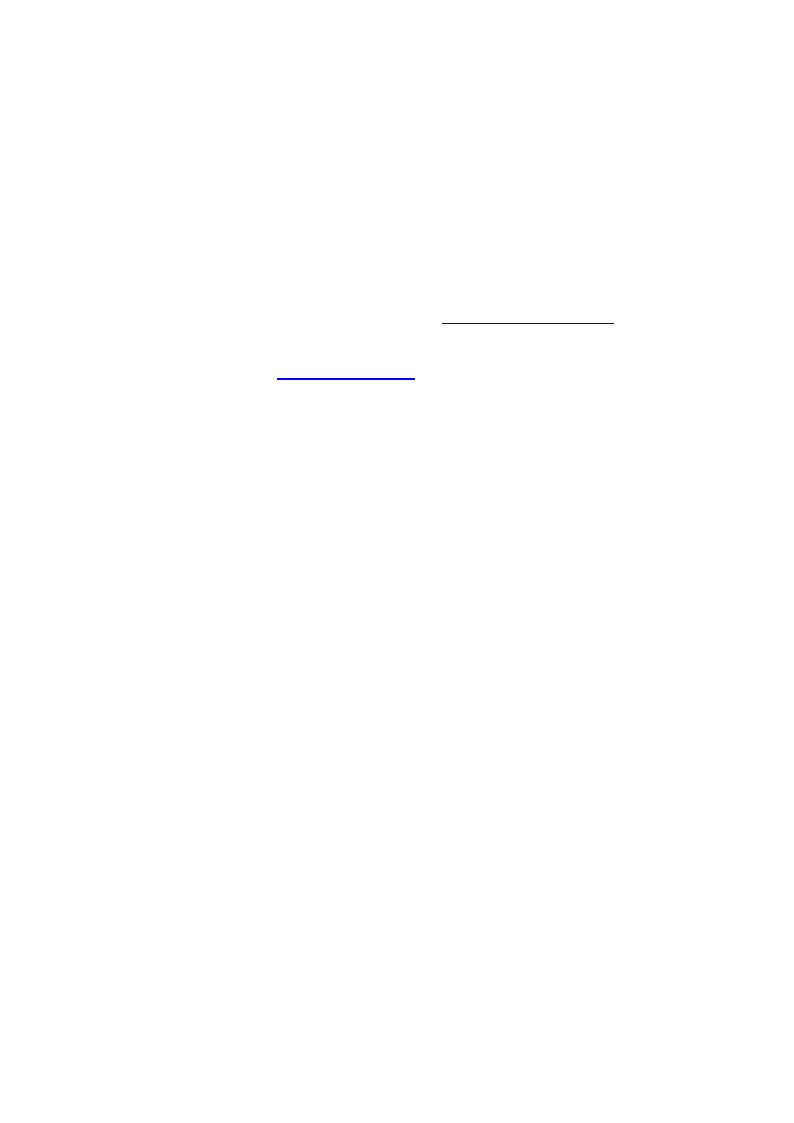
79
não apresentam teor de ameaça nem constrangimento de nenhuma ordem. Como
toda pesquisa científica, o nome da escola e alunos não será divulgado de modo a
garantir o anonimato. As informações adquiridas serão utilizadas para estudos
acadêmicos e contribuirão para propostas de políticas públicas de promoção a
qualidade de vida das famílias e crianças.
Se o(a) senhor(a) tiver qualquer dúvida ou quiser saber qualquer informação
mais detalhada entre em contato com as pesquisadoras Sigrid Gabriela Duarte Brito
pelo telefone (95) 98111.6215 ou pelo e-mail sigridpsi@yahoo.com.br e Maria Inês
Gasparetto Higuchi no endereço: Av. André Araújo, Manaus/AM, pelo telefone 3643
3145 ou pelo e-mail mines@inpa.gov.br ou ainda com o Comitê de Ética em
Pesquisa – CEP/INPA, na Av. André Araújo, 2936, Manaus/AM, telefone 3643 -3287,
que rege o desenvolvimento dos estudos no âmbito do INPA.
Atenciosamente,
Maria Inês Gasparetto Higuchi, Profa. Dra.
Pesquisadora Titular do INPA – Coordenadora Geral do Projeto e Orientadora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO
Eu, ________________________________________ entendi os objetivos da
pesquisa “Conexão emocional da criança com a natureza e suas implicações
para o desenvolvimento psicossocial” e concordo com a realização nesta escola.
Afirmo que me foi entregue uma cópia desse documento.
Data ___/___/___
Assinatura do/a Gestor(a)

80
APÊNDICE 2
MINUTA TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Aos Pais/Mães de filhos/as
Prezado(a) mãe/pai:
Ao cumprimentar o(a) senhor(a), convido seu/sua filho/a menor para
participar da pesquisa “CONEXÃO COM A NATUREZA: afinidade de jovens
pais/mães e filhos/as para com a natureza”, sob minha coordenação, que tem como
objetivo estudar o comportamento de afinidade emocional com a natureza em jovens
pais/mães residentes na região metropolitana de Manaus-AM e suas implicações nas
experiências proporcionadas aos filhos/as.
Essa pesquisa faz parte de um projeto submetido ao CNPq e tem vários
subprojetos adicionados que são executados por estudantes de doutorado, mestrado
e iniciação científica, incluindo pais/mães e filhos/as. Este estudo será realizado pela
pesquisadora Sigrid Gabriela Duarte Brito, mestranda do programa de pós-
graduação em psicologia da UFAM. A pesquisa tem como título “conexão emocional
da criança com a natureza e suas implicações para o desenvolvimento psicossocial”,
sob orientação da coordenadora do projeto maior Maria Inês Gasparetto Higuchi.
Sua participação nos é muito importante, uma vez que contribuirá para
compreendermos os tipos de ligação que os pais estabelecem com o ambiente natural
e como isso se manifesta na educação de seus filhos.
Solicitamos que responda as perguntas em anexo, para melhor conhecermos
seu/sua filho/a. A participação de seu/sua filho/a nessa pesquisa será uma atividade
de desenho e após essa atividade uma conversa quando o(a) pesquisadora lhe fará
algumas perguntas sobre o desenho feito. Essa atividade leva em torno de 20
minutos. As respostas dadas serão áudio-gravada, para melhor fidelidade das
respostas dadas e necessita de seu consentimento. O dia, horário e local serão
acordados previamente com a criança e anuências dos pais/mães.
Lembro que a participação da criança na pesquisa é voluntária, por isso não
terá nenhuma despesa e também não receberá pagamento em troca. As questões
não apresentam teor de ameaça nem constrangimento de nenhuma ordem. No
entanto, mesmo após a sua autorização, você, ou a criança tem o direito e a liberdade
de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa independente do motivo e
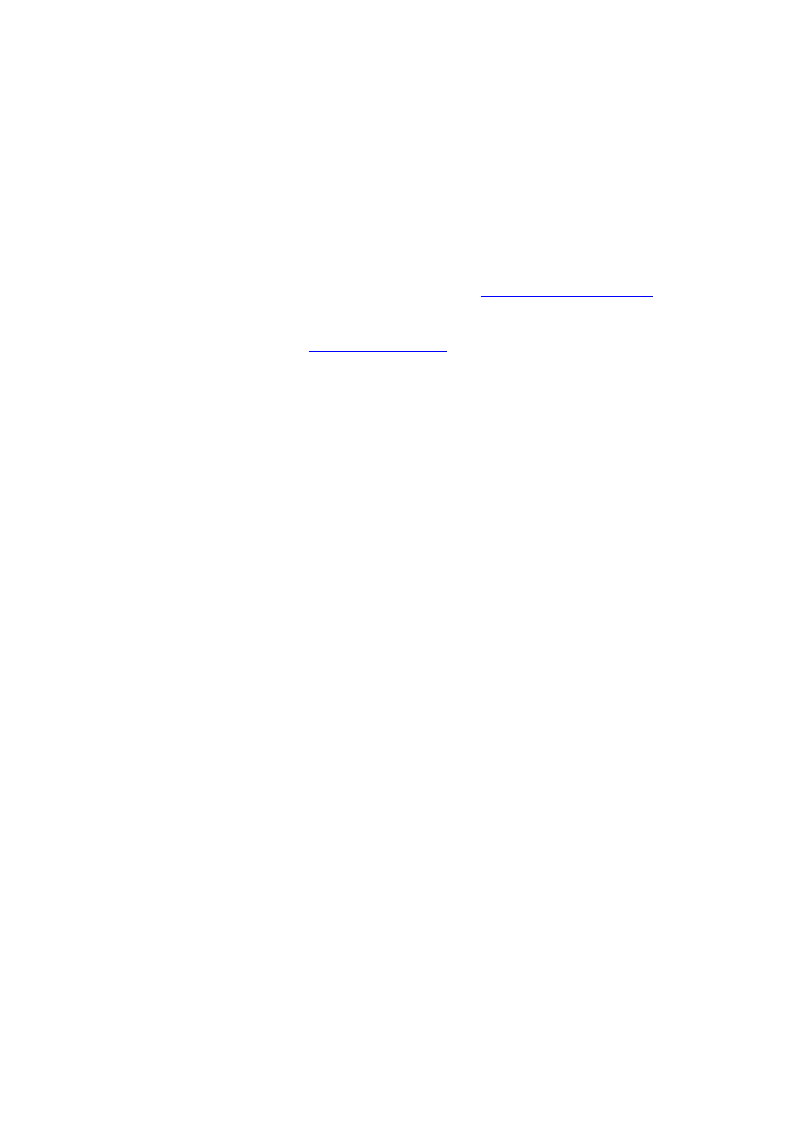
81
sem qualquer prejuízo a sua pessoa. Como toda pesquisa científica, o nome do/a
seu/sua filho/a não será divulgado de modo a garantir o anonimato. As informações
adquiridas serão utilizadas para estudos acadêmicos e contribuirão para propostas de
políticas públicas de promoção a qualidade de vida das famílias e crianças.
Se você tiver qualquer dúvida ou quiser saber qualquer informação mais
detalhada pode entrar em contato com as pesquisadoras Sigrid Gabriela Duarte
Brito pelo telefone (95) 98111.6215 ou pelo e-mail sigridpsi@yahoo.com.br e Maria
Inês Gasparetto Higuchi no endereço: Av. André Araújo, Manaus/AM, pelo telefone
3643 3145 ou pelo e-mail mines@inpa.gov.br ou poderá entrar em contato com o
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/INPA, na Av. André Araújo, 2936, Manaus/AM,
telefone 3643 -3287, que rege o desenvolvimento dos estudos no âmbito do INPA.
Por gentileza, assine o consentimento, se estiver de acordo, e devolva uma via
para darmos continuidade à pesquisa.
Maria Inês Gasparetto Higuchi, Profa. Dra.
Pesquisadora Titular do INPA – Coordenadora Geral do Projeto e Orientadora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO
Eu, ________________________________________ entendi os objetivos da
pesquisa “Conexão emocional da criança com a natureza e suas implicações
para o desenvolvimento psicossocial.” e concordo com a participação de
meu/minha filha/a, se ele/a assim desejar. Afirmo que me foi entregue uma cópia
desse documento.
Data ___/___/___
Assinatura do/a Pai/Mãe responsável pela criança

82
APÊNDICE 3
Protocolo da entrevista com os pais das crianças
Caros pais ou responsáveis, por favor preencher as seguintes informações:
1- Nome da criança:
2- Data de Nascimento:
3- Religião dos pais:
4- Profissão (ocupação) dos pais :
5- Residência: Casa ( ) Apartamento ( ) Outro ( )
6- Tipo frequente de lazer familiar e da criança:
7- Preferência de brincadeiras da criança:
8-Características da residência:
Tem Quintal: sim ( ) não ( )
Tem jardim: sim ( ) não ( )
Tem árvore (s) sim ( ) não ( )
Tem grama: sim ( ) não ( )
Tem plantas: sim ( ) não ( )
Tem animais de estimação: sim ( )-Qual?__________________ não ( )
9. Atividades cotidianas da criança:
Manhã:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Tarde:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Noite:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Fim de semana:_______________________________________________________
____________________________________________________________________
Obrigada!
Sigrid Gabriela Duarte Brito
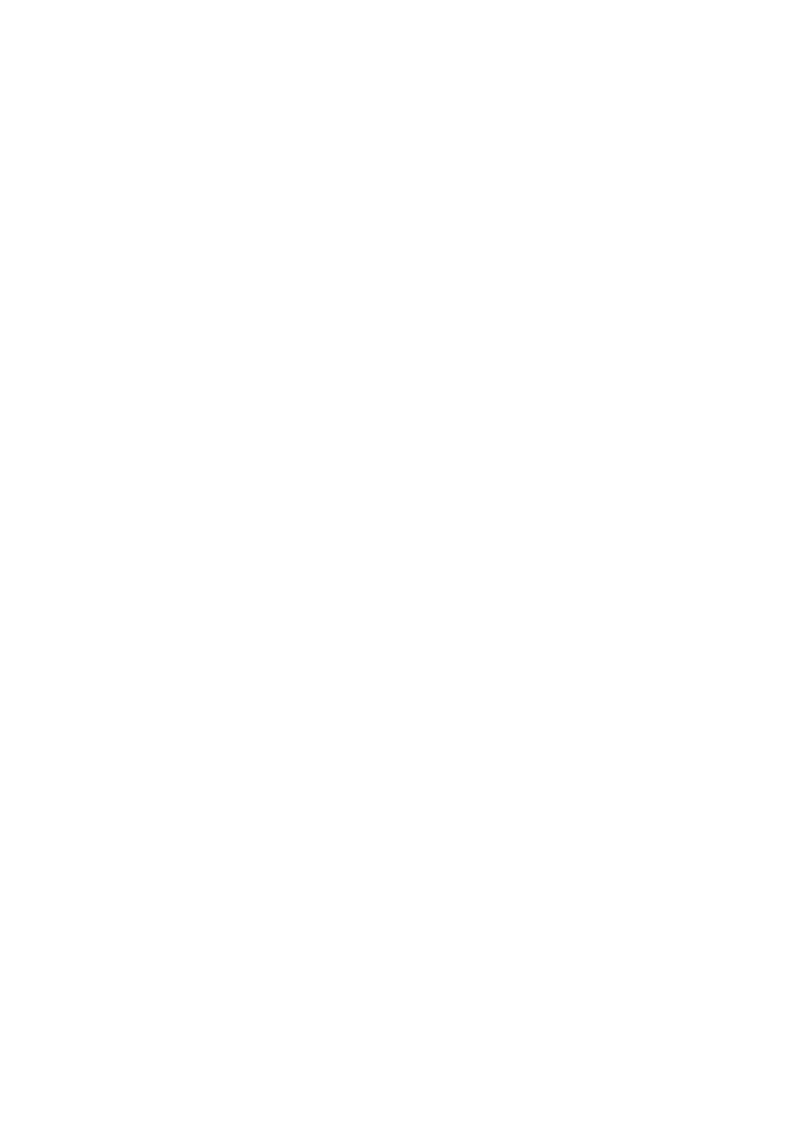
83
APÊNDICE 4
Roteiro de entrevista do desenho infantil
A. Instruções: “desenhe tudo o que você sabe sobre a natureza e o que você
costuma fazer nela”.
B. Entrevista:
Explorar primeiro de forma geral por ex.: Fale pra mim o que você desenhou.
e depois especificamente, por ex.: Isso aqui, o que é?.
Esse desenho te lembra algum lugar? Qual?
Fala pra mim que tipo coisas você pode fazer quando está na natureza?
Tem alguma coisa aqui que não seja natureza? Se alguém que morasse fora do
planeta terra perguntasse pra você dizer o que é natureza, como você iria explicar pro
extraterrestre?
O que você mais gosta na natureza? Para você essas coisas são bonitas? O que
mais de bonito tem na natureza?
O que você não acha legal na natureza? Essas coisas são feias? O que mais de feio
tem na natureza?
Você acha que tem horas que a natureza é mais boa ou mais ruim?
Você acha que as pessoas cuidam bem da natureza?
O que você sente quando vê alguém maltratando a natureza? Dê um exemplo dessas
coisas que maltratam a natureza?
Como você acha que a natureza cuida das pessoas?
As pessoas deveriam gostar ou não da natureza?
O que você pode fazer para ajudar a natureza?
Se a natureza deixasse de existir amanhã, o que aconteceria?
Você gostaria de falar mais alguma coisa do seu desenho ou sobre o que
estamos conversando?

Continuação do Parecer: 1.900.249
INSTITUTO NACIONAL DE
PESQUISAS DA AMAZÔNIA -
INPA/MCT
ANEXO A – Parecer de aprovação do CEP
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Título da Pesquisa: CONEXÃO COM A NATUREZA
Pesquisador: MARIA INÊS GASPARETTO HIGUCHI
Área Temática:
Versão: 1
CAAE: 63687616.9.0000.0006
Instituição Proponente: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA/MCT/PR
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 1.900.249
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
O projeto e a documentação estão aptas para serem aprovadas.
Considerações Finais a critério do CEP:
Acatamos na íntegra o parecer do relator. Incentivamos a interação com a plataforma Brasil para
dirimir dúvidas. A aprovação terá validade durante a vigência do projeto, conforme cronograma
apresentado. Ao final da execução do projeto, o pesquisador DEVERÁ encaminhar, via Plataforma
Brasil, o Relatório final da pesquisa.
Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
MANAUS, 27 de Janeiro de 2017.
Assinado por: Cristóvão Costa
(Coordenador)
