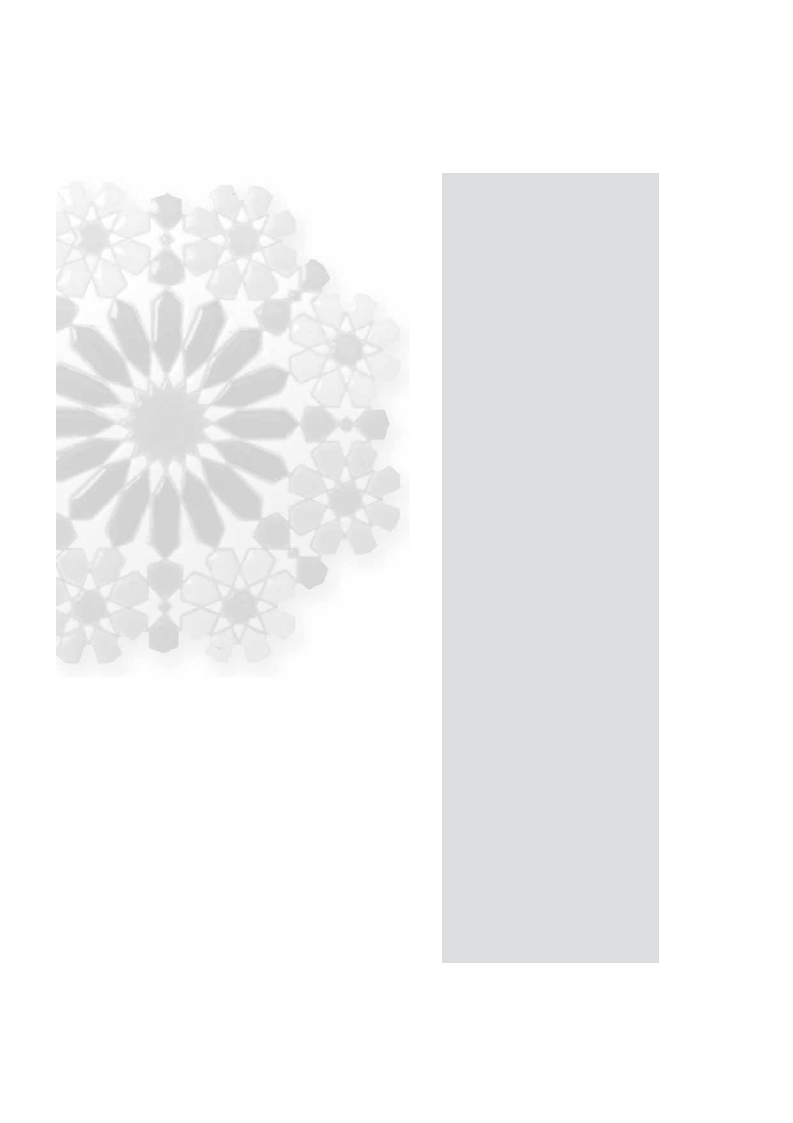
Antinomias pós-modernas sobre a natureza
Antinomias pós-modernas
sobre a natureza
Postmodern antinomies
on nature
José Marcos Froehlich
Professor do Departamento e do Programa de Pós-graduação em
Extensão Rural/ Universidade Federal de Santa Maria.
Universidade Federal de Santa Maria – DEAER-CCR – Campus Camobi
97105-900 – Santa Maria – RS – Brasil
jmarcos.froehlich@pq.cnpq.br
Celso Reni Braida
Professor do Departamento e do Programa de
Pós-graduação em Filosofia/Universidade Federal de Santa Catarina.
Universidade Federal de Santa Catarina – Departamento
de Filosofia – CFH – Campus Universitário
88010-970 – Florianópolis - SC – Brasil
braida@cfh.ufsc.br
Recebido para publicação em janeiro de 2008.
Aprovado para publicação em março de 2010.
v.17, n.3, jul.-set. 2010, p.627-641
FROEHLICH, José Marcos; BRAIDA,
Celso Reni. Antinomias pós-modernas
sobre a natureza. História, Ciências,
Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro,
v.17, n.3, jul.-set. 2010, p.627-641.
Resumo
Analisa o vínculo intrínseco entre a
elaboração moderna de ciência e a
noção de natureza a ela subjacente.
Discute as características das posições
pós-modernas e inventaria as ideias
recorrentes de natureza nas diferentes
épocas históricas. Problematiza
indicadores de incongruências nas
imagens pós-modernas da natureza. Por
meio da análise e história conceitual,
explicita pontos de tensão nas
proposições teóricas pós-modernas em
relação às diferentes noções de
natureza. Sugere que a equivocidade da
noção de natureza produz múltiplos
paradoxos e antinomias no
pensamento contemporâneo, muitos
dos quais tiveram emergência no
âmbito da própria modernidade e
tornaram-se ainda mais explícitos e
intensos na conjuntura tecnocientífica
do mundo atual.
Palavras-chave: natureza; ciência;
pós-modernidade.
Abstract
This article analyzes the intrinsic link
between the modern view of science and its
underlying idea of nature. After discussing
the characteristics of the postmodern
positions and summarizing the various
conceptions of nature prevalent at different
times throughout history, we problematize
indicators of incongruity in postmodern
images of nature. Our objective, through
analysis and conceptual history, is to
delineate the points of tensions concerning
different notions of nature within
postmodern theories. We then suggest that
the equivocality of the concept of nature
produces multiple paradoxes and
antinomies in contemporary thought,
many of which emerged within the scope of
modernity itself, becoming even more
explicit and intense in the current technical
and scientific climate.
Keywords: nature; science; postmodernism.
627
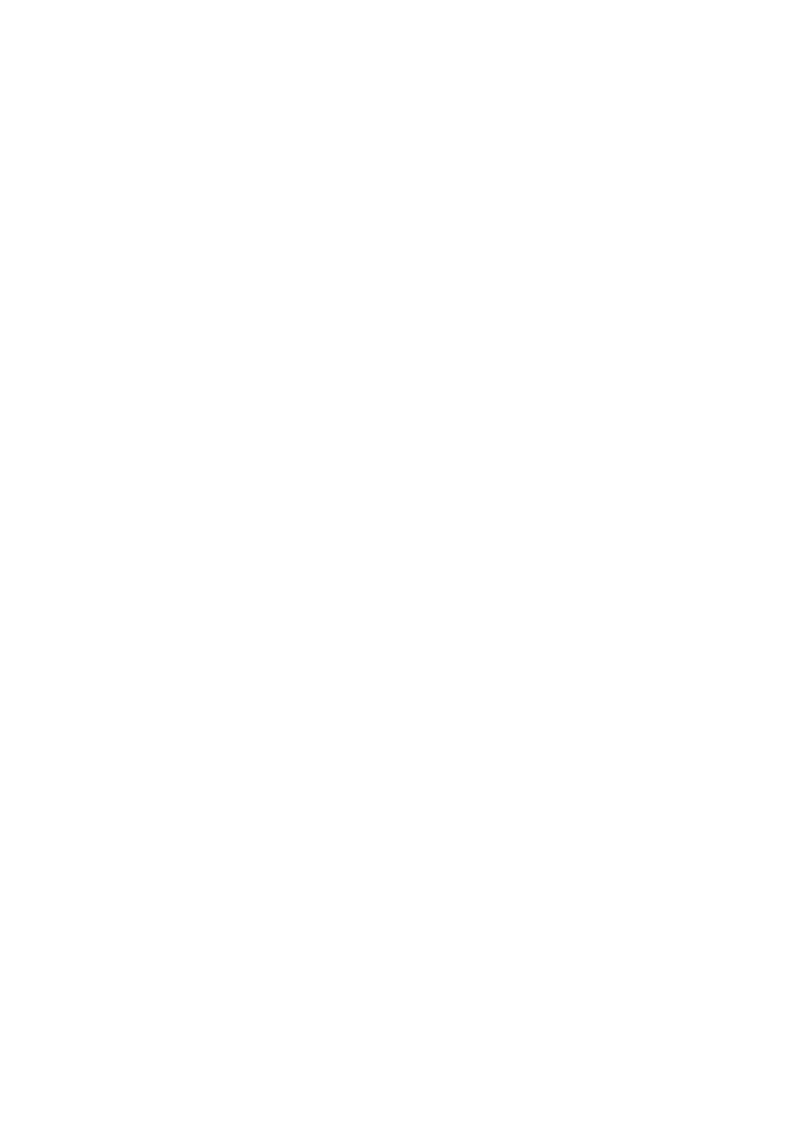
José Marcos Froehlich, Celso Reni Braida
A consciência de si mesmo é, pois, simplesmente uma função da
matéria organizada – e, em grau mais adiantado, essa função se
volta contra seu próprio portador, converte-se em tendência a
aprofundar e a explicar o fenômeno que provocou: uma tendência
cheia às vezes de promessas e de desesperação, da vida a conhecer-
se a si mesma – investigação vã até o último extremo, uma vez que
a natureza não possa se resolver na consciência, nem a vida possa
surpreender a última palavra de si mesma.
(Thomas Mann, A montanha mágica)
Embora seja uma das noções mais recorrentes nas produções socioculturais da
humanidade através dos tempos, ‘natureza’ é um daqueles conceitos cuja polissemia é tão
eloquente quanto o grau de complexidade que envolve a dificuldade de se encontrar uma
definição consensual. Em nossa época, tal dificuldade toma magnitude expressiva, pois
vivemos sob uma intensa produção discursiva que aponta para as múltiplas ameaças que
pairam sobre a natureza, traduzidas nos termos de uma crise ambiental de alcance global
e sem precedentes na história humana. As múltiplas concepções de natureza e as relações
históricas da humanidade com ela tornam-se objeto permanente de dúvidas e reflexões.
Especula-se cada vez mais sobre a urgência e as possibilidades de novas construções sobre a
noção de natureza, mas elas não podem avançar sem a crítica e superação da narrativa
elaborada sobre a natureza no pensamento que engendrou a ciência moderna (Schäfer,
1993; Videira, 2004; Mutschler, 2008).
A modernidade pode ser vista como a afirmação de si do sujeito que submete a (sua)
natureza às regras da razão por meio da ciência e da técnica. Afirmação e não ciência de si,
pois a ideia mesma de ciência era pensada inicialmente apenas como ciência ‘da natureza’.
Esse modelo permanece ainda, certamente, com grande vigor. Porém, o campo das ciências
humanas e sociais conseguiu se impor e tornou-se presente a partir do final do século XIX,
passando atualmente a questionar tanto a ideia moderna de ciência quanto a noção de
natureza a ela subjacente. Ou seja, tanto o privilégio do sujeito quanto a posição da natu-
reza inscritos no pensamento moderno são revisados pelo próprio movimento de auto-
nomização das ciências humanas. Todavia, as concepções de natureza, ciência e cultura
ainda contêm resquícios que produzem, no mais das vezes, mais confusão que escla-
recimento.
Entre as características marcantes do pensamento moderno estavam a ideia do caráter
matemático-determinístico da natureza, expresso na noção de lei natural, e a de liberdade
da vontade ou espontaneidade da razão. Daí se seguiam que a ciência era um produto da
razão humana, logo, da liberdade e que a natureza era conhecível justamente pela sua
determinidade. No século XVII a consciência culta podia falar em termos de dignidade
superior do homem em relação à natureza, separando a ordem dos instintos e causas e a
ordem da razão.1 Uma coisa seria a razão e o sujeito, outra a natureza e o objeto. Um lado
era marcado pela legalidade da liberdade, o outro, pela determinatividade da causalidade.
No final do século XVIII, Kant (1980, p.XIII) podia ainda dizer imperiosamente que “a
628
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro
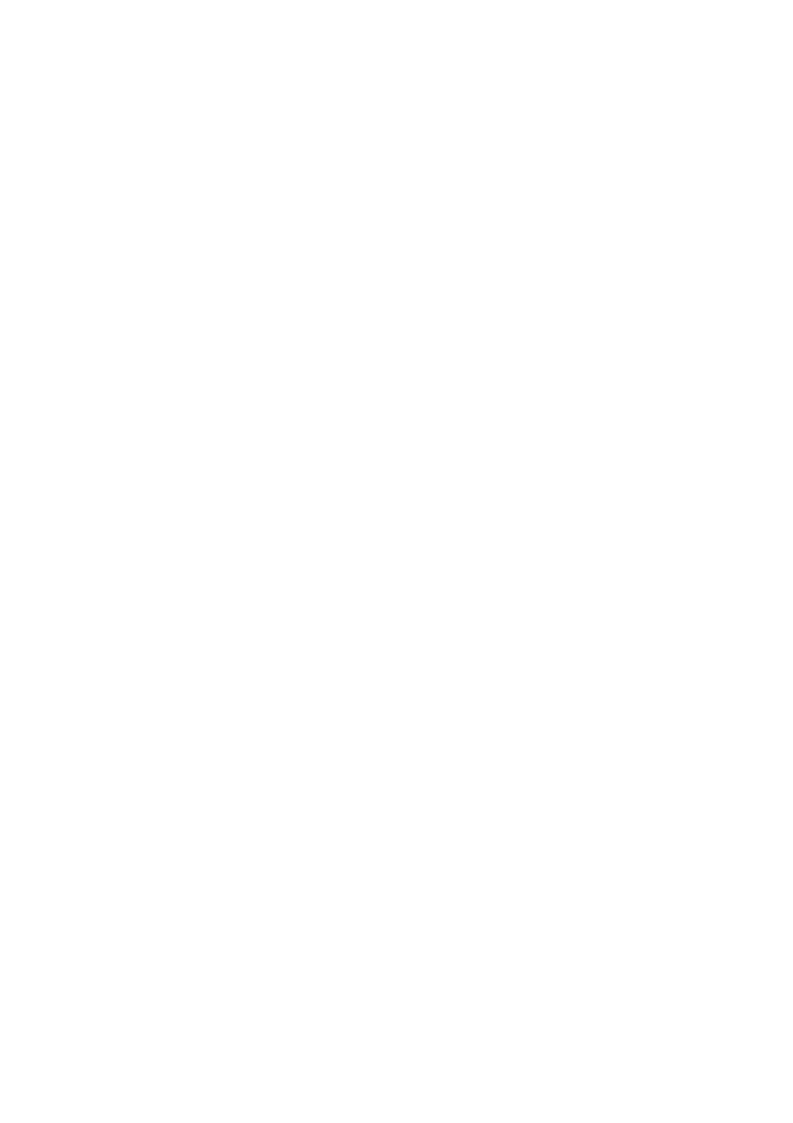
Antinomias pós-modernas sobre a natureza
razão só compreende o que ela mesma produz segundo seu projeto, que ela teria de ir à
frente com princípios dos seus juízos segundo leis constantes e obrigar a natureza a responder
às suas perguntas, mas sem se deixar conduzir por ela como se estivesse presa a um laço”.
Nessa perspectiva, a natureza é propriamente um produto da razão humana, e os valores e
sentidos são apenas dessa e para essa razão.
Nesse modo de compreensão, o fundamento, a estrutura e a validação do conhecimento
tinham sua raiz ‘fora’ da natureza investigada pela ciência, pois nessa concepção o que
ficava de fora era a própria natureza do seu sujeito, visto que ele mesmo era pensado como
pura razão, como não sendo natureza. A frase de Bacon de Verulamio, citada por Kant, é
reveladora: “De nobis ipsis silemus” (De nós mesmos silenciamos). E Hegel (1989, p.59;
tradução livre), o mestre de Marx, explicita: “O homem aparece depois da criação da
natureza e constitui o oposto ao mundo natural. É o ser que se eleva ao segundo mundo.
Temos em nossa consciência universal dois reinos: o da natureza e o do espírito. O reino
do espírito é o criado pelo homem”.
Embora estejamos muito distantes daquela época, a recusa da natureza e a afirmação
do sujeito ainda orientam o debate atual (pós-moderno) sobre a ciência e a natureza. A
suposição é de que a natureza, assim como a ciência da natureza, nada pode nos dizer; não
podem ser a base da cultura, uma vez que são construções e produtos do sujeito. Tal
pensamento encontra-se difuso nos mais diversos âmbitos e ramos das ciências humanas
e sociais:
Mesmo aceitando-se a pressuposição de que o mundo natural – de natureza cósmica –
é regido por leis biofísicas imutáveis, [inalcançáveis ao pensamento humano] o mundo
natural apropriado pela cultura humana e pela linguagem é relativo a esta cultura. Nossa
percepção da realidade biofísica é relativa à cultura que nos socializou, portanto, é
diferenciada e relativizada por estes valores culturais. Temos por pressuposto que a realidade
humana é uma realidade culturalmente construída. ... No contexto desta problematização,
reconhece-se que a dinâmica das estruturas biofísicas é interpretada culturalmente, seja
pela ciência, seja por outras instâncias da cultura. As ideias de natureza e o mundo
natural, neste sentido, tornam-se pressupostos de teorias e ações políticas e técnicas. Em
resumo: seja na tradição marxista ou em outras tradições das ciências sociais e naturais, a
natureza e o mundo natural não podem ser tomados como dados. Romper com esta
tradição positivista e essencialista requer que estes conceitos sejam reconhecidos como
passíveis de ressignificação em um processo de construção social da realidade natural,
sendo, portanto, um produto do trabalho e do conhecimento humano (Moreira, 2003,
p.16-17).
Ora, a separação entre cultura e natureza e a suposição de que a natureza e o mundo
natural não são dados, mas sim construtos e interpretações relativas a um sujeito social,
não são senão a concepção moderna anterior à destranscendentalização do sujeito do
conhecimento operada pelas ciências humanas a partir do século XIX. O passo propria-
mente pós-moderno foi a passagem da ideia de construção para a de ‘invenção’. Nesse
passo, porém, a própria ideia de ciência tem de ser abandonada. Por isso, um passo atrás
agora parece não apenas promissor, mas antes necessário:
Mas tem havido um grande número de artigos sobre o pós-modernismo, que considera
a relação humana com a natureza. Isso é uma coisa muito boa. Quero dizer que, por
v.17, n.3, jul.-set. 2010, p.627-641
629

José Marcos Froehlich, Celso Reni Braida
muito tempo, a ciência social ignorou a natureza. Deixamos a natureza fora de nossos
paradigmas. Pretendemos desenvolver paradigmas sobre comportamento humano, mas
sem considerar a natureza como algo central. Isto é errado, pois nós produzimos o dua-
lismo entre a natureza e cultura. Mudanças na natureza, como a bioengenharia, afetam o
que somos culturalmente. Está cada vez mais difícil fazer a separação. As tecnologias de
reprodução estão afetando quem somos nós. Assim, a idéia de que há uma natureza e
uma cultura separadas revela-se cada vez menos apropriada (Redclift, 1996, p.12).
A revisão do pensamento sobre a relação entre natureza e cultura, todavia, pressupõe a
modificação das próprias noções de ciência, natureza e sujeito. Primeiro, porque se cultura
e natureza não são separáveis, então a noção de sujeito do conhecimento não pode mais
ser pensada em termos de espontaneidade e liberdade; segundo, porque se a natureza tem
agora um novo papel, então a ciência da natureza não pode ser separada da ciência do
espírito. Que essas implicações nem sempre sejam percebidas tem consequências diretas
para os dilemas do pensamento dito pós-moderno.
A nova situação teórica
A atitude dita pós-moderna, o pensamento pós-moderno ou o pós-modernismo2 são os
termos aplicados às mudanças ocorridas nas ciências, artes e sociedades tecnologicamente
avançadas desde 1950, quando, por convenção, se encerra o Modernismo (1900-1950)
(Santos, 1988; D’Agostini, 2003; Mutschler, 2008). Todavia tal movimento ganhou projeção
muito além desses campos, penetrando também as dimensões econômicas, políticas e mesmo
filosóficas. As transformações que possibilitaram a programação tecnocientífica do coti-
diano, o advento da sociedade de consumo e da informação, a arte pop, o suposto pós-
fordismo no mundo do trabalho, a globalização financeira e dos mercados e a decadência
das grandes narrativas filosóficas (Deus, Razão, Verdade...) ganharam todas, em seu conjunto,
o epíteto de pós-modernas.
Conforme Santos (1988), essa seria uma época que prefere a imagem ao objeto, a cópia
ao original, o simulacro (a reprodução técnica) ao real; há a apologia do hiper-real, do
espetacular; não haveria mais diferença entre real e imaginário, ser e aparência, não se
acreditaria mais na verdade. Para a pós-modernidade o homem é linguagem; não haveria
pensamento, nem mundo, nem homem, sem linguagem, sem algum tipo de reapropriação
linguística.3 A pós-modernidade é também uma semiurgia, um mundo super-recriado pelos
signos. Manipulam-se crescentemente mais signos do que coisas. Assim, na filosofia, o
pós-moderno está associado à desconstrução e decadência das grandes ideias, princípios,
concepções e instituições ocidentais4, defendendo-se a ausência de valores e de sentido
para a vida. Mortos estariam os deuses e os grandes ideais do passado; no seu lugar, o
homem moderno teria valorizado a arte, a história, o desenvolvimento e a consciência
social como pontes para a salvação da vida. Mas ao dar adeus a essas ilusões o homem pós-
moderno sabe ou presume que não existe céu nem sentido para a história e, assim, se
entrega ao presente e ao prazer, ao consumo e ao individualismo.5 A apologia pós-moderna
diz que esse movimento abala preconceitos, põe abaixo o muro entre arte culta e de massa,
rompe as barreiras entre os gêneros e traz de volta o passado (pois os modernos só queriam
630
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

Antinomias pós-modernas sobre a natureza
o novo), mesmo que em forma de paródia. Valorizam-se a diferença, a dispersão e considera-
se a desordem como o substrato fértil da imaginação criativa.
As grandes marcas pós-modernas seriam o pluralismo e o ecletismo , que propõem a
convivência de todos os estilos, de todas as épocas, sem hierarquias.6 Legitimam-se, desse
modo, as múltiplas referências para o agir dos sujeitos no espaço social. Esta seria, ainda
segundo Santos (1988), uma das mais importantes diferenças a reter: enquanto na moder-
nidade buscavam-se e se encontravam, com certa facilidade, as identidades fixas e definidas,
por meio de representações claras e ordenadas, que funcionavam na base do ‘ou’ exclusivo
(era-se capitalista ou socialista, normal ou louco, culto ou analfabeto; um ou outro, jamais
os dois), na pós-modernidade passa-se para uma lógica fundada no ‘ou’ inclusivo, sendo-
se isto ou aquilo, mas também isto e aquilo. Não há mais identidades definidas, não se
distingue o verdadeiro do falso; só há combinações, ecletismos, transições e transações.
Com a mistura de estilos, a pós-modernidade é isto e aquilo, não mais oposição, mas
justaposição e composição (campo e cidade, barroco e moderno, clássico e contemporâneo,
masculino e feminino – unissex/andrógino –, apatia e desenvoltura etc.).
Restam, porém, muitas dúvidas sobre o que significam esses fenômenos e se realmente se
pode dizer que a humanidade ultrapassou o ideário moderno, pois as relações entre a pós e
a modernidade são prenhes de ambiguidades, derivando daí, talvez, a capacidade de
abrangência e o ecletismo da visão pós-moderna e, mesmo, os seus próprios paradoxos, que
agora se apresentam quase como um “círculo confuso de autorreferências” (Kumar, 1997).
Por ora essas considerações e caracterizações, embora breves, são suficientes para os
propósitos do presente artigo. No amplo espectro do pensamento pós-moderno, qual seria,
então, a imagem predominante sobre a natureza? Que elaborações e papéis têm sido atribuí-
dos a essa noção? Para esboçar uma resposta, convém delinear um inventário das principais
concepções de natureza a partir e contra as quais se produz o discurso pós-moderno.
Breve inventário das ideias sobre a natureza
A ideia de natureza como representação do entorno e às vezes do real é tão complexa
quanto a ideia de humano e ao longo da história humana modificou-se muitas vezes.
Segundo Lenoble (1990), que considera haver não uma ‘natureza em si’, mas uma ‘natureza
pensada’ que se articula com uma atitude de consciência, a qual, ao se transformar, leva a
uma modificação da visão dessa mesma natureza7, há quatro concepções básicas.
A primeira delas teria sido a ‘natureza mágica’, com suas características animistas e
antropomórficas, derivada do pensamento introvertido e essencialmente finalista, em que
nada acontece por acaso, mas nada também acontece pelo efeito de leis independentes da
história dos homens. Corresponde ao pré-classicismo grego e ao despertar da consciência
humana. A natureza e o divino se confundem: Deus é imanente ao natural. A natureza
possui vida e consciência, e as vontades dos homens e as das coisas encontram-se numa
rede inextrincável, a ligar num mesmo destino homens e coisas, fruto de uma projeção
simultânea do psiquismo sobre as coisas e de uma negação da sua alteridade ameaçadora.
O homem se achava então entregue ao capricho dos deuses, emblema de forças cegas que
v.17, n.3, jul.-set. 2010, p.627-641
631

José Marcos Froehlich, Celso Reni Braida
faziam acontecer os grandes cataclismos naturais (infundindo temor) ou a bonança da
fartura (infundindo veneração).
A segunda concepção provém do chamado milagre grego, no dizer de Lenoble, que
produz uma visão objetiva e jurídica da natureza, instituída à luz da polis. São então as leis
da polis que fornecerão o protótipo das leis da natureza, pois não há mais liberdade sem
lei, e a natureza inteira é, desse modo, hierarquizada como a cidade grega, da qual se torna
o modelo e justificação.8 Com Platão e Aristóteles, o homem passa a perceber a existência
de coisas separadas do humano, que existem em si, com movimentos próprios; passa a ver
que não existem somente o homem e os seus problemas, que também as coisas são. Há
uma associação da natureza com a ordem, que, regida por leis, podia ser compreendida e
livrar o homem do jogo do caos. Portanto conhecendo as leis e comportando-se por elas,
o homem podia se libertar do acaso. Mas todo esse sistema de pensamento orientava-se
por atribuir ao movimento e à ordem das coisas uma hierarquia e uma finalidade, tendo
em Deus o princípio ordenador último. A natureza de Platão e Aristóteles, toda ela penetrada
de intenções finalistas e organizada para a tranquilidade e salvação da alma, é uma natureza
feita para o homem e pelo homem.
Mas a mesma época de ‘natureza objetiva’ também gerou um pensamento contrário ao
finalismo aristotélico: o atomismo. Para os atomistas (Leucipo, Demócrito, Epicuro), a
natureza é feita de átomos que não vêm de parte alguma e não vão para parte alguma,
num jogo gratuito, sem seguir qualquer vontade nem qualquer intenção. O mundo não
significa nada e o homem também é filho do acaso, devendo guardar os desejos para si e
não os projetar no mundo exterior. A física, para os atomistas, é a ciência que permite
penetrar a natureza para dela expulsar os sortilégios temíveis, concebendo tanto o homem
quanto a natureza como coisas, máquinas de sensações e de instintos. Enquanto o aristo-
telismo perscruta a natureza para descobrir as regras que ela dita ao homem, o atomismo
a estuda para se certificar de que ela não prescreve regra nenhuma. Não havendo projeção
do desejo, não haveria ordem necessária a seguir. Ao postular uma liberdade absoluta, os
atomistas desprezam um cosmo organizado e favorável ao homem, do qual seria necessário
captar a ordem que regularia a existência humana.9
As visões de natureza elaboradas no período do milagre grego estenderam sua influência
por longos séculos, transpondo os limiares da Idade Média. Mesmo com a entrada em
cena do cristianismo, houve mais composições do que rupturas na visão sobre a natureza,
como o sistema aristotélico-tomista da escolástica.10
A terceira concepção corresponde à hegemonia histórica alcançada pelo cristianismo,
o qual pensou a natureza como criatura e ordem derivada de uma divindade transcendente
(não natural). Somente Deus pode quebrar a ordem natural, e o acontecimento, que é a
natureza, seria a exteriorização e a realização de um plano ou pensamento divino.
A quarta concepção emerge no alvorecer do século XVII como essência do Bacon-Projekt,
como denominou Schäfer (1993). Começam a tomar forma os movimentos que imprimirão
uma outra imagem para a natureza, e conforma-se a ‘natureza mecânica’, resultante da
revolução científica do racionalismo e do Iluminismo, com seu construtivismo matemático
e determinista. A verdade sobre a natureza reside agora nas experiências matematicamente
projetadas e não nos raciocínios sobre as essências. Reeditando-se aspectos do atomismo
632
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

Antinomias pós-modernas sobre a natureza
grego, reduz-se a natureza a uma máquina, da qual se podem descobrir as leis de fun-
cionamento e, então, geri-la e colocá-la em funcionamento a serviço dos fins humanos.11
Os primeiros físicos mecanicistas ainda procuravam conhecer a natureza, confiantes
na sabedoria do Divino Relojoeiro, cujas intenções tentavam desvelar para se colocar como
gerentes da ‘máquina’ de Deus. No século XVIII, já dominando tão bem as alavancas dessa
‘máquina’, começam a se interrogar sobre a pertinência de atribuir a um Senhor o trabalho
de suas próprias mãos e razão. Postula agora o homem transformar a sua gerência numa
tomada de posse em seu próprio nome. E ao remover o finalismo divino, consuma-se a
ruptura com o aristotelismo-tomista.12
Essas são, resumidamente, as visões sobre a natureza elaboradas historicamente pelo
pensamento ocidental, conforme descritas por Lenoble (1990). Suas considerações finalizam
nos dilemas lançados pelo paradigma mecanicista em sua fase mais avançada, sem especular
sobre outra visão, correspondente ao período contemporâneo, a qual poderia ser fruto da
ciência relativista ou do pensamento pós-moderno.13 Essas reflexões já apontam alguns
dilemas importantes, com certa duração histórica, no pensamento sobre as relações entre
homem e natureza. Todavia o debate atual, no qual emerge a posição pós-moderna, pode
ser descrito como o confronto entre quatro concepções: (1) a natureza como totalidade do
que existe e que é descrita pela metodologia científica; (2) a natureza como totalidade do que
existe, mas que se abre para diferentes perspectivas que não se reduzem às ciências; (3) a
natureza como uma região ou dimensão particular descrita pela ciência; e (4) a natureza
como região passível de ser descrita por diferentes perspectivas (Mutschler, 2008). Em geral
as posições pós-modernas se orientam pela segunda dessas posições e se contrapõem à
primeira. Contudo, Mutschler (2008, p.72) e Schäfer (1993) mostram que na própria
argumentação de Latour ou Lovelock recorre-se a conceitos e dados não justificáveis por
suas teorias. O que importa, nesse debate, é a localização do humano e o papel que o con-
ceito de natureza exerce na sua autocompreensão.
Uma noção pós-moderna de natureza?
Fazem parte do cenário cultural pós-moderno as preocupações com a conservação e a
deterioração ambiental, condensadas socialmente nos diversos movimentos ecológicos
(Vincent, 1995, cap.VIII; Mutschler, 2008; Schäfer, 1993). As implicações e vulgarizações
contemporâneas de tais preocupações vêm fazendo com que cada vez mais pessoas se
voltem também para a zona rural, o naturismo, a tradição popular e folclórica, a comida
natural, o cultivo ‘orgânico’ de legumes e verduras, as religiões orientais, as reservas e
parques naturais, a saúde e a medicina homeopática etc. Para Vincent (1995, cap.VIII), o
espectro filosófico que fundamenta esse ecologismo gira ao redor de dois polos matrizes: a
tendência que argumenta ser o valor da natureza apenas instrumental, tendo relevância
somente para o homem ou uma vez que este a confere; e, de maneira oposta, a tendência
da deep ecology, perspectivando um holismo que defende o valor primordial da ecosfera
como um todo, em que a natureza não pode ser usada de modo instrumental porque tem
valor intrínseco e a humanidade está unida à sua totalidade.14 Os argumentos próximos a
esse segundo polo tendem a relativizar o homem, removendo-o do estágio central e
v.17, n.3, jul.-set. 2010, p.627-641
633

José Marcos Froehlich, Celso Reni Braida
afirmando a sua igualdade ecológica com os demais organismos. Ora, essa crítica ao
antropocentrismo encontra sua âncora, em termos pós-modernos, em Nietzsche (1991),
em sua desconstrução filosófica que denuncia a morte de Deus e do próprio homem,
relativizando-o como medida de todas as coisas.15 Se o homem é relativizado em favor da
ecosfera (geocentrismo ou ecocentrismo), faz sentido defender a ‘conservação da natureza’,
independentemente dos interesses humanos.
Essa permissividade nietzschiana, que a pós-modernidade abraça com tanto gosto,
coloca outro paradoxo que se consubstancia nas noções de equilíbrio e estabilidade em
contraposição à adaptabilidade ecológica. Como compatibilizar noções como equilíbrio
ou estabilidade (a homeostase ou tendência ao equilíbrio existente em ecossistemas naturais),
tão caras às experiências da chamada agricultura alternativa (orgânica, ecológica,
biodinâmica etc.), com a noção de adaptação dos ecossistemas ou organismos, nos moldes
da experiência relatada por Guattari (1997)16? Além do mais, essa crença atual num suposto
equilíbrio da natureza, ordenadora de diversas práticas agrícolas ‘alternativas’ e explicativa
para cataclismos ambientais advindos de ‘desequilíbrios’ teve, antes de ganhar argumentação
científica, uma base teológica, herança filosófica descartável na pós-modernidade. Como
lembra Thomas (1996, p.329):
Foi a crença na perfeição do desígnio divino que precedeu e sustentou o conceito da
cadeia ecológica, sendo perigoso remover qualquer um de seus elos. A argumentação do
desígnio continha forte implicação conservacionista, pois ensinava que mesmo as espécies
aparentemente mais nocivas serviam a algum propósito humano indispensável. No século
XVIII, a maior parte dos cientistas e teólogos defendia, coerentemente, que todas as
espécies da criação tinham um papel necessário a desempenhar na economia da natureza.
Também a hipótese-Gaia de Lovelock, que vê a terra como um imenso organismo vivo
autorregulador, entra nesse mesmo vórtice paradoxal da adaptação versus equilíbrio. Mesmo
que a humanidade polua a biosfera e se envenene, a terra-Gaia poderá continuar se adap-
tando infinitamente, ainda que haja níveis letais de poluição, extinção de espécies (incluída
a humana) ou proteção ambiental e sobrevivência, pois o superorganismo é indiferente
(Vincent, 1995). Assim, a argumentação de Gaia não serve ao ecologismo como fundamento
contra a poluição ou a favor da subsistência humana, pois não se aceita uma derivação
ética da simples observação de um processo natural. Paradoxalmente, de uma postura que se
pretendia mais holística, as consequências lógicas lembram por demais aquelas do
atomismo.17
Jameson (1997), em ensaio instigador sobre as antinomias pós-modernas, argumenta
que o ‘fim da natureza’ (e do rural) seria um dos elementos principais da sociedade pós-
moderna. Partindo da premissa de que a ‘modernização’ da vida está, mesmo que
relativamente, completa e que tal processo possibilitou ao fluxo da temporalidade humana,
social e histórica correr, como nunca antes, com tanta homogeneidade (globalização),
Jameson vê uma pós-naturalidade atual, que reside na ‘construção’ tecnológica de quaisquer
fenômenos e coisas.18 Essa nova temporalidade homogeneizadora teria, no urbano, sua
matriz de produção da pós-naturalidade, o que estaria hoje também a redefinir a própria
noção de urbanidade, pois num mundo pós-moderno, afeito às composições, as antigas
oposições balizadoras e identitárias do moderno perdem sentido e eficácia:
634
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

Antinomias pós-modernas sobre a natureza
O moderno ainda tem algo a ver com a arrogância da gente da cidade sobre os
provincianos, quer se trate do provincianismo dos camponeses, de culturas distintas,
colonizadas, ou simplesmente do próprio passado pré-capitalista: aquela satisfação
mais profunda de ser absolument moderne se dissipa quando as tecnologias modernas
estão em toda parte, não existem mais províncias e mesmo o passado acaba por parecer
mais um mundo alternativo do que um estágio imperfeito e carente deste (Jameson,
1997, p.26-27).
Porém, no novo estágio globalizado do capital, que permeia o mundo pós-moderno,
Jameson (1997) vê a agricultura sofrer a ‘desnaturalização’ via homogeneização tecno-
industrial19, processo emblemático da artificialização, ‘fim da natureza’. Mas já desconfia da
presença implícita de um paradoxo embrionário, já que “dizer isso é evocar a obliteração
da diferença em escala mundial e fornecer uma visão do triunfo irrevogável da homo-
geneidade espacial sobre quaisquer heterogeneidades que possam ainda ser imaginadas em
termos de espaço global” (p.41). Pois a valorização da diferença é o prato do dia no cotidiano
pós-moderno, não só na esfera econômica, mas também em termos socioculturais e filo-
sóficos. Afinal, proliferam hoje estudos e reflexões apontando a enorme importância da
diferença local, territorial, cultural etc. para o ‘desenvolvimento’ (e a sustentabilidade).20
Mas o que Jameson insiste, na verdade, é em indiciar uma obliteração sistemática do
‘natural’ na pós-modernidade em geral, que não se ilustraria meramente na reorganização
da agricultura tradicional em produção industrial, mas também na lúcida consciência
dessa “era de que identidades e tradições, longe de serem naturais, são ‘construídas’” (p.57).21
E ao mesmo tempo, tal processo tem rebatimento na dissolução dos próprios limites da
cidade tradicional e do urbano clássico, pois se diluem oposições para se acreditar em
composições22, dissolvendo-se supostas ‘fronteiras’ entre o rural e o urbano. Acompanhemos,
portanto, o fechamento desse raciocínio, conduzido pelo próprio Jameson (p.42):
O desaparecimento da Natureza – a mercantilização do campo e a capitalização da
própria agricultura em todo o mundo – começa agora a desgastar o seu outro termo, o
que antes era o urbano. Como o sistema mundial de hoje tende a um enorme sistema
urbano – a tendência a uma modernização cada vez mais completa prenunciava justamente
isso, o que, no entanto, ratificou-se e surgiu de maneira inesperada pela revolução das
comunicações e suas novas tecnologias ... –, a própria concepção de cidade e do urbano
clássico perde sua significação e parece não mais oferecer nenhum objeto de estudo
delineado com precisão, nenhuma realidade especificamente diferenciada. Em vez disso,
o urbano se torna o social em geral e ambos se constituem e se perdem em um global que
não é realmente o seu oposto (como era na sua forma antiga), mas algo como o seu
alcance externo, o seu prolongamento em um novo tipo de infinidade.23
Porém, paradoxalmente, o desaparecimento da natureza em sua forma tradicional –
como espaço social, onde até mesmo o campo, ‘essencialmente provinciano’, desaparece,
torna-se estandardizado; pode escutar a mesma linguagem, ver os mesmos programas,
consumir os mesmos bens que a urbe – também estimulou o retorno de outro ‘tipo’ de
natureza. É obrigatório observar, diz Jameson, que a pós-modernidade é também o momento
de uma série de notáveis revivescências contundentes da natureza – como atestam os diversos
fenômenos ligados ao ecologismo – justamente numa configuração em que predominam,
nas posições ideológicas e filosóficas contemporâneas, o antifundamentalismo e o
v.17, n.3, jul.-set. 2010, p.627-641
635

José Marcos Froehlich, Celso Reni Braida
antiessencialismo.24 Em tal panorama, essa revivescência da natureza constitui uma
antinomia fundamental da pós-modernidade.
se, por um lado, a sua redescoberta e reiteração de seus limites é pós-moderna na medida
em que repudia o modernismo da modernização e do ethos produtivista que acompanhou
um momento anterior do capitalismo, por outro lado, ela deve também recusar igualmente
o prometeanismo de qualquer conceito de Natureza em si, do Outro na história humana,
como algo de alguma maneira construído pelo homem. Como pode, então, o antifun-
damentalismo coexistir com a apaixonada revivescência ecológica do sentido de Natureza
constitui um mistério essencial em cujo cerne eu suponho existir uma antinomia fundamental
do pós-moderno; não tenho dúvidas de que isso é fato e pode-se observar essa coexistência
ativa em toda parte à nossa volta (Jameson, 1997, p.58; grifos nossos).
Ao mesmo tempo, há uma segunda questão evocada pela palavra natureza: em que
magnitude sua noção, de alguma maneira, abrange necessariamente um conceito de
‘natureza humana’ (como alertava Lenoble), que pode não ser explicitado como tal, mas
que pode e mesmo deve estar implícito no conceito simultâneo e recorrente de limites, o
qual, como coloca Jameson (1997), é muito difícil de separar de um ethos ecológico. E esses
limites estão hoje a desafiar a crença na capacidade dos homens de mudarem seu atual
‘estágio de vida’ por meio de movimentos inspirados em alguma ‘práxis coletiva’. Jameson
finaliza enunciando a perplexidade que parece a todos invadir, quando confrontados
com essa antinomia pós-moderna sobre a natureza:
Assim é que o fim do modernismo vem acompanhado não apenas do pós-modernismo,
mas também do retorno da consciência da natureza em ambos os sentidos: ecologicamente,
nas condições deploráveis em que a busca tecnológica de lucro deixou o planeta, e,
humanamente, numa desilusão com a capacidade dos povos de mudar, agir ou conseguir
qualquer coisa substantiva em termos de uma práxis coletiva. ... Devemos, portanto,
continuar nos surpreendendo com a coexistência desses dois movimentos aparentemente
incompatíveis na nossa era: um implacavelmente hostil aos remanescentes naturais e à
sobrevivência de quaisquer formas de naturalidade, o outro por demais receptivo a um
renovado senso de natureza e limite, por mais que isso se baseie em derrota e desilusão
(p.62-63).
Ora, essa atitude bipolar pode ser resolvida apenas com o reconhecimento do natural como
parte imanente do humano, ou seja, com a elisão da separação entre cultura e natureza,
imposta por uma autocompreensão histórica do espírito e da cultura como antinaturais e
da natureza como antiespiritual. Para tanto, é necessário superar a visão atômica,
mecanicista e determinista da natureza, como também a visão idealista e subjetivista do
humano.
A tentativa de superação, todavia, representada pelos ditos pós-modernismos sob as
rubricas pragmatismo, pós-estruturalismo, historicismo, linguisticismo, no dizer de Sokal
(2006, p.2), configura uma atitude intelectual marcada por certa rejeição da tradição
racionalista do Iluminismo, por um discurso teorético desconectado de qualquer teste
empírico e por um relativismo cultural e cognitivo que enxerga na ciência apenas uma
‘narração’, um mito ou uma construção social, entre muitas outras. As oscilações pós-
modernas em relação à natureza, em geral associadas a críticas fatalistas à ciência, que
636
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

Antinomias pós-modernas sobre a natureza
solapam qualquer pretensão de validade, apenas reforçam a dúvida aberta por Sokal quanto
à aproximação com a pseudociência. Afinal, a recusa de qualquer vínculo da cultura e do
discurso com sua base natural é o primeiro passo para a superstição e para o obscurantismo.
Natureza, técnica e humanidade
Fato é que o apelo e fascínio atuais da ideia de natureza são efeitos de uma outra
contraposição ainda mais instigante, aquela entre a autoconstituição do humano e o
caráter necessário da técnica e do artifício. Pois são justamente o caráter excessivo da técnica
e o pré-domínio dos aparatos técnicos, em todas as esferas da cultura hodierna, que fazem
brilhar a sedução da vida tão somente natural. Uma imagem pós-moderna da natureza
talvez possa ser buscada nas reflexões que tentam atualizar o estatuto da tecnociência, o
atual instrumento humano privilegiado de relação e contato com a ‘natureza’. Tal substrato
apresenta-se nas reflexões de pensadores como Souza Santos, Serres, Morin, Prigogine e
Stengers. Tomadas em conjunto, suas contribuições podem delinear interfaces com novos
e revigorados contornos, apresentando a natureza como processo complexo e singular.
Assim, ganha legitimação a apologia da diferença em contraposição ao que seria universal
no ideário moderno. O caráter antinômico da referência à natureza reflete o caráter
incongruente da própria imagem do humano constituída pela retomada e revivescência
de concepções divergentes de natureza.
O que procuramos mostrar aqui é que o caráter paradoxal (e até antinômico) da ideia
de natureza, no pensamento atual, deve-se a irresoluções mais profundas do que à simples
contraposição entre social e natural ou cultura e natureza, pois tem suas raízes nas pró-
prias contraposições e dissociações que perfazem a autocompreensão do humano. A pré-
tensão do espírito como antinatural está preservada na mentalidade pós-moderna. Em
grande medida, trata-se do dogma legitimador do próprio objeto das ciências humanas
contra as ciências naturais. Entretanto, as ciências humanas apenas são possíveis ali onde
se reconhece o espírito, a cultura e o social como objetos dados, como tendo uma dada
natureza. Levar em conta tal pensamento talvez contribuísse mais para avançarmos em
direção a uma concepção de natureza e de ciência que, como lembram ainda Prigogine e
Stengers (1997), não implicaria fazer os seres humanos se sentirem estranhos no mundo
em que habitam e que buscam conhecer.
NOTAS
1 “Instinto e razão, marcas de duas naturezas”(Pascal, 1979, §344); “O pensamento faz a grandeza do
homem” (§346); “O homem não passa de um caniço pensante. ... Toda a nossa dignidade consiste, pois,
no pensamento (§347)”; “Toda dignidade do homem está no pensamento” (§365).
2 Para os fins deste artigo, não diferenciamos pós-modernidade, pós-modernismo, pós-moderno, pós-
industrial, hipermodernidade, embora informados das suas nuanças e implicações. Tomamos aqui as
caracterizações mais frequentes na literatura sobre o que seria um pensamento e um estilo de vida sociais
contemporâneos, que se propõem ou se colocam além dos cânones da modernidade tal como
genericamente difundida no mundo ocidental.
3 Conforme também Bruzzi (1988) e Anderson (1999).
v.17, n.3, jul.-set. 2010, p.627-641
637

José Marcos Froehlich, Celso Reni Braida
4 Deus, Ser, Razão, Sentido, Verdade, Totalidade, Ciência, Sujeito, Consciência, Produção, Estado,
Revolução, Família – Kurz (2003) sugere que esses conceitos estão na base dos dilemas entre modernos e
pós-modernos.
5 Sendo a pós-modernidade o declínio das grandes filosofias explicativas, como o cristianismo (e sua fé
na salvação), o Iluminismo (com sua crença no progresso e na ciência), e o marxismo (com sua aposta na
sociedade comunista), é também muito comum invocar Nietzsche como o primeiro filósofo a desconstruir
os valores ocidentais supremos, projetados para acalmar a angústia ou justificar a existência humana.
Conforme Santos (1988, p.74), ele teria fornecido importantes argumentos para o discurso pós-moderno
(numa suposta vertente anti-humanista), ao abalar os três pilares da cultura ocidental: o cristianismo –
Fim (garantidor de um sentido existencial), a ciência – Unidade (certeza de um universo cognoscível) e o
racionalismo – Verdade (o alcance da real existência das coisas). Voltaremos mais adiante a Nietzsche e
suas contribuições e relações com os pensamentos ditos pós-modernos.
6 Também Jameson (1997, p.12) defende que o ecletismo e o pluralismo estão entre as características
principais da pós-modernidade. Daí a imagem do pós-moderno como uma grande nebulosa, volátil e
disforme, em que tudo cabe e que a tudo envolve.
7 “A definição perpetuamente ambígua do ‘natural’, simultaneamente ordem das coisas e hábito social,
faz-nos compreender que toda a mudança grave da ordem humana é, ao mesmo tempo, uma alteração
da Natureza” (Lenoble, 1990, p.159).
8 Uma representação coerente do mundo pressupõe uma sociedade organizada: o Cosmos de Aristóteles
seguiu há 150 anos as leis de Sólon. “E quando Aristóteles exige ao Estado que ‘reproduza’ a hierarquia
da Natureza, constrói a Natureza segundo o modelo da cidade grega. O fenômeno de projeção é aqui
evidente e inegável” (Lenoble, 1990, p.67; grifos do autor; ver também p.54-55).
9 Numa natureza concebida dessa maneira, o homem perderia, por sua vez, sua posição de centro e fim.
Lenoble (1990) defende, a propósito, que há muitos pontos de contato entre o atomismo antigo e o
mecanicismo de Descartes e Bacon. Afirma que a tomada de posição do atomismo perante o mundo
“significa a reivindicação pelo homem de uma liberdade absoluta perante as coisas, que ele ‘pulveriza’ já
com tanta resolução como aquela que os mecanicistas do século XVII porão em matematizar a natureza.
E esta interminável demora que se vai estender durante a maior parte da humanidade histórica, entre esta
primeira visão do mundo e o mecanicismo que será a reedição dela, essa demora que parece aparentemente
inexplicável, deve ter um sentido” (p.86; ver também nota 104, p.122-123). Ao tentar explicar esse
sentido, Lenoble argumenta que o homem não teria ainda se habituado a essa liberdade, tendo Demócrito
chegado um pouco cedo demais, pois sua natureza amorfa não pregava lei nenhuma, e o sucesso do
aristotelismo, ao restringir o mundo à medida do homem, pode ser atribuído à recusa do homem em
resignar-se a ser filho do acaso.
10 O atomismo, logicamente, não foi aceito pela Igreja. Ambos, o aristotelismo e o cristianismo da
escolástica, acreditavam num finalismo para o movimento e a ordem hierárquica das coisas. Todavia, há
no cristianismo uma inferência mais antropocêntrica para o sentido de natureza, acreditando-se que
tudo foi criado por Deus para o dispor do homem, seu filho dileto e imagem próxima. Esse elemento não
apareceria em Aristóteles (Lenoble, 1990, especialmente nota 83).
11 O mecanicismo, segundo Lenoble (1990, p.260), “comporta uma nova definição do conhecimento,
que já não é contemplação mas utilização, uma nova atitude do homem perante a Natureza: ele deixa
de a olhar como uma criança olha a mãe, tomando-a por modelo; quer conquistá-la, tornar-se ‘dono e
senhor’ dela”.
12 Como afirma Almeida (1995, p.117), esse ponto de ruptura do mecanicismo encontra-se justamente
“na noção de movimento sem finalidade, movimento cujo único objetivo é mover-se, avançar sempre,
daí o ‘progresso’ e, mais recentemente, o ‘desenvolvimento’, ‘religiões’ da atualidade”. Como vemos, as
observações de Lenoble (1990) sobre os pontos de contato entre o antigo atomismo grego e o mecanicismo
parecem bem pertinentes.
13 O que se compreende, pois sua obra sobre a natureza foi escrita durante a década de 1950 e ele morreu
em 1959 deixando-a parcialmente inacabada. No entanto, Zaidán (1995), ao tematizar a relação entre
homem e natureza, considera que existem quatro grandes épocas culturais: a primeira, da relação mimética
do humano com a natureza – correspondendo à ‘natureza mágica’ de Lenoble; a segunda, da relação
amorosa, no período da filosofia grega pré-aristotélica; a terceira, da relação instrumental, que teria sido
inaugurada pela metafísica aristotélica e atualizada em toda a sua plenitude pela filosofia moderna; e a
quarta e última, correspondendo à época contemporânea e pós-moderna, da relação de simulacro, que
estaria levando a extremos as consequências do próprio pensamento moderno, no qual “o sujeito/
638
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

Antinomias pós-modernas sobre a natureza
trabalho é substituído pela linguagem, pelo símbolo, por uma economia política da significação. Aí o
conceito de uma natureza dessubstancializada e transformada num mero substrato vazio à disposição
dos caprichos humanos é trocada pelo de um simulacro (mais que perfeito) hiper-realizado do mundo.
Aqui, opera-se uma dupla elisão: a do sujeito e a do objeto, e a única coisa que sobrevive é a linguagem,
um sistema de signos sem significação. O simulacro expropria do homem e da natureza todas as suas
relações, interpondo-se entre um e outro” (p.128).
14 Como exemplo, a hipótese-Gaia, de Lovelock, estaria mais próxima dessa tendência (Vincent, 1995,
p.221), como também as éticas não antropocêntricas de Taylor (1989) e Rolston (1981).
15 Recorremos também a Braida (1992) para a leitura interpretativa das ideias de Nietzsche aqui expostas.
Lembramos novamente tratar-se de um filósofo-chave para o discurso pós-moderno.
16 Um pequeno polvo que nadava feliz num tanque de águas poluídas da baía de onde fora retirado e
morreu ao ser colocado num tanque com água ‘limpa’.
17 Como aponta Vincent (1995, p.223): “O mais grave de tudo isso é a dificuldade de perceber qual a
noção de natureza da abordagem intrínseca e de sua ligação com a teoria de Gaia. Se os homens são
parte da natureza, na posição ‘indiferente’ de Gaia, então provavelmente somos livres, assim como todos
os outros animais, para utilizar o mundo à nossa volta. Se é da nossa natureza explorar e se portanto nos
destruirmos, o universo não ligará a mínima”.
18 “Nossas estações do ano são produtos pós-naturais e pós-astronômicos, da televisão e da mídia,
triunfalmente artificiais por meio da força das imagens do canal da National Geographic ou da
meteorologia – simulam ritmos, antes naturais, para a conveniência comercial” (Jameson, 1997, p.32).
19 “A agricultura – culturalmente distinta e identificada na superestrutura como o Outro da Natureza –
torna-se agora uma indústria como qualquer outra, e os camponeses, simples operários cujo trabalho é
classicamente mercantilizado em termos de equivalências de valor” (Jameson, 1997, p.40).
20 Para uma discussão sobre o modo como a globalização, por meio de distintas e específicas demandas,
convive com a valorização da diferença dos localismos e regionalizações e a estimula, ver Featherstone
(1996), Ortiz (1996), Yáñez (1998), Souza (1997), Froehlich (1999), entre outros.
21 O ‘recorte’ que conta a história de determinada região ou localidade para produzir mais atratividade
(turismo rural, turismo ecológico, turismo histórico etc.), elencando aspectos folclóricos, reconstituição
de produtos, trabalhos, tradições, jogos e cantares, comidas típicas, entre outros, pode ser encarado,
nesse sentido, como ‘construção’. Ver, a respeito, Champagne (1977), Cavaco (1996), Mormont (1996),
Mathieu (1996) e Froehlich (2003), entre outros.
22 “Nos territórios de forte conteúdo de ciência, tecnologia e informação não há mais sentido contrapor
a cidade ao campo, o urbano ao rural, nem tampouco insistir na distinção entre os clássicos setores da
atividade econômica” (Rodrigues, 2004, p.33).
23 Gilberto Freyre (1982, p.117-118), ao comentar estilos de desenvolvimento urbanista e regional, já
tivera insight pertinente sobre os elementos pós-modernos articulados e presentes na sua proposta de
rurbanização (como, por exemplo, a valorização do passado, do antigo, do arcaico compondo e
justapondo com o moderno, o tecnológico, o cosmopolita): “Tanto uma orientação como a outra, a
Regionalista francesa e a do Recife – a ela pioneiramente anterior – prestam-se a ser acusadas de
romanticoidemente arcaizantes e anti-industriais e antiurbanas, através de suas valorizações de valores
regionais e tradicionais, por muitos associados principalmente a vivências arcaicamente rurais. Mas serão
válidas essas acusações? Serão as formas rurais de vivência, necessariamente antiprogressistas ou
antimodernas, por constituir opostos a formas urbanas e urbano-industriais? Ou haverá em atitudes
supostamente arcaizantes, antecipações de formas pós-modernas de equilíbrio ou de contemporização
entre valores urbanos transferíveis a áreas rurais e desejos, da parte até de jovens dos nossos dias, de
desfrutarem de um convívio com águas, árvores, plantas, animais rurais, impossível dentro dos muros
estritamente urbanos?. Não será possível pós-modernamente conciliar-se experiências telúricas com o
gozo de modernas conveniências urbanas?” .
24 Jameson (1997, p.58) comenta: “A natureza é, então, com toda a certeza, o grande inimigo de qualquer
antifundamentalismo ou antiessencialismo: termo final e conteúdo de qualquer essência ou axioma, de
qualquer pressuposição última ou metafísica, de qualquer limite ou destino que possa ser colocado.
Dispensar os últimos remanescentes da natureza e o natural enquanto tal é, certamente, o sonho secreto
e o desejo de todo o pensamento contemporâneo ou pós-contemporâneo, pós-moderno – mesmo
sendo um sonho que este último sonha com uma certa ressalva secreta de que a ‘natureza’, para começo
de conversa, nunca existiu mesmo”.
v.17, n.3, jul.-set. 2010, p.627-641
639

José Marcos Froehlich, Celso Reni Braida
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Ângela Mendes de.
A ‘natureza’ e seus múltiplos usos. Estudos
Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, n.4,
p.113-125. 1995.
ANDERSON, Perry.
As origens da pós-modernidade. Rio de Janeiro:
Zahar. 1999.
BRAIDA, Celso Reni.
Os limites do intelecto: ensaio acerca da crítica
do conhecimento na obra tardia de F. W.
Nietzsche. Dissertação (Mestrado) – Programa
de Pós-graduação em Filosofia, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
1992.
BRUZZI, Hizina.
A cultura do simulacro. São Paulo: Paulinas.
1988.
CAVACO, Carminda.
Turismo rural e desenvolvimento local.
In: Rodrigues, Adyr. (Org.). Turismo:
desenvolvimento local. São Paulo: Hucitec.
p.94-121. 1996.
CHAMPAGNE, Patrick.
La fête au village. Actes de la Recherche, Paris,
n.17-18, p.72-83. 1977.
D’AGOSTINI, Francesco.
Analíticos e continentais: guia à filosofia dos
últimos trinta anos. São Leopoldo: Editora
Unisinos. 2003.
FEATHERSTONE, Michael.
Localismo, globalismo e identidade cultural.
Sociedade e Estado, Brasília, v.11, n.1, p.9-42.
1996.
FREYRE, Gilberto.
Rurbanização: que é?. Recife: Ed. Massangana;
Fundação Joaquim Nabuco. 1982.
FROEHLICH, José Marcos.
A (re)construção de identidades e tradições: o
rural como tema e cenário. Antropolítica,
Niterói, n.14, p.117-132. 2003.
FROEHLICH, José Marcos.
O local na atribuição de sentido ao
desenvolvimento. Textos CPDA, Rio de Janeiro,
n.7, p.3-21. 1999.
GUATTARI, Felix.
As três ecologias. 6.ed. Campinas: Papyrus. 1997.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich.
Lecciones sobre la filosofía de la história universal.
Madrid: Alianza Editorial. 1989.
JAMESON, Fredric.
As sementes do tempo. São Paulo: Ática. 1997.
KANT, Immanuel.
Crítica da razão pura. São Paulo: Abril Cultural.
1980.
KUMAR, Krishan.
Da sociedade pós-industrial à pós-moderna. Rio
de Janeiro: Zahar. 1997.
KURZ, Robert.
Negative ontologie, Die Dunkelmänner der
Aufklärung und die Geschichtsmetaphysik der
Moderne. Krisis, Nürnberg, n.26, p.13-42. 2003.
LENOBLE, Robert.
História da ideia de natureza. Lisboa: Edições 70.
1990.
MATHIEU, Nicole.
Rural et urbain: unité et diversité dans les
évolutions des modes d’habiter. In: Jollivet,
Marcel; Eizner, Nicole. (Org.). L’Europe et ses
campagnes. Paris: Presses des Sciences Politiques.
p.187-215. 1996.
MOREIRA, Roberto José.
Ruralidades e globalizações: ensaiando uma
interpretação. In: Moreira, Roberto José (Org.).
Identidades sociais: ruralidades no Brasil
contemporâneo. Rio de Janeiro: DP&A.
p.15-40. 2003.
MORMONT, Marc.
Le rural comme catégorie de lecture du social.
In: Jollivet, Marcel; Eizner, Nicole. (Org.).
L’Europe et ses campagnes. Paris: Presses des
Sciences Politiques. p.161-176. 1996.
MUTSCHLER, Hans-Dieter.
Introdução à filosofia da natureza. São Paulo:
Edições Loyola. 2008.
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm.
Obras incompletas. São Paulo: Nova Cultural.
1991.
ORTIZ, Renato.
Anotações sobre a mundialização e a questão
nacional. Sociedade e Estado, Brasília, v.11, n.1,
p.43-56. 1996.
PASCAL, Blaise.
Pensamentos. 2.ed. São Paulo: Abril Cultural.
1979.
PRIGOGINE, Ilya; STENGERS, Isabelle.
A nova aliança. 3.ed. Brasília: Editora UnB.
1997.
REDCLIFT, Michael.
Entrevista. Agricultura Sustentável, Brasília,
n.1-2, p.5-12. 1996.
RODRIGUES, Adyr.
Turismo eco-rural: interfaces entre o ecoturismo
640
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

Antinomias pós-modernas sobre a natureza
e o turismo rural. In: Almeida, Joaquim;
Froehlich, José Marcos; Riedl, Mário (Orgs.).
Turismo rural e desenvolvimento sustentável. 4.ed.
Campinas: Papyrus. p.85-96. 2004.
ROLSTON, Holmes.
Values in nature. Environmental Ethics, Denton,
n.3, p.113-128. 1981.
SANTOS, Jair Ferreira dos.
O que é pós-moderno. 5.ed. São Paulo:
Brasiliense. 1988.
SCHÄFER, Lothar.
Das Bacon-Projekt. Frankfurt: Suhrkamp. 1993.
SOKAL, Alan.
Pseudoscience and postmodernism: antagonists
or fellow-travelers? In: Sokal, Alan.
Archaeological fantasies: how
pseudoarchaeology misrepresents the past and
misleads the public. London: Routledge.
p.286-361. 2006.
SOUZA, Marcelo Lopes de.
Algumas notas sobre a importância do espaço
para o desenvolvimento social. Território,
Rio de Janeiro, n.3, p.13-35. 1997.
TAYLOR, Paul W.
Respect for nature: a theory of environmental
ethics. New Jersey: Princeton University Press.
1989.
THOMAS, Keith.
O homem e o mundo natural. São Paulo:
Companhia das Letras. 1996.
VIDEIRA, Antonio Augusto Passos.
Natureza e ciência moderna. Ciência&Ambiente,
Santa Maria, n.28, p.121-134. 2004.
VINCENT, Andrew.
Ideologias políticas modernas. Rio de Janeiro:
Zahar. 1995.
YAÑEZ, Clemente Navarro.
Globalización y localismo: nuevas
oportunidades para el desarrollo. Revista de
Fomento Social, Córdoba, n.53, p.31-46. 1998.
ZAIDÁN, Michel.
Fundamentos sociofilosóficos da questão
ambiental. Estudos Sociedade e Agricultura,
Rio de Janeiro, n.4, p.126-129. 1995.
uuuUUU
v.17, n.3, jul.-set. 2010, p.627-641
641
