
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Instituto de Artes
FABIO DE ALMEIDA PIMENTA
ESTUDOS PARA MACACO:
INVENTA(RIA)NDO PROCESSOS ARTÍSTICOS A PARTIR DA INTEGRAÇÃO
ENTRE SOMÁTICA, ECOLOGIA E PERFORMANCE
CAMPINAS
2020
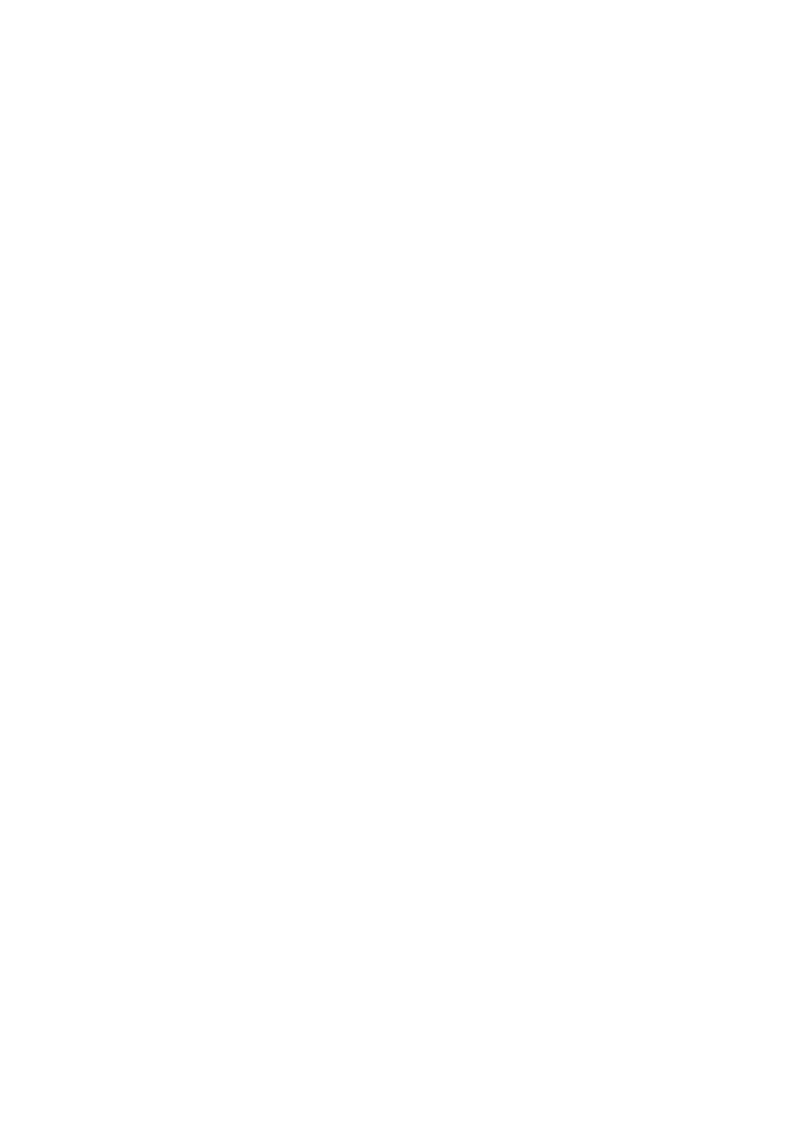
FABIO DE ALMEIDA PIMENTA
ESTUDOS PARA MACACO:
INVENTA(RIA)NDO PROCESSOS ARTÍSTICOS A PARTIR DA INTEGRAÇÃO
ENTRE SOMÁTICA, ECOLOGIA E PERFORMANCE
Dissertação apresentada ao Instituto de Artes da Universidade
Estadual de Campinas como parte dos requisitos exigidos para a
obtenção do título de Mestre em Artes da Cena, na área de Teatro,
Dança e Performance.
Orientadora: SILVIA MARIA GERALDI.
ESTE TRABALHO CORRESPONDE À VERSÃO
FINAL DA DISSERTAÇÃO DEFENDIDA PELO
ALUNO FABIO DE ALMEIDA PIMENTA, E
ORIENTADA PELA PROF.ª DR.ª SILVIA MARIA
GERALDI
CAMPINAS
2020
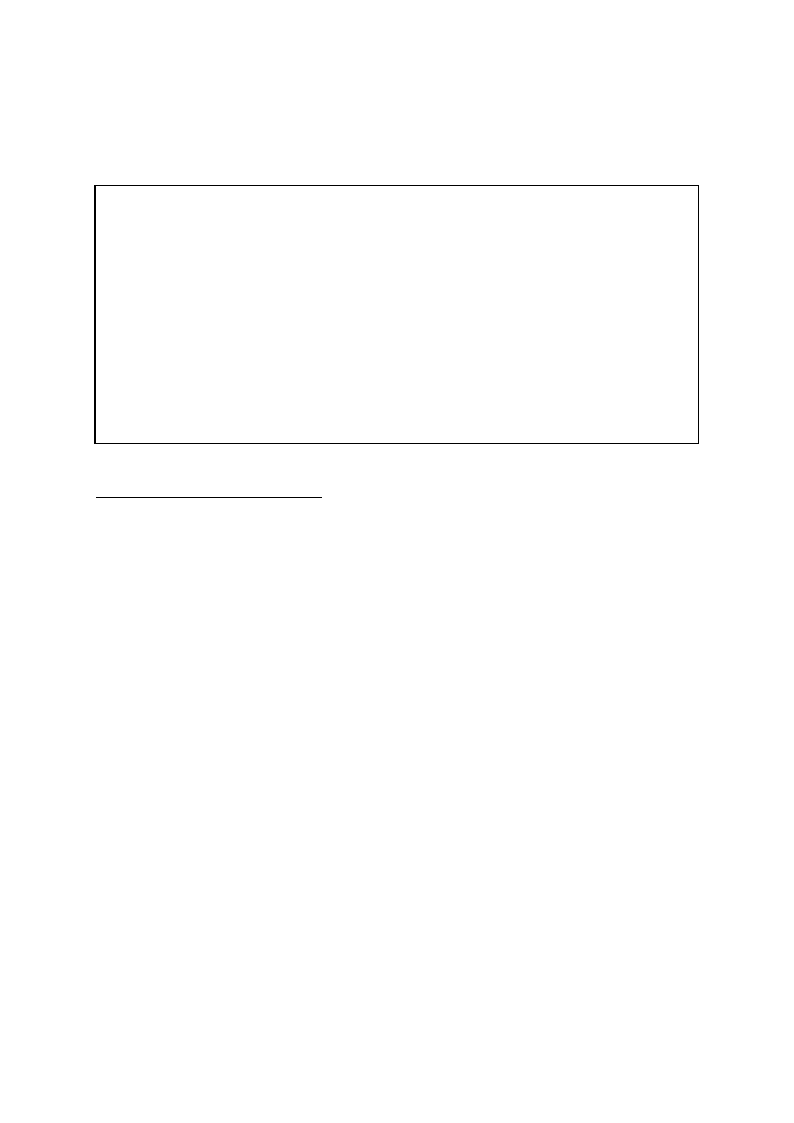
Ficha catalográfica
Universidade Estadual de Campinas
Biblioteca do Instituto de Artes
Silvia Regina Shiroma - CRB 8/8180
P649e
Pimenta, Fabio de Almeida, 1986-
PimEstudos para macaco : inventari(ria)ndo processos artísticos a partir da
integração entre somática, ecologia e performance / Fabio de Almeida
Pimenta. – Campinas, SP : [s.n.], 2020.
PimOrientador: Silvia Maria Geraldi.
PimDissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de
Artes.
Pim1. Ecologia. 2. Ecossomática. 3. Performance (Arte). 4. Pesquisa. I.
Geraldi, Silvia Maria, 1964-. II. Universidade Estadual de Campinas. Instituto
de Artes. III. Título.
Informações para Biblioteca Digital
Título em outro idioma: Monkey studies : invent(or)ing artistic processes from the
integration between somatics, ecology and performance
Palavras-chave em inglês:
Ecology
Ecossomatics
Performance art
Research
Área de concentração: Teatro, Dança e Performance
Titulação: Mestre em Artes da Cena
Banca examinadora:
Silvia Maria Geraldi [Orientador]
Ciane Fernandes
Veronica Fabrini Machado de Almeida
Data de defesa: 25-11-2020
Programa de Pós-Graduação: Artes da Cena
Identificação e informações acadêmicas do(a) aluno(a)
- ORCID do autor: https://orcid.org/0000-0003-0788-646
- Currículo Lattes do autor: http://lattes.cnpq.br/4998238307758155
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

COMISSÃO EXAMINADORA DA DEFESA DE MESTRADO
FABIO DE ALMEIDA PIMENTA
ORIENTADORA: SILVIA MARIA GERALDI
MEMBROS:
1. PROFª DRª. SILVIA MARIA GERALDI
2. PROFª DRª. CIANE FERNANDES
3. PROFª DRª. VERONICA FABRINI MACHADO DE ALMEIDA
Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena do Instituto de Artes da Universidade Estadual
de Campinas.
A ata de defesa com as respectivas assinaturas dos membros da comissão examinadora
encontra-se no SIGA/Sistema de Fluxo de Dissertação/Tese e na Secretaria do Programa da
Unidade.
DATA DA DEFESA: 25.11.2020

Para tia Elisete

AGRADECIMENTOS
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001
Agradeço a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, ao Instituto de
Artes – IA e a todos seus funcionários e docentes pela oportunidade e pela estrutura oferecida
para que minha pesquisa se desenvolvesse, dando continuidade assim ao meu próprio
desenvolvimento enquanto artista, pesquisador e ser humano.
Não tenho adjetivos para mensurar o quanto agradeço a orientação generosa da
Prof.ª Dra. Silvia Maria Geraldi, cujo olhar enxergou, ao longo da pesquisa, as fragilidades e
as potências invisíveis aos meus olhos de pesquisador menos experiente. Agradeço também a
sua agradável companhia em incontáveis horas entre reuniões e salas de ensaio ao longo
desses últimos anos.
Agradeço, também, à Paula Emanuela, pelas correções gramaticais e de
formatação.
Agradeço minha família, em especial, à Elenice, Gelson, Ricardo, Kimberly e
Thiago pelo contínuo apoio e companheirismo.
Dentre meus amigos e amigas, agradeço em especial a Eduardo, Giovanna e
Carla, as pessoas com quem tenho compartilhado um teto, uma horta e uma sala de ensaio na
“Nossa Casa 890”.

RESUMO
Em “Estudos para Macaco”, questionamentos sobre o momento atual da humanidade são
materializados performaticamente partindo de um olhar crítico para a suposta superioridade
dessa espécie em relação às outras, à sua própria ancestralidade e ao meio ambiente e seus
fenômenos naturais. A performance em questão foi realizada ininterruptamente ao longo da
pós-graduação, não apenas complementando ou concluindo as investigações teóricas, mas
sendo ela própria um método investigativo igualmente relevante. Visitas a um bosque,
interações com o mesmo e a realização de práticas somáticas nesse espaço, tendo como
embasamento o campo da Performance como Pesquisa, configuraram a parte mais imediata e
tácita das indagações que aqui se articulam. Em diálogo com os estudos da performance e
com o universo da somática e da ecossomática, as práticas dessa pesquisa buscam por
elucidações, problematizações e alternativas acerca da Era Antropocênica e do protagonismo
humano que ela equivocada e irresponsavelmente sugere. Parte-se do pressuposto de que,
decorrentes do desenrolar evolutivo/civilizatório da espécie, surgiram padrões sensório-
motores inclinados à inconsciência do indivíduo sobre si mesmo e de si enquanto parte do
mundo. No sentido oposto, “estudar para macaco”, entre "andar a evolução ao contrário" e
“cuidar do futuro”, se faz através de uma série de práticas sobre o movimento e sobre a
percepção que desfazem a ilusão de cisão entre corpo, mente e mundo. O objetivo da pesquisa
é tornar palpável as características delineadas pela Ecologia Profunda e diluir-se
cinestesicamente no ambiente para vivenciar e compartilhar a unidade entre indivíduo e
ecossistema.
PALAVRAS-CHAVE: Performance como Pesquisa. Ecossomática. Ecologia Profunda.
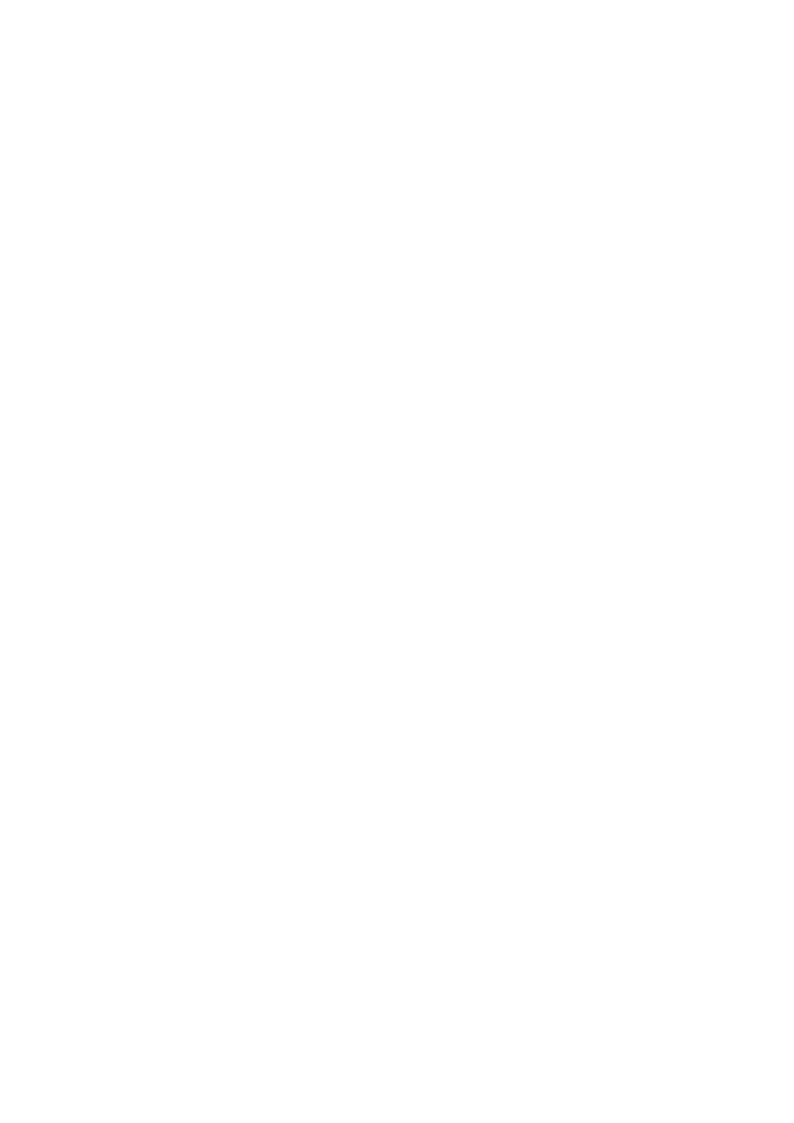
ABSTRACT
In “Monkey Studies”, questions about the current moment of mankind are materialized
performatically starting from a critical look at the supposed superiority of this species in
relation to the others, its own ancestry and the environment and its natural phenomena. The
performance in question was realized uninterruptedly throughout the postgraduate period, not
only complementing or concluding the theoretical investigations, but being itself an equally
relevant investigative method. Visits to a forest, interactions with it and the realization of
somatic practices in that space, based on the field of Performace as Research, configured the
most immediate and tacit part of the questions that are articulated here. In dialogue with
Performance Studies and with the somatic and ecosomatic universe, the practices of this
research look for elucidations, problematizations and alternatives about the Anthropocentric
Era and the human protagonism that it mistakenly and irresponsibly suggests. It is based on
the assumption that, due to the evolutionary/civilizing development of the species,
sensorimotor patterns arose, inclined to the individual's unconsciousness about himself and
himself as part of the world. In the opposite sense, “studying for a monkey”, between
“walking the evolution in reverse” and “taking care of the future”, is done through a series of
practices of movement and perception that undo the illusion of division between body, mind
and world. The aim of the research is to make the characteristics outlined by Deep Ecology
palpable and to dilute kinesthetically in the environment to experience and share the unity
between individual and ecosystem.
KEYWORDS: Performance as research. Ecosomatics. Deep Ecology.

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 Ensaios no bosque_2018-2020_1. Foto: Silvia Maria Geraldi..................................11
Figura 2 Letra de música_1: Selva de concreto.......................................................................18
Figura 3 Trabalho de conclusão da graduação_2013-2014_1. Foto: Mileine Machado..........24
Figura 4 TTOR-2013_1. Foto: Taanteatro Companhia...........................................................29
Figura 5 TCC_2013-2014_2. Foto: Fernando Stratico............................................................35
Figura 6 Qualificação em Dança 2016: Finalização Foto: Gabriel Luís Campos...................40
Figura 7 Letra de música_2: Animal racional..........................................................................44
Figura 8 Ensaios no bosque_2018-2020_2. Foto: Silvia Maria Geraldi..................................53
Figura 9 Recorte de livro_1: O guia do mochileiro das galáxias.............................................59
Figura 10 Ensaios no bosque_2018-2020_3. Foto: Silvia Maria Geraldi...............................71
Figura 11 Ensaios no bosque_2018-2020_4. Foto: Silvia Maria Geraldi...............................80
Figura 12 Ensaios no bosque_2018-2020_5. Foto: Silvia Maria Geraldi...............................87
Figura 13 Ensaios no bosque_2018-2020_6. Foto: Silvia Maria Geraldi..............................94
Figura 14 Ensaios no bosque_2018-2020_7. Foto: Silvia Maria Geraldi..............................102
Figura 15 Ensaios no bosque_2018-2020_8. Foto: Silvia Maria Geraldi..............................108
Figura 16 Ensaios no bosque_2018-2020_9. Foto: Silvia Maria Geraldi..............................114
Figura 17 Letra de música_3: O macaco fala o que pensa....................................................122
Obs.: As diagramações foram feitas por Kimberly Christie

10
SUMÁRIO
1. NATUREZA? QUE DESEJO É ESSE? ........................................................................... 12
2 MACACOS PELO CAMINHO ......................................................................................... 19
2.1 Mover as reflexões da pesquisa através de seu histórico .............................................. 19
2.2 CIA.L2: encontro com as artes cênicas como consciência e expressão de si ............... 20
2.3 Estudos para macaco versão 0.5: ritual de passagem, pentamusculatura e
metacoreografia no teatro coreográfico de tensões ............................................................. 25
2.4. Estudos para macaco versão 01: coerções ideológicas ................................................. 30
2.5 Estudos para macaco versão 02: o pensamento sentado...............................................36
2.6 Quase versão 03 – os macacos lutadores ........................................................................ 41
3 PERFORMANCE, SOMÁTICA E ECOLOGIA – NOVAS FORMAS DE OLHAR A
PESQUISA .............................................................................................................................. 45
3.1 Atualizações ecocentradas ............................................................................................... 45
3.2 Sob as lentes da somática ................................................................................................. 54
3.3 Aproximando-me da ecossomática.................................................................................. 60
3.4 Referências Artísticas.......................................................................................................72
4. AS PRÁTICAS....................................................................................................................81
4.1 Prática e pesquisa em estudos para macaco...................................................................81
4.2 Errâncias ........................................................................................................................... 88
4.3 Mapeamentos para uma mudança de fase ..................................................................... 95
4.4 Últimas idas ao bosque ................................................................................................... 103
4.5 Enfim, compartilhamentos ............................................................................................ 109
5 O QUE A PESQUISA ME DISSE ATÉ AQUI...............................................................115
REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 123
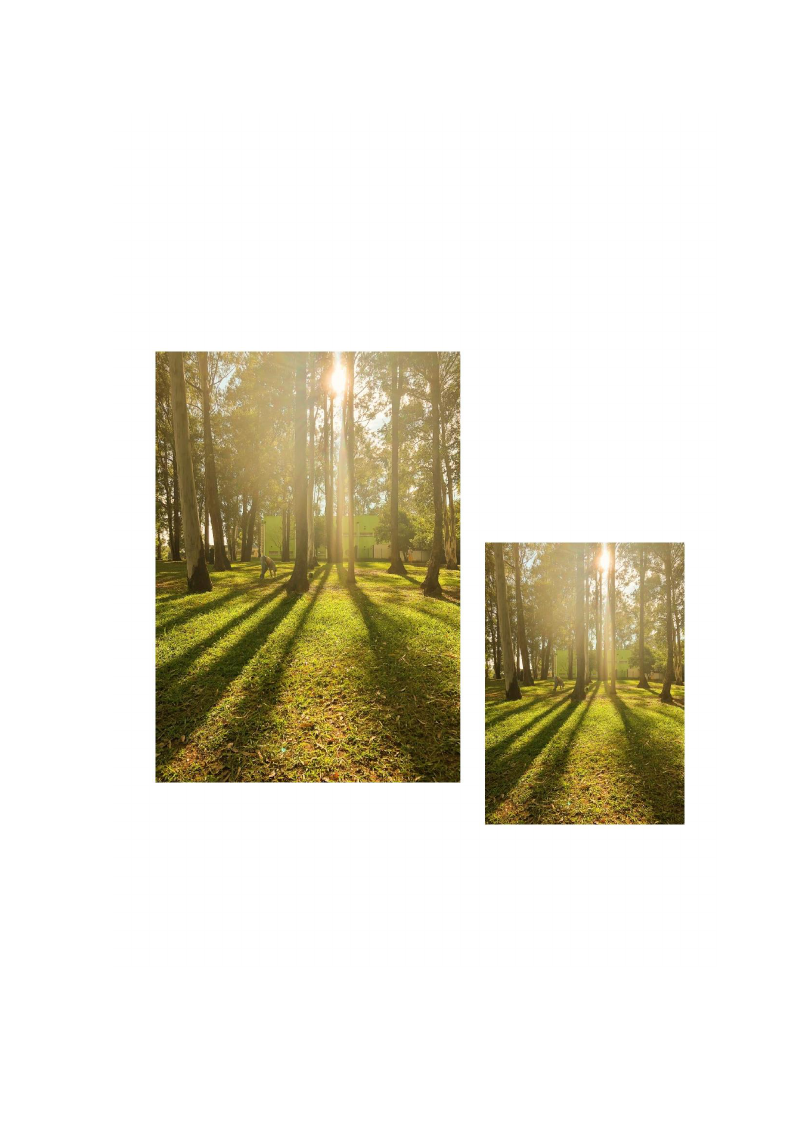
11
Figura 1— Ensaios no bosque_2018-2020_1

12
1. NATUREZA? QUE DESEJO É ESSE?
Trago em mim um desejo de subir em árvores, de rolar na grama e me sujar de
terra, dentre outras interações exageradas com elementos da natureza. Sinto-me excêntrico por
isso, sinto que esse desejo me faz destoar de uma certa “normalidade” estabelecida. É uma
sede de entregar-me à minha animalidade e à natureza que sinto tão antiga quanto eu, faz
parte de mim. Não sei de onde veio essa gana e não pretendo julgá-la, mas sim, estudá-la. São
vontades que apontam para a metáfora de uma ancestralidade primata e selvagem e que
podem ser percebidas materialmente e muscularmente.
As motivações iniciais dessa pesquisa nasceram de ansiedades que, em
determinado período de minha vida, senti surgir em mim tal qual em um animal mantido no
cativeiro de um zoológico. Árvore, grama, terra, subir, rolar e sujar são exemplos de
possibilidades de movimento e interações com o mundo, cuja realização, em minha vida
pessoal, se relaciona com a desobediência de convenções pré-estabelecidas. Possibilidades
que remetem à natureza, a fenômenos e elementos não-humanos e que, portanto, ao longo de
meu desenvolvimento enquanto Homo sapiens do final do século XX, aprendi como
relegados ao passado, superados pela evolução. Essa pesquisa advém do vislumbre
inquietante de que havia um conjunto de normas sociais que limitavam minhas possibilidades
pessoais acerca da percepção e do movimento.
Não quero soar exagerado, não estou falando do sofrimento, por exemplo, de um
presidiário. No entanto, há uma normatividade palpável que imprime em mim um pouco de
cárcere. Mesmo solto no mundo, supostamente no topo da cadeia alimentar, há ainda muito
que não se realiza, possibilidades que não cabem em regras estabelecidas para coadunar
repressão e impressão de liberdade em um contexto de constante pressão para que todas as
pessoas se adequem aos mesmos padrões, doa a quem doer.
Em oposição a este panorama, posiciono meu encontro com as Artes da Cena, que
tem início com algumas experiências amadoras com teatro e circo por volta de 2005, e mais
oficialmente com a participação em uma série de oficinas e apresentações na linguagem clown
entre 2007 e 2010. Já entre 2010 e 2014 realizei a graduação em um contexto que me
apresentou junto ao teatro, muito da dança, da somática e da performance, processo que
considero ter concluído minha iniciação nessas linguagens.
Quando me deparei com uma sala de ensaio, com práticas corporais e processos
criativos, me vi diante de um oásis. Lugar onde tomar decisões sobre mim. Onde escolher

13
nuances do movimento e da atenção. Onde me escutar, escolher formas e trajetórias e
acompanhá-las com a percepção dilatada. Onde, articulando conscientemente essas escolhas,
me permitir dobrar, torcer, pular, correr, cair e o que mais vier a decidir. Lugar imune a
limites e padrões cotidianos e onde, finalmente, me sentia vivo e me percebia concretamente
durante a experiência de estar vivo.
Conforme conheci o teatro, a dança, a performance e a educação somática,
conheci práticas sobre a atenção, o movimento e a criatividade que me apresentaram novas
perspectivas acerca de ser e estar no mundo. No contexto das ramificações das Artes da Cena
tomei contato com possibilidades de compreender o corpo para além da divisão
cabeça/tronco/membros, de suas funcionalidades cotidianas, da dicotomia corpo/mente e de
hábitos aprendidos e reproduzidos automaticamente. Também, como multifacetado em esferas
sutis e como indissociável da minha própria existência enquanto indivíduo no mundo.
Conforme entrava em contato, numa organização um pouco caótica, com nomes
diversos, Constantin Stanislavski, Jerzy Grotowski, Eugênio Barba, Rudolf Laban, Pina
Bausch, Viola Spolin, Luís Otávio Burnier, Steve Paxton, Marina Abramović, Klauss Vianna,
Kazuo Ohno e Thomas Hanna, por exemplo, me encantava e identificava caminhos para dar
vazão aos desejos que sentia reprimidos e incompreendidos. Possibilidades de trabalhar sobre
minhas próprias habilidades motoras e perceptivas, de criar minhas próprias partituras de
movimento e roteiros de ação. Mesmo que em contexto artístico, isso tudo se apresentava para
mim como forma de assumir mais das decisões sobre meu próprio corpo e sobre minha
existência de uma perspectiva corporal.
Iniciei essa pesquisa entre 2013 e 2014, na graduação. Dei continuidade à mesma
fora da academia em 2016 e 2017 e em 2018 a retomei como projeto de mestrado. Nela,
interessa-me que as disparidades entre as realidades descritas nos parágrafos anteriores
dialoguem, friccionem e transbordem a esfera da pessoalidade em uma investigação
centrífuga.
A cada etapa atualizo minha abordagem em termos de procedimentos criativos e
embasamentos conceituais, sempre tendo uma perspectiva evolutiva como referencial
imagético e poético para questionar o desenvolvimento da espécie humana e de seu processo
civilizatório como suposto aclive contínuo de aprimoramentos. Busco estabelecer lugares e
práticas que identifiquem e subvertam formas de estar no mundo, ao mesmo tempo,
questionáveis e associadas a ápices filogenéticos e ontogenéticos.
O objeto da pesquisa sou eu mesmo enquanto indivíduo, performer e pesquisador
em minha relação com o mundo e com meu próprio corpo e subjetividade. No entanto, isso
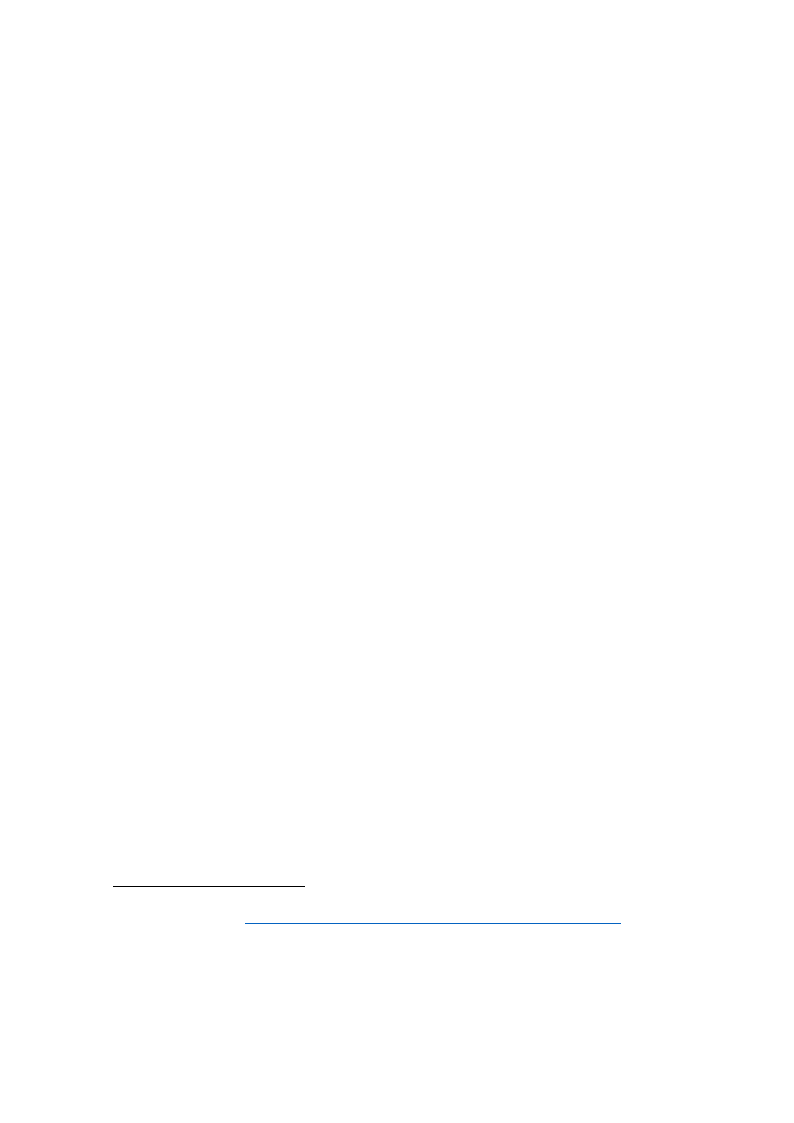
14
não configura isolamento, mas sim, um caminho para encontrar as intersecções da
investigação com questões mais universais.
De fato, considerando a trajetória dessa pesquisa de 2013 até o presente momento,
esse processo centrífugo já se estabeleceu. De início, busquei problematizar o senso comum
da superioridade da espécie humana sobre as outras – inclusive aquelas com a quais coabita a
ordem dos primatas – motivado por questões e inquietações íntimas à minha vida pessoal.
No período ao qual se refere essa dissertação (2018 – 2020), tais problematizações
se estendem para a relação da espécie humana com todos os elementos e dinâmicas que
compõem o planeta. As convenções e padrões que antes me revelavam uma alienação latente
da qual fugia desesperadamente por uma angústia pessoal passaram, gradualmente, a condizer
com ideias e hábitos que centralizam uma visão antropocênica do mundo, a saber: o ser
humano como dominador e possuidor dissociado de seu habitat, sobretudo quando
considerado como eixo central dos acontecimentos nele ocorridos, mas ignorado enquanto
autor de seus desdobramentos trágicos.
Meu objetivo de romper com a normalidade convencionada – a normatividade
bípede, usando as palavras de Edu O. (2020) como escutei na voz da Profª Drª Ciane
Fernandes no seminário da ABRACE de 20201 – passou a ter como foco contestar as formas
de perceber a si e ao meio, comuns em uma perspectiva antropocênica instaurada como
egrégora e que marginaliza um modo ecocentrado de ver o mundo. A forma antropocênica2 de
olhar para o papel da espécie humana no globo e em sua relação com ele reflete os hábitos
motores, perceptivos e as dramaturgias que aprendemos e reproduzimos: a falta de
consciência do próprio corpo em suas múltiplas camadas; a falta de costume de dar tempo à
escuta de si e aos estímulos criativos internos; e o desinteresse pela autoria de seus próprios
movimentos. São padrões que, ao ignorar a escuta de si, ignoram a importância do planeta e
subjugam a importância de ambos.
Transitei por diversas abordagens em cada etapa e, nesse momento mais atual,
após ir ao encontro dos procedimentos e dos porquês da pesquisa gradual e empiricamente,
1 Palestra realizada no ABRACE ON_LINE da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Artes
Cênicas, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kgLuKT6LqOI&feature=youtu.be
2 Pontuo a partir da coletânea de ensaios “Art in the Antropocene” (DAVIS; TURPIN, 2015) o termo
“antropoceno” como popularizado em seu atual entendimento pelo Nobel de Química Paul Crutzen no final do
século XX como nome da Era geológica na qual vivemos hoje. Nela, o comportamento da espécie humana é a
influência predominante nas mudanças ocorridas sobre a própria litosfera, hidrosfera e atmosfera do globo
terrestre. A partir da mesma série de ensaios, percebo como imprescindível compreender e utilizar tal termo com
um olhar crítico e decolonial, ou seja, pensando com cautela: quais são esses comportamentos e se é justo
endereçar essa responsabilidade à totalidade da espécie humana.

15
me coloco nos entremeios da pesquisa em artes, da performance e das práticas somáticas em
suas aproximações com a ecologia. Isso especificamente quando ecologia não significa o
cuidado com aquele mundo natural que seria somente propriedade da espécie humana, mas
sim a desconstrução de hierarquias entre espécie humana e o restante do todo do planeta; a
revisão do lugar do humano no funcionamento e na permanência desse todo; e a afirmação do
valor intrínseco e da conexão entre tudo que compõe o planeta.
Ir a um espaço com resquícios de natureza, escutá-lo, deixar-me atravessar por
seus estímulos deixando que surjam movimentações e formas de estar no mundo, ou
simplesmente me colocar lá, em um relacionamento sutil e contemplativo. Eis a pesquisa. Ela
acontece na própria experimentação, em práticas do movimento e da atenção sobre de si
mesmo e sobre o mundo, em um lugar estabelecido para isso através da performance.
Dela se ramificam relatos, registros, reflexões e compartilhamentos,
inventariações que se mantem horizontais em relação às invenções que a sustentam. Por esses
caminhos, as questões que coloco em movimento tocam o termo ecologia, aqui entendido a
partir do contexto tríplice de Felix Guattari (1999), de princípios da ecossomática e da
ecologia profunda: nas múltiplas facetas do corpo de um indivíduo/performer, investigo as
harmonias e desarmonias nas quais incorrem as subjetividades, as relações sociais e as
interações com o meio urbano e selvagem.
Atualmente, o lugar da performance é um bosque dentro do campus da
UNICAMP, entre os prédios de Artes Corporais, Economia e Educação. Um espaço com
resquícios de natureza em meio a um cenário urbano. Nesse bosque, entre 2018 e 2020,
coloquei “Estudos para Macaco” novamente em processo.
Ao longo dessa etapa da pesquisa, com o suporte de um aprofundamento no
universo das práticas somáticas, a experiência se configurou especialmente em práticas que
buscavam equiparar palpavelmente a consciência do movimento com a experiência de existir
no mundo e de ser parte dele. Com enfoque ampliado na intersecção entre o ponto de vista do
indivíduo que habita e articula a materialidade do mundo e o indivíduo que apreende a
materialidade do mundo através de seus aparatos perceptivos.
Dentre as práticas da performance e da somática encontrei pontualmente dois
enfoques de minha curiosidade e investigação. Através da performance, interessa-me
estabelecer espaços regidos por lógicas originais e desvinculadas de preconcepções, enquanto
forma de um raro “agir no mundo” segundo a expressão da filósofa política Hannah Arendt
(2010) apresentada para mim pelo diretor da Cia.L2, Prof. Dr. Aguinaldo Moreira de Souza e
detalhada por ele no livro “Dor e Silêncio” (2019).
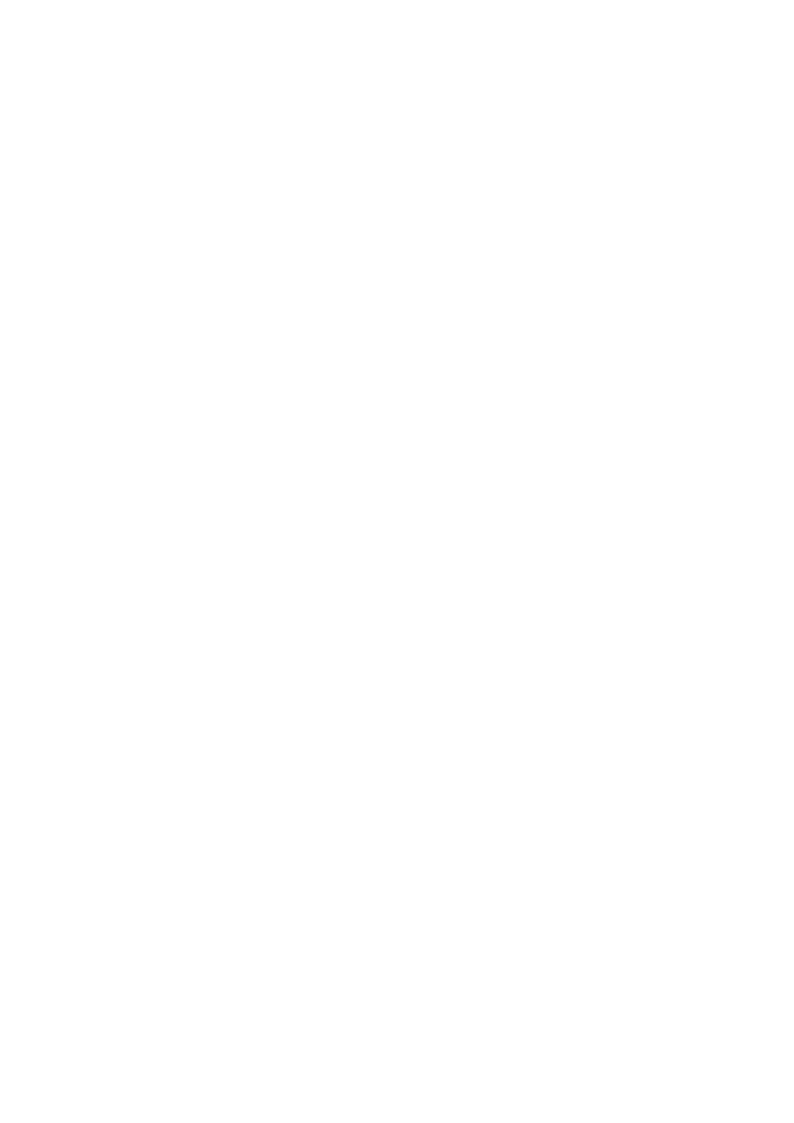
16
Interessa-me o evento de minha performance enquanto ruptura de uma realidade
convencionada. Ao mesmo tempo, a ruptura que busco instaurar está calcada em adentrar a
ecologia tendo em mãos uma perspectiva somática. Encontro na arte da performance a
possibilidade de escolher vivenciar e pesquisar experiências pouco comuns, nesse caso, um
olhar para o meio ambiente transformado tal qual o olhar para o corpo frente às teorias da
somática. Ou seja, a compreensão da natureza no corpo e enquanto corpo. Ou ainda da
indissociabilidade entre humano, não-humano e habitat em todos seus aspectos sensoriais,
musculares e motrizes.
O conjunto de minhas investigações buscou gerar um processo poético,
performativo e epistemológico acerca da intimidade dos indivíduos com o meio que habitam.
Um lugar de experimentações do movimento, da atenção e do contato com a natureza da qual
somos parte. Espero que essa procura obstinada ecoe e transborde, talvez como manifesto
sobre os desequilíbrios dessa relação, mas certamente como vivência concreta de outros
acordos possíveis. Assim se caracterizam meus “estudos para “macaco”, uma
problematização da situação do Homo sapiens que declarou-se como o centro de sua Era mais
recente e que tende a vangloriar-se disso ignorando sua própria nocividade.
Adentro a pesquisa como amostra de Homo sapiens evoluído e civilizado,
integrante do atual momento de sua espécie, que convive em sociedade e habita o planeta, que
faz arte e afazeres cotidianos, que precisa cuidar de sua sobrevivência e de sua qualidade de
vida e que deve ou deseja se preocupar com a manutenção do planeta que sua espécie habita.
Meus interesses por essa pesquisa são multifacetados, remetem a sensações e reflexões de
toda uma vida e movimentam diversas questões para entender, difundir e vivenciar uma
perspectiva somática e ecocentrada das relações com o planeta.
A escrita da presente dissertação foi composta colocando em diálogo as práticas
performáticas nas quais concentro a pesquisa, com as questões que levantei e investiguei
subsidiado pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena do Instituto de Artes da
Unicamp e por diversas referências artísticas e bibliográficas.
No primeiro capítulo, organizei um histórico pontuando desde as fagulhas iniciais
dessa pesquisa onde aparecem a alusão ao macaco e minhas tentativas de abordagens práticas
anteriores ao mestrado. Busco ressaltar nesses relatos os procedimentos e conceitos dos quais
me apropriei e atualmente, ao meu modo, carrego como base no que realizo enquanto artista
da cena. Integram essa bagagem minha formação como bacharel em Artes Cênicas pela
Universidade Estadual de Londrina – UEL/PR e a experiência como integrante das
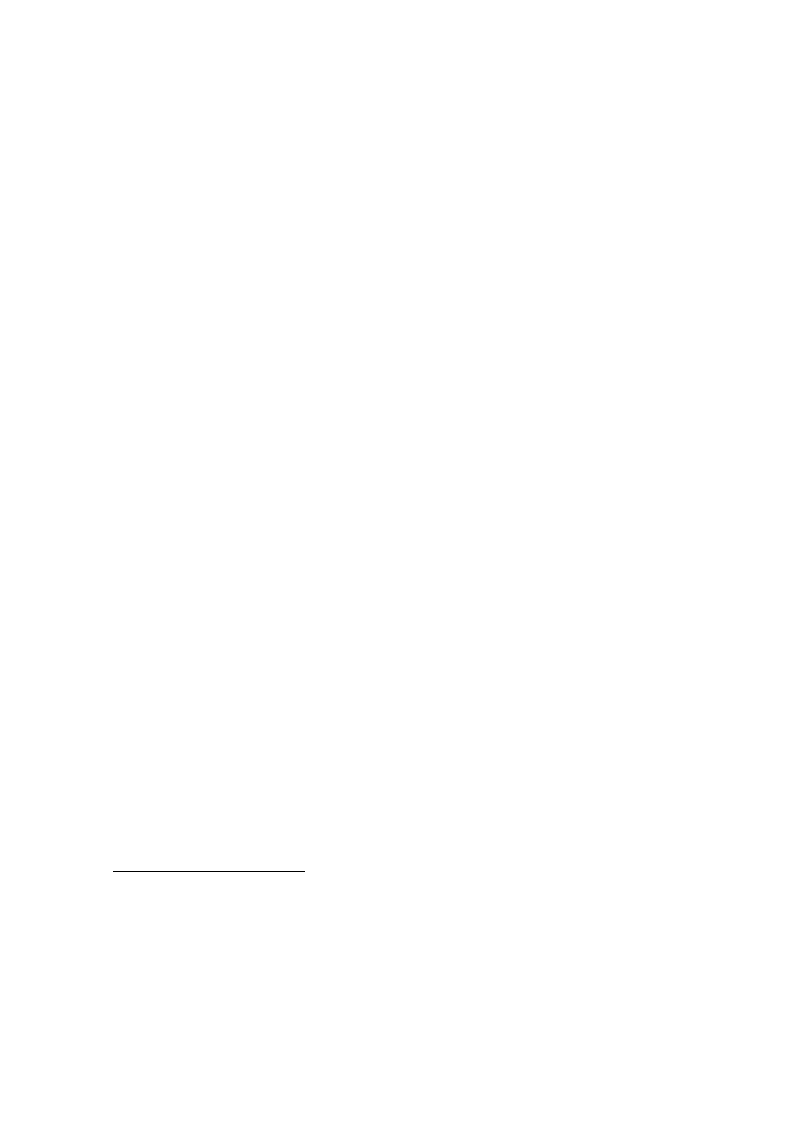
17
companhias Cia.L2 (PR) 3, Taanteatro (SP)4 e Coletivo Fleuma (SP)5. Busco iluminar também
aquilo que dos insights dessa época se atualizou em novas indagações e reflexões nas etapas
mais recentes da pesquisa.
No capítulo seguinte, abordo o mais atual que pude alcançar com esta escrita em
termos de seu encontro com o campo da somática e da ecossomática enquanto indicador das
características de uma crise ecológica na qual estamos imersos “de corpo e alma” e enquanto
fonte de práticas alternativas a esse contexto de crise. Ao final dessa parte da escrita, realizo
uma breve contextualização histórica e um breve levantamento de artistas e pesquisadores(as)
que já abordaram os assuntos e procedimentos os quais estudo.
Em seguida, retomo o que realizei enquanto práticas que integram o projeto de
mestrado e as estratégias de compartilhamento das mesmas. Falo desses quase três anos de
performance e da relação de horizontalidade dela com o texto. Além disso, falo dos vídeos e
do site com os quais concluo a pesquisa e que são tanto relato quanto parte integrante da
prática e do desenvolvimento do processo como um todo. Visam compartilhar camadas
visíveis e invisíveis presentes na prática durante seu acontecimento, no articular tácito e
imediato de saberes ao mesmo tempo racionais, emocionais, intuitivos e sensoriais.
No capítulo final evito pensar nas práticas e processos descritos anteriormente
exclusivamente como parâmetro para refletir acerca das questões as quais a pesquisa
vasculhou. Busco relatar os insights, elucidações e descobertas ocorridas, inclusive no que
elas têm de incompletas, no que permanecem incompreensíveis, abrindo apontamentos para o
futuro.
3 A Cia.L2, coordenada por Aguinaldo Moreira de Souza é um desdobramento do projeto de pesquisa,
“Treinamento Técnico e Sistematização de Processos de Trabalho de Ator”, também coordenado por ele dentro
das instalações do Centro de Comunicação e Artes – CECA da UEL.
4 Na época de minha participação as atividades da Companhia Taanteatro, dirigida por Maura Baiocchi e
Wolfgang Pannek, aconteciam principalmente na Galeria Olido e no Centro de Referência a Dança, ambos no
centro de São Paulo-SP e também na sede rural do grupo em São Lourenço da Serra – SP.
5 O Coletivo Fleuma, sediado em Indaiatuba-SP, iniciou suas atividades por volta de 2011 como um grupo de
amigos aspirantes a artistas, atualmente, já melhor estruturado, tem sua coordenação compartilhada
principalmente entre Kimberly Christie, Fabio Pimenta e Marcus Mazieri.
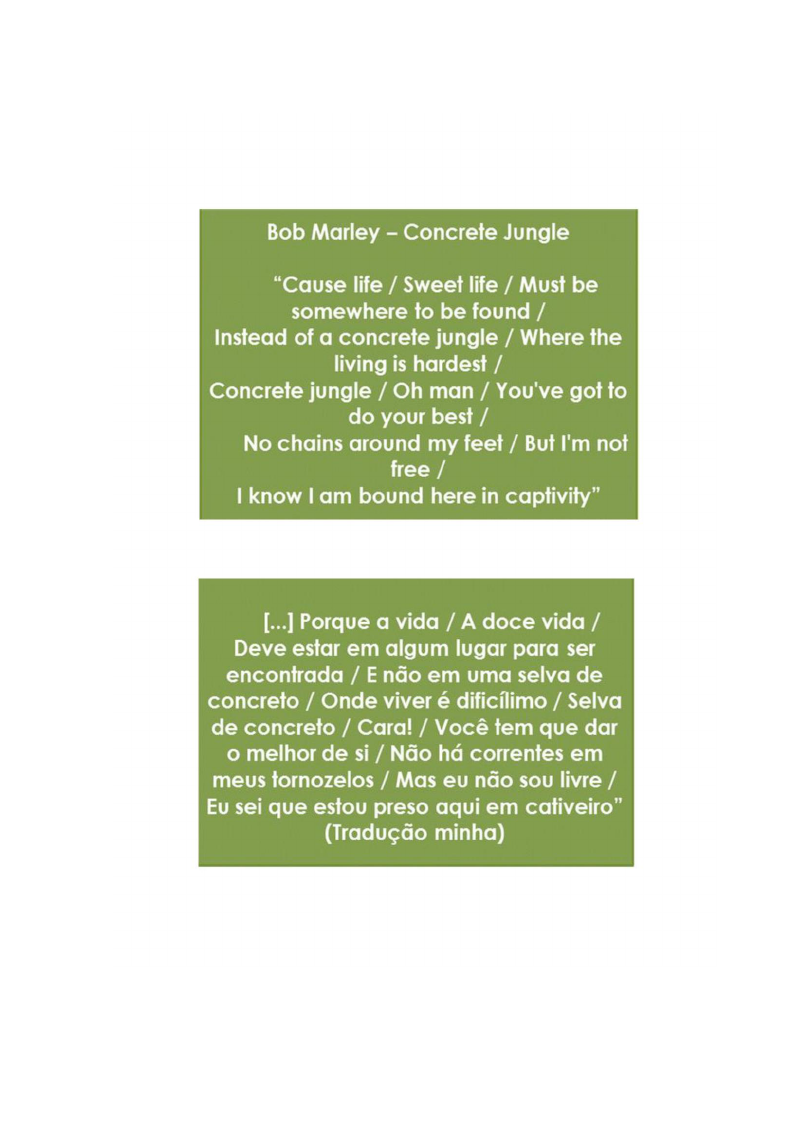
18
Figura 2 – Letra de música_1: Selva de concreto

19
2 MACACOS PELO CAMINHO
2.1 Mover as reflexões da pesquisa através de seu histórico
Dia após dia, nos fazem ver a deterioração do planeta e suas consequências. O lucro,
o interesse de uma minoria que nos dita como se deve viver nos destrói, acabará com
toda forma de vida e nós estamos tranquilos.
[...]
Há um século alguém falou com essa civilização, mas era apenas um selvagem, foi
ignorado e exterminado. ‘O que aqui contaminar, tudo que destruir, repercurtirá em
vocês mesmos, sem remédio.
[...]
A Terra não nos pertence, mas sim o homem a Terra. Os animais também pertencem
a ela. Onde está aquele bosque espesso? Foi cortado e queimado. E o riacho
cristalino? Está envenenado.
[...]
Enquanto for o capital que decidir sobre todas as coisas, seguiremos igual (...)
(FE DE RATAS, 2001, tradução minha)6
Inventario nesse capítulo, em ordem cronológica, etapas anteriores dessa pesquisa,
que fundamentam seus presentes desenvolvimentos. São elas: a graduação em Artes Cênicas e
a participação como ator-bailarino na Cia.L2, entre 2010 e 2014, as duas atividades
vinculadas à Universidade Estadual de Londrina - UEL; uma residência artística da qual
participei com a companhia Taanteatro de São Paulo (SP) em 2013; meu trabalho de
conclusão de curso, realizado entre 2013 e 2014 no Curso de Artes Cênicas da Universidade
Estadual de Londrina (UEL); a participação no Projeto Qualificação em Dança 2016 da
Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo; e uma tentativa de continuidade desse último
em 2017, que não chegou ao fim.
O foco foi pontuar, em cada época, o que eu entendia por um “estudo para
macaco”, o que a palavra “macaco” evocava, quais eram as questões e problematizações
estudadas e como isso se configurava na prática. A escrita deste histórico foi muito importante
porque me auxiliou a encontrar uma “voz” para a escrita e exercitá-la em um capítulo que
retoma práticas já realizadas. E também porque a escrita desse histórico se deu justaposta a
práticas referentes à pós-graduação e, com isso, auxiliou na identificação de qual era o
momento atual da performance e da pesquisa.
6 No idioma original a música diz: “Día a día nos hacen ver el deterioro del planeta y sus consecuencias. El
beneficio, el interés de una minoría que nos dicta como hay que vivir, nos destruye, acabará con toda forma de
vida y nosotros tranquilos. [...] Hace un siglo alguien habló a esta civilización, pero solo era un salvaje, fue
ignorao y exterminao. ‘Lo que aquí contaminéis, todo lo que destruyáis repercutirá en vosotros sin remedio. La
Tierra no nos pertenece, sí el hombre a la Tierra y tampoco los animales, también son de Ella. ¿Dónde está el
espeso bosque? Talao o quemao, ¿Y el arroyo cristalino? Está envenenao [...] Mientras sea el capital el que
decida sobre todo, pues seguiremos igual”. Confira a música completa em:
<https://www.youtube.com/watch?v=j0AaEggYJ4A>

20
2.2 CIA.L2: encontro com as artes cênicas como consciência e expressão de si
Entre 2010 e 2014 fui, simultaneamente, aluno da graduação em Artes Cênicas na
Universidade Estadual de Londrina (UEL) e integrante da Cia.L2, companhia coordenada
pelo Prof. Dr. Aguinaldo Moreira de Souza de quem destaco a experiência como docente do
curso de Artes Cênicas da UEL desde 2001 e sua atuação por sete anos no Ballet de Londrina.
Durante o período de minha participação nessa companhia, compusemos três
espetáculos, circulamos com os mesmos e realizamos diversas demonstrações de
procedimentos, ações calcadas em uma rotina de encontros mantida quase que
initerruptamente.
A Cia.L2 transitava entre as linguagens da dança, do teatro e da performance,
mas, sobretudo, embasava seus procedimentos e criações no que chamávamos de treinamento
técnico. Na verdade, a companhia é fruto do projeto de pesquisa Treinamento Técnico e
Sistematização de Processos de Trabalho de Ator, também coordenado por Aguinaldo. Neste
projeto, encontros diários eram organizados em torno de práticas influenciadas pela dança
moderna, dança contemporânea e ballet clássico, com vistas a desenvolver o condicionamento
físico do grupo, suas habilidades motoras extra-cotidianas e, em um segundo momento,
articular essa investigação de si em práticas criativas e expressivas (SOUZA, 2013).
Nesse momento, abordo minha experiência da graduação com foco na Cia.L2,
pois essa experiência sintetiza e exemplifica o que mais me afetava nas diversas práticas
vivenciadas durante minha passagem pela UEL e o que mais me moveu para pesquisas
posteriores. Na época, centralizávamos nosso entendimento de treinamento influenciados
pelas palavras de Patrícia Leonardelli (2002), ou seja, no sentido de rotinas de prática sobre si
que antecedem a construção cênica e propiciam uma pesquisa de recursos técnicos e humanos
que se refletem nos trabalhos artísticos posteriormente.
Seguíamos geralmente a seguinte rotina: preparo corporal (alongamento e
fortalecimento); estudo e improviso sobre princípios técnicos (nessa época: vetores,
agachamentos, decupagem e auto-manipulação das articulações, rolamentos, inversão de
equilíbrio, quedas, desmoronamentos e caminhadas em quatro apoios) (SOUZA, 2013);
organização do improviso em sequências de movimento; experimentação de variações dessas
sequências; e (não obrigatoriamente) encontro com sentidos, ideias e sensações que elas
possam levar para uma composição.
Esse enfoque dos procedimentos da companhia me levou, a princípio, para um
lugar mais técnico que humano. Aos poucos, ficou claro que não era esse o propósito, não se

21
tratava simplesmente de virtuosismos. Os treinamentos da Cia.L2 continham caminhos para
perceber-me e entender o movimento em níveis ampliados de complexidade; para investigar
minuciosamente as camadas da criatividade e da imaginação; para a autopercepção, para a
autoanálise, para olhar o próprio corpo e observar em sua configuração a influência da
sociedade. Enfim, para entender a si enquanto corpo no mundo (SOUZA, 2013).
Transbordando essas impressões e deixando-as tocar minhas curiosidades de
artista-pesquisador e inquietações de ser humano, percebi que os treinamentos que
realizávamos revelavam possibilidades de articular a mim mesmo com maior autonomia, em
uma amplitude maior de possibilidades em relação ao que conhecia da vida até então.
Interessava-me imergir em movimentos como “rolar” e “desmoronar” no intuito de criar
cenas e coreografias.
No entanto, a própria oportunidade de rolar e desmoronar mais e mais chamava
minha atenção. Experimentar e compor era experimentar a minha própria existência em
lógicas novas, descompromissadas em relação aos padrões que eu assumia em meu cotidiano
e com especial nível de atenção e de decisão sobre mim. Na Cia.L2 e na UEL aprendi a
brincar com o movimento e tomar as rédeas dele em ampliadas possibilidades anatômicas e
sociais.
Mesmo, às vezes, partindo de princípios técnicos sistematizados, mesmo me
submetendo a regras estipuladas para improvisos de movimento e jogos teatrais, me vi imerso
em processos que apontavam para o corpo e para suas dinâmicas em toda a complexidades e
nuances de ser e estar no mundo.
Na Cia.L2, aprendi e exercitei extensamente um determinado leque de
movimentos advindos da dança moderna e contemporânea e, diversas vezes, vi integrantes da
companhia partirem desse repertório e o colocarem em processo até trasbordar a forma dos
mesmos e alcançarem camadas da atuação e da presença muito mais sutis e etéreas. E isso me
levava a me encantar com o vislumbre da possibilidade dessa quantidade e profundidade de
considerações sobre o movimento e com a existência de um lugar para olhar para si e para
suas possibilidades expressivas tão de perto, por tanto tempo, tão frequentemente e tão
detalhadamente.
Há um artigo de Trigo (2011) no qual atualmente identifico palavras para
expressar esse meu ponto de vista sobre as práticas da Cia.L2. Nele, ela descreve seu interesse
por desafiar a propriocepção, desafiar o equilíbrio, a coordenação e o olhar, por virar de
cabeça para baixo, tirar os pés do chão, pendurar, balançar, rodar, apoiar-se com partes do
corpo nunca antes utilizadas e caminhar fora da posição vertical e bípede. Tudo isso como

22
práticas que reconfiguram a percepção, ampliam a sensibilidade e a inteligência, ao mesmo
tempo em que mexem com visões de mundo já estabilizadas e dão novos significados ao que
parecia consolidado como correto e conveniente (TRIGO, 2011).
A forma como eu experimentava articular-me nas práticas da Cia.L2 me faziam
questionar as formas como me articulava fora do contexto da companhia. Eu não preciso
coreografar uma sequência de rolamentos e quedas e giros para fazer compras no mercado,
talvez não me convenha. Mas o quanto eu realmente decido sobre meus próprios
movimentos? Quanto dos desenhos de meu corpo no espaço e no tempo cumprem desejos
nascidos dentro de mim e quanto cumprem com expectativas preestabelecidas sobre o que se
deve fazer a cada hora e em cada situação? Se quisesse rolar, saltar e virar cambalhotas
durante as compras, eu poderia? A quem cabe esse tipo de decisão?
Um dos procedimentos que compunham o treinamento da Cia.L2 chamava-se
“Ciclo de Corporeidades Animais”. Eram nove partituras de movimento, cada uma delas
relacionada a um animal. Através da utilização das mesmas para nos movermos pelo espaço,
buscávamos imergir em nove lógicas diferentes de percepção e interação. Nessa época, eu
entendia esse procedimento mais como um processo de treinamento expressivo para dança e
teatro do que com qualquer intuito ecológico ou de acesso a minha animalidade. Ainda assim,
através delas, vivenciava o máximo da consciência e expressão de mim em lógicas das quais
sentia falta em contextos mais cotidianos.
Embora uma dessas figuras fosse especificamente o macaco, todas elas
implicavam em abrir mão de aspectos soberanamente humanos e urbanos para experimentar
diferentes qualidades de esforço e de percepções sensoriais e proprioceptivas. Diferentes
posturas, campos de visão, distribuição do peso do corpo, apoios, formas de modular a
respiração e a imaginação. Em contraponto com os automatismos cotidianos, realizar o ciclo
das corporeidades animais incluía rastejar, saltar, rolar, deitar, em diversas formas de perceber
e lidar com o espaço.
Apesar de, em muitos momentos ao longo da graduação, existir o objetivo de
compor e apresentar cenas e performances me interessava mais que tudo o “macaquear” da
cena, do treinamento e dos ensaios quando em comparação ao meu comportamento bípede,
regrado e limitado fora daquele perímetro. E assim, ao encantar-me com novas profundidades
da consciência e expressão de mim mesmo e vivenciar essa percepção racional, emocional e
sensorial nos entremeios de um curso de Artes Cênicas e da vida cotidiana, comecei a
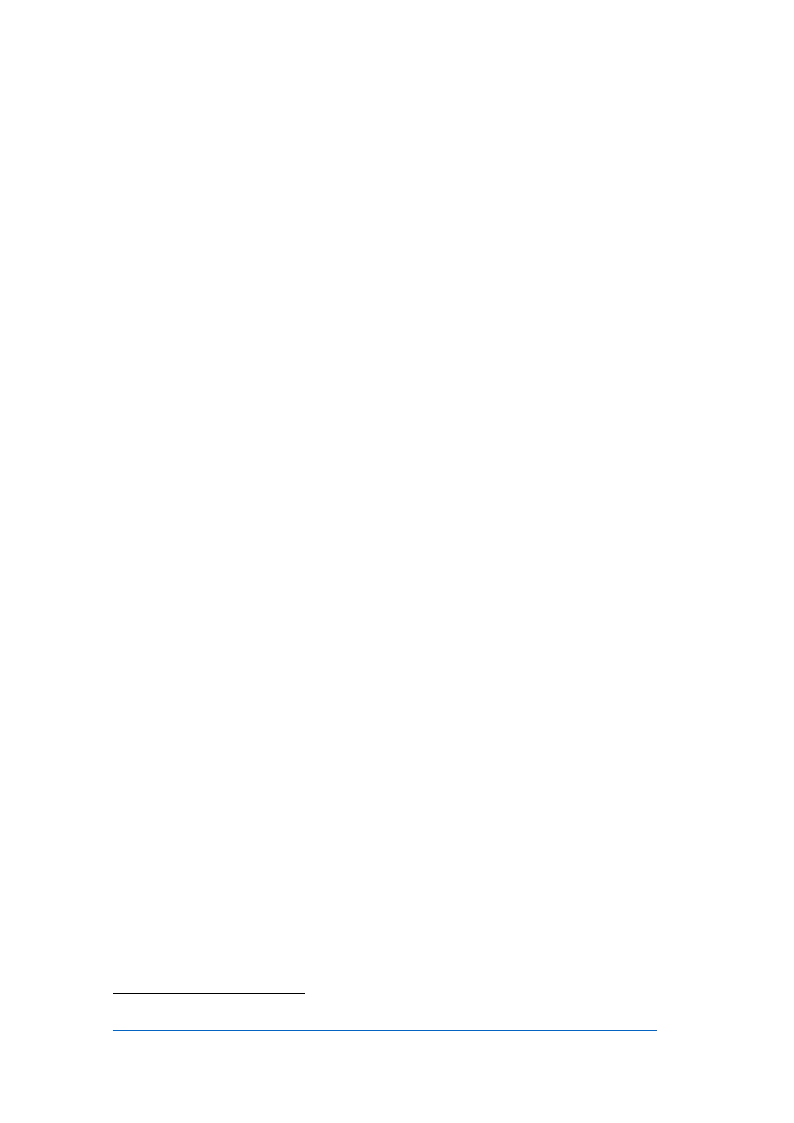
23
encontrar nos procedimentos da Cia.L27 e em todos os outros que conheci durante a
graduação na UEL, caminhos para relacionar procedimentos artísticos e corporais com
inquietações mais sutis e com questões mais abrangentes.
7
Confira
processos
e
espetáculos
da
companhia
pela
playlist:
https://www.youtube.com/watch?v=z73TTzRfaRc&list=PLJaQHO68ijg69dKEPbd19-CKls01uXj8W
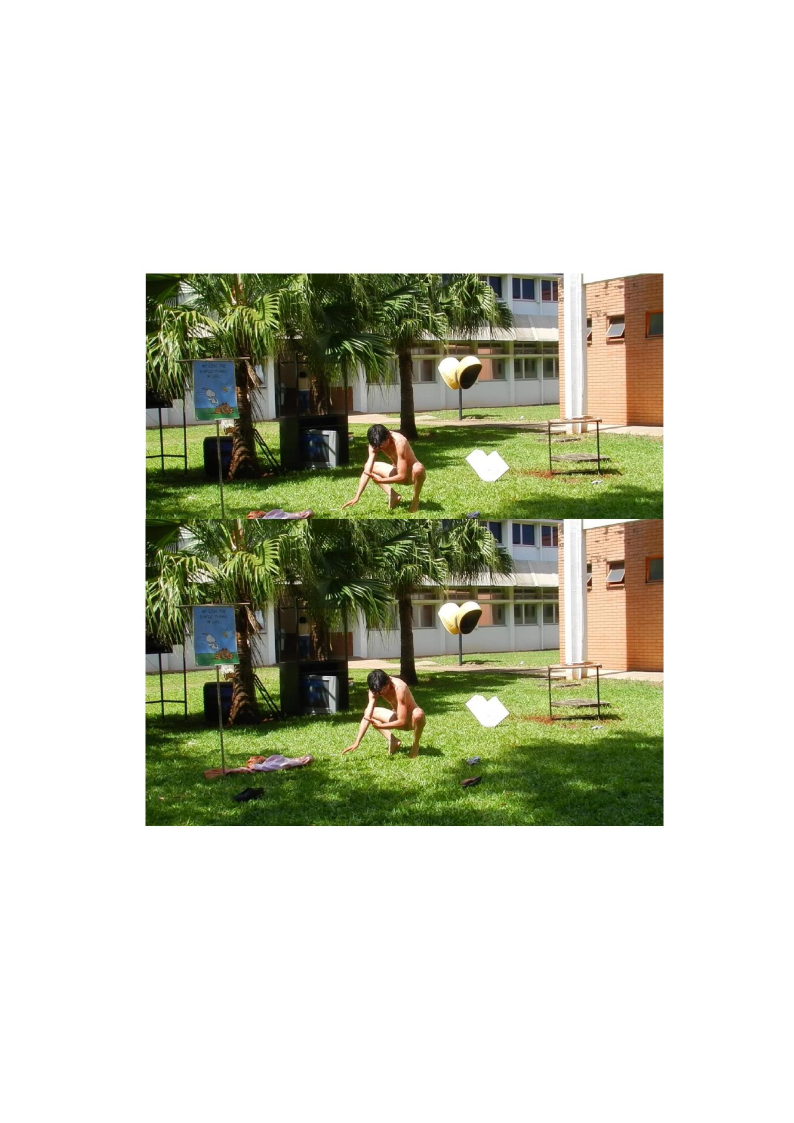
24
Figura 3 – Trabalho de conclusão da graduação_2013-2014_1

25
2.3 Estudos para macaco versão 0.5: ritual de passagem, pentamusculatura e
metacoreografia no teatro coreográfico de tensões
No começo de 2013, participei de uma imersão de quinze dias com a companhia
Taanteatro8 (TTOR2013). Nela, conheci conceitos e práticas que reafirmaram os insights
sensoriais que reverberavam em mim nas práticas da Cia.L2 e da graduação como um todo.
Conheci novos caminhos para experimentar-me de forma menos condicionada pelo “ritmo e
exigências da vida na sociedade contemporânea” (SOUZA, 2013, p. 76).
Desde o início do curso de graduação mergulhei em uma compreensão das Artes
Cênicas calcada essencialmente no corpo e em seus desenhos espaciais. Isso embasou minha
imersão nas práticas da Taanteatro com um suporte até excessivamente “mecânico” que,
porém, me deu segurança para caminhar no sentido de uma ampliação da compreensão do
corpo, do movimento e do indivíduo com enfoque em aspectos mais sutis e etéreos.
As práticas e conceitos da Taanteatro agregaram características muito especiais
para meu “macaquear” dentro de proposições artísticas. Foi quando comecei a entender
definitivamente, dentro da arte, o indivíduo de forma holística e integrada ao seu entorno.
Embora olhando retrospectivamente tenha percebido que isso já tinha sido me apresentado em
outras aulas foi nessa vivência com a Taanteatro que clareei meu entendimento e o trouxe
para a prática.
A linguagem da companhia se intitula “Teatro Coreográfico de Tensões” e contém
no próprio fundamento um tipo de integração com o mundo. Do ponto de vista da “tensão”, o
mundo, incluindo as pessoas em todos os infinitos detalhes de seus corpos, são ao mesmo
tempo estruturas fixas e fenômenos ocorrendo e se transformando constantemente. Tudo está
em permanente conexão e diálogo e o papel do artista é mergulhar na percepção de uma rede
dinâmica de interações entre todos os fenômenos que compõem a realidade para
conscientizar-se de si enquanto parte dela, se confundir com ela, interagir e compor ora
conduzindo, ora sendo conduzido (BAIOCCHI; WOLFGANG, 2007).
Tomei conhecimento desta residência no terceiro ano da graduação, na época do
“Pré-projeto do TCC”, dinâmica na qual iniciávamos o mapeamento do que iriamos pesquisar
no trabalho de conclusão da graduação e por quais caminhos. No meu caso, sabia que queria
aproximar teatro e dança e criar movimentos a partir de estímulos que eu mesmo estipulasse,
8 Além da residência de 2013, entre 2014 e 2015, participei do Núcleo de Formação e Pesquisa – Nutaan
(processo concluído com o espetáculo “50 Desenhos para Assassinar a Magia”) e da trilogia cARTAUDgrafia.
Confira informações sobre esses e outros trabalhos da companhia em: <http://www.taanteatro.com/obras>.

26
como, por exemplo, memórias pessoais ou questionamentos sociais que me inquietassem. A
partir da vivência com a Taanteatro, comecei a entender formas de organizar, no espaço, as
“tensões” que queria como estímulo criativo e de mergulhar e jogar com elas, deixando-as
também me atravessarem e gerarem movimento e sentido.
De acordo com os conceitos e práticas da companhia, o articular consciente dessa
interação depende do entendimento de si como um ser pentamuscular, ou seja, como um meio
ambiente poroso que interage e se articula com elementos heterogêneos, como, “desde um
objeto de cena até o absoluto, tendo todos em comum a relação com a cena e o mundo do
performer, e o fato de formarem uma noção de corpo ampliada, expandida” (BAIOCCHI;
PANNEK, 2007, p. 63). Outros desses elementos heterogêneos incluem, por exemplo, os
órgãos internos, as roupas, as intuições, os contextos sociais, os fenômenos naturais e os
outros seres. Tudo entendido como musculatura, de forma a revelar suas possibilidades de
flexibilização, tonificação, atrofia e articulação consciente. Em última instância, os limites
desses corpos ampliados são “os limites da vida e do universo” (BAIOCCHI; PANNEK,
2007, p.63), o que os caracterizam, em um termo sinônimo, como “ecorporalidades”
(BAIOCCHI; PANNEK, 2007, p. 135).
A metacoreografia é o caminho, no Teatro Coreográfico de Tensões, para interagir
criativamente essa concepção de corpo, com ideias e conceitos, dentre outros elementos
etéreos, e dar-lhes materialidade em improvisos e cenas. Ela é uma forma de entender e criar
com ênfase na ontologia dos movimentos, ou seja, deixando coreografias se originarem e
serem vividas e atualizadas no momento de cada uma de suas repetições “como consequência
e não como ponto de partida e alvo” (BAIOCCHI; PANNEK, 2007, p. 134).
A metacoreografia, seja em ensaios, processos criativos ou apresentações ao vivo
“processa o invisível que não enxergamos, mas experienciamos como sensação atmosférica
que não cessa de atravessar os performers, o público e tudo o mais que compõe a cena”
(BAIOCCHI; PANNEK, 2007, p. 134).
Esses conceitos, embora tenham sofrido alterações ao longo do tempo que venho
adotando-os, embasam hoje muito do que entendo por improvisar e criar movimento e
presença. A importância da metacoreografia se revelou e ainda hoje está presente como
caminho para dar corpo para as experimentações de minha pesquisa deixando as questões se
materializarem e fluírem sem fazer uso de formas premeditadas ou que representem
literalmente as ideias trazidas para o processo. Já sobre a pentamusculatura, atualmente
percebo similaridades entre esse termo e os novos conceitos a partir dos quais investigo as
intersecções entre indivíduo e o meio em uma visão ecológica do mundo e da vida.

27
Ao longo da residência, compus um pequeno solo ao qual dei o nome de “26”,
minha idade na época. Nele, através de uma figura com traços primitivos e símios, abordava
meu desejo de movimento e de contato com a natureza. Em linhas gerais, o solo que construí
durante a oficina procurava retomar as etapas de uma das dinâmicas propostas durante a
residência e, de certa forma, instaurá-la em uma estrutura um pouco mais concisamente
organizada. A dinâmica a qual me refiro chama-se “Ritual de Passagem” e está ricamente
detalhada em Baiocchi e Pannek (2011).
Esta prática, já em etapas bem avançadas da oficina, envolvia uma meditação
dinâmica chamada “Mandala de Energia Corporal”, descrita em detalhes em Baiocchi e
Pannek (2013), procedimento presente em diversas etapas criativas e preparatórias da
companhia, composto de sete danças através das quais se ativa o a perspectiva de mundo
proposta pelo Teatro Coreográfico de Tensões e de si enquanto pentamusculatura. Em
seguida, realiza-se uma morte simbólica e um renascer imerso em um improviso criativo
ambíguo entre ficção e realidade.
Desde o início da oficina, eu dialogava meu processo criativo com temas como
sensações de aprisionamento, claustrofobia e inadequação ao mundo civilizado
contemporâneo. No despertar desta prática imersiva, acordei sedento por usufruir minha
liberdade exacerbadamente, nu e faminto por movimentos. A oficina aconteceu em um sítio,
com um declive gramado entre o galpão de ensaio e um córrego com água suficiente para se
banhar. Inicialmente, retomando as partituras do macaco advindas da Cia.L2, repetidas vezes
desci o morro, rolando até cair no rio. Escalava as árvores que apareciam pelo caminho,
depois subia correndo usando todos os apoios possíveis em contato com o chão.
Logo esta partitura se descontruiu em outras formas primitivas de movimento.
Enchia-me de lama e folhas. Alternava entre experimentar movimentos para compor um solo
e vivenciar o que eles podiam me oferecer de primitividade e de sentir o máximo possível da
natureza. Foi como o realizar de um desejo há muito reprimido. Depois de muitas subidas e
descidas, deitei ao sol e descansei, saltando não mais sobre o espaço, mas por entre minha
percepção do calor, do chão, do ar e das gotas de água que escorriam por mim.
Essa experiência reafirmou muito dos meus interesses na dança e na performance
naquele momento: espalhar lama no corpo, sentir o sol, provocar o cansaço, me lançar em um
rio, dobrar, torcer, rolar. Vivenciar isso e compartilhar essas experiências. E ainda, chegar a
elas a partir de me escutar, escutar o espaço, me integrar com ele, me permitir esperar,
escolher, organizar e vivenciar movimentos incluindo as partes invisíveis de mim. Assim
como na Cia.L2, as práticas da Taanteatro me incentivavam a problematizar a forma como me

28
experimento dentro de propostas artísticas com relação às possibilidades do cotidiano. Em
meu trabalho de conclusão da graduação, quando relatei a experiência do “ritual de
passagem”, escrevi: “[...] passei algumas horas esquecido de que era bípede. Por um
momento, ser bicho pareceu a solução de qualquer angustia” (PIMENTA, 2014, p.40). Como
se verá adiante, no TCC comecei a questionar poeticamente se o macaco, ou os animais
irracionais no geral, seriam mesmo o passado da espécie humana ou um futuro melhor ainda
não experimentado.

29
Figura 4 – TTOR-2013_1.
Fonte: Taanteatro Companhia

30
2.4. Estudos para macaco versão 01: coerções ideológicas
Na época, não entendia com certeza se o solo que eu trouxe da TTOR2013 era
uma dança, uma performance ou um ritual pessoal de primitivização e integração com a
natureza. Não tinha certeza sobre sua definição ou sobre a linguagem na qual se enquadrava,
no entanto, sentia propriedade suficiente para repetir e desenvolver o que havia iniciado. E
assim veio a ser meu interesse aprofundar essa experiência em uma investigação dentro da
universidade através de meu trabalho de conclusão da graduação.
A figura do macaco especificamente como organizada dentro do ciclo das
corporeidades animais foi utilizada nas práticas iniciais como eixo central das partituras e
estados corporais nas quais embasei a performance e como caminho para encontrar e dialogar
com os desdobramentos conceituais dela. Já as práticas que aprendi com a Taanteatro
fundamentavam uma forma de estar no espaço da performance e de “coreografar-me” dentro
dele considerando-nos amalgamados. E já no início desse processo, em diálogo com a
orientadora Profª. Ma. Thaís D’Abronzo ficou estipulado que seria importante somar às
experimentações empíricas do processo criativo mais embasamento conceitual e diálogo com
questões para além da criação em si.
Isso me levou a diversas perguntas e buscas bibliográficas. Os primeiros dentre
esses encontros giraram em torno da curiosidade acerca de como se organizam outras espécies
símias como, por exemplo, os gorilas e os bonobos. Investigação da qual vi emergir
semelhanças e disparidades, muitas vezes descritas em tom ácido, entre as organizações e
selvagerias presentes nas configurações das sociedades humanas e primatas.
Foi a partir de buscas que flertavam com a biologia e a antropologia que comecei
a estabelecer o interesse por inserir no processo criativo, transbordamentos de meus interesses
pessoais por procedimentos de animalização e aproximação da natureza. No geral, me
chamava atenção o risco que a espécie civilizada corre de cair no ridículo ou na hipocrisia ao
se contentar exageradamente com seus diferenciais perante outras espécies. Tema sobre o qual
encontrei embasamento, entre outras fontes, nos filmes Human Nature9 de Michel Gondry
(2001) e The Perfect Human10 de Jorgen Leth (1967). O primeiro apresenta de forma cômica
uma reflexão sobre o extremismo de padrões civilizados e do desejo de civilizar a partir da
história de duas personagens que viveram parte de suas vidas na cidade e parte isoladas na
9 Human Nature foi lançado em português como Natureza Quase Humana.
10
O
Humano
Perfeito
(tradução
minha).
Disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=W9kls6bMkRo&t=368s.

31
natureza. O segundo retrata como um homem e uma mulher bem vestidos e de etiqueta
refinada, em uma série de rituais cotidianos podem ser considerados, ao mesmo tempo,
“humanos perfeitos” e pessoas superficiais.
Por fim, acabei por pontuar como oposto ao “macaco”, a vida submetida – muitas
vezes inconscientemente – a coerções ideológicas e tentei demonstrar esse tipo de coerção
através de exemplos no mercado de trabalho. A organização textual desse viés como
monografia resultou suficiente para a proposta daquele momento, porém admitidamente não
alcançou toda a profundidade que poderia ter alcançado principalmente em sua escrita. Ainda
assim, o processo revelou desdobramentos do tema que transbordavam o escopo definido para
aquela etapa e que indicavam possíveis caminhos para a continuidade da pesquisa, o que de
fato ocorreu.
Arendt (2010) foi uma das referências através das quais tentei estipular um
cenário de coerções ideológicas, o qual eu buscava problematizar com o desenvolvimento de
um solo híbrido entre dança, teatro e performance. Para ela, o domínio de uma pessoa sobre
outra – no ápice de sua eficiência – não se dá pela submissão do dominado à figura
ameaçadora de um tirano, mas pela submissão mais ou menos voluntária ou inconsciente do
dominado a uma lógica de existência que se apresenta para ele como natural e imutável, não
cabendo a ele senão cumprir com o papel de dominado.
Ainda na forma de uma breve apresentação pontuo que Arendt indica com o termo
“vida activa”, o ideal de humanidade que pode agir por vontade própria incluindo em esferas
sutis do agir, do pensar e do sentir. Em contraponto ela aponta a “vida contemplativa” como a
passividade prevista como futuro da humanidade condicionada a dedicar-se unicamente ao
trabalho alienado e às regras postuladas como “naturais” nas sociedades e que eliminam do
humano a própria humanidade, atingindo um extremo da contemplação antagônica ao agir.
Ela dá o nome de animal laborans ao indivíduo que atinge esse ápice da alienação
(ARENDT, 2010).
Acredito que o processo criativo do solo colocava em questão esse panorama, pois
propiciava e demandava escolhas, o que é divergente da incapacidade de tomar decisões por si
próprio como explanada por Arendt (2010). Para ela, a coerção ideológica depende inclusive
de que o indivíduo não perceba que não está tomando as próprias decisões autonomamente.
Outra leitura que também deu subsídio para minhas curiosidades foi “O processo
civilizador” de Norbert Elias (1994). Nele, o estabelecimento de um conceito de civilização é
analisado à luz das transformações ocorridas nos costumes das sociedades ocidentais ao longo
de sua história. O autor relata que desde a Idade Média passam a surgir cartilhas explicativas

32
sobre a forma correta de se comportar à mesa e em outras situações coletivas. Esses manuais
são ao mesmo tempo, “modelos de comportamento para os quais estavam maduros os
tempos”, mas também modelos “que a sociedade – ou mais exatamente a classe alta, em
primeiro lugar – exigia.” (ELIAS, 1994, p. 83).
Essa leitura alimentou meus interesses e fomentou minha pesquisa ao apresentar
numerosas transformações que traçam o caminho da sociedade humana da Idade Média até os
tempos modernos, ressaltando o quanto implicam em hierarquização de classes e imposição
de costumes. Embora atrelado à permanência e ao aprimoramento o comportamento
“civilizado” tende a ser ensinado na direção de um grupo dito civilizado para um postulado
como não civilizado (ELIAS, 1994). Assim, o que quer que possa ser de fato “civilização” se
confunde com o subjugo de um grupo sobre outro e com a diferenciação entre grupos de uma
forma geral: a razão do homem e a selvageria do animal, o decoro da nobreza e a rudez da
plebe, os hábitos das classes mais abastadas e os das menos afortunadas, quem tem modos à
mesa e quem “falta com a educação”, os costumes dessa ou daquela nação, a sociedade
contemporânea e as tribos primitivas e assim por diante.
Pelo ponto de vista de Arendt (2010) e de Elias (1994), começava a entender a
falta de espontaneidade e decisão sobre si enquanto influência sobre a qualidade da interação
do indivíduo com o mundo e, no contexto das Artes Cênicas, encontrava diálogos entre esse
panorama e a articulação do indivíduo sobre si mesmo no tempo e no espaço em propostas
artísticas. As práticas da Cia.L2 e da Taanteatro tinham me apresentado uma gama ampliada
de possibilidades de experimentação de mim mesmo e fomentado meu questionamento sobre
os parâmetros dessas possibilidades em uma esfera cotidiana e social. De modo inverso
perguntei-me se essas descobertas que me pareciam raras refletiam o histórico da evolução e
civilização da espécie humana como um todo.
As nuances conceituais que eu buscava começaram a vir à tona também no
próprio contexto da pesquisa prática. Na residência com a Taanteatro e 2013, eu estava no
local ideal para imersão em meu “macaco”, tanto pelo espaço em si, quanto pelo suporte dado
pela estrutura da oficina. Porém, a continuidade do processo criativo para o trabalho de
conclusão da graduação aconteceu em uma pequena praça em frente ao bloco de Artes
Cênicas da UEL. Um restinho de natureza cercado por concreto. Um oásis em um cenário
urbano. A transposição de um solo criado num espaço amplo e pleno de natureza para esse
novo espaço trouxe à tona uma série de questões. Colocou na berlinda aquilo que eu estava
desenvolvendo, colocou como obstáculo a própria dinâmica do meio ambiente urbano. Como
realizar uma imersão, uma primitivização, não estando em um lugar isolado e organizado para

33
isso? Como me permitir? E essas pessoas que coabitam essa praça, que passam por perto de
mim durante meu processo criativo, são transeuntes ou espectadores? Será que sabem o que
eu estou fazendo? Será que eu posso fazendo isso aqui?
Meu objetivo final era criar uma estrutura cênica calcada em uma imersão nas
experimentações de movimento e de interação com a natureza que eu identificava pela
metáfora do “macaco”. No entanto, o lugar onde acontecia esse processo criativo era o mesmo
onde ele seria apresentado quando finalizado, um lugar aberto. Assim, um longo processo
criativo e a apresentação final se confundiam. Começava a surgir em mim o interesse em
fazer, das idas frequentes até o espaço de criação por si só, uma performance, assunto sobre o
qual me aprofundo atualmente. Pensava na performance House with an ocean view de Marina
Abramović (2002)11, aquela na qual ela habita por doze dias, nove horas por dia, uma
instalação de três módulos contendo, entre outros itens: chuveiro, vaso sanitário e cama. Esta
performance chamava minha atenção um pouco pela longa duração, mas principalmente por
ter como foco a artista ao mesmo tempo exposta e distanciada. No caso, os espectadores
podiam observá-la por um telescópio (BERNSTEIN, 2003).
Segundo a própria artista, uma característica de voyeurismo seria somente uma
primeira impressão, já que na verdade havia muita interação através de trocas de energia e de
olhares (BERNSTEIN, 2003). No meu caso, apesar do desejo de compartilhamento e das
interações que, de fato, acabaram por se estabelecer nesses dois anos, interessava-me também
ser visto sem a obrigação de interagir.
Deixava-me influenciar também pela leitura do “Artista da Fome” de Franz Kafka
(2012). Esse conto apresenta um artista tão dedicado a sua performance – no caso, jejuar em
uma gaiola à vista do público – e tão desinteressado por outras realidades, que não lhe
agradavam os banquetes que recebia com festejos a cada 48 dias. Sentia-se capaz de ir além.
Desta forma, no ápice de sua imersão, morre de fome num jejum recorde de cuja duração ele
mesmo perde a conta. O conto termina com o artista sendo rapidamente esquecido e
substituído em sua própria jaula pelos encantos de uma jovem pantera. Pessoalmente, gostaria
de pensar que as reverberações da obra dessa personagem tenham ecoado para além da
pantera e que as minhas também sejam hoje de alguma forma vistas e lembradas.
Durante os dois anos da realização do TCC (entre 2013 e 2014), realizei idas
frequentes até esta praça. Implantei uma pequena horta urbana que rendeu um pé de tomates
que compôs a “cenografia” da performance e rendeu uma pequena parte de minha
11 Confira excertos dessa performance disponibilizados pelo Instituto Marina Abramović em:
https://vimeo.com/72468884

34
alimentação levando materialmente a performance para minha vida pessoal. Deixei como
exposição, uma série de objetos que fizeram parte do processo, propus algumas ações
interativas e realizei captações de vídeo que integraram a performance e a pesquisa.
Ao final, fiquei satisfeito tanto com o processo de longa duração, quanto com as
apresentações finais. Sinto que investiguei a fundo uma proposta de criação híbrida e a
articulação de meu repertório de conhecimentos dentro desta. No mais, entre questões que, na
época, não soube responder e outras que nem mesmo tive maturidade para formular, essa
experiência estabeleceu fundamento para sua continuidade no futuro.
Segue a escrita cênica que redigi para o solo que apresentei como parte prática de
meu trabalho de conclusão da graduação12:
Um homem relativamente “normal”, de repente estabelece sua nova residência em
uma parte de uma praça pública. [...] ele cava e se suja de lama. Lhe agrada e ele se
suja mais. Rola na grama como um cachorro que nunca tinha sido levado para
passear. [...] Brinca com quem está assistindo, ameaça jogar lama neles mas joga em
si mesmo. Transfigura-se cada vez mais em um macaco. Revolta-se contra as
próprias roupas, sente-se claustrofóbico, luta contra elas até desvestir-se e desvairar-
se. De vez em quando desconstrói sua figura símia, volta a ser bípede. Mostra aos
outros suas mãos sujas de lama. Joga no lixo papéis e plásticos encontrados em sua
nova casa. [...] Eventualmente se cansa. Torna-se macaco menos ágil. Sujo de terra,
pulverizado, esgotado, misturado à terra, vai até uma árvore, observa sua
grandiosidade. Num salto se agarra a ela. Com suavidade, sobe, busca encaixes
confortáveis de seu corpo com os galhos, dança, descansa [...]. (PIMENTA, 2014, p.
58)
12
Confira
alguns
vídeos
dessa
etapa
da
pesquisa
no
link:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJaQHO68ijg567TNFEoXUXBuCd8WfgWLd

35
Figura 5 – TCC_2013-2014_2

36
2.5 Estudos para macaco versão 02: o pensamento sentado
Em 2016, junto ao Coletivo Fleuma – grupo de artistas que se utilizam de
múltiplas linguagens em suas proposições, do qual faço parte desde 2014 e que está sediado
em Indaiatuba-SP – participei com “Estudos para Macaco” do Projeto Qualificação em
Dança.
Este projeto faz parte do Programa Qualificação em Artes, realizado pela
Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo e gerido pela organização não
governamental POIESIS13. Através dessa parceria e da orientação de diversos profissionais
que a experiência me propiciou, dei continuidade à pesquisa, iniciando a composição de uma
nova versão da performance, dessa vez em grupo.
Na ocasião, como diretor e performer, acabei por guiar o grupo para um lugar
especialmente conceitual. Por um momento, parei de perseguir qualquer movimento ou forma
de “macaco”. Busquei outras formas de integração com a natureza e de colocar os
movimentos do corpo contemporâneo cotidiano em atrito com o que pode haver neles de um
passado selvagem. Investi em uma composição – em espaço fechado – híbrida entre
apresentação e instalação de corpos, objetos, áudios, vídeos e propostas interativas. Durante a
apresentação, a plateia podia circular livremente.
Segundo o dramaturgista Marcus Mazieri (MAZIERI; PIMENTA, 2016),
conforme relatado no livro-processo confeccionado ao final da etapa, na palavra “estudos”
convergiram os destrinchamentos de temas e de formas práticas de abordá-los, no geral, como
experimentos aos quais os artistas se submetiam, transformando também o contexto que os
rodeava e provocando compartilhamento e reverberações. Ao final, não era esperado
chegarmos a respostas sobre as reflexões acerca do macaco ou da sociedade contemporânea,
mas logramos estabelecer um tempo/espaço de compartilhamento das indagações que fizemos
ao longo do processo. “Macaco” tornou-se um referencial diametralmente oposto ao consumo
exagerado, à produção ilimitada de bens de consumo e resíduos e ao aperfeiçoamento
tecnológico incessante, tudo a serviço das mesmas necessidades de sempre: nascer, crescer,
explorar, agredir, conquistar, alimentar, transar, buscar conforto, envelhecer e morrer.
Olhando para essa etapa da pesquisa, penso por um momento ter me distanciado
de seu foco inicial. No entanto, foi justamente nessa divagação que me encontrei com uma
13 Para maiores informações sobre a organização POIESIS e o Projeto Qualificação em Dança, confira o site:
<https://oficinasculturais.org.br>.

37
referência que alinhavava definitivamente o parentesco entre macacos e a espécie humana em
um histórico evolutivo da perspectiva do movimento e da percepção.
Uma das profissionais que nos ofereceu orientações através do Qualificação em
Dança, muito atenciosamente, me trouxe um livro e disse: “Acho que é isso aqui que você
está tentando dizer”. Era um livro com o título “O Pensamento Sentado”, do docente e
pesquisador Norval Baitello Jr. (2012). Nele, o autor delineia um histórico evolutivo e
civilizatório da espécie humana de um ponto de vista sensório-motor. Ele traça um caminho,
dos primatas às sociedades contemporâneas, simultaneamente ascendente (no sentido da
permanência, conforto e proliferação da espécie) e descendente (em termos da percepção e
utilização do corpo).
Em um extremo, uma natureza arborícola, corpos ágeis, grande mobilidade,
destreza em todas as articulações e um campo perceptível esférico que cobria todas as
direções. Durante o nomadismo, explorações reduzidas ao chão e à postura ereta, porém
plenas de movimentações cognitivas.
No outro extremo, quando a espécie se assenta em moradias fixas e duradouras,
gradualmente a forma de estar no mundo definida pelos limites de um território conhecido
torna-se, em alguns casos, monótono ou asfixiante.
O autor visualiza na contemporaneidade a proeminência de um distúrbio calcado
na crescente inconsciência de si enquanto indivíduo e enquanto parte do mundo. Este
distúrbio advém da diminuição da mobilidade e aponta para o fim da capacidade humana de
decidir por si os próprios movimentos. Um exemplo presente no livro indica que é como o
carro em relação à caminhada: ele simplifica o caminhar, mas o torna monótono, diminui o
que a experiência agrega a quem caminha. Afasta seus pés desta experiência de ir. Restringe a
experiência do olhar a recortes limitados e fugazes. Em última instância, acaba por afastar o
caminhante das decisões de onde ir (BAITELLO JÚNIOR, 2012).
Essa etapa da pesquisa se desdobrou em uma instalação presencial levada a
público três vezes e em algumas vídeo-performances que continuam em circulação
atualmente14. As provocações que deram início aos brainstorms e improvisos que originaram
essas vídeos-performances foram encontradas em uma lista de tópicos presentes no livro O
Macaco Nu, de Desmond Morris (1967).
14 Confira alguns vídeos com imagens e informações sobre essa etapa da pesquisa em:
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLJaQHO68ijg7_Hbz_AWffF0wfsfqoTUvj>. Confira também, um
desdobramento dessa etapa, na forma de vídeo-performance ainda hoje em exibição no site:
https://mazieri.wixsite.com/fleuma/c%C3%B3pia-estudos-para-macaco

38
São tópicos que guiam de forma crítica uma análise zoológica da espécie humana,
pontuando caraterísticas acerca de hábitos referentes à higiene, organizações sociais,
resolução de conflitos, sexo e habitat, dentre outros. A análise deles feitas pelo autor tende a
indicar de forma ácida os pontos de vista que ele explicita, por exemplo, quando diz que:
[...] apesar de ter se tornado tão erudito, o Homo sapiens não deixou de ser um
macaco pelado e, embora tenha adquirido motivações muito requintadas, não perdeu
nenhuma das mais primitivas e comezinhas. Isso causa-lhe muitas vezes certo
embaraço [...]. Na verdade, o Homo sapiens andaria muito menos preocupado, e
sentir-se-ia muito mais satisfeito, se fosse capaz de aceitar esse fato. (MORRIS,
1967, p.7-8)
Segue a sinopse da vídeo-performance-instalação como divulgada na época de sua
circulação:
Em nosso habitat, mobília e sucata, higiene e isolamento, luta e tédio, fome e vício,
sexo e posse, sono e poder, se confundem. Interações sociais e espaciais se
justificam através de argumentos. Mas um olhar para além da razão, revela o inútil e
a superficialidade. Nossa evolução é a produção de lixo. Somos macacos que
desceram das árvores? Não somos mais animais? E se voltássemos? Como o corpo
civilizado reagiria? (MAZIERI; PIMENTA, 2016, p. 9).
Segue também, a escrita cênica da versão de Estudos para Macaco realizada junto
ao Programa Qualificação em Dança e ao Coletivo Fleuma, como ela foi escrita na época da
finalização desta etapa do projeto, embora tenha sido registrada em minhas anotações pessoais
sem ser publicada.
O público chega e encontra 4 performers vestidos(as) de jeans e camisas brancas. O
grupo está preenchendo o espaço com pilhas de objetos organizadas por tipo como
uma coleção. Tais objetos, não fossem ruínas, poderiam ser uma casa: azulejos,
tijolos, ferragens, ferramentas, restos de eletrodomésticos, canos, etc.
O público pode transitar pela instalação e assistir vídeos exibidos em dispositivos
integrados às ruínas. Em um televisor, um grupo de pessoas colhe e se alimenta de
romãs; em outro, uma mulher limpa folhas secas; e, num terceiro, a mesma mulher
varre um banco de concreto. Num último, um homem carrega pela rua, sem destino,
seus bens materiais. Um fone de ouvido acompanha cada vídeo com uma trilha
sonora ou sugestões de movimento para o(a) espectador.
Em meio às ruínas e aos espectadores, os performers realizam uma série de
articulações de seus corpos em interação com o espaço: uma pessoa medita em meio
a uma mandala de sucatas, outra costura e higieniza objetos aleatoriamente, outra
fotografa closes do corpo dos presentes sem nunca tirar os olhos de sua câmera e
outro caminha com um pneu em suas costas. De repente, aquele que meditava se
levanta e empacota freneticamente o que encontra ao seu alcance. O restante do
grupo se reúne para filmá-lo movimentando seus celulares de forma coreografada.
Por fim, todos se unem em torno de um televisor 29 polegadas antigo, tiram-no do
chão e sustentam seu peso enquanto mostram aos presentes um vídeo. No vídeo,
essas mesmas pessoas habitam uma árvore como se fosse sua casa. Tomam café da
manhã, preparam o almoço, dormem, brigam...15
15 Essa citação faz parte dos registros de meus diários de trabalho.

39
No mais, acredito que a própria apreciação dos materiais resultantes se faz
suficiente para uma compreensão do que foi a performance, a pesquisa e o processo nesse
período.
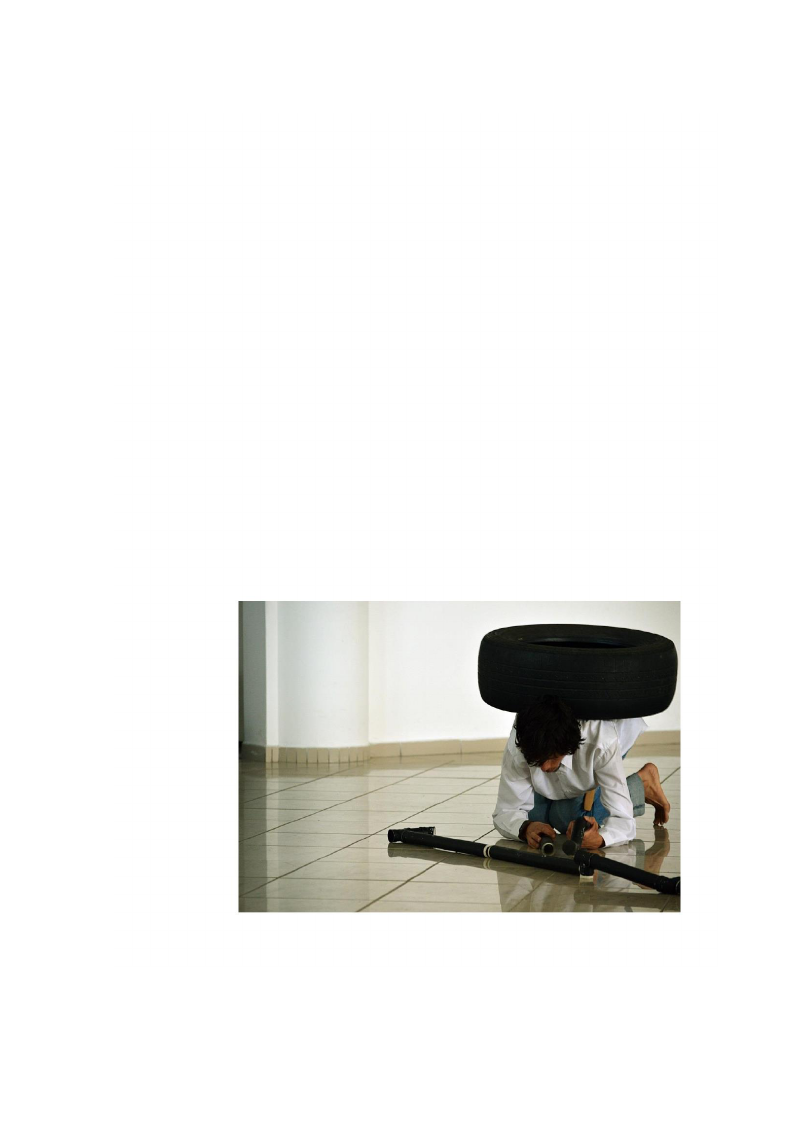
40
Figura 6 – Qualificação em Dança 2016: Finalização
Fonte: Gabriel Luís Campos

41
2.6 Quase versão 03 – os macacos lutadores
Em 2017, novamente convidei um grupo de performers do Coletivo Fleuma e dei
início à realização de uma nova versão de Estudos para Macaco. Chegamos inclusive a
receber, por alguns meses, orientações do Projeto Ademar Guerra, também parte do Programa
Qualificação em Artes, porém voltado para a linguagem do Teatro.
No entanto, não consegui levar essa experiência até o fim. Por diversas razões,
após algum tempo, o grupo se desfez e a criação foi interrompida. A interrupção do processo
propiciou aprendizado sobre como gerir e motivar um coletivo, sobre como dividir
responsabilidades e sobre como saber escutar e respeitar o tempo das coisas, dentre outras
questões adjacentes a um processo criativo.
Apesar disso, a experiência com o grupo até ali tinha sido muito enriquecedora.
Busquei novos enfoques do corpo em movimento na investigação dos meus “macacos”.
Propus diversas práticas que convidavam o grupo a perceber e articular-se fora dos moldes e
convenções da contemporaneidade, como eu sentia ter vivenciado. Pude aprimorar meu papel
dentro da pesquisa compartilhando o repertório de práticas e conceitos que eu conhecia até ali.
Inclusive, esse foi um dos pontos identificados ao longo das orientações que tivemos, o de
que eu havia me afastado ainda mais do foco em resultados cênicos definidos e
compartilháveis e organizado com o grupo uma rotina de processos mais próximos de um
treinamento.
Comecei a estudar – através de vídeos e textos disponibilizados na internet – e
trazer para o grupo a técnica Fighting Monkey, a qual conheci nos entremeios das orientações
do Qualificação em Dança 2016 e na qual, na época não tive tempo de me aprofundar. Esta
técnica vem sendo desenvolvida desde 2002 por Linda Kapetanea e Jozef Frucek, uma dupla
de profissionais interessada nos princípios do movimento dentro da arte, do esporte e dos
processos de envelhecimento. Fighting Monkey é uma prática voltada para o desenvolvimento
humano, que considera cada indivíduo como único em sua conexão com o meio ambiente e
consigo mesmo. Ela reúne um conjunto de jogos e situações de movimento com foco em
provocar a criatividade e a engenhosidade em contextos desafiadores e urgentes para assim
aprimorar e prolongar a saúde e a qualidade de vida (FRUCEK; KAPETANEA, 200-?).
Enxerguei nessa técnica uma forma prática de me colocar em diálogo com aquilo
que me chamou atenção na leitura de Baitello Jr. (2012): a linha evolutiva da espécie humana
do ponto de vista da mobilidade e da percepção e os seus reflexos na qualidade de vida
contemporânea. Em um vídeo, Jozef aponta movimentos e situações que para outros animais

42
são corriqueiras, mas que estão fora de nossa “normalidade”. Diferente de nós, eles se
esforçam o tempo todo, lutam, escalam, espreitam, pulam, dormem, brincam, tudo sob a
pressão do meio onde vivem (WHAT, 2015).
Essas referências me levam a crer que algumas necessidades de movimento
repentino e qualidades especialmente alertas da atenção se esvaneceram na transição de um
cenário selvagem para um cenário urbano. Alterou-se a gama e a qualidade dos movimentos
realizados pelo corpo humano em consonância com a organização do espaço e da sociedade.
No entanto, da perspectiva da Fighting Monkey, embora as aparências enganem, a
realidade continua imprevisível e geralmente caótica. Ela raramente segue um roteiro ou
nossas expectativas. Desse ponto de vista, as práticas da Fighting Monkey organizam
dinâmicas de movimento que reproduzem um contexto de instabilidade e imprevisibilidade e
convidam o participante à imersão nelas para aprender sobre tolerância ao irregular e
apreciação do desconhecido (FRUCEK; KAPETANEA, 200-?).
Acompanhando atualmente a companhia através de seu website na internet, sinto
desejo de me aprofundar nessa técnica, mas não vejo coerência em utilizá-la literalmente na
atualidade de minha pesquisa, sobretudo por uma parcela de virtuosismo que me parece
excessiva quando penso em minha própria pesquisa. Ainda assim, ela alimenta questões que
abordo e exercitam habilidades selvagens colocando em questão as consequências de as
perdermos, possivelmente abrindo mão de algo que será necessário para a continuidade de
nossa permanência no planeta Terra.
Em diálogo com Baitello Jr. (2012) vejo, na linha evolutiva da espécie humana,
variações referentes à mobilidade que dizem respeito à própria capacidade de adaptação dos
seres humanos. Justamente, dentre todas as habilidades humanas, aquela que trouxe a espécie
até aqui. É pelo movimentar do corpo, da imaginação e do raciocínio em momentos de
mudanças abruptas e em situações desafiadoras que temos acompanhado o dinamismo do
planeta que habitamos.
Em suma, nessa etapa da pesquisa, passei cerca de seis meses propondo práticas
de treinamento e de criação e apresentando para um grupo um ponto de vista acerca do mundo
e de nossa relação com ele enquanto artistas. Isso incluiu propor e ver no corpo de outras
pessoas buscas sobre como romper com normatividades contemporâneas, acessar um lado
mais selvagem e falar sobre isso através de proposições materializadas no corpo, no
movimento e na relação.
Esse período foi bastante importante para meu amadurecimento enquanto
performer e pesquisador, principalmente no que diz respeito à continuação de meus processos.

43
Pude entender melhor a dinâmica entre o processo e o compartilhamento de seus
desdobramentos e clareei meu entendimento sobre aquilo que estava pesquisando e as
fragilidades dos caminhos que estava percorrendo.
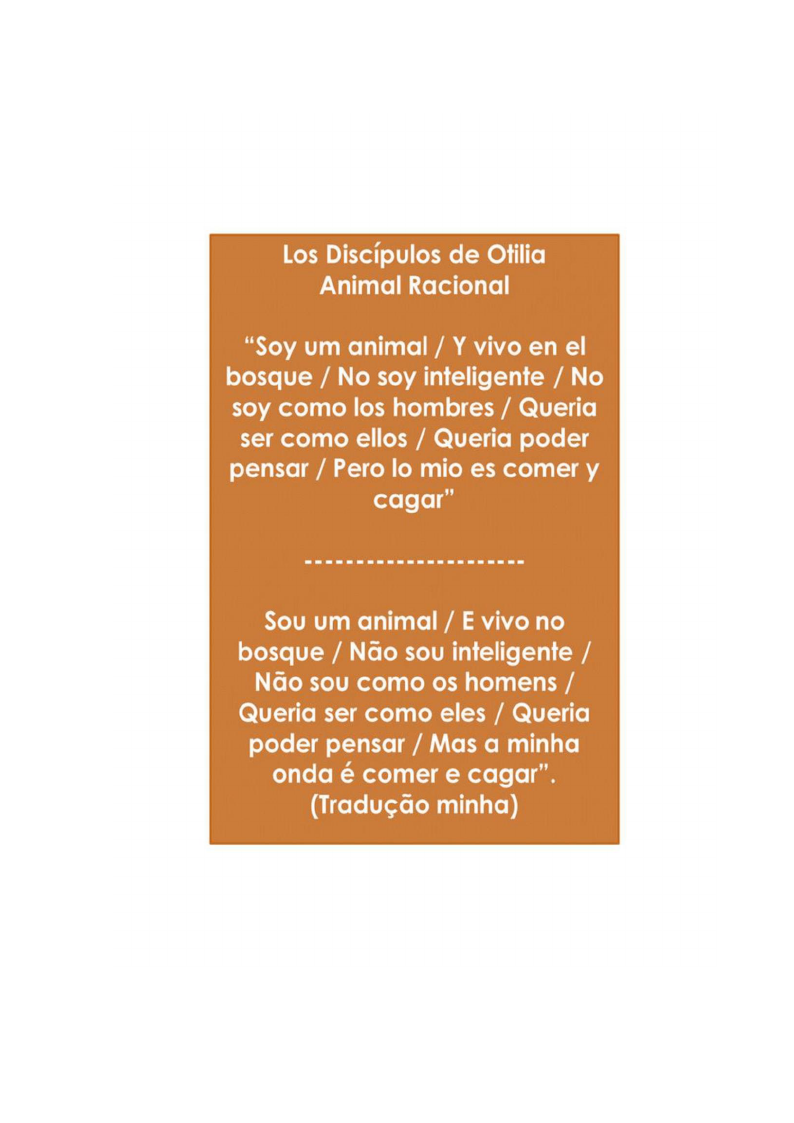
44
Figura 7 – Letra de música_2: Animal racional

45
3 PERFORMANCE, SOMÁTICA E ECOLOGIA – NOVAS FORMAS DE OLHAR A
PESQUISA
3.1 Atualizações ecocentradas
A última versão de “Estudos para macaco” relatada teve seu desfecho próximo ao
início das inscrições para a pós-graduação em Artes da Cena da Unicamp para ingresso em
2018. Nesse momento, sentia ter alguma propriedade sobre os procedimentos e conceitos até
então abordados por minha pesquisa, mas não sabia por onde continuá-la. Por análise racional
e por intuição, pareceu-me um momento coerente para buscar a continuidade na pós-
graduação.
Passei os meses seguintes escrevendo, relendo e reescrevendo minha proposta nos
moldes do processo seletivo. Foi uma forma de reunir e observar com distanciamento tudo
que havia acontecido até ali, tentar entender o que de fato era aquilo e traçar metas para o
futuro próximo.
Posso sintetizar a partir dos capítulos anteriores, que, até então, as problemáticas
que moviam a pesquisa se voltavam para o histórico da evolução humana como uma trajetória
que desencadeou a redução das possibilidades de movimento e o empobrecimento das
interações do indivíduo com o mundo. Pesquisei, escrevi e performei tendo como parâmetro
o reflexo desse contexto em minha própria experiência social e sensorial. O que começo a
delinear agora são importantes atualizações ocorridas no decorrer da pós-graduação.
Os questionamentos endereçados até então a minha história pessoal, ao histórico
evolutivo e civilizatório da humanidade e a aspectos específicos da sociedade contemporânea
plasmaram-se como elementos de um mesmo ecossistema e passaram a ser vistos mais
profundamente a partir de uma perspectiva somática.
Corpo, movimento e experiência foram eixos centrais desde o início da pesquisa.
A partir da entrada no mestrado, no entanto, a atualização para um olhar somático e
ecocentrado significou incluir a compreensão sensorial de cada indivíduo como parte do
mundo e do mundo como parte corporificada nos seres (embodied). Continuo movimentando
performaticamente problematizações acerca do recorte da contemporaneidade evoluída e
civilizada na qual vivo. Porém, agora não as vejo como eventos isolados, mas sim, como
decorrentes e participantes das dinâmicas de um desequilíbrio ecológico.
Ao estabelecer macaco como termo que sintetiza poeticamente os temas e as
práticas de minhas investigações, olho para a contemporaneidade à luz de uma linha evolutiva

46
como estudada nos referenciais teóricos e à luz de uma ideia de evolução acoplada
subliminarmente ao meu imaginário. Uma sucessão de alterações da biologia e das estruturas
sociais dessa espécie, considerando que a impregnação corriqueira da ideia de que estamos de
alguma maneira no topo dessa cadeia fomenta uma postura de negligência perante às
consequências trágicas dos próprios alcances de nosso suposto desenvolvimento.
Como se os aprimoramentos que supostamente nos levam ao patamar superior
fossem tão incríveis que perdoassem automaticamente seu uso injusto vinculado a jogos
mesquinhos de exploração e poder entre membros de uma mesma espécie.
Mais recentemente, somei a esses argumentos a seguinte perspectiva: o apreço
pela evolução pode ser posto na berlinda apontando a esmo alguns feitos marcantes da espécie
humana como, por exemplo, a bomba atômica ou os campos de concentração. Da mesma
forma, os avanços da civilização e da tecnologia podem ser questionados, no mínimo, no
quesito do atendimento igualitário a todas as parcelas da população. No entanto, esses não são
exemplos que remetem unicamente aos feitos da espécie humana, mas sim a todo um
ecossistema em crise.
No articular desses novos parâmetros, transito entre a somática e a performance
como embasamento das práticas e teorias que, entrelaçadas, compõem a pesquisa “estudos
para macaco”. Da performance, o delimitar de um lugar que acolha as práticas, já que elas
envolvem interações pouco convencionais em relação ao “normal” do espaço onde
acontecem.
Da somática, formas de perceber a mim e ao espaço, a meu ver, também pouco
convencionais e que transbordam num questionamento corporificado sobre a relação da
espécie humana com o mundo, seus habitantes e seus fenômenos.
Quando me proponho a uma pesquisa que estabelece a natureza como lugar de
experimentações, invenções e inventariações, penso primeiramente em desconfigurar as
lógicas primeiras atribuídas ao espaço, a partir de minha presença nele. Me embaso nessa
proposição na leitura de artigos da estudiosa da performance Eleonora Fabião e nas aulas do
Prof. Dr. Aguinaldo de Souza durante a graduação. Em ambas as referências, encontro
relações entre a performance e as perspectivas de Hannah Arendt (2010) sobre agir no mundo,
ou seja, agir por si e não respondendo automaticamente às demandas do trabalho e daquilo
que foi imposto como lugar “natural” de determinada pessoa no mundo.
Para Souza (2019), a performance pode materializar a rara oportunidade desse
agir, o que nas palavras de Fabião (2013) inclui deflagrar negociações de pertencimento nas
quais caibam ao indivíduo tomar iniciativas sobre o espaço que coabita. Entretanto, com

47
inspiração nas práticas somáticas, a proposição da minha performance somente se concretiza
quando uma das características da iniciativa tomada sobre a configuração do espaço e sobre
minha presença nele é a busca por amalgamar-me ao meio percebendo essa experiência
cinestésicamente, nos entremeios de minha propriocepção.
É importante pontuar também a qual escopo e entendimento do termo ecocentrado
ou ecologia me refiro. Entendo, da leitura do artigo Art and Ecology: Scenes from a tumultuos
affair16 escrito por Christedl Stalpaert e Karolien Byttebier (2014), que os primeiros indícios
da introdução do termo ecologia no pensamento ocidental remetem a 1866 e aos escritos do
biólogo naturalista Ernst Haeckel. Também que ecologia voltava-se para o conjunto de
estudos sobre o ambiente e aquilo que o constitui, unicamente enquanto discussão do âmbito
das ciências biológicas e não da preocupação com sua preservação.
Somente na metade do século seguinte, em consonância com um momento
histórico no qual outros temas também vinham à tona e ganhavam quórum, ecologia ganha a
conotação de consciência ambiental. É no contexto dos anos de 1960, marcados pela contra-
cultura e pelo questionamento dos modos de vida que vinham sendo cultivados desde a
revolução industrial e ao longo da Era Moderna, que ecologia passa a evocar necessidade de
cuidado com um habitat em iminência de ser degradado.
No entanto, Adilson Roberto Siqueira (2010), apesar de uma explosão acerca de
preocupações com o meio ambiente nos idos do ano sessenta, o consolidar de uma ideia de
comprometimento global de todos os setores da sociedade com a busca de soluções para
problemas socioambientais é ainda posterior.
Ele cita o documento conhecido como “Nosso Futuro Comum” publicado pela
ONU em 1987 e o documento “Agenda 21” resultante do evento conhecido como ECO-92,
ocorrido no Rio de Janeiro no ano de 1992 como marcos oficiais de uma preocupação com o
desenvolvimento sustentável, ou seja, que supram as necessidades do presente sem esgotar os
recursos naturais e sem comprometer as gerações futuras.
No entanto, um afunilamento ainda maior se faz útil. A Ecologia Profunda e a
ecossomática, por exemplo, são campos do conhecimento que extrapolam tanto a visão
unicamente biológica, quanto o interesse por preservação dos recursos naturais enquanto bens
de consumo a nosso dispor e que, justamente por isso, não podem faltar. Pode-se ler, por
exemplo, na dissertação de mestrado de Gabriela Holanda (2019) junto à UFBA, que o
entendimento de ecologia profunda originou-se em postulações do filósofo e ecologista Arne
16 “Arte e ecologia: cenas de um relacionamento tumultuoso” (tradução minha).

48
Naess (1912 – 2009) e propõe, mais que o cuidado com o meio ambiente, uma noção de
simbiose entre indivíduo e meio inerente à existência humana.
Já no livro Somatic Ecology17 (2009), o pesquisador Robert Bettmann argumenta
que as práticas somáticas são caminhos concretos para acessar essas postulações da ecologia
profunda e para dialogar com os desequilíbrios do mundo, já que estes últimos se
fundamentam na ilusão de dissociabilidade entre indivíduo, corpo e mundo.
Ainda outra especificidade a ser considerada é o entendimento de que tudo que se
refere à ecologia e que pode ser exemplificado na relação da humanidade com os recursos
naturais e com seu habitat se estende também para as esferas da subjetividade, das relações
sociais, das relações entre os seres de todas as espécies e das relações entre indivíduo e meio
seja ele selvagem ou urbano. Todas essas esferas estão interligadas, reverberam entre si, tem
seu valor intrínseco e sua equivalente importância dentro da vida da qual são indissociáveis.
Apoiado, sobretudo, no conceito de Três Ecologias cunhado pelo filosofo Felix
Guattari (1993), vejo todas essas esferas sustentando uma delicada relação de equilíbrio e
desequilíbrio entre si. Assim como a natureza propriamente dita, o subjetivo e o relacional
podem também estar em harmonia ou desarmonia, fazendo-se coerente olha-los a partir de
uma perspectiva ecológica. O autor diz que sem rearticular esses três registros da ecologia
diversos perigos se pressagiam, tai como “os do racismo, do fanatismo religioso, dos cismas
nacionalitários caindo em fechamentos reacionários, os da exploração do trabalho das
crianças, da opressão das mulheres” (GUATTARI, 1993, p.16-17).
Na práxis delineada por Guattari (1993), o prefixo “eco” em sua origem grega
(que se refere a casa, habitat ou meio natural) remete essencialmente a subsumir todas as
domesticações dos “Territórios existenciais, sejam eles concernentes à maneiras íntimas de
ser, ao corpo, ao meio ambiente ou a grandes conjuntos contextuais relativos à etnia, à nação
ou mesmo aos direitos gerais da humanidade” (GUATTARI, 1993, p.38). Para ele, a
subjetividade é transversal e se instaura simultaneamente “no mundo do meio ambiente, dos
grandes Agenciamentos sociais e institucionais e, simetricamente, no seio das paisagens e dos
fantasmas que habitam as mais íntimas esferas do indivíduo” (GUATTARI, 1993, p.56).
Apontamentos que indicam que a “reconquista de um grau de autonomia criativa num campo
particular invoca outras reconquistas em outros campos” (GUATTARI, 1993, p.56).
17 Ecologia somática (tradução minha).

49
Para Guattari (1993, p.25), “mais do que nunca a natureza não pode ser separada
da cultura e precisamos aprender a pensar ‘transversalmente’ as interações entre ecossistemas,
mecanosfera, e Universos de referências sociais e individuais”. O autor diz ainda:
Em minha opinião, a ecologia ambiental, tal como existe hoje, não fez senão iniciar
e prefigurar a ecologia generalizada que aqui preconizo e que terá por finalidade
descentrar radicalmente as lutas sociais e as maneiras de assumir a própria psique.
[...] A conotação de ecologia deveria deixar de ser vinculada à imagem de uma
pequena minoria de amantes da natureza ou de especialistas diplomados. Ela põe em
causa o conjunto da subjetividade e das formações de poder capitalísticos – os quais
não estão de modo algum seguros que continuarão a vencê-la (...) (GUATTARI,
1993, p. 36-37).
Vale citar ainda que não se trata de um olhar para ecologia no sentido de uma
busca romântica de voltar à natureza como poderia ser apontada, por exemplo, no clássico
Walden ou A Vida nos Bosques escrito em 1854 por Henry D. Thoreau (BYTTEBIER;
STALPAERT, 2014) no qual se encontra um relato autobiográfico dos dois anos que o autor
viveu afastado do cenário urbano em uma tentativa de autossuficiência. Apontamento o qual
eu complementaria com o exemplo do filme Na Natureza Selvagem (2007) o qual conta a
história de Christopher McCandless que, no ápice de suas viagens em busca de liberdade e
autoconhecimento, se isola no Alasca e acaba por falecer de inanição após consumir por
engano uma planta venenosa.
No meu caso, busco uma abordagem que evoca mais o realismo fantástico de Ítalo
Calvino nas figuras de Marcovaldo (1994) e do Barão das Árvores (2009), já que, a meu ver,
a relação desses com a natureza revela mais que o desejo por uma volta utópica, as fricções
entre a espécie humana e a natureza, bem como, o distanciamento entre elas.
Feita essa contextualização e apresentação, resumo alguns parâmetros que, no
curso da investigação, passaram a definir o diálogo de minhas práticas com a ecologia. São
tópicos advindos de diversas leituras acerca da Ecologia Profunda, da Ecossomática, do
ecofeminismo e dos escritos de Guattari (1993), que mapearam aspectos que guiaram minha
performance dando pistas do que eu buscava acessar cinestesicamente e compartilhar durante
sua realização. Vamos a eles:
1) Tudo aquilo que compreende o planeta tem um valor intrínseco para além de sua
utilidade e/ou preço dentro das dinâmicas das sociedades humanas.
2) Diferente do que a Era Antropocênica coloca como consenso, a espécie humana não
tem um valor central ou superior para um ecossistema não existem hierarquias, todos
os seus elementos têm igual importância e se relacionam de forma horizontal.

50
3) A espécie humana também não está dissociada ou destacada do meio ambiente, na
verdade, são indissociáveis. Do mesmo modo, ecologia não diz respeito somente ao
humano cuidando de seu habitat, mas também, cuidando de si, pois são ações
inseparáveis.
4) Todos os elementos, fenômenos e espécies que compõem a Terra e a experiência de
vida nela estão interconectados independentemente da distância e dos limites de suas
individualidades, como em uma rede onde tudo reverbera sobre tudo.
5) O conjunto da ecologia abrange a relação da espécie humana com a preservação da
natureza, mas também sua relação com o espaço urbano e natural com o qual interage,
sua relação com os outros humanos e com as outras espécies e, por fim, sua relação
com a sua própria subjetividade. Pensando pelo lado reverso: a relação do indivíduo
com cada uma dessas facetas da vida, bem como a relação delas entre si, ocorre, se
mantém e se degrada dentro de uma lógica ecológica.
Há ainda outro aspecto pontual e relevante dessas atualizações que sinto
necessidade de introduzir: a própria ideia de que há uma crise ecológica em andamento. Da
perspectiva de minha investigação, não interessa o recorte de um ou outro evento específico
dessa crise. Em minhas práticas busco, sobretudo, o ponto de vista da consciência e percepção
somática de si enquanto parte do mundo, como caminho para compreender seus problemas e
para estudar e imaginar possíveis alternativas. A questão seria investigar as relações entre
performance, somática e ecologia, considerando que estamos imersos num contexto em crise.
Esse tema é sutil, mas traz todo um novo detalhamento para o olhar da pesquisa.
Cheguei a essa consideração, através da leitura do texto Performing ecologies in a
world in crises (2018)18 de autoria de Sondra Fraleigh e Robert Bingham. Nele, a ideia de
crise é apontada como algo difícil de ser definido sistematicamente, porém, que revela a si e
sua abrangência na face de eventos como o aquecimento global. O texto faz referência à
poluição, à extinção de espécies e ao próprio conceito de Era Antropocênica (ou seja, a
própria preponderância da espécie humana enquanto força que determina os acontecimentos
do planeta Terra) como fator crítico.
Aponta como característica comum a todos, sua profunda influência sobre as
espécies (humana e não-humanas) e os ecossistemas enquanto elementos interconectados. Por
fim, tratando-se do editorial da revista, o texto afirma que, na chamada para submissão de
18 “Performando ecologias em um mundo em crise” (tradução minha)

51
artigos pontuou-se a abertura para cada autor abordar e definir um contexto de crise a partir de
suas próprias experiências e conhecimentos, numa perspectiva mais explícita ou mais sutil.
No editorial da revista supracitada (BINGHAM; FRALEIGH, 2018), reforço o
entendimento multifacetado do termo ecologia como inicialmente apreendi em Guattari
(1993). Sondra Fraleigh (BINGHAM; FRALEIGH, 2018) comenta que não somente os
desastres naturais (furacões, inundações, etc), mas também a violência e outras atitudes de
opressão humana, são plausíveis de serem vistas à luz da crise ecológica. Para ela, é o fim do
entendimento da Terra como nossa casa que desencadeia o fim da empatia e de nossa conexão
enquanto comunidade.
Sandra Reeve (2006) parece concordar com a abrangência de uma ecologia em
crise quando aponta que a noção de natureza – como algo a ser dominado por forças externas
– contribuiu para a ascensão da sede por recursos não renováveis. Para ela, o palpável e o sutíl
interagem através do estabelecimento e do perpetuar de padrões de dissociamento,
superioridade, domínio e ganância entre o indivíduo e a natureza.
Para a artista Andrea Olsen (2002), os últimos dois mil anos delineiam para a
espécie humana, um afastamento entre o indivíduo e o cosmos. Isso é coerente com os
avanços alcançados, por exemplo, nas áreas da tecnologia e da medicina. Porém, ao mesmo
tempo, desvaloriza a inteligência e a criatividade do corpo e desencoraja a escuta de si e da
intuição. Para ela, essa postura desequilibrada tornou-se “normal” na sociedade humana
contemporânea, mas tem sido comprovada como inadequada pela própria realidade dos dias
atuais. Segundo a autora, se faz hora de nos colocarmos frente aos atuais desafios de nossa
espécie com todo nosso “eu” integrado ao mundo.
Em “Corpos em Revolta”, Thomas Hanna (1972) afirma que a supervalorização
de aspectos mentais, tecnológicos, intelectuais, agressivos e aritméticos foi necessária para
forjar a Terra em um ambiente adequado à espécie humana. Foi uma vantagem evolutiva por
um grande período de tempo, porém, não mais para a realidade pós-industrial. De acordo com
Hanna, assim como outrora os primeiro proto-humanos desceram das árvores e se arriscaram
pelo solo assustador, o que há para ser explorado no século XXI é o despertar do indivíduo
enquanto uma experiência humana viva e cinestésica.
A partir dos apontamentos de Olsen e Hanna, posiciono a contestação de nosso
atual estágio evolutivo – provocação inicial da pesquisa – não mais como um olhar para trás,
mas para frente. Hoje me interessa contribuir artística e academicamente com a perspectiva de
uma continuidade da história humana que atravesse os limites de uma era tecnológica

52
industrial e pós-industrial em direção a uma nova harmonia ecológica apoiada em uma
mudança drástica na forma de perceber a si mesmo.
Faço menção a Ciane Fernandes (2019), que nos lembra acerca da Ecologia
Profunda e sua proximidade com as práticas somáticas, principalmente quando realizadas em
espaços naturais. Ela diz, por exemplo, que na prática do “Movimento Autêntico trabalhamos
com a pausa dinâmica e a sensação de mover e ser movido, reativando pulsões mais internas
que se conectam com ondas do ambiente vivo” (FERNANDES, 2019, p. 178).
A autora, através da tese de doutorado de Matthew Antolick (2003, p.29),
relaciona essa reflexão com a Ecologia Profunda que não “importa-se com o ambiente de
modo antropocêntrico, enfocando-o apenas pelo viés dos interesses humanos”. Que, ao invés
disso, busca substituir antropocentrismo por ecocentrismo, ou seja, “[...] a rejeição da imagem
do homem-no-meio, livrando-se de uma visão estritamente atomista de self”. Detalhando
ainda mais essa proximidade, sublinha a busca de “[...] identificação não apenas com sua
própria espécie, mas com todas as formas de vida” e, além disso, que “o significado de ‘auto-
realização’ é ampliado além de seu auto-centramento, rendendo-se a inclusão de outras
espécies, o meio ambiente e a ecosfera. Portanto, ao cuidar do meio ambiente, cuida-se de si
mesmo” (ANTOLICK apud FERNANDES, 2019, p.178).
Atualmente, práticas advindas da performance e da somática materializam
reflexões em uma perspectiva ecológica e também a própria experimentação de acordos
alternativos. Os ajustes de foco desta pesquisa tornaram-se, assim, cada vez mais voltados
para um olhar ecológico e somático que, ao longo do mestrado, foram alimentados por
diversas referências teóricas e artísticas e por uma abordagem prática e corporeificada acerca
dessas temáticas. A seguir, me aprofundo um pouco nos encontros de minha pesquisa com os
campos da somática e da ecossomática.

53
Figura 8 – Ensaios no bosque_2018-2020_2

54
3.2 Sob as lentes da somática
De início, na época do processo seletivo para o mestrado, meu projeto
centralizava suas questões acerca da mobilidade e da percepção no termo Homo sedens usado
por Baitello Jr. (2012). Em suma, o autor identifica traços nocivos de sedentarismo emergidos
no decorrer do desenvolvimento da sociedade humana, da pré-história até a
contemporaneidade. No entanto, ao longo do mestrado essa questão se expandiu.
Um dos elementos fundamentais para a escrita do projeto de pesquisa foi o
encontro com a revista intitulada “O avesso do avesso do corpo – educação somática como
práxis” (WOSNIAK; MARINHO, 2011), publicada na edição de 2011 do Seminário de
Dança do Festival de Joinville, evento no qual estive presente no início da graduação.
Essa publicação abarca diversas abordagens somáticas, discutindo caminhos que
convidam as pessoas a tomarem decisões por meio da escuta de si e de sua singularidade. O
reencontro com esses textos me apresentou a oportunidade de aprofundar a abordagem
corporificada de minha pesquisa.
Encontrei na leitura, um debate sobre se haveria um lado “direito” do corpo
(submisso a convenções e padrões dentro e fora da dança) e se o seu “avesso” teria relação
com as formas de consciência e mobilidade sugeridas pelas práticas somáticas (WOSNIAK;
MARINHO, 2011). Por um momento peguei emprestado e me permiti distorcer o termo
corpo-avesso para tentar entender minhas próprias problematizações acerca daquilo que vejo
convencionado como “normal”. Sylvie Fortin (2010, p. 27) inicia o debate dessa edição da
revista afirmando a existência de um conceito de “discurso artístico dominante, caracterizado
pela precedência da obra e pela ultrapassagem dos limites do artista”, o que pode constituir “o
lado direito do corpo”. E pergunta: “A educação somática, visando ao desenvolvimento da
capacidade de sentir o que escapa à consciência crítica, situa-se, pelo mesmo tanto, no lado
avesso do corpo?”
Entender-se como ser que possui um corpo que controla e entender-se como
“soma” são dois modos distintos de percepção, diferenciação que aparece nos escritos de
Thomas Hanna (1972; 1991). Hanna partiu da identificação de uma coleção de diversas
práticas ocidentais, orientais, contemporâneas e ancestrais focadas na percepção sensorial
para postular esse termo. Para ele, a noção de “corpo” refere-se a um olhar em terceira pessoa,
remetendo a um objeto ou propriedade do indivíduo, “eu e meu corpo”. Já “soma” se refere-se
ao indivíduo como um todo corporificado. Hanna diz: “‘Soma’ não quer dizer ‘corpo’;

55
significa ‘Eu, o ser corporal’. ‘Body’19 tem, para mim, a conotação de um pedaço de carne [...]
privada de vida e pronta para ser trabalhada ou usada” (HANNA, 1972, p. 28).
Demarco como ponto inicial de meu contato com o campo da somática as aulas da
Profª Drª Ceres Vittori que, no primeiro ano da graduação em Artes Cênicas apresentou-nos a
técnica Klauss Vianna, o Improviso de Contato e me levou a participar das palestras e
workshops do Seminário de Dança de Joinville de 2011. Destaco também, no terceiro ano, as
aulas da Profª Drª Tereza Margarida Morini Vine que traziam aspectos do Body Mind
Centering®.
Olhando retrospectivamente, percebo a influência desse campo em minhas
proposições desde o início de minha formação. Ainda assim, ele só viria a integrar de fato
minha pesquisa no início do mestrado.
Contemplando minhas novas motivações, as orientações e as disciplinas do
mestrado me deram embasamento para continuar meu processo, dialogando-o com a
somática. Destaco a influência da disciplina “Movimento, Ação e Gesto: Prática e análise
somático-expressiva” que cursei como discente e também “Ateliê de Prática e Ensino em
Dança II” e “Técnica III: Prática, Análise e Ensino da Dança III” as quais acompanhei com
estagiário (Programa de Estágio Docente - PED C). As duas primeiras foram coordenadas
pela Profª Drª Marisa Martins Lambert, certificada em Análise do Movimento pelo
Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies (NY); e a última pela Profª Drª Silvia Maria
Geraldi, certificada no Método Feldenkrais de Educação Somática.
Destaco também minha participação no grupo “Prática como Pesquisa: processos
de produção da cena contemporânea” coordenado pelas duas docentes supracitadas e pela
Eutonista, Profª Drª Ana Maria Rodriguez Costas (Ana Terra). Mergulhando profundamente
nessas experiências, pude conhecer e experimentar novas práticas somáticas, já que todas elas
se articulavam nesse viés. Com isso ampliei e ganhei confiança nos embasamentos da
pesquisa que eu vinha desenvolvendo. Pude também rever práticas com as quais já havia tido
contato, mas sem uma estrutura e acompanhamento tão focado especificamente na educação
somática. Pude ainda compreender o quanto algumas outras práticas que vivenciei ao longo
de minha formação e carreira profissional (em especial na Cia.L2 e na Taanteatro) tinham de
aspetos somáticos, mesmo que sem utilizar esse nome.
Assim, comecei a elaborar possibilidades de posicionar o que estava chamando de
“macaco” como “avesso” em relação aos padrões motores e perceptivos que sentia
19 “Body”, em inglês, significa “corpo”. (tradução minha)

56
convencionados como o normal do Homo sapiens contemporâneo. Nesse caso, a padronização
do movimento e da percepção. Porém, agora percebia essas possibilidades como parte da
existência dos indivíduos e não como algo externo que os aflige. O interesse pelo “avesso”
trouxe para a pesquisa o diferencial de uma abordagem mais cinestésica e integral do que
anteriormente.
Com apoio do conhecimento somático, durante o desenrolar da pesquisa, me
desapeguei da especificidade da palavra “avesso” e me permiti ir ao encontro de outros
conceitos relacionados à ideia da intensificação da percepção.
Novas perguntas começaram a surgir: o que especificamente dentro da
abrangência do campo somático contribui para a problematização da contemporaneidade?
Organizar práticas artísticas que envolvem mover-se dentro de parâmetros pontuados pela
somática seria extrapolar as tendências predominantes na atualidade? Qual a relação disso
com meu desejo de contato com a natureza?
A pesquisadora Sylvie Fortin (2010) diz que a forma como entendemos nosso
próprio corpo advêm de discursos com os quais tivemos contato ao longo da vida, por
exemplo, no âmbito familiar e através de referenciais midiáticos. São discursos que
organizam o conjunto de valores e comportamentos que embasam nossas perspectivas e
interpretações e que fazem do corpo o resultado do aprendizado consciente ou inconsciente de
normas sociais.
Tentar subverter essa realidade, de certa forma, não me parece que seria
exatamente novidade, pois já estava presente no que me atraiu para a arte de uma forma geral,
bem como nos trabalhos da graduação e com as companhias Cia.L2 e Taanteatro. Um
vislumbre de inovação e aprofundamento aparece ao considerar que o avesso de tendências
predominantes inclui gerar opções de movimento a partir dos referenciais sensoriais tomando
decisões e reconhecendo a singularidade do próprio corpo.
A diretora e coreografa Andréa Bardawil (2010), relacionando a somática com a
dança, aponta a última não como um conjunto de técnicas codificadas, mas como a
multiplicidade das possibilidades do corpo no mundo e como a própria invenção de si e do
mundo. Ela coloca também a pergunta sobre qual seria a relevância de desestabilizar o que já
está instituído e de inventar novas formas de existir e se relacionar?
Me identifico com as indagações de Bardawil (2010), pois tenho interesse em
fazer dialogar o corpo em movimento no espaço com assuntos da existência humana. Retomo
o que, na época do TCC, tentei pontuar como coerções ideológicas que atingem a identidade
do oprimido, através da leitura de Hannah Arendt dentre outras referências. Relembro

57
também meu interesse pelas mutações das lógicas de movimento predominantes ao longo da
história da espécie humana como observei no estudo do livro “O Pensamento Sentado”
(BAITELLO JÚNIOR, 2012) e da técnica Fighting Monkey.
No entanto, a forma como a somática entende o indivíduo e sua relação com o
meio sugere ainda uma nova abordagem. Interessa-me manter a abordagem prática e corporal
da investigação, porém somar a ela uma aproximação com a própria experiência de existir
como um ser no mundo (FORTIN, 2010), com enfoque maior nas intersecções entre
percepção, movimento e mundo.
No aproximar de configurações motoras e visões de mundo encontro um caminho
para refinar a metáfora do macaco e continuar com a experimentação de lógicas pouco
convencionais de movimento e interação com o espaço como forma de problematização das
convenções socialmente aceitas. Porém agora, sob as lentes da somática, me aproximo da
ótica embodied. Ou seja, aproximo meus questionamentos de meu próprio corpo entendido
como multifacetado e indissociável de meu existir no mundo.
Segundo Elisa Belém (2011), o termo embodiment diz respeito a tornar físico ou
corporificar. Em meus próprios raciocínios costumo entende-lo como “dar corpo”,
“materializar no corpo”, ou “compreender como corpo e com o corpo”, ou “de uma
perspectiva corporal”. Essa perspectiva resume uma atualização muito relevante para a
pesquisa: percebo que anteriormente, por mais que já a centralizasse a investigação no corpo e
no movimento, o fazia de forma mais distanciada.
Adentrar minha pesquisa buscando embodiment significou uma mudança no
sentido de processar as questões investigadas na complexidade do corpo, mais do que levantar
questões e responde-las a elas posteriormente, entendendo, nesse caso, corpo e questão como
dimensões distintas.
No capítulo Embodiment in Somatics and Performance20, a pesquisadora Thecla
Schiphorst (2009) reafirma que a perspectiva em primeira pessoa apresentada pela somática
se relaciona com a produção de conhecimento em propostas artísticas e de pesquisas nas quais
o corpo é o próprio lugar da investigação. Ela enriquece as pesquisas que falam diretamente a
partir da experiência e os saberes delas advindos, visto que a observação a partir de nós
mesmos expande a qualidade de nosso conhecimento do mundo em suas facetas pessoais,
sociais e políticas. Ela lembra que o leque de nossas experiências é imenso, mas que a
habilidade que temos de observar a nós mesmos tende a ser ignorada ao ponto de atrofiar-se.
20 “A Corporificação na Somática e na Performance” (tradução minha).

58
As práticas somáticas, por outro lado, convidam a reeducar a percepção, a assumir o
direcionamento intencional da atenção e a valorizar as sensações como canal perceptivo e
como interface entre corpo e mundo. Convidam a abrir mão de hábitos cotidianos para mudar
o foco da atenção do exterior para o interior de si e para, a partir de si, olhar novamente para o
todo.
Segundo Schiphors (2009), esses são alguns aspectos que definem algo como
embodied. Em minha pesquisa isso é relevante enquanto mudança de foco, pois aproxima-se
de questões da percepção palpável de existir no mundo. Na aplicação de um aspecto
embodied, busco na pesquisa as pontes entre a somática e a performance para articular
conhecimento tácito, para aprender a partir da experiência do “eu”.
A somática me apresenta um caminho para aproximar-me mais ainda da relação
com o planeta que me inquieta. Interessa-me, enquanto proposição artística, pensar,
experimentar e inventariar re-invenções de mim mesmo e do mundo.
A seguir delineio como essas novas perspectivas se plasmam em meus desejos de
aproximar-me da natureza.
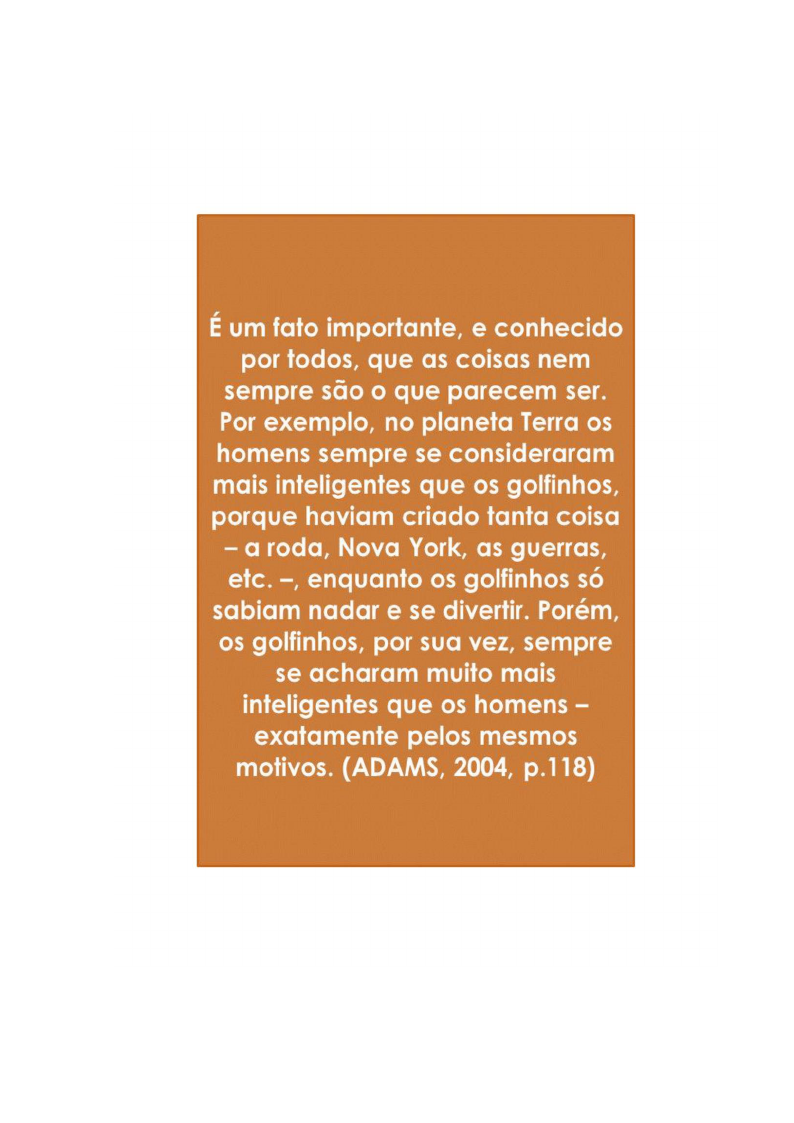
59
Figura 9 – Recorte de livro_1: O guia do mochileiro das galáxias

60
3.3 Aproximando-me da ecossomática
Ecossomatica é a integração entre arte e ecologia. Ecossomática é a porta para se
conectar com o universal. Ecossomática é um jeito de levar as práticas de
movimento para o espaço externo. Ecossomática é uma cura para a separação entre
mente, corpo e planeta. [...] Ecossomática é um questionamento profundo dos
limites do indivíduo. [...] Ecossomática faz do fora, dentro e do dentro, fora.
Ecossomática é uma mistura de arte e política. [...] Ecossomática é uma
demonstração de como as artes do movimento são indispensáveis para a vida
cotidiana. [...] Ecossomática é uma demonstração de como as artes do movimento
podem facilitar impactos positivos e duradouros sobre a paisagem natural e social.
Ecossomática é uma forma de retornar ao equilíbrio. Ecossomática é uma
ferramenta ativista. Ecossomática é um modo de vida (WALLA, 2009, p. 04,
tradução minha).
Dou início a essa parte da escrita com uma citação em formato de brainstorm de
possíveis definições do termo ecossomática delineados por Nala Walla (2009), fundadora da
organização “The Bcollective”21 que investiga intersecções entre somática e permacultura.
Interessa-me essa citação e o seu formato justamente porque escrevo no objetivo de organizar
e difundir alguma definição do conceito de ecossomática. Porém, não perco de vista ser esse
um campo prático e epistemológico relativamente recente e ser mais recente ainda o meu
encontro com o mesmo.
Quanto à grafia da palavra utilizarei “ecossomática”, embora tenha encontrado
variações na bibliografia consultada, por exemplo, “eco-somática”. Vale ressaltar também que
nem tudo que foi consultado como referência trata especificamente de ecossomática. Algumas
fontes dialogam com a somática e a ecologia sem se atrelar a uma nomenclatura definida, ou
utilizando o nome de “ecoperformance”, por exemplo. O que reforça minha atenção para não
me lançar em tentativas de definir um termo e, ao mesmo tempo, me revela a abrangência e as
múltiplas facetas do diálogo entre essas áreas.
Como afirmei desde o início, uma característica presente desde sempre nessa
pesquisa é a opção de atrelá-la a interesses, questionamentos, sensações e experiências
vivenciadas “em minha própria pele”. Ainda assim, algum distanciamento persistiu até que,
através de uma perspectiva somática, “pele” e “eu” nos aproximamos e amalgamamos.
Finalmente, no atual momento da pesquisa, entrei em contato com a possibilidade
de endereçar meus questionamentos ao contexto ecológico, atualizando minhas abordagens
para pesquisar as interseções entre corpo e mundo. Percebi a possibilidade de assumir um
ponto de vista que além de interconectar sociedade e individualidade, fundisse ambos no
contexto de um ecossistema planetário. Para além de apontar e problematizar aspectos críticos
21 “Coletivo-Abelha” (tradução minha)

61
do mundo contemporâneo, a intenção foi experimentar práticas que levassem a entendê-lo,
não apenas de forma racional, mas também prática e somática, como parte de um todo
sistêmico.
Busco entender um pouco do que já foi levantado acerca de uma abordagem
especialmente ou especificamente ecológica para a área da somática e como tenho colocado
minha pesquisa em diálogo com esse contexto. Segundo Susan Bauer (2008), especialista em
BMC® e Autentic Moviment, o conceito de ecologia abarca a relação dos organismos com seus
respectivos ambientes no sentido de posicioná-los dentro do todo. Afirma ser plausível
agregar à “somática” o prefixo “eco” plasmando na percepção de si enquanto “soma” uma
perspectiva ecossistêmica de forma a propiciar novas descobertas sobre o que significa ser
humano num sentido global e essencial.
Nala Walla (2008; 2009), que foi aluna de Bauer, também aponta como viável
partir da definição de somática para entender o que é ecossomática. Retomando uma
explicação sobre a primeira, ela descreve que quando uma pessoa olha para outra, pode
objetivamente perceber que ela tem um corpo, mas não consegue enxergar as suas
subjetividades e nem sua propriocepção, já que esses são campos de experiências sensoriais
diretas que cada pessoa experimenta de si própria.
Ela convida-nos a dirigir a atenção a esse campo experiencial como uma
habilidade sensorial que pode ser carregada para todo e qualquer outro movimento ou
contexto. Inclusive para uma aplicação dentro do intuito de restaurar uma relação sustentável
para com o planeta, ou seja, assumir a percepção de si em “primeira pessoa” como perspectiva
também para o entendimento de um corpo social, de um corpo político e de um corpo
planetário fazendo, assim, do próprio corpo o portal para adentrar a ecologia.
Como já apontado anteriormente acerca do desejo de adentrar o campo da
ecologia, lembro que existem acepções especificas dessa palavra que delineiam o recorte no
qual faz sentido dialogar com práticas sobre o corpo e a atenção. O autor do livro Somatic
Ecology, Robert Bettmann (2009) aponta a Ecologia Profunda e o ecofeminismo como as
principais teorias que antecedem e embasam conceitualmente o surgimento da
“ecossomática”.
Tais teorias atribuem o desequilíbrio ecológico não a esse ou aquele evento, mas
ao antropocentrismo como um todo, ou seja, à própria ideia de que a espécie humana tem uma
posição central na atual Era e é a legítima dominadora do meio e dos recursos nele presentes.
Lembram – em especial o ecofeminismo – que o prefixo antropo da palavra Antropoceno
aponta para a espécie humana como um todo, mas que não pode ignorar que o protagonismo

62
de determinadas parcelas da população em um cenário patriarcal, dentre outras características
normativas, dirigi-lhes também uma carga maior de culpa sobre os desequilíbrios dos tempos
atuais.
A respeito do Antropoceno, a antropóloga Zoe Todd (2015) sublinha, em seu
ensaio “Indigenizing the Anthropocene”22, a importância de delimitar sobre qual humano
estamos falando, já que, é característico da história da habitação humana no planeta Terra o
colonialismo, eurocentrismo, extermínio de tribos, silenciamento de raças e gêneros,
diferenças de classes, gentrificação, falocentrísmo e heteronormatização. Não faria sentido,
somente quando o assunto é o “fim do mundo”, agregar a todos e todas como espécie humana
única.
No sentido inverso, uma observação cautelosa é recorrente em Bauer (2008),
Walla (2008; 2009) e Fernandes (2019), é que a abordagem acerca da ecologia apresentada,
por exemplo, pela ecossomática precisa cuidar para não reproduzir e perpetuar as
características supracitadas tomando para si a autoria de práticas e pensamentos cujos
fundamentos tem, na verdade, a idade da própria humanidade e já esteve presente em rituais
de diversas culturas e comunidades ancestrais. Bauer (2008, p.08) pontua: “De fato, várias
culturas indígenas tem práticas que, pelas definições de hoje, seriam consideradas
‘somáticas’”.
No mesmo sentido, o pensador e líder indígena Ailton Krenak (2019) nos lembra,
que a consciência de que o meio ambiente não é um almoxarifado e que não deve ser
saqueado sem preocupação com as próximas gerações é um saber indígena antigo.De forma
semelhante, o prefácio escrito por Eduardo Viveiros de Castro para o livro “A Queda do Céu”
(2015), nos lembra que a própria palavra ecologia não existe nas línguas indígenas, que só é
possível criar esse conceito quando não se vive em harmonia com a natureza e não quando já
se vê inerentemente como parte dela.
As vertentes da ecologia, que Bettmann (2009) faz referência, lançam olhar para
além da relação entre a espécie humana e a manutenção/depredação da natureza. Elas
consideram que todos os sistemas estão intimamente conectados e que têm valor intrínseco,
ou seja, por si próprio para além de valores utilitários dentro das necessidades e ambições
humanas. Defendem que essa visão utilitária, patriarcal, insalubre e sistematicamente perigosa
pode ser revisada e que alternativas podem ser vislumbradas e elaboradas a partir de práticas
sobre si, sobre o próprio corpo e atenção. Por fim, o autor afirma que as práticas somáticas
22 “Indigenalizando o antropoceno” (tradução minha).

63
interferem na forma como os idividuos praticantes se articulam no mundo, visto que
convidam-nos à aproximação dos corpos que habitamos, a partir de processos perceptivos e
sensoriais propondo uma revisão da cisão corpo-mente que é, por sua vez, análoga à suposta
separação entre espécie humana e o mundo que habita.
Ciane Fernandes (2019) nos lembra de que todo o campo da educação somática já
é eminentemente ecológico, pois agrupa práticas com ênfase em processos internos da ótica
da sinergia entre a consciência, a biologia e o meio-ambiente. Tecla Schiphors (2009) também
recorda que é intrínseco à somática revelar a interconexão entre os corpos, suas realizações e
o mundo, de forma conceitual e prática.
Se o enfoque “eco” é inerente à área da somática, o que então se pretende ressaltar
com o termo ecossomática? No artigo “Por uma ecologia da somática”, Isabelle Ginot e
Joanne Clavel (2015) pontuam que em diversas abordagens somáticas o movimento é
entendido como “interação com o mundo”, as trocas entre sujeito e mundo têm como ponto de
cruzamento a percepção e são refinadas a partir de um trabalho de tomada de consciência de
si. No entanto, elas dizem que, apesar de inerente a diversas abordagens somáticas, os
entrelaçamentos entre sujeito e mundo podem ser abordados por essa área de forma
antropocentrada, isto é, consideram o meio ambiente, mas não necessariamente dão margem
para a reciprocidade. Assim, podem ignorar o ponto de vista e o valor intrínseco dos
elementos e fenômenos não humanos com os quais estão se relacionando. Podem ainda,
repensar a consciência de si em relação ao meio sem, porém, considerar o indivíduo, de fato,
como parte dele, sem considerar ambos igualmente importantes e em uma relação horizontal.
Ao adentrar na investigação sobre ecologia e somática, voltei meu olhar para a
questão da horizontalidade entre sujeito e meio, primeiro buscando exemplos que indicassem
essa indissociabilidade e, em seguida, tentando materializá-la em práticas do movimento e do
articular da atenção.
Para Bauer (2008), o fato de nascermos de outros seres humanos e de nos
decompormos após a morte revela que o corpo é a mais profunda conexão de um indivíduo
com o planeta e com os outros seres humanos. Para ela, a passagem de um indivíduo pela
Terra se fundamenta através de trocas constantes com ela, sendo o movimento uma constante
desde o útero materno. Ela lembra as palavras de Andrea Olsen (2002), para quem nós somos
literalmente parte do planeta que habitamos. Não se trata de uma metáfora, nosso sangue,
ossos e respiração, são a água, os minerais e o ar.

64
Em seu livro Body Stories, Olsen (1991) descreve o processo de respiração celular
e como através dele o oxigênio adentra o corpo e é assimilado pelo sangue se espalhando por
todas as células, nos conectando diretamente com o mundo exterior.
Para Robert Bingham e Sondra Fraleigh (2018), editores do nono volume da
revista Choreographic Practices, as práticas de Olsen são formas de recordar que a natureza
existe em nossa interação direta com seus elementos palpáveis. Que somos a continuidade do
mundo físico à nossa volta e que se dançamos, por exemplo, com a terra ou com uma floresta,
elas também dançam. É o que pode ser percebido em sua pesquisa somática e performática
como ricamente detalhada no artigo publicado nessa edição da revista e que tem
desdobramentos em texto, áudio e vídeo compartilhados na internet23.
Em um de seus trabalhos, Olsen utiliza práticas corporais e performáticas para se
lançar numa investigação sobre algas marinhas de uma perspectiva biológica, histórica e
estética profunda o suficiente para tocar na existência humana e em seu entrelaçamento com o
planeta como um todo. É uma performance calcada no corpo em movimento, mas não em
imitações das algas e nem em coreografias premeditadas. No lugar disso, trata-se de convidar
esse elemento da natureza para perto de si e levantar de forma “corporificada” a seguinte
questão: como é possível alguém não se importar com os oceanos e com as formas de vida
que ali existem, sendo esse alguém também uma dessas formas de vida?
Noto, a partir da apreciação do trabalho multifacetado e multimídia de Olsen, a
ausência da formulação de um conceito de ecossomática, ao mesmo tempo em que vejo
explicitado o plasmar de práticas da dilatação da percepção de si enquanto soma em
intersecção com o meio. A artista dá especial atenção para, antes de mais nada, manter o
humano/performer fora de protagonismo, entendendo-o como uno e de igual valor com o
ambiente e interessando em perceber corporalmente a crise ecológica na qual vivemos
imersos, bem como participar da busca por alternativas.
Tomei Olsen como referência para que as etapas de minha pesquisa se
configurassem em realizações performáticas, incluindo nos programas a consideração de
indivíduo e planeta de forma tão ampla, corporal e interconectada quanto proposto pelas
práticas somáticas. Tomei emprestado dela também o propósito/preocupação com a
sustentabilidade, de modo a adotar uma postura de desconstrução da relação antropocênica da
espécie humana em relação ao espaço, à pesquisa acadêmica e à criação performática.
23 Confira essa obra em: http://www.body-earth.org

65
A revista Coreographic Practices (BINGHAM; FRALEIGH, 2018) traz ainda
outros artigos que relatam aproximações conceituais e práticas sobre intercâmbios entre
indivíduos e mundo através dos sentidos, da percepção e do movimento em uma perspectiva
ecológica, ou ainda tratando do tema “ecologia”. Nela, diversos apontamentos convergem
para o delinear de caminhos de acesso a uma consciência planetária.
Esses caminhos têm como aspecto comum as intersecções entre somática e
ecologia, ou seja, são abordagens corporificadas. Assim, a leitura dessa revista imprimiu e
deixou latente em minhas reflexões a ideia dessa consciência planetária enquanto
corporificada, como mote de uma busca, simultaneamente, somática e ecológica.
Destrinchando um pouco mais essa expressão e a leitura que fiz dela: uma consciência do
planeta, de suas dinâmicas e inter-relações com tudo que o compõe, concebida e exercida em
perspectiva somática no corpo e enquanto corpo.
O artista Mathew Nelson (2018) defende o embodiment como ponto de partida
para a consciência de que somos sistemas vivos, feitos de sistemas vivos e participantes em
sistemas vivos. Em outras palavras, pontua a habilidade de dar corpo a algo imaterial ou de
compreender um fenômeno ou experiência a partir de uma perspectiva corporal como
essencial para percebermos que não somos nem independentes e nem totalmente responsáveis
pelo mundo, mas sim participantes em estruturas ecológicas.
Nelson dá à sua abordagem o nome de Embodied Ecology24 e a descreve como um
modelo ecossomático de participação na coreografia da vida, bem como uma visão de mundo
unificadora que considera a nós como sistemas vivos. Para ele, é comum que a ecologia seja
compreendida como estudo da interação entre os sistemas vivos, sem levar em conta a
avaliação a importância desses sistemas e a equivalência entre eles. Por isso, faz referência à
permacultura – como inicialmente postulada pelo ecologista David Holmgren – para encontrar
os parâmetros de ecologia com os quais busca dar corpo às suas práticas. Sugere a
ecossomática como polinização entre teorias e práticas da somática e da permacutura e
enxerga nela caminhos para dar corpo à ecologia em toda sua profundidade.
Para ele, a aplicação de princípios da permacultura em práticas somáticas
propiciam um estado de embodiment que cria o contexto para experiências que podem ser
consideradas ecossomáticas. Pois curam a separação entre mente, corpo e planeta,
encorajando o indivíduo a perceber-se simultaneamente na natureza e enquanto natureza. A
partir dessa afirmação, faz a seguinte analogia: sob as lentes da somática experimentamos
24 Ecologia Corporificada (tradução minha).

66
pensamentos, sensações, desejos e criamos significados para nossas experiências, tudo
absorvendo informação através dos sentidos, processando e respondendo a ela através do
movimento.
As práticas somáticas aproximam a esfera da experiência subjetiva ao estudo
objetivo do corpo e do movimento. E segue com sua reflexão afirmando que a permacultura é
para a ecologia o que a somática é para o estudo do movimento, tanto no sentido de pontuar
princípios quanto de buscar sua aplicabilidade prática. A permacultura intervém
propositalmente nos padrões dos sistemas naturais com foco em atender simultaneamente as
necessidades humanas e não humanas como uma habilidade coreográfica que coordena os
movimentos de sistemas vivos em um espaço compartilhado.
Seguindo com a busca de intersecções entre ecologia e somática necessária para
estabelecer parâmetros de realização e compreensão de minha própria pesquisa, encontro na
leitura do artigo de Sandra Reeve (2018), On the way to regenerative choreography, o
epicentro de possíveis intervenções humanas sobre problemas existentes ao redor do globo. A
autora elucida que estamos sempre em uma relação delicada de reciprocidade com um planeta
vivo; logo, sucesso individual e coletivo dependem um do outro.
Ela sugere uma busca de práticas de movimento que desafiem as formas como
habitualmente nos movemos e o costume de acreditar que somos indivíduos imutáveis e, ao
mesmo tempo, centrais e dissociados da natureza que nos cerca. Ela se interessa por
composições de movimento que não sejam criadas e depois realizadas em ambiente externo,
mas que sejam realizadas em parceria com a natureza e que mobilizem uma experiência
palpável de reciprocidade e interconexão com o meio e com as outras espécies.
Para Reeve (2018), é por conta da própria forma como geralmente somos
ensinados a nos mover e a pensar que acreditamos estar no centro do planeta quando, na
verdade, nos movemos junto de tudo que há nele. Assim, ela acredita na contribuição positiva
de práticas de movimento que sugerem coreografar-se – seja o roteiro de um dia comum, seja
em uma aula ou performance – lembrando que o eu, os outros e os cenários em torno são
processos interligados.
Ela afirma que, conforme experimentamos focar-nos em sentir as composições
que realizamos junto ao ambiente de forma participativa, ao invés de impormos ideias e
desejos como que para algo externo a nós, direcionamos nossa prática para a coerência
ecológica e para a sustentabilidade.
A autora coloca uma pergunta na qual identifico os propósitos de minha pesquisa:
como as coreografias nas quais eu escolho me envolver colocam práticas somáticas a serviço

67
do pertencimento e fomentam algum tipo de regeneração sustentável da comunidade da qual
faço parte e mesmo de perímetros mais amplos? Por fim, na leitura do artigo The Next Step:
Eco–Somatics and Performance25 (2006), da mesma autora encontrei pontualmente a
afirmação da ecossomática como prática do corpo e do movimento.
Ela diz que é impossível não nos comunicarmos com o meio, mas que podemos
maximizar esse diálogo através do movimento e das sensações físicas e sentimentos que
fluem dele. Afirma que, em suas práticas, aborda a ecossomática como caminho para uma
percepção que equalize nosso interior com o exterior, enquanto uma habilidade motora e da
atenção através da qual agir e interagir em diálogo com o ambiente ao nosso redor de uma
forma corporificada.
Ainda no estudo da mesma edição da revista Coreographic Practices (2018), me
chama atenção o artigo da dançarina, educadora e ecologista Ali East. Destaco sua sugestão
de que a inteligência corporal pode ser desenvolvida e direcionada para promover o
crescimento da percepção do inter-relacionamento entre corpo e espaço. Ela se refere a
expandir a habilidade de conhecer o mundo através de uma mistura entre fatores corporais,
táteis, cinestésicos, sociais, históricos e culturais. Também, aconselha a aplicar e compartilhar
essa habilidade através da performance de forma a afetar a si e a quem entrar em contato com
ela. Para East (2018), quando performamos nossa imersão no mundo, vivenciamos
simultaneamente o corpo enquanto materialidade no mundo e enquanto subjetividade que
percebe a si e ao mundo. A autora posiciona esse tipo de experiência como muito próximo
daquilo que é postulado pela Ecologia Profunda.
Já Christine Bellerose (2018) vê nas práticas somáticas modos de experimentar a
vida e de abordar uma pesquisa acessando esferas mais amplas e complexas. Para ela, as
práticas somáticas fomentam a escuta, configurando-se como uma modalidade não invasiva
de investigação. Através do mover-se conscientemente no contexto de uma pesquisa
ecossomática, busca desenvolver e compartilhar o entendimento da intimidade entre passado,
presente e o futuro de um lugar.
Ela diz que utiliza a ecossomática para mudar sua relação com o histórico dos
lugares. Através de escutar a linguagem do ambiente e de mover-se conscientemente e em
sincronia com as influências presentes nele, atenta e curiosa para os encontros de sua pele
com a terra, a água e o vento. Enquanto problema ecológico, ela foca nas reverberações dos
processos de colonização ainda hoje presentes e influentes.
25 Próximo passo: ecossomática e performance (tradução minha).
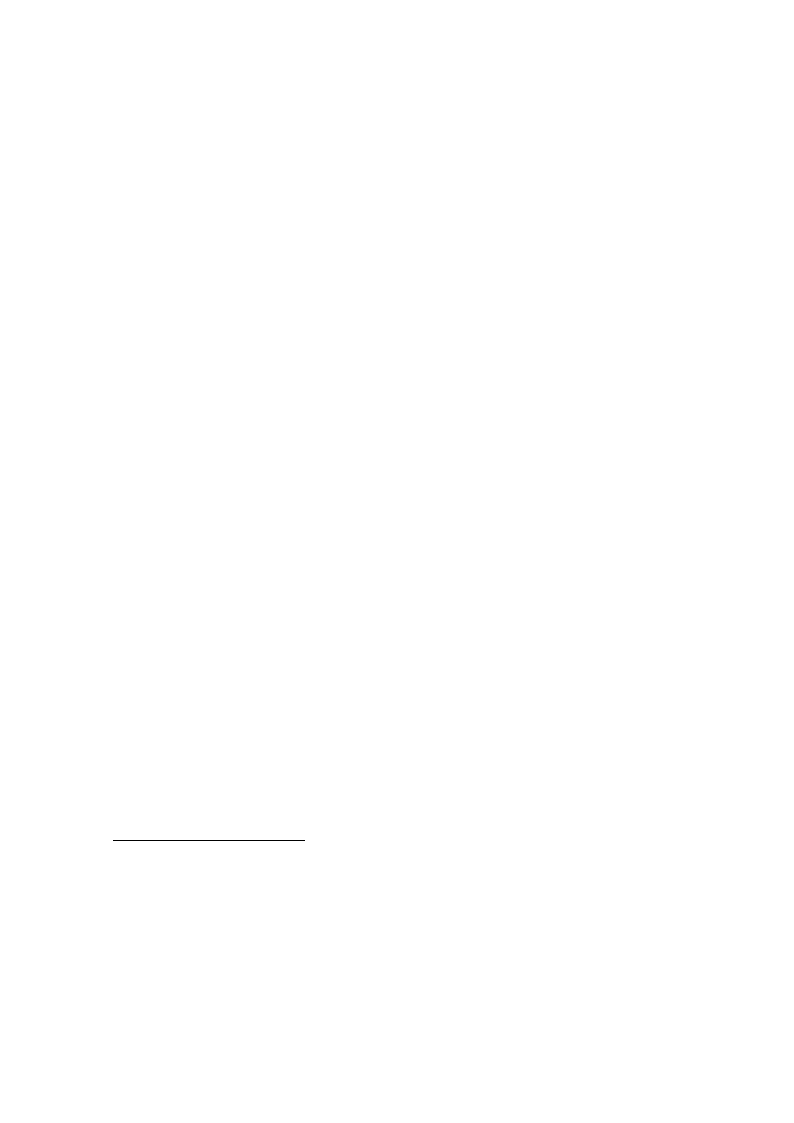
68
Outra referência importante para esse estudo é Marian Soto (2018). Em seu artigo
Go to the Woods: Choreographic scores for performing in nature26, ela relata ter passado
longas horas de sua vida em estúdios de dança cultivando a consciência somática e
descobrindo caminhos de acesso à complexidade do corpo e da vida. Então, ela compara essa
experiência, com outra época de sua vida, quando reencontrou sensações semelhantes, porém,
a partir de simples idas a lugares onde a experiência sensorial da paisagem, dos sons e do ar
fresco geravam conectividade com tudo que faz parte da natureza.
Soto (2018) desenvolveu a prática denominada Branche Dancing27. Trata-se de
um improviso de movimento advindo de uma delicada interação com um galho de árvore, de
perceber seu peso e de escutar o contato com ele. Ela diz que, no desafio de manter-se
presente e encontrar equilíbrio, algo mágico acontece: conectamo-nos com a força dos
elementos, com o galho, com nós mesmos, uns com os outros e com a natureza; entramos em
um estado dinâmico de fluidez e consciência.
Ela sugere ainda uma espécie de partitura coreográfica na qual transparece as sutis
semelhanças inerentes entre práticas de movimento e simplesmente estar na natureza. Seguem
alguns excertos:
Vá para a natureza, apenas vá! [...] Silencie toda a falação de sua mente. [...] Deixe
os sentidos emergirem para o primeiro plano. Deixe os olhos se ajustarem para a
dança das luzes atravessando as árvores. Respire o ar fresco e assista a sua própria
respiração. [...] Foque no ritmo da respiração e do caminhar, nos sons e nas
sensações que chegam até sua pele e suas narinas. Perceba os aromas das plantas, da
terra e da chuva recente. Escute o vento, o farfalhar das folhas e os pássaros
distantes [...] Vá para a natureza [...] pratique o silêncio. [...] toque o chão, a terra e
as pedras. [...] Encontre um galho de árvore [...] conecte-se com ele, perceba-o, sinta
e receba seu peso. [...] Agora trata-se de um objeto inanimado, mas já foi conectado
com uma árvore e tem em si as reminiscências do movimento e fluxo dela e da
conexão que ela estabelece entre o solo e a luz. [...] Vá para a mata, não há tempo
para perder, as florestas estão desaparecendo! Vá! (SOTO. 2018, 172-178)28
Em todas essas performances e abordagens de criação e pesquisa que tenho
encontrado, embora não veja uma definição única da relação com a ecologia, percebo uma
26 “Vá para a mata: partituras coreográficas para serem performadas na natureza” (tradução minha).
27 Dança-galho ou dança-graveto (traduções minhas). Confira esse trabalho em:
http://www.meriansoto.com/credits.html
28 Go to the woods. Just go! [...] Let the chatter of the mind retreat. […] Let your senses move to the foreground.
Let your eyes adjust to the dancing light filtering through the branches. Breath in the fresh air. Watch your
breath. [...] Focus on the breath, the rhythm of the walk, the sounds, the sensations on the skin and nostrils.
Notice the aromas of the plants, the earth, the recent rain. Listen to the wind, the rustle of leaves, birds calls in
distance. Go to the woods! […] practice silence. [...] touch the ground, the dirt, a rock. Find a branch to support
you. [...] Connect with/to the branch. Sense it. Feel its weight. Receive its weight. [...] This now inanimate object
was once parto f a living tree; its form is the solid remain of the tree’s movement and flow connecting earth and
light. […] Go to the woods. There is no time to delay; the forest are disappearing. Go!

69
constante: a busca de amálgama sensorial e cinético com o meio como caminho para estar e
agir no mundo de forma ecocentrada.
Vejo esclarecimento para essa busca, por vezes tão tácita que se esquiva de
palavras, na descrição de “Imersão Corpo Ambiente”, como apresentada por Ciane Fernandes
(2019). Ela afirma que a Imersão Corpo Ambiente é um estado somático de ecologia profunda
que implica na experiência da conexão entre micro e macrocosmos, matéria orgânica e
inorgânica, átomos, células e planetas. Não é uma imersão invasiva, trata-se de uma diluição
de modos pré-concebidos de pensamento e movimento, uma diluição do próprio agir da qual
decorre a abertura necessária para a integração com o meio. Esta pode ser identificada pela
sensação híbrida entre ser movido e mover-se que instaura entre corpo pessoal e ambiente
vivo, uma relação de fluidez.
As palavras de Fernandes (2019) me trazem esclarecimento tanto para o que pode
ser, de fato, a faceta palpável de uma prática ecossomática, quanto para a relevância dessas
práticas na revisão de um pensamento antropocentrado, que coloca a razão e o ser-humano
como dominadores e manipuladores do ambiente.
Enfim, percebo de forma generalizada, nas leituras que embasam essa escrita,
apontamentos para a inevitabilidade da humanidade passar por revisões tácitas e pessoais
acerca do que é ser e estar no mundo, caso se dedique a alguma forma de resolução para as
crises de abrangência global e ecossistêmica nas quais se encontra. Assim, o indivíduo em
relação a si mesmo torna-se lugar essencial de investigação e de intervenção no intuito de
entender e sanar questões ecológicas de ampla abrangência.
Concordo, segundo a leitura do livro de Robert Bettmann (2009), com a coerência
de que, para atuar em relação à ecologia em todas suas esferas, o ser humano pode iniciar pela
parte da natureza com a qual é mais íntimo, ou seja, si próprio. Também com Walla (2009),
que parece refletir por trilhas semelhantes acerca desse singelo olhar para si frente a enormes
crises planetárias, ela pergunta: como podemos reestabelecer uma sociedade e ecologia
calcada na harmonia entre diversas espécies e culturas ao invés de calcadas na dominação,
depois de gerações e gerações de afastamento entre nossos cotidianos e os ritmos da natureza?
Como podemos começar novamente a nos relacionar com o planeta? Movida por essa
pergunta, ela assume que trabalhar sobre si pode parecer pouco. No entanto, relembra que a
negação de nós mesmos reproduz uma série de problemas mais amplos que recaem sobre a
Terra. Assim, afirma que trabalhar sobre nossa própria carne e sobre nosso próprio sangue é
corporeificar o ativismo ecológico.

70
Por esses caminhos, mapeio formas e propósitos que podem definir uma atuação
ecossomática, de forma que eu consiga dar subsídio para minhas próprias práticas e afiná-las
com o intuito de contribuir com uma visão de mundo ecocentrada. Com a substituição de uma
predominante ilusão de dominação, por empatia com as espécies não humanas e com tudo que
compõe o planeta. Esse é o campo da ecossomática como o conheço até o momento. A partir
dele, vislumbro conexões entre minhas práticas, as realiazações de artistas que me precedem,
as linguagens pelas quais transito e uma reflexão e contribuição em perspectiva ecocentrada.
O que tenho em mãos, além da continuidade de aprofundamentos nos referenciais
acerca desse termo, são minhas próprias experimentações práticas. Preparo-me então para
dissertar sobre minha própria performance, a versão de Estudos para Macaco que, não apenas
acompanha essa pesquisa, mas na qual a investigação se materializa e as questões por ela
levantadas se articulam.
Em suma, assim como nos procedimentos e criações que tenho analisado como
referência, busco materializar a consciência e a interação consciente com o universo em uma
perspectiva ecocentrada, somática e performativa; experiências nas quais o movimento, a
percepção e a interação com o espaço subvertem tendências contemporâneas e
antropocênicas.

71
Figura 10 – Ensaios no bosque_2018-2020_3

72
3.4 Referências Artísticas
Antes de passar para os relatos de minhas próprias práticas, busco endereçar em
contexto histórico e artístico quando inicialmente relações entre arte e ecologia foram
abordadas, bem como quem são algumas das pessoas que atualmente investigam esses
temas.
Apoio-me no histórico da relação entre performance, ecologia e somática a fim
de compreender as abordagens que utilizo hoje em minhas interações entre arte e ecologia.
Pensando no diálogo da natureza com a arte contemporânea de uma forma geral,
a bibliografia estudada revela o aparecimento pontual de algumas obras que poderiam ser
consideradas pioneiras ainda antes da metade do século XX. O livro Land and
Environmental art (1998), dos críticos Jeffrey Kastner e Brian Wallis, nos dá como
exemplo a obra Earth Mound de Herbert Bayer. Criada em 1955, em Aspen no Colorado,
trata-se de uma estrutura circular que delineia um morro e uma depressão de cerca de treze
metros de diâmetro no centro do qual há uma pedra branca. No entanto, é na segunda
metade desse mesmo século que surge o movimento pioneiro que ficou conhecido como
land art. Surgido como uma vertente das Artes Visuais, esse movimento tem seu momento
exponencial no período dos anos 60 junto ao fervilhar de novas proposições artísticas e de
novas propostas de pensamento, entre elas, a consciência ambiental.
O advento da land art é considerado um marco como forma de olhar para a
natureza e como encontro da arte com questões sociais, resultando numa fusão de ambas
em obras realizadas tanto utilizando elementos da natureza quanto se estabelecendo em
espaços da mesma.
As primeiras obras dentro desse escopo delineavam basicamente uma arte de
grandes esculturas tridimensionais em espaços externos que chegavam às galerias através
dos recursos da foto e do vídeo (BYTTEBIER; STALPAERT, 2014). Alguns exemplos
são: Double Negative, obra de Michael Heizer de 1969, que consiste em uma escavação
simétrica que forma duas paredes, uma em frente a outra, e um vão de 457 metros de
comprimento, 15 metros de profundidade e 9 metros de largura, em meio a um deserto
em Nevada, nos Estados Unidos; Spiral Jetty de Roberth Smithson, obra de 1970
composta por com um espiral de quase meio quilômetro de diâmetro feito com pedras e
toneladas de terra e areia dentro do lago Great South Lake em Utah; e Lighting Field de
Walter de Maria (1977), uma instalação de 400 hastes metálicas dispostas em formato
retangular de aproximadamente 1 km por 1,5 km, em um deserto do Novo México,

73
funcionando como para-raios que deflagram desenhos elétricos no céu.
Um artista contemporâneo que representa essa vertente é Andy Goldsworthy que
investiga, sobretudo, a efemeridade e a ação do tempo sobre obras que levam ao extremo a
reorganização de elementos naturais e cujos processos podem ser apreciados no
documentário Rivers and Tides, dirigido por Thomas Riedelsheimer em 2001.
A discussão em torno desses artistas, principalmente os pioneiros, aponta que a
troca do espaço da galeria por espaços naturais e a utilização de elementos encontrados
nesses espaços como matéria prima deflagra um olhar para a natureza e para questões do
meio ambiente. No entanto, num primeiro momento, não se pode afirmar que esse tipo de
preocupação fosse essencial ou um consenso entre todos os artistas.
Sair das galerias poderia representar mais um rompimento com elas do que um
interesse pela natureza. Inclusive, quando num espaço natural, nada impede que uma
atmosfera de dominação e utilitarismo perdure na relação instaurada entre artista e meio
(BYTTEBIER; STALPAERT, 2014). Ressalto esse ponto, pois a certa altura da pesquisa,
surgiu a questão que uma proposição artística-ecológica não teria como se esquivar de
perguntar a si própria que tipo de relação estabelece com o ambiente.
Contemporaneamente a esse período exponencial da land art, diversas outras
variações das artes plásticas e cênicas aqueciam as possibilidades artísticas da época,
despontando variações que futuramente seriam englobadas pelo termo performance art.
Em seu livro A Arte da Performance, Jorge Glusberg (2009) nos aponta como
exemplos disso, o surgimento da action paiting, da body art, do happening e um
aquecimento geral do interesse por proposições, processos, ambientes e situações enquanto
obra.
Faz parte dos primórdios da performance o interesse por aproximar a obra da
realidade do artista e do espectador, por incluir o artista como matéria prima da obra, por
compartilhar a experiência dele dentro de seu processo criativo e por realizar a obra no
corpo e na vida do performer. Isso é importante para meus estudos, pois as características e
os recursos com os quais organizo hoje minhas imersões no universo da ecologia remetem a
esse histórico.
Quando me encontrei estudando a land art como parte das referências de minha
pesquisa, alguma coisa não se encaixava. Por um lado, esculturas gigantes e instalações de
land art, dependentes de grandes intervenções da mão humana na natureza, são exemplos
de obras fundadoras de proposições artísticas em diálogo com a mesma. Por outro, elas
acabam por revelar, numa relação próxima, porém hierárquica, distanciamento entre

74
humano e não humano.
Pessoalmente, num primeiro momento, percebi isso na forma de não
identificação com as obras pioneiras da land art, sobretudo porque elas não costumam
utilizar do corpo do artista inserido no espaço natural no qual a obra optou por se realizar. É
justamente nesse ponto que a bibliografia estudada me revelou, em épocas semelhantes,
proposições que dialogam com a performance art e levam mais do corpo humano para esse
tipo de espaço e estrutura natural.
Segundo Kastner e Wallis (1998), uma referência representativa dessa época é a
performer Ana Mendieta. Em suas obras Silhuetas (1974) e Árvore da Vida (1976), ela
carrega a característica de literalmente inserir sua presença/corpo na paisagem, de forma ao
mesmo tempo ritualística e geradora de desdobramentos da obra em foto e vídeo.
O contraste entre esses tipos de intervenção e/ou inserção de si na natureza me
remete à discussão apontada a pouco sobre a postura com a qual artistas se colocam em
relação com o ambiente. No caso, quando há a utilização do corpo humano – e não somente
de esculturas de elementos naturais –, sinto que se ampliam as tendências de uma interação
mais propriamente ecológica, considerando a conexão entre performer e obra como
diretamente proporcional à diminuição do nível de subjugo do artista perante o lugar e a
matéria-prima que utiliza.
Porém, em relação aos parâmetros que estipulei para minha investigação, esse
amálgama se fragiliza se tem em vista somente a obra final ou se faz uso do ambiente
somente como cenário ou temática que embasa o protagonismo do performer e da cena. A
meu ver, esse caminho dialoga com a ecologia, porém, ignora apontamentos essenciais, por
exemplo, da Ecologia Profunda.
Esses, por sua vez, parecem acessíveis através de aproximações não somente
literais, mas também somáticas, ou seja, que se articulam pelo movimento e que sustentam
uma percepção corporificada de si, do espaço e dos processos acordados entre ambos. No
histórico que procuro traçar, a land art pontua um adentrar na natureza, a performance
pontua formas ampliadas e mais viscerais de aproximar-se e interagir com ela e, por fim, há
ainda essa faceta muscular, cinética e perceptiva oriunda, principalmente, da história da
dança.
Essa última interessa principalmente à medida que, no contexto da dança, os
encontros entre corpo e meio-ambiente se misturam com a intensificação dos diálogos
entre o indivíduo e o seu próprio corpo, ou mesmo, seu próprio “eu”.
A Prof.ª Dr.ª Ciane Fernandes (2018) explica que, na história da dança, o diálogo

75
com a natureza desponta desde o início do século XX. São exemplos disso os pés descalços
de Isadora Duncan (1877 – 1927) e os experimentos propostos por Rudolf Laban (1879 –
1958) no Monte Verità. Trata-se de um momento histórico que marca a aproximação da
dança com aspectos que apontam para o surgimento de seu período moderno.
Essa transição pontua vertentes da dança que passam a voltar suas práticas
menos para a composição de coreografias virtuosas e mais para o que elas podem revelar da
percepção, compreensão e expressão de si. Essa mudança de foco centraliza aspectos
embrionários da ampla gama de práticas somáticas existentes atualmente. Isso se faz
relevante quando me coloco numa pesquisa acerca da ecologia mergulhando em práticas
que se dão em espaços naturais, pois enfatiza, para além da ida de fato a esse espaço, uma
perspectiva a partir da qual perceber a si e o ambiente.
Dentro de minhas proposições, esse é um dos pilares que fundamentam as
interações entre performance e ecologia, a saber, que elas se estabeleçam enquanto estado
corporal e de abertura para escutar e deixar o movimento emergir da relação com o espaço.
Esse fator de diluição do corpo no mundo e do compartilhamento da autoria dos próprios
movimentos entre escolhas racionais e interações com a escuta dos estímulos do ambiente
se contextualiza no escopo de minha pesquisa considerando que é essencial acessar essas
percepções de si e do mundo tanto para se colocar numa relação ecológica quanto para
discuti-la.
Avançando para a segunda metade do século XX, diversas proposições de
treinamento, criação e composição do universo da dança apresentam abordagens sobre o
corpo e o movimento pautadas na escuta de si e do meio, inclusive das esferas mais etéreas
e distantes de ambos.
Nesse sentido, algumas ramificações da dança desse período, nos procedimentos
que lhe são próprios, acabam por pontuar formas de articulação do movimento e de cultivo
da atenção que ressaltam a percepção de si enquanto parte do mundo e do movimento como
oriundo do individuo e do meio em coautoria. O Butoh e a Body-Weather são exemplos de
práticas que articulam formas de compreender, acessar e criar em uma postura de escuta, de
espera e integração com o mundo. Eu as conheci diluídas em práticas muito mais recentes,
principalmente através daquelas desenvolvidas por Maura Baiocchi, que teve aoportunidade
de estudar estas abordagens respectivamente com seus fundadores, Kazuo Ono e Min
Tanaka.
Olhando para suas origens, compreendo algumas impressões que experimentei
de conexão com o meio em termos de misturar-me e mover-me com ele. A dança Butoh,

76
cuja fundação se atribui a Tatsumi Hijikata e Kazuo Ono no Japão, no final dos anos 1950,
desperta meu interesse no que diz respeito a uma prática corporal e criativa calcada em uma
ampliação da intimidade entre corpo e mundo.
Nas palavras da performer Maura Baiocchi (2013), um poema corporal
instantâneo que articula a tensão entre um corpo que não significa nada e um corpo
culturalmente definido.
No livro O Soldado Nu, Éden Peretta (2015) aponta, nas práticas de Hijikata, a
dança não como uma organização sintática e racional de gestos, mas como uma experiência
profunda da existência. Já nas práticas de Kazuo Ono, identifica o dançar como o revelar e
consagrar do corpo numa imersão em seus próprios sentidos e nas intersecções das partes
internas e externas de si, como uma exploração sobre o próprio ato de “ser” ou, ainda, como
o desnudamento da alma e revelação de sua forma a qual reflete abstratamente a do mundo
ao qual está conectada.
Para uma breve contextualização da Body Weather – enquanto prática percursora
de abordagens de diálogo com o meio que hoje busco compreender e investigar – recorro ao
artigo da professora Rosemary Candelario (2018), no qual explica que a prática Body
Weather (body = corpo; weather = clima), desenvolvida por Min Tanaka no Japão no final
dos anos de 1970, é uma forma de dançar o espaço e colocar-se num relacionamento que
muda a forma de perceber a si e a ele.
Colocando em outras palavras, a prática considera o corpo, tal qual o clima,
como uma infinidade de processos dinâmicos em constante acontecimento e transformação;
propõe a investigação da paisagem corporal no contexto de paisagens mais amplas; e
apresenta caminhos para dançar as interconexões entre corpo e ambiente. E tudo isso não
como um invasor, mas como parte da natureza, não como um ser inserido na paisagem ou
em um ecossistema, mas que o integra e coexiste com ele tal qual seus outros elementos,
seres e fenômenos.
Outro nome que se revela nessa busca de contextualização cronológica é Anna
Halprin, importante influência no surgimento da dança pós-moderna. Apresento essa artista
e sua relevância no contexto de minha pesquisa através de uma breve análise de sua
performance Planetary Dance, na qual vejo e ressalto, simultaneamente, características de
um evento performático, o engajamento com questões sociais de abrangência planetária e o
seu processamento no movimento, na atenção e na relação, em uma perspectiva somática.
Em um curto documentário sobre essa performance, Halprin
(DOCUMENTARY, 2017) conta que sua origem remete ao assassinato de seis mulheres
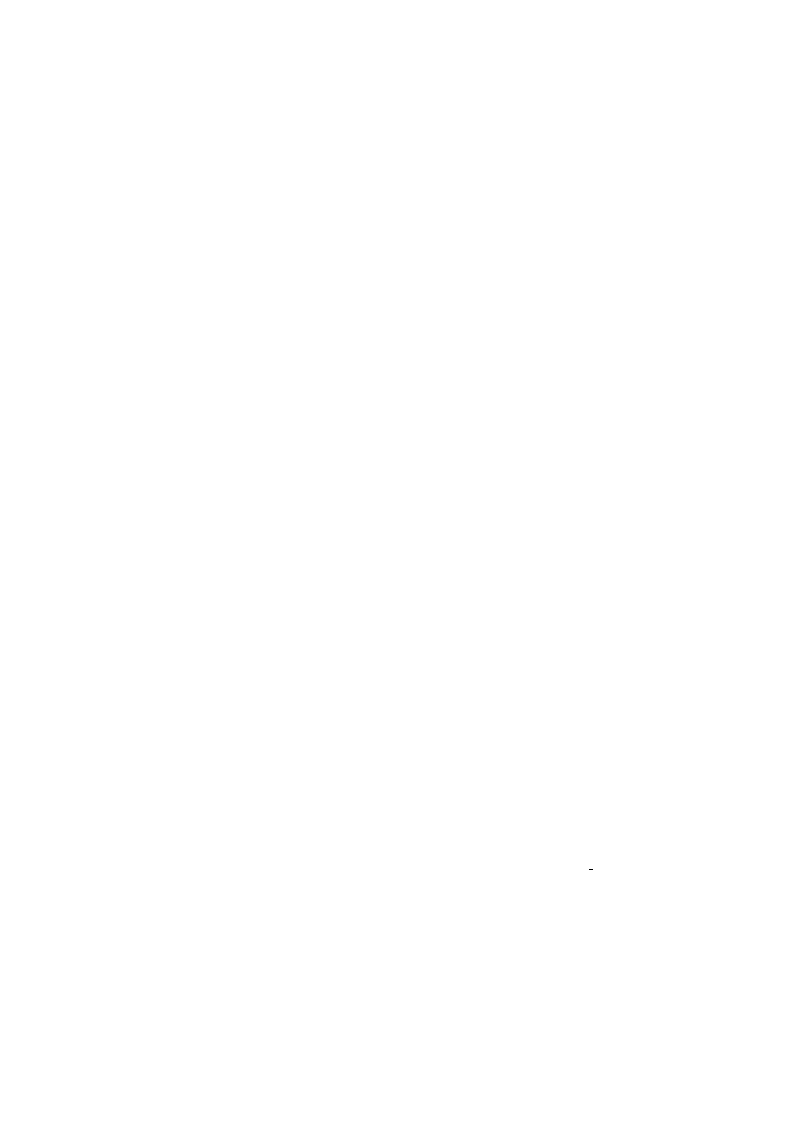
77
por um serial killer em uma região próxima ao local onde sediava seu trabalho. Em busca
de uma resposta, no contexto de um workshop, ela foi com um grupo até o local dos
assassinatos para tentar encontrar algum procedimento ritual de cura através da dança.
Daí nasceu a Planetary Dance: não é para uma plateia, é um evento, uma dança
coletiva pela paz entre as pessoas e entre elas e o planeta, uma performance em prol de
imprimir essa intenção no mundo. A Planetary Dance teve seu início no ano de 1981 e
ainda hoje continua acontecendo. Tornou-se uma ação mundial anual que já alcançou mais
de 50 países. Conta com cada vez mais adeptos e continua sempre se posicionando ao lado
de questões sociais globais. Em resumo, um dia dessa performance inclui um longo período
de convivência e de trocas afetivas e artísticas, seguido da explicação da dança que será
realizada.
Trata-se de uma estrutura coreográfica que organiza algumas proposições de
movimento com o intuito de colocar os participantes em contato consigo, uns com os
outros, com a natureza propriamente dita e com o globo como um todo. São três círculos
concêntricos, cada um representando uma velocidade (correr, trotar e andar), pelos quais as
pessoas participantes podem transitar durante sua participação. Uma vez dentro de um dos
círculos, cada passo imprime sua intenção no mundo. Além disso, um convite permanece
sempre aberto para que cada pessoa se expresse livremente com movimentos adicionais que
propagem suas intensões, embelezem a mandala que está sendo criada e tragam força para a
ela. Por fim, é essencial ressaltar que, antes de iniciar sua participação na mandala, cada
pessoa proclama em voz alta ao que dedica sua dança.
Por fim, tenho conhecido muitas práticas e performances datadas já do século
XXI que abordam práticas e conceitos que dialogam com os meus, que movimentam
problematizações acerca da contemporaneidade à luz da ecologia e que trazem à tona a
imagem de que vivemos em meio a uma crise que afeta todas as esferas de nós e do mundo
como um todo.
Não tive a oportunidade de consultar pessoalmente cada artista ou ler mais
profundamente sobre cada um/a deles/as para saber mais detalhadamente sobre a concepção
de suas obras, seus propósitos e postura pessoal com relação à temática da obra. Assim, cito
alguns nomes e obras, juntamente a uma análise breve focada principalmente nas
impressões que emergiram em mim e que motivaram minha própria pesquisa.
As performances “Hominidae” de Ricardo Alvarenga (MG/BR) e “Enquanto a
Árvore Espera na Semente”, do coletivo Urubus (SP/BR), pelo simples fato de ocuparem
árvores em locais urbanos por longas durações; Rosemary Lee (UK) com a square dance,

78
por levar grupos de pessoas para os espaços naturais que restam nas cidades, dando-lhes
visibilidade; todo o trabalho de Maura Baiocchi (SP/BR), o que passa por sua compreensão
de corpo e de movimento como um todo, mas que pode ser pontualmente exemplificado
pelas vídeo-performances DAN – Devir Ancestral e Subtrações de Ofélia; Carla Vendramin
(RS/BR) cuja pesquisa se encontra em investigar como a permacultura pode inserir-se em
processos imersivos e criativos; Ciane Fernandes e o coletivo A-FETO (BA/BR), de quem
destaco o vídeo Im(v)ersão Corpo Ambiente, no qual identifico a sutileza de uma prática
essencialmente focada em uma relação intima entre praticante e meio e que não depende de
plateias, mas que costuma ser compartilhada (identifico ainda o sucesso desse
compartilhamento que, muitas vezes realizado em vídeo, corre o risco de não alcançar
comunicar a intensidade da experiência tal qual foi para quem a vivenciou); e Gabriela
Holanda (PE/BR) em sua performance “Sopro D’Água”, embasada no conceito de “Imersão
Corpo Ambiente”.
Cito ainda The Bcolective (Pacific Northwest Istalnd – PNW) por seu trabalho
multimidiático e limiar entre a arte, a ecologia e a permacultura propriamente dita; Oguri
(JP/EUA) com sua performance performance Height os Sky, como descrita por Candelário
(2019), um processo performático realizado durante dois anos em um deserto e com foco
em dança-lo enquanto um hiper-objeto; Os projetos Ecossistem of Excess e Dear Climate, o
primeiro de autoria de Pinar Yoldas (EUA) e o outro coordenado por Una Chaudhuri, Fritz
Ertl, Oliver Kellhammer e Marina Zurkow (EUA), ambos porque, no limiar das artes
visuais, acontecem como performances que denunciam, geram movimento da reflexão e
convidam para a ação; Benjamin Verdonck (BEL) pela visualidade e proposta de ocupação
de sua performance Dooi Vogeltje; todas as performances resultantes das residências Eco-
art Incubator coordenadas por Nancy Holmes e Denise Kenney (CA); o projeto Branch
Dance de Merian Soto (EUA), que gera um processo criativo reproduzível e sublinha a
coautoria do movimento entre as decisões do performer e do objeto com o qual interage;
Being in Between de Baz Kershaw e Sandra Reeve (UK), performance de longa duração
realizada em um zoológico e que aborda o paradoxo da divisão entre espécies; e por fim,
todos os vídeos do projeto de Andrea Olsen (CA), Body and Earth, pela forma como ela
descreve sua abordagem de imersão na natureza em seus livros (1991; 2013), pelos audios
que acompanham as performances em vídeo somando a elas uma faceta didática e pela
excepcional qualidade alcançada com o uso de recursos multimidiáticos e com a
hospedagem dos vídeos na internet.
Esses são apenas alguns exemplares de artistas inspiradores/as, que têm

79
contribuído para o desenvolvimento da reflexão sobre os temas que hoje investigo. São
nomes e obras com as quais me encontrei e que motivaram e influenciaram o desenrolar de
meus próprios processos performáticos. Para oferecer uma melhor apreciação dessas
referências artísticas, confecionei uma página na internet na forma de um painel29 que reúne
vídeos já disponibilizados na internet, organizados com o intuito de que cada pessoa possa
fazer sua apreciação e ter suas próprias impressões.
29 Esse painel de referências estará disponível on-line entre 25/10 e 25/12 de 2020 e poderá ser acessado pelo
link: <www.estudosparamacaco.art>.
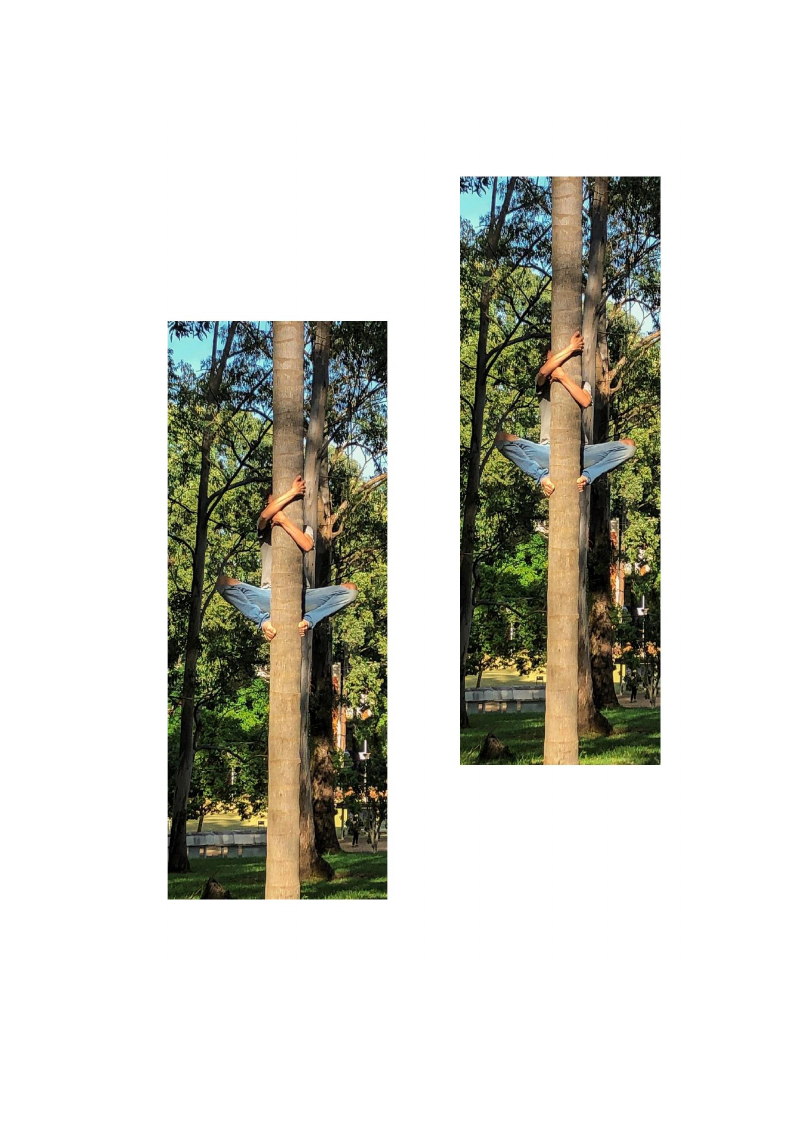
80
Figura 11 Ensaios no bosque_2018-2020_4

81
4. AS PRÁTICAS
4.1 Prática e pesquisa em estudos para macaco
Na perspectiva eco-cêntrica, não somos o centro do universo, e muito menos do
planeta, portanto, a arte vem cada vez mais apontando para isso por meio da
pulverização do espaço e do tempo em performances de longa duração e
intervenções públicas com ou sem autorização ou aviso prévio. [...] Assim sendo, a
ecoperformance oferece uma opção inerentemente dinâmica, simultanneamente
pacífica e ágil, resistente e relacional, criativa e resiliente, capaz de transformar o
quadro alarmante de violância crescente a que temos suportado em todos os níveis
nas sociedades contemporâneas.
[...]
Assim sendo, a ecoperformance recupera o sentido de enraizamento dinâmico, de
uma mobilidade fundada nas sensações e necessidades mais caras à manutenção da
vida. Por meio da ecoperformance, reorganizamos espaçotempos.
De percepção que diluem contextos e ações violentas, sem necessariamente termos
que ser reativos, ativistas ou alienados. Pelo contrário, podemos dar corpo a
realidades autônomas, adaptáveis e sutis, que transmutam continuamente qualquer
rastro (passado) ou possibilidade (futura) de coerção corporal em ato criativo
presente. (FERNANDES, 2019, p.181-183)
As experimentações da época do trabalho de conclusão da graduação tinham
muito de visceralidade e de imitação da animalidade do macaco. Havia também a ocupação de
um espaço por um longo período com objetos e com diversas experimentações de movimento,
mas meu foco tendia ainda para a composição de partituras corporais e pequenas cenas.
No Programa Qualificação em Dança de 2016, segunda grande investida de meu
projeto, atenuei essa abordagem, mantive o corpo e o movimento como eixos centrais, mas
me aprofundei no que isso poderia ter de cotidiano e no que a palavra “macaco” poderia ter de
conceitual e de metafórico. Também me aprofundei na utilização de vídeos e objetos como
parte da performance e da ocupação do espaço.
Ao mesmo tempo, nesse ano não ocorreu a oportunidade de uma ocupação de
longa duração. Foram realizadas uma série de edições da performance em espaço fechado e
com cerca de 1h30 de duração.
Primeiramente, no mestrado, a ideia era continuar unindo no espaço da cena,
corpo, objetos, vídeos e proposições interativas, porém, em determinado momento percebi
que isso daria continuidade a um subterfúgio que eu estava confortavelmente utilizando para
me esconder de outras camadas de minha própria proposição.
Desde o início dessa pesquisa, me encontro obstinado pela possibilidade de
desenhar com meu corpo o/no mundo de forma consciente e artística, o que veio se
desenvolvendo por meio de uma abordagem transversal entre performance, somática e

82
ecologia.
Ao mesmo tempo, como já exposto, vejo nessas realizações a materialização de
problematizações acerca da contemporaneidade, pois, elas se friccionam com lógicas de
movimento e comportamento insalubres e autodestrutivas, silenciosamente convencionadas
como “normais” no tempo e na sociedade em que vivo. As formas de se perceber, se
expressar e se cultivar sugeridas pela somática, pela performance e pela ecossomática têm se
mostrado capazes de romper com hábitos socialmente incorporados. Por outro lado, a
proliferação de injustiças sociais parece banalizada e o depredar da natureza, legitimado. A
naturalidade com a qual isso se instaura me chama atenção, sobretudo e acima de qualquer
juízo moral.
Desse emaranhado de impressões e reflexões, emanam as questões que coloco em
movimento nas práticas que compõem minha pesquisa. Vejo consequências violentas
emergirem de uma visão de mundo predominantemente antropocentrada, eventos mais
absurdos do que o repentino encontro com um performer pendurado em uma árvore – ação
que me propus a experimentar semanalmente dentro do bosque da Unicamp e que, muitas
vezes, gerou espanto nas pessoas que por ali transitavam. Em meus estudos, busco
materializar, em práticas somáticas e estruturas performáticas, modos de fazer diferenciados,
ou ações não convencionais, com a intenção de desconstruir as relações vigentes do indivíduo
consigo e com o meio.
Se, desde o início, tenho problematizado aquilo que parece aceito como normal
sem questionamentos, no atual momento da pesquisa, o que aponto como automaticamente
perpetuado é o conjunto da negligência e ignorância acerca da profundidade de nossa
interconexão com o planeta e o desinteresse pela sua preservação para as gerações futuras.
Esse enfoque parece abranger e interconectar-se também com questões que foram
centrais para a pesquisa em outras etapas, mas que ainda não tinham potencialmente se
revelado.
Dar atenção a uma visão de mundo ecocentrada, longe de ser uma questão
unicamente racional, é algo que pode ser articulado através do movimento, bem como sentido
e vivenciado palpavelmente nas diversas esferas que compõem o corpo. É nisso que plasmo
minhas práticas em interação com os elementos naturais (árvores, grama, terra, vento,
pássaros, pedras) com os quais tenho me encontrado nesse bosque.
A forma como tratamos o mundo tem relação com a forma como o percebemos e
como nos percebemos existindo nele. Assim, se no início, busquei ampliar a autonomia e a
criatividade sobre meus próprios movimentos, em meus atuais “estudos para macaco” – ao

83
problematizar a contemporaneidade olhando de trás para frente para a linha da evolução da
espécie humana – busco a experiência de diluir-me no meio e me compreender enquanto parte
da natureza.
Almejo trazer à tona e vivenciar na pele questões acerca da relação do ser humano
com o ecossistema do qual participa, através de uma performance que acontece em um espaço
público com resquícios de elementos naturais e instaurar nele um lugar da prática de/sobre si.
Essa opção por específico espaço público não visa configurar uma intervenção urbana e nem
um site especific: o foco da performance é a busca, o mergulho e a manutenção de uma
imersão no ambiente.
O espaço que escolhi para plantar minhas indagações, conforme já apontado no
capítulo 1 - “Natureza, que desejo é esse?”, foi o bosque da Unicamp. Lá, encontrei as
condições propícias para a imersão desejada, para realizar e observar as práticas em questão,
influenciado pelas referências conceituais e artísticas que tenho estudado e que transitam entre
a performance, a somática e a ecologia.
Com base nestas, busco práticas que trabalhem o movimento e a percepção
consciente em consonância com o objetivo de experimentar aspectos dentro de uma forma
ecológica de perceber e estar no mundo. Sem a busca por ativação de percepções cinestésicas
a partir da ecologia profunda, a performance não acontece e a pesquisa também não.
Eis a pesquisa amalgamada à prática e à performance: ela busca pulsar novas
variações de saberes e realidades tanto na realização solitária no microcosmo instaurado pela
performance (quando estou no bosque sozinho, por exemplo), quanto nos compartilhamentos
que transbordam e chegam de fato até a comunidade acadêmica (quando um transeunte
atravessa o bosque ou em compartilhamentos realizados ao longo da investigação). Assim,
duas perspectivas simultâneas acompanham a pesquisa: a de fazer emergir reflexões sobre
ecologia e a de experimentar em mim mesmo aspectos da mesma (de forma discreta e
silenciosa, embora nunca hermética, já que estou em um espaço público.
Na pesquisa, lido com questões tácitas, difíceis de serem postas em palavras e
com curiosidades difíceis de serem quantificadas ou qualificadas, pois são mais coerentes de
serem vivenciadas, por exemplo, nuances da propriocepção e variações cinestésicas da
percepção e relação com o meio. Questões que surgem, se processam e encontram suas
elucidações em lugares palpavelmente próximos de quem elabora o questionamento.
Apesar de inspiradas em caminhos recentes e inovadores se comparados com a
pesquisa científica tradicional, os rumos que escolhi têm também sólido embasamento
referencial na Prática como Pesquisa, abordagem metodológica que tem como característica

84
mais marcante o fato da pesquisa ser guiada através da prática, colocando-as – prática e
pesquisa – em situação de horizontalidade (GERALDI, 2019).
Em seu artigo “Manifesto pela Pesquisa Performativa”, Brad Haseman (2015)
relata que existem demandas atuais da pesquisa que não cabem em modelos ortodoxos ou
mesmo em modelos qualitativos mais diversificados, pois mantém como ênfase os resultados
escritos em palavras. No máximo de sua proximidade com a prática, esses procedimentos a
consideram como objeto no qual o estudo se embasa e não como método em si. Como
alternativa, Haseman (2015) apresenta e defende formas de pesquisa guiadas pela prática, na
qual a estratégia de investigação se inicia e se desenvolve através da prática e os resultados e
conhecimentos gerados são indissociáveis da mesma. Podem ser complementadas com
abordagens quantitativas ou qualitativas, mas se mantém essencialmente independentes
dessas.
Meu caminhar por essas peculiaridades de um método de pesquisa extremamente
imbricado com a prática se organiza com o suporte do grupo “Prática como Pesquisa:
processos de produção da cena contemporânea”, coordenado pelas professoras doutoras
Marisa Lambert, Silvia Geraldi e Ana Maria Rodriguez Costas (Ana Terra). Amparado pela
participação neste grupo, desde 2018 mapeio possibilidades de aproximação entre prática,
pesquisa, performance, escrita e compartilhamento.
Compactuo com o grupo o objetivo de ter minhas rotinas criativas como agente
central da produção de conhecimento, perguntas e problematizações (GERALDI;
LAMBERT; COSTAS, 2016). Em nossos encontros, me encontro com práticas,
experimentações, leituras e conversas que me trazem esclarecimentos e ampliam as
possibilidades sobre posicionar a experiência do movimento vivenciada por mim enquanto
performer como motriz e epicentro de contribuições epistemológicas, inclusive no momento
de sua realização.
Identifico-me ainda mais com essas abordagens quando compreendo minha
pesquisa, ao mesmo tempo, como performática e cinestésica. Nesse ponto, encontro
acolhimento e esclarecimento nos escritos de Ciane Fernandes (2018; 2019), para unir o
panorama da pesquisa que se dá na realização de uma performance em diálogo com as
práticas somáticas. Fernandes (2019) dá à sua abordagem o nome de pesquisa somático
performativa e ressalta que o movimento carrega sua própria forma de sabedoria. Propõe
articular a pesquisa dentro das especificidades da performance enquanto processo criativo e
comunicacional e, ao mesmo tempo, entende o corpo e o movimento não como ferramentas
do indivíduo, mas como definição de sua existência. Aponta, nessa modalidade de prática, a

85
potência das abordagens somáticas como modos de estruturar e explorar processos de
investigação, pois propiciam gerar conhecimento a partir do ponto de vista do pesquisador
imerso em si e no ambiente pesquisado.
Entendo, a partir da leitura de Fernandes (2018; 2019), que aplicar à pesquisa
científica a característica somática de privilegiar a escuta das necessidades internas das
entidades humanas e não humanas “reverte um princípio fundamental da pesquisa científica, a
saber, aquele de que é preciso se distanciar do objeto de pesquisa para poder analisá-lo”
(FERNANDES, 2019, p. 122). Ela diz:
Nas metodologias quantitativas (método científico) e qualitativa (método múltiplo),
a prática é um objeto de estudo. Na pesquisa performativa (HASEMAN, 2006), a
prática é o eixo organizador de um multimetodo de estrutura aberta. Já a Pesquisa
Somático-Performativa é determinada pela prática somática, mesmo que seus
conteúdos não se relacionem diretamente à educação somática, à performance, ou
não incluam encenação prática. O importante é que a maneira de aprender,
pesquisar, estudar, etc. seja somático-performativa, isto é, baseada na e organizada
pela experiência prática criativa de somas em inter-relação integrada.
(FERNANDES, 2018, p.135)
Enxergo e me embrenho pelos caminhos apontados pela autora, trilhas que “integram
experiência e análise em tempo real” e me possibilitam atuar como “pesquisador somático” e
como “performer imersivo” que “não apenas está imerso na pesquisa enquanto campo
iminente de descobertas, mas é em si mesmo parte desse campo” (FERNANDES, 2019, p.
122).
Tenho percebido em minha experiência nas artes presenciais, que elas aproximam
drasticamente o artista da obra e essa, quando no contexto da pesquisa em artes, se aproxima
de debates conceituais não apenas através de discussões racionais, mas também de forma
cinestésica. Assim, durante as experimentações práticas, me abro para o encontro de
dúvidas e errâncias, tanto quanto para o encontro de elucidações. Ao invés de buscar por
uma resposta pontual, coloco em movimento as questões abrangidas pela pesquisa junto das
percepções e reflexões que ela suscita durante sua realização performática, uma ação
alimentando a outra continuamente.
Processando em minhas práticas todas essas referências, apresento a seguir as
descobertas realizadas. Confio na performance como a materialidade mais pura da pesquisa,
como o articular e o ecoar mais imediato de seus saberes e de suas problematizações. De certa
forma, o momento da realização da performance contém toda a pesquisa e seu
compartilhamento. Ainda assim, interessam também outros desdobramentos: o texto da
dissertação, as fotos e os vídeos gerados ao longo do processo.

86
A continuidade desse capítulo pretende revelar o histórico e as atualizações de
minhas práticas dentro do escopo da performance, da somática e da ecologia; descrever a
prática com riqueza de detalhes para aproximar o/a leitor/a do que vivi em minha própria pele;
e deixar transparecer a materialização das teorias apresentadas nos blocos anteriores.

87
Figura 12 – Ensaios no bosque_2018-2020_5
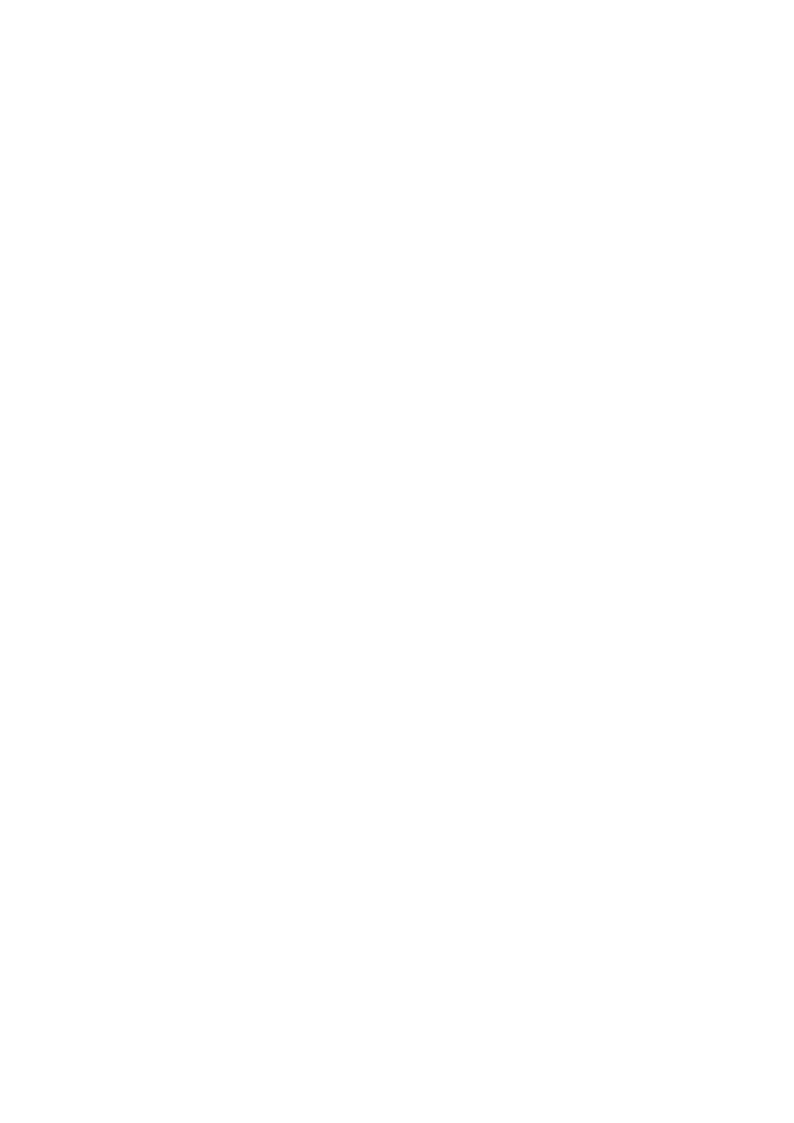
88
4.2 Errâncias
Entre setembro de 2018 e julho de 2019, realizei um diário em áudio captando
minhas impressões durante as práticas no bosque. O diário foi transcrito, revisado, sintetizado
e reorganizado no texto que segue. Como o título do subcapítulo sinaliza, essa síntese condiz
com a época da pesquisa que descreve e mapeia os caminhos das reflexões, decisões e
atualizações pelas quais vaguei até compreender e consolidar seus atuais enfoques.
Essa analogia da errância dentro do contexto da pesquisa em artes advém da
leitura do artigo “Errância como Trabalho”, de André Lepecki (2016), e chama atenção para
esse período da investigação no qual as práticas ainda não apontavam para um destino
definido, ao invés disso, vagavam despretensiosas por diversas experiências enquanto
deixavam que o caminhar revelasse qual é o caminho e qual seria a materialidade da pesquisa.
Um fato era claro: independente da ampla gama de possibilidades disponíveis,
algo precisaria ser realizado primeiro. Dada a necessidade de assumir um ponto de partida,
reservei uma sala no departamento de Artes Cênicas e iniciei minhas práticas, buscando
retomar as experiências realizadas antes do início do mestrado. Registrei em áudio e vídeo
essas reflexões e mapeamentos iniciais, o que se revelou um método interessante de registro e
reflexão a posteriori.
A maior contribuição deste primeiro dia foi fazer emergir a decisão de realizar o
processo em espaço externo desde o início. Encontrar um lugar e estabelecer nele uma rotina
de práticas tornou-se primordial para descobrir no que se materializaria a pesquisa.
Esse encontro aconteceu por tentativa, erro e intuição. Visitei alguns locais do
campus da UNICAMP numa procura que tinha como parâmetros a presença de resquícios de
natureza como árvores, terra e grama e uma sensação de estar à vontade em um misto de
privacidade e visibilidade. Após ir a alguns locais, escutá-los, percebe-los e perceber a
experiência de estar ali, decidi-me por um bosque em meio a um cenário predominantemente
urbano, entre os prédios de Artes Corporais, Economia e Educação. O lugar me atraiu, em
especial por uma clareira mais ou menos circular, envolta de eucaliptos com uma palmeira
aproximadamente ao centro. Escolhi esse lugar e ele me escolheu e acolheu.
Um adendo sobre a palmeira: desde a primeira versão, essa performance inclui
“subir em árvores” e, desde o início, tenho enxergado nessa ação relativamente simples a
síntese de boa parte de minhas problematizações e provocações acerca da contemporaneidade.
Mais recentemente, interessei-me especificamente por subir em árvores de troncos verticais e
longos, sem ramificações. Esse tipo de movimentação me parece especialmente incomum

89
para a espécie humana no atual momento civilizatório, me leva a visitar drasticamente minhas
fragilidades como Homo sapiens urbano e me coloca em uma situação insólita para articular
os questionamentos dessa pesquisa.
A partir de então, estabeleci uma frequência de visitas a esse bosque e, se por um
momento, pensei que isso delineava um processo de criação de uma obra definida para ser
apresentada ao final da pós-graduação, logo percebi que cada ida ao bosque era em si uma
performance e um dia de uma pesquisa multifacetada. No período relatado por esse
subcapítulo (setembro de 2018 à junho de 2019), estive sozinho nesse lugar por cerca de vinte
vezes e realizei cinco demonstrações para pequenos grupos de artistas e pesquisadores(as) de
áreas afins. No decorrer dessas ações, mapeei e testei rotinas práticas através das quais buscar
acesso a alguns estados corporais e algumas relações com o espaço, as quais fui refinando
conforme avançava com os estudos acerca da performance, dos princípios da ecossomática e
da ecologia profunda.
Tratando-se de um período de assumida errância, fui ao bosque diversas vezes
sem a proposta de realizar alguma prática especificamente relacionada ao mestrado. Um dia,
fui para almoçar e ler os textos referentes às disciplinas da pós-graduação; outro dia cheguei
lá, arrumei minha mochila como travesseiro e dormi pelo menos trinta minutos.
O escopo da pesquisa me incentiva a interessar-me por idas ao bosque “sem
plano” que se misturam e confundem com as práticas precisamente delineadas como parte da
pesquisa. Por exemplo, após dormir no bosque, acordei sem certeza se iria realizar outras
práticas ou se iria embora. Me espreguicei, ação que logo se misturou com movimentos mais
elaborados que remontam a diversas práticas que conheci em minha formação e que se
iniciam com um espreguiçar. Esses, por sua vez, se desenvolveram em uma sessão mais longa
de improvisos de movimento.
Nessa primeira etapa das práticas, uma questão foi bastante presente: quando,
como e por que minha presença no bosque se definia de fato como uma performance?
Enxergo pontos de intersecção entre pesquisar, existir e performar e isso se demonstrou muito
relevante para o processo que realizo e para as nuances dos resultados que procuro. Por
exemplo, penso que, se por um lado busco aprender e exercitar formas muito específicas de
lidar com a natureza, por outro, alguns desses aspectos estão presentes também em práticas
mais simples.
Muitas vezes, em meio a tentativas elaboradas de estabelecer uma relação mais
igualitária com o mundo natural, me percebo lembrando de momentos pessoais em que esse
tipo de relação se manifesta de forma singela e despretensiosa como, por exemplo, acampar,

90
cuidar de meu jardim ou de uma horta, caminhar, fazer trilha, fazer fogueira e nadar em uma
cachoeira.
Em diversas idas ao bosque, surgiram variadas interações com a palmeira ali
localizada. Inicialmente, experimentei mapear formas de subir, posições e movimentos
possíveis de serem realizados como, por exemplo, girar em torno dela, balançar as pernas
sustentado pelos braços e descer deslizando sem as mãos. Depois, me percebi, ao mesmo
tempo, aperfeiçoando esses movimentos e problematizando-os.
Os dois momentos configuram etapas da pesquisa, pois se tais movimentações
inevitavelmente revelavam animalidade e me aproximavam da natureza, ao mesmo tempo,
davam margem para o protagonismo do domínio humano sobre um elemento natural. Então,
outras possíveis interações com a árvore se manifestaram, refinando os enfoques da pesquisa,
tais como: encadear pacientemente os movimentos junto dela, focar em manter uma fluidez,
ativar uma atenção contemplativa e permanecer, à medida do possível, calmo e descansado
como que sustentado por uma simbiose com ela.
Confiar em ficar o mais estático possível, agarrado a certa altura do tronco da
palmeira, calmo, realizando somente os ajustes necessários para permanecer ali e observando,
“como em uma coreografia”, o encadeamento constante de pequenas reorganizações de si.
Essas experimentações iniciaram com variações de três e cinco minutos de permanência e
chegaram a alcançar dez minutos.
Muitas vezes, entre o início e o fim das interações, eu passava primeiro por
sensações intensas de dor física, medo de cair, desejo de interromper a experiência sustentado
pela elaboração de justificativas racionais para tal e, ainda, um aflorar de emoções que me
remetiam ora a todo meu distanciamento em relação à natureza, ora a uma alegre suspeita de
ter atingindo um real amálgama. Nesse último caso, geralmente também intenso, a agitação se
esvaía, dando lugar ao restabelecer de uma respiração e atenção tranquilas, de esforços menos
exagerados, do reequilíbrio entre as lateralidades do corpo e de “deixar-me pesar”, confiando
no encaixe estabelecido.
Outra prática que se tornou constante para as articulações de minha pesquisa foi a
realização de improvisos de movimento, no chão, no perímetro da clareira centralizada pela
palmeira. Diversas variações dessa prática foram experimentadas, mover-me no fruir do
esforço gerado pelo momento anterior, fosse ele uma experiência mais meditativa de imersão
no meio, uma experiência mais ativa no tronco da árvore ou, ainda, premeditar ou retomar
uma sequência de movimentos. De qualquer forma, me propunha a escutar e me deixar
influenciar pelo ambiente e pela relação com ele, estabelecendo uma espécie de coautoria do

91
improviso.
Uma movimentação que apareceu em diversos improvisos girava em torno de
tatear o chão com os pés, achar gravetos, colher com os pés e colocá-los na cabeça
entrelaçados com o cabelo. Esse dipositivo surgiu em uma prática realizada nas aulas da Prof.
Dra. Marisa Lambert. Logo nos primeiros encontros da disciplina ela propôs ao grupo que
cada pessoa preparasse uma “self-presentation” através de um improviso de movimento. Vale
ressaltar que, tratando-se de aulas sobre abordagens somáticas, a prática de movimento
proposta por cada discente podia revelar camadas múltiplas, sutis e profundas de cada
personalidade.
Realizar essa ação da relação entre pés, galhos e cabelo mantendo movimentos
fluidamente encadeados e buscando compartilhar com os galhos as decisões sobre o
movimento se tornou uma referência de aspectos centrais para o escopo da pesquisa e,
também, parâmetro de análise de quando coautoria e imersão, de fato, aconteciam e quando se
esvanecia.
Ela exemplifica a busca de estabelecer conscientemente um mote para o
improviso – uma sequência de movimentos, um objetivo ou uma trajetória –, mergulhar nele
mantendo a atenção dilatada e imersa no elementos naturais ali presentes e permanecendo,
ainda, aberto para se deixar levar por estímulos que surgem a cada momento: um raio de sol, o
movimento de uma formiga ou folha, um som, uma corrente de ar e daí por diante. Nessas
formas de organizar e fomentar um improviso, investigo minha habilidade de esperar, ouvir e
deixar o movimento surgir da escuta de si e do meio, como caminhos tácitos e lampejos de
uma relação mais ecocentrada com a vida.
Em determinado dia, na observação/realização da repetição de uma sequência de
movimentos, me pus a repetir a seguinte rotina: “despencar da cabeça” (naquele momento,
simbolicamente, um desapego da razão), que me levava para o nível baixo, já predisposto a
apoiar meus ombros no chão realizando um rolamento que me reorganizava para subir de
novo. Minha impressão aqui é que a repetição me permitia variar a forma como vivenciava a
sequência geralmente transitando entre me distrair, me concentrar pensando nela, pensar
menos e perceber mais os aspectos sensoriais dos movimentos e, por fim, não realizar, mas
sim vivenciar aqueles movimentos fluidamente.
Tenho a impressão também de que essa última variação – a percepção do
movimento como a própria experiência de estar vivo e existir – é um parâmetro diretamente
relacionado com a percepção tácita de si enquanto parte do mundo.
Descrevo, agora, um momento dentre essas repetições no qual isso me pareceu

92
claro: quando subi do chão, cheguei ao alto com um punhado de folhas e com um galho na
mão, o qual fiquei observando por um tempo. As folhas e o galho foram um acidente
causado pela necessidade de me apoiar e empurrar o chão para subir. Virei a cambalhota, subi
segurando o que recolhi do chão, fiz uma pausa, deixei-me à mostra, reverberando o
movimento anterior. Durante essa pausa, um vento soprou num perfeito timing e moveu o
galho que estava na minha mão. Este, por sua vez, moveu levemente meu braço, que alterou
minha distribuição do peso, alterou o equilíbrio e desencadeou novamente a repetição da
sequência. Nesse momento, nessa pequena fração dentre várias experimentações da repetição
de uma sequência, meu esforço muscular maior estava em escutar e colocar-me disponível.
Do conjunto dessas experimentações iniciais, vi surgir gradual e empiricamente
algumas vertentes do que poderia ser “ir ao bosque”, das múltiplas formas de interagir com
esse lugar em busca de experiências ecocentradas e de imersão. Simplesmente ir e estar no
bosque se revelou uma ação performática e de nuances ecológicas em sua simplicidade. Uma
realização excêntrica, uma ruptura de padrões contemporâneos que, como tal, depende de que
seu realizador tome essa decisão sobre si mesmo e assim se desprenda de automatismos.
Essa simples rotina de estar presente no bosque percebendo-o, contemplando-o e
pensando nele se revelou um caminho para acessar características que eu ia associando a
praticar minha existência e minha relação do mundo de forma mais ecológica.
Chegando até ele, eu podia tanto dar início a uma proposta, quanto esperar que o
espaço desse o primeiro passo. Podia ampliar minha escuta, alimentar a percepção
indivíduo/ambiente como interconectados e, a partir de perceber e esperar, iniciar um
improviso. Ao mesmo tempo, premeditar ou repetir proposições também revelou seus
aspectos coerentes com a pesquisa. Da mesma forma, a insistência em um movimento ou ação
pontual, como subir e permanecer em uma árvore, se revelou, simultaneamente, um caminho
de imersão e uma realização performática que movimenta problematizações sobre a
civilização contemporânea.
Por vezes me senti o próprio Cosme Chuvasco de Rondó, a personagem
protagonista do livro “O Barão nas Árvores” de Ítalo Calvino (2009). Essa personagem,
inicialmente por uma birra infantil, sobe em uma árvore, promete nunca mais descer e assim o
faz. No entanto, ao passar a vida toda habitando árvores sem voltar a por os pés no chão essa
personagem não configura para si um isolamento. Ela passa a vida inteira interagindo com as
pessoas a sua volta e mesmo com eventos históricos, de um ponto de vista peculiar, original e
problematizador.
O que essas variações de experimentações de movimento me fazem perceber até o

93
momento, é que tanto o movimento que surge da escuta e da espera, quanto o movimento que
se inicia a partir de formas e lógicas já experimentadas, podem conter as condições
necessárias para me colocar em um tipo de interação e integração com o meio e pesquisá-las.
Em todos os casos, busco acesso às nuances que essas experiências de movimento me levam a
perceber e vivenciar enquanto indivíduo e enquanto parte do meio simultaneamente.
A essa altura, resolvi olhar a pesquisa com distanciamento por um momento e
percebi um obstáculo que atravancava um pouco minhas práticas e minhas reflexões: eu
carregava ainda uma intenção ou um ponto de vista de “criação de cenas” quando, na verdade,
o movimento da pesquisa fluía através de realizar diversas experimentações performáticas,
observando nelas a sutileza das percepções de si e do meio.
Assim, cheguei a um ponto de transição no qual isso se atualizou e a continuidade
da pesquisa tinha um leque de caminhos mais definidos que davam coerência a sua
característica processual. As questões que ela coloca em movimento também estavam mais
claras e mais afinadas enquanto proposições performáticas com as quais eu fizesse emergir
(para os olhares e outras pessoas e para minha própria experiência) um patamar ecocentrado
de percepção e relação com o mundo.
Nessa fase da pesquisa, não busquei respostas para perguntas postuladas no início
do projeto. Esse foi um momento de constante experimentação no ato mesmo de “performar”
no bosque. Foram essas vivências que revelaram aonde a pesquisa se insere dentro da arte e
da epistemologia. Essa primeira etapa se finaliza transitando de um momento de errâncias
mais soltas para um momento de experimentações, ainda aberto ao inesperado, porém, no
qual seleciono no que me aprofundar dentre as diversas formas de interação com o bosque
experimentadas. Sei agora, mais pontualmente aquilo que dá forma à minha performance e
coloca a pesquisa em movimento.

94
Figura 13 – Ensaios no bosque_2018-2020_6

95
4.3 Mapeamentos para uma mudança de fase
No momento que segue, relato a continuidade da pesquisa conforme seus
procedimentos práticos, perguntas e propósitos foram mais pontualmente definidos, revelando
novas profundidades e abrangências para o projeto.
Há um artigo da professora e pesquisadora Victoria Pérez Royo (2015) cuja
leitura fez parte das proposições com as quais tive contato ao longo da pós-graduação e que
marcou minha trajetória como mestrando. Nele, a autora descreve os objetos de uma pesquisa
como um “outro dinâmico” com o qual aquele que realiza a pesquisa se relaciona. No caso,
ela analisa essa relação da perspectiva de um relacionamento amoroso, mas chama atenção,
sobretudo, a consideração da pesquisa como algo que ocorre em uma extensa linha temporal
atravessada por aquele que pesquisa, transitando entre diversas fases, humores e abordagens.
Uma razão particular para citar esse artigo é que, passados os dois primeiros
semestres da pós-graduação, eu percebia o prenúncio de uma mudança de fase. Em algum
momento, me percebi distante do período mais frágil da pesquisa que, segundo Pérez Royo
(2015), é seu nascimento, quando potenciais resultados são ainda invisíveis.
Começava a perceber que, o que eu tinha realizado e vivido até o momento no
contexto da pós-graduação, mesmo longe de esgotar as possibilidades, já convidava para uma
seleção de caminhos aos quais me agarrar para, na continuidade da pesquisa, diminuir a
errância, escolher algumas trilhas e caminhar por elas o máximo possível. Até porque a
própria pós-graduação tem um prazo para ser finalizada.
Um dos eventos que foi de suma importância para essa mudança de fase foi o
exame de qualificação. A escrita do relatório, a demonstração prática, a fala de vinte minutos
apresentando o andamento do projeto, o vídeo que editei para acompanhar (e cronometrar
essa fala), toda a preparação que precedeu esse dia e, sobretudo, a devolutiva farta, atenciosa,
crítica e construtiva da banca à qual sou extremamente grato.
Tudo que se referia ao exame de qualificação e a estar preparado para ele me
remetia a um amadurecimento na forma de organizar minhas práticas, as pesquisas teóricas e
na capacidade de compartilhar o que tinha encontrado até o momento. Vi no exame de
qualificação um marco da transição para um novo estágio de propriedade sobre minhas
questões e meus procedimentos de pesquisa.
Essa etapa da pós-graduação me instigou/exigiu aprofundamento, objetividade e
capacidade de síntese. Isso tudo junto a uma dead line trouxe – após momentos de pleno
desespero – o vislumbre de um real amadurecimento da pesquisa que, inclusive, trazia

96
segurança e a direcionava satisfatoriamente para o futuro próximo. Não só eu começava, de
fato, a alcançar clareza sobre alguns pontos importantes da pesquisa, como tinha alguma
esperança de que, na data agendada para a defesa, estaria seguro para apresentar o projeto à
atual altura de seu amadurecimento.
A definição desses parâmetros se maturou também na soma das práticas
precedentes, plasmada na escrita e reescrita dos relatos das mesmas que deveriam compor a
escrita do tópico “Capítulos Desenvolvidos” do documento referente à qualificação.
Em uma das idas ao bosque em dias próximos à qualificação, com objetivo de me
preparar especificamente para a demonstração prática que realizaria perante a banca
avaliadora, fiz uma passagem em cerca de vinte minutos (tempo médio pretendido para a
demonstração prática) por todo o material que vinha revisitando até ali. Esse momento não
revelou somente uma síntese, mas também a solidificação de alguns pilares que agrupavam os
tópicos de meus interesses ao ir ao bosque, entre eles, breve aquecimento, acesso a um estado
corporal e perceptivo de diluição na natureza (inspirado pelo estudo da ecossomática),
interações com o tronco da árvore, improvisos de movimento no solo e o retorno para um
estado mais cotidiano que pontua a finalização de um dia de investigação e performance.
Detalhando os momentos supracitados e a relevância de cada um deles para a pesquisa, temos:
1) Homo sapiens urbano no bosque: ir até o lugar da performance apenas para
perceber o espaço e estar nele, dilatar essa proposta no tempo sem pensar em processos de
imersão na natureza e sem propor interações mais proativas. No máximo, alongar um pouco o
corpo. É a performance da ruptura do cotidiano de alguém que coreografa a si próprio para,
no lugar de qualquer outra ação ou situação, ir até o bosque para simplesmente existir ali e
não em outro lugar.
2) Processos de imersão com foco em dilatar a atenção e os canais sensoriais,
inclusive a propriocepção, silenciar propositalmente a racionalização e o julgamento do que
apreendo e abrir-me para ser atravessado pelos estímulos do espaço de forma mais
contemplativa. Por fim, para, ao me abrir para os atravessamentos do espaço, diluir-me nele.
3) Subir no tronco vertical e sem ramificações da palmeira, marco central da clareira
onde acontece a performance. Tenho experimentado esse movimento desde o início das
práticas no bosque e, a cada vez, é uma experiência diferente. Um dia é meditativo, no outro
converso com a árvore, no outro tento enviar mensagens para o mundo através de suas raízes

97
ou entro em guerra com ela porque me sinto em um corpo fraco demais para realizar essa
movimentação, no outro sinto que ela me acolhe e cura e assim por diante.
4) Experimentações mais amplas de movimento pelo espaço, movimentos livres,
fluidos entre si, que surgem e desaparecem espontaneamente estimulados pela escuta do
espaço. Não precisam necessariamente ser coreografias, nem sequências ou formas repetidas
ou advindas de alguma linguagem específica. São buscas por experimentar entrar em um
encadear fluido de movimentos e, simultaneamente, dilatar a percepção para sentir elementos
como galhos, folhas e terra entrando em contato, aderindo a meu corpo e transformando-me.
Me manter percebendo constantemente o contato do solo com o pé em todos os detalhes de
seus elementos naturais, a intersecção entre uma coisa e outra, corpo e espaço, no solo, sons,
cheiros, correntes de ar, etc.
Esses procedimentos estavam ainda abertos para atualizações; no entanto, a partir
daquele momento, subir na árvore, improvisar no solo, conviver com o bosque e contemplá-
lo, não eram mais acontecimentos errantes, mas sim dispositivos com os quais podia dar
inicio a mais um dia de performance e de pesquisa, desencadeando sempre eventos únicos,
porém servindo como parâmetro com um grau a mais de sistematização. Dentre esses
procedimentos, os registros em áudio, foto, vídeo e texto também se demonstraram eficientes.
A essa altura começava a ter procedimentos entre os quais transitar e nos quais confiar para
observar e vivenciar o andamento da pesquisa e os conhecimentos que ela articula.
Outros eventos que assinalaram essa mudança de fase foram os encontros com o
Grupo de Pesquisa liderado por Silvia Geraldi que, formado pelos/as pesquisadores/as
orientandos/as, entremeavam minhas práticas solitárias. Esses encontros eram mais uma das
atenciosas estratégias de orientação das quais tive oportunidade de participar, quando nos
reuníamos para compartilhar e auxiliarmo-nos mutuamente no desenvolvimento de nossas
pesquisas. Esses encontros promoviam sempre conversas, compartilhamentos e práticas
construtivas através da diversidade de olhares e devolutivas. Foi num deles que debatemos a
diferença entre realizar a performance sozinho ou ter uma expectação convidada, incluindo a
relevância disso na estrutura da pesquisa como um todo.
A verdade é que, nesse primeiro momento, na presença de uma “plateia”, a
intensidade e a sinceridade da imersão que vinha estabelecendo em minha relação com o
bosque se esvaneceu. Até então, o compartilhamento era majoritariamente realizado
“acidentalmente” com as pessoas que passavam pelo bosque sem saber que a performance

98
estaria acontecendo.
A diferença entre estas duas possíveis expectações (acidental e programada) e a
questão da presença de testemunhas como um todo tornaram-se pontos importantes para a
continuidade. Minhas realizações incluem mergulhos pessoais em formas específicas da
percepção de si e do espaço e isso nem sempre é visível ao olho espectador. Além disso, um
recorte visto ao vivo não compreende o todo da performance e sim uma parte de um dia de
sua realização.
Esses fatores revelaram o uso do vídeo como possibilidade de registro cada vez
mais coerente. Além disso, afirmaram minha performance enquanto pesquisa prática e não
estritamente como processo criativo e obra, já que segundo Geraldi (2019), dar mais
relevância ao estudo de um fenômeno que a criação de um produto artístico é uma distinção
essencial da Prática como Pesquisa.
Ciane Fernandes (2018), a partir do que intitula Imersão Corpo Ambiente,
também me oferece esclarecimento e referência. Ela descreve especificidades tais quais a
“diluição das ações e comportamentos em todos os níveis, permitindo então a integração
como abertura, criação e repadronização” (p.180). Ressalta a diferença entre os termos
“imersão” e intervenção”, esse último advindo de um termo cirurgico e diz que “a Imersão
Corpo Ambiente não pretende realizar nenhuma incisão cirurgica no ambiente, e sim diluir-se
nele em integração” (p.182). O interesse dessas práticas é:
[...] na conexão interna, na experiência e na pulsão do instante que conecta micro e
macrocosmos, matéria orgânica e inorgânica, átomos, células, ambientes, planetas,
universos. Em estados somáticos de ecologia profunda, a conexão com pulsões
espaciais é mais forte que qualquer comando premeditado, e significações e
expectativas a priori dão lugar à sensação de ser movido [...] Pouco a pouco, em
sintonia somática, mover e ser movido entram também em imersão, tanto quanto
corpo e ambiente. (FERNANDES, 2018, p.182).
Quanto aos recursos videográficos, ela os descreve como um tipo de testemunha que
permite aos performers revisitar as experiências de um processo contínuo que pode resultar,
ou não, em vídeos-dança (FERNANDES, 2019). Ela diz que “o público é casual” e que a
realização de uma cena ou espetáculo não é a preocupação primordial. O essencial é “fazer a
conexão somática, mesmo que de modo não visível” (FERNANDES, 2019, p.181). Ainda,
segundo a mesma autora, “[...] performances em lugares alternativos invertem o paradigma do
modernismo de ênfase no objeto artístico com fim em si mesmo e passam a privilegiar a
relação com o contexto [...]” (FERNANDES, 2019, p. 182).
Esses encontros do Grupo de Pesquisa coroaram também uma suspeita que aos

99
poucos emergia das práticas e das referências bibliográficas: a da importância de não instaurar
uma relação utilitária com o espaço e de me perguntar o que estou devolvendo para ele. Caso
contrário, corro o risco de protagonizar uma relação que propus ecológica. Isso demarcou uma
transição para uma nova etapa da pesquisa, pois se minhas intenções já eram ecológicas, na
prática percebi que corria o risco de trair meus próprios objetivos.
Para me afinar com essa reflexão, me pareceu necessário definir com mais
exatidão os aspectos que posicionam a prática dentro das características ecológicas levantadas
na teoria. Os encontros trouxeram à tona, também, questões acerca do compartilhamento da
pesquisa como um todo. Se a performance se realiza independente de ser um evento ao vivo
como uma apresentação, como e quando deveria ser compartilhada? Como compartilhar como
uma etapa da pesquisa e não como a apresentação de uma obra ou resultado final? Como
fazer, de fato, chegar a outrem isso que tenho vivenciado em minha própria pele? Como
harmonizar isso tudo com a realidade de que existe um dia específico para a defesa do
mestrado?
Debruçar-me sobre essas problematizações devolveu movimento à pesquisa num
momento em que me vi patinando sem sair do lugar, na tentativa de compreender e
vislumbrar os próximos passos que deveria dar.
É fato que a pesquisa tem sido um processo de encontros e reencontros com
informações e sensações que dependem exatamente dessa repetição para serem
compreendidas. A clareza que tenho sobre minha própria pesquisa depende de maturação em
uma equação de tempo, experimentações práticas, consultas bibliográficas,
compartilhamentos e devolutivas.
Assim, gradualmente me certificava de que a busca e a prática de uma visão de
mundo ecocentrada calcada em procedimentos que ativam a unidade entre corpo e mente e
entre indivíduo e ambiente era parte essencial da performance que proponho. As curiosidades
da pesquisa se posicionavam em uma perspectiva cinética e cinestésica e a percepção
reafirmou seu lugar nas intersecções entre indivíduo e mundo. Começava a ter uma ideia mais
palpável de quando o acesso a uma relação mais horizontal com o meio se estabelecia e como
dar início e me entregar a ela.
Outro ponto no qual a pesquisa começava a se definir melhor eram os meus
desejos quanto às reverberações das realizações da pesquisa no contexto no qual acontecem.
Inúmeras vezes me perguntei, é um manifesto? Um lembrete de que somos parte do mundo?
Um romper com padrões que só importa ao nível pessoal? Uma forma de dar visibilidade para
os seres e fenômenos não humanos? As perguntas continuam surgindo, no entanto, consigo

100
perceber no conjunto delas algumas constantes, o desejo de revelar, vivenciar, talvez sugerir e
instaurar efemeramente outros acordos possíveis entre os indivíduos e o meio.
O que sei é que os caminhos de pesquisa que tenho utilizado visam mais colocar
questões em constante movimento do que alcançar uma resposta única e final. Ou seja,
diversos transbordamentos podem acontecer alternadamente ou simultaneamente.
Acredito sim que me manifesto em favor da natureza, mas não vou ao bosque com
um intuito panfletário. Espero sim que a visão de alguém em uma interação excêntrica e
intensa com uma clareira e uma palmeira toque no sentido de dar voz ao meio e revelar nossa
proximidade com ele.
No entanto, a importância da performance enquanto uma realização pessoal é de
suma importância também, porque revela, para além da intimidade entre humano e natureza, a
realidade de que cada humano pode por sua própria iniciativa aproximar-se literalmente dela.
Isso revela ainda que as nuances de minha relação com o bosque estão também atreladas à
habilidade e à possibilidade de tomar decisões sobre mim mesmo e a práticas muito concretas
sobre o corpo e o movimento.
Percebo também que me interessa a falha que desmascara o quanto sou mais
urbano do que selvagem, mas atrai-me também quando logro estabelecer uma harmonia,
conexão ou diluição. São medidas sutis. Percebi que, por exemplo, em minha relação com
sustentar-me na árvore, quando encontro com uma necessidade de uma resistência muito forte
e a supero, acabo por revelar exagerado heroísmo e vitória do humano sobre o meio.
No entanto, a energia que quero estabelecer, por mais que reverbere reflexões
críticas, não é excessivamente de raiva e estresse, ou de extremo embate. A relação que quero
estabelecer com o bosque, inclusive para reverberar politicamente como sugestão, manifesto
ou ação direta, é mais amorosa.
Florescia em mim o desejo de assumir pilares mais pontuais para as
experimentações que estavam por vir. Pouco a pouco, sentia menos dúvidas sobre o que
queria com minhas práticas e afirmava o desejo sincero de acessar uma “consciência
planetária corporificada” ou, em outras palavras, de dar-me conta de um todo ecossistêmico,
percebendo-o através do corpo e como corpo. Ainda, de sustentar esse estado enquanto me
movo sob sua influência em uma estrutura performática e em interação com o bosque.
Nesse instante, o entendimento de minha performance como práticas em diálogo
com a ecologia e com a ecossomática também se aprimorava e solidificava um pouco
naturalmente e um pouco incentivado pelo cumprir de um determinado cronograma. Parecia,
então, a hora de mergulhar ainda mais nos procedimentos que vinham se repetindo e se

101
comprovando coerentes com minha investigação, intensificando o foco, durante essas
práticas, para acessar e sustentar nuances específicas da percepção e da coexistência com o
bosque.
Penso que esse subcapítulo compreende um interlúdio ocorrido mais ou menos no
meio do processo da pós-graduação. Antes dele, as práticas eram extensas buscas por
novidades, surpresas e coerências. Agora, as transformações e novidades que ainda hei de
encontrar irão surgir no retomar de práticas que já apareceram espontaneamente, nas quais já
me aprofundei e nas quais agora me aprofundo ainda mais, já me encaminhando para o
fechamento dessa etapa de minha pesquisa e formação. Passo agora a ir ao bosque para buscar
nuances de minha existência que já sei minimamente quais são e a partir de práticas que já
conheço. Assim, encontro maior objetividade e mais espaço para o entendimento do que essas
realizações dizem e como elas se comunicam.

102
Figura 14 – Ensaios no bosque_2018-2020_7.

103
4.4 Últimas idas ao bosque
Após uma etapa de errâncias outra de seleção, manutenção e reorganização das
propostas encontradas, finalmente as conexões entre as práticas da performance, da somática
e as características da ecologia com as quais me punha em diálogo ficavam mais claras e
palpáveis.
Retomando: a diluição de meu protagonismo na coexistência com um todo
ecológico; a consciência da horizontalidade entre o humano e as outras espécies, elementos e
fenômenos que compõem o planeta, ou seja, de que não há hierarquias; a consciência de que
tudo no mundo possui valor intrínseco e equivalente; e de que todos os elementos que
compõem o planeta sustentam suas individualidades, ao mesmo tempo que se influenciam
mutuamente e não escapam de serem unos com o lugar que habitam.
Então, direcionei meus esforços para as formas de registro e compartilhamento da
performance e de seus transbordamentos sensoriais e epistemológicos. Tendo assumido que
ela prescinde de plateia, decidi confiar que, na realização de práticas solitárias. a pesquisa está
acontecendo. No entanto, chegava o momento de somar a isso compartilhamentos menos
acidentais e mais arquitetados.
O plano inicial era não esperar o dia da defesa para organizar um único
compartilhamento, mas sim, realizar uma série de externalizações ao longo (e como parte do
processo). Essa proposta e, mais precisamente, o termo “externalizações”, se apresentaram
para a pesquisa oriundos da minha participação no workshop CAP – Creative Articulations
Process (Processos de Articulações Criativas) realizado na UNICAMP, em 2019, nos
entremeios da pós-graduação. Nele, as pesquisadoras Vida L. Midgelow (Middlesex
University, Londres/UK) e Jane M. Bacon (University of Chichester, West Sussex/UK)30,
apresentaram esse caminho de Prática como Pesquisa (PaR) denominado CAP.
O workshop como um todo contribuiu trazendo clareza para minha investigação.
No entanto, o que mais me chama atenção na proposta é que se sustenta por alguma medida
de sistematização e nomenclatura. Por exemplo, “externalizar” dá nome para as múltiplas
possibilidades de compartilhamento que podem acontecer, em diversas etapas da pesquisa,
comunicando-a, integrando-a, alimentando-a. São múltiplas e multimidiáticas materializações
30 As professoras Jane Bacon e Vida Midgelow têm trabalhado em colaboração por quase 25 anos como artistas
pesquisadoras, codiretoras do Choreographic Lab e coeditoras do Intellect journal Choreographic Practices
(https://www.intellectbooks.com/choreographic-practices). Para maiores informações sobre as artistas
pesquisadoras, veja: https://www.choreographiclab.co.uk/about-us/.

104
que pode assumir. Sustenta a proximidade entre prática, conhecimento e compartilhamento,
ampliando as chances das experiências e sensações vivenciadas pelo performer/pesquisador
transparecerem e alcançarem o outro ao longo da pesquisa (BACON; MIDGELOW, 2015).
Passei então a pensar em “externalizações” diversas e entremeadas às outras
práticas da pesquisa. Tinha a intenção de iniciar compartilhamentos mais frequente de
fragmentos e desdobramentos das práticas da pesquisa. Pensava em utilizar vídeos e fotos
instalados sem anúncio prévio em alguma parte do campus da UNICAMP. Queria fazer do
compartilhamento algo de múltiplos formatos, contínuo e concomitante com as demais ações
da pesquisa. Afirmei também a meta de organizá-los posteriormente em uma instalação.
Ela reuniria uma seleção desse material em uma estrutura que convidasse à
“imersão”, funcionando como mais um dos compartilhamentos e desdobramentos da
performance, mas também, especificamente, como material ao qual a banca avaliadora teria
acesso no dia da defesa.
Realizei uma primeira tentativa de reunir os vídeos e fotografias registrados até ali
durante as práticas, para começar a experimentar organizações e compartilhamentos. No
entanto, nesse primeiro momento, esses materiais, em sua totalidade capturados por câmeras
de celular, se revelaram frágeis. A própria qualidade da resolução das imagens enfraquecia o
material e o demonstrava como ineficiente perante o desejo de comunicar as sutilezas e as
intensidades presentes na prática.
Ainda assim, deixo aqui o link para uma playlist com esses vídeos31. Se eles não
comunicam a potência da performance como espero que tenham atingido comunicar os vídeos
mais recentes, documentam outras etapas importantes da pesquisa e pontos de vista
importantes para reflexões posteriores, como por exemplo, o registro do dia a dia de uma
pesquisa de longa duração.
A partir desses acontecimentos, me conscientizei da necessidade de um
pensamento mais cuidadoso sobre os recursos tecnológicos utilizados na intenção de
comunicar as práticas com as nuances desejadas. Tendo isso em vista, após uma série de
consultas sobre o tema, realizei uma parceria com o artista e amigo Filipe França, graduado
em cinema.
Juntos, começamos a realizar experimentações da performance frente a uma
câmera profissional, extrapolando com isso um objetivo de documentação para focar em
construir compartilhamentos que carreguem o máximo possível da experiência como vivida
31 Para acesso a alguns registros de processo, visite:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJaQHO68ijg6B-h2t3efDuG1J8xT62Gac

105
pelo próprio performer. A primeira filmagem foi um teste técnico do equipamento e da
qualidade que conseguiríamos com ele, considerando os possíveis enquadramentos da câmera
em relação à estrutura do bosque, à luz e os momentos da performance.
Seguindo com o intuito de que os compartilhamentos da performance sejam
vários, multifacetados e abranjam diversos momentos da pesquisa, compartilho aqui o vídeo
resultante desse dia no qual realizamos assumidamente um teste técnico32.
O objetivo dessa parceria era captar uma série de imersões longas no bosque e na
performance. Realizamos testes, estudos e análises e chegamos, finalmente, ao primeiro dia
de gravações com equipamento e operador de câmera profissional, já considerando que
poderiam ser parte dos compartilhamentos eventuais e da vídeo-instalação a ser apresentada
como defesa do mestrado.
Fazia parte da proposta que algumas experiências continuassem sendo testadas e
atualizadas. No entanto, já era uma realidade que, mesmo que restasse margem para revisões
posteriormente, versões finais começavam a ser produzidas. Isso incluía focar em idas
especialmente longas ao bosque, o tempo necessário para atingir a profundidade pretendida na
relação entre performer e meio. Além disso, para o registro, havia uma definição clara dos
quatro momentos que descritos anteriormente, relembrando: 1. apenas estar no bosque; 2.
buscar propositalmente uma imersão; 3. interagir com a árvore; 4. interagir com o chão.
A essa altura, quando ia ao bosque, me percebia articulando perguntas sutis que
surgiam nos entremeios da prática e, das camadas mais profundas da pesquisa, me
perguntava: como poderei saber que as qualidades da percepção e interação que busco, de
fato, se estabeleceram na performance? Estou entregue e deixando meus movimentos
surgirem influenciados pela natureza? Ou estou fingindo? Essas perguntas revelavam esferas
essenciais da pesquisa, sínteses das curiosidades que se materializam no corpo e nas
experimentações performáticas.
Passava a perceber pequenos impulsos, micromovimentos e intenções que davam
início e regiam as transições entre uma compreensão cinestésica própria, mais dissociada ou
mais diluída no ambiente. Meu olhar se voltava para os entremeios de meus estados corporais
e perceptivos durante as práticas, quando e como eles se revelavam e esvaneciam. Buscava
observar a minha flutuação entre fluxos de movimento realmente nascidos da escuta, do
diálogo e da imersão no espaço e movimentos propostos mais racionalmente.
Fizemos dois dias de performance e captação, o que resultou em cerca de uma
32 Para acesso ao teste técnico, acesse o link: https://youtu.be/OHi5XBGFFv4

106
hora e meia dos momentos 1 e 2, aproximadamente o mesmo tempo dos momentos 3 e 4, e
trinta minutos de um novo recorte que se tornou essencial poética e conceitualmente: cenas do
bosque sem a presença humana. Nesse ponto, existia o planejamento de seguir realizando a
performance na presença da câmera por variadas vezes, o que significaria automaticamente o
aprimoramento dos vídeos e da relação deles com a pesquisa como um todo.
Considerava que esses seriam os primeiros dos muitos dias de captação da
performance que seria exposta como conclusão da pós-graduação. Então, compartilhei essas
primeiras experimentações com a orientadora da pesquisa tendo uma pergunta como plano de
fundo: o material já captado é suficiente para os compartilhamentos previstos para a pesquisa?
A priori, essa era uma pergunta técnica que acompanhava tantas outras que
surgiam, tratava de mapear em qual momento a pesquisa estava para, então, organizar sua
continuidade em termos de cronograma e de ajustes em seus procedimentos. A resposta
afirmativa era, de fato, importante, pois faria com que os recursos tecnológicos deixassem de
ser um obstáculo e, removendo essa preocupação, me permitiria focar na realização da
performance e na construção da estrutura na qual ela seria compartilhada.
Por ventura, a resposta veio a ser afirmativa. No entanto, por mais que eu
estivesse pronto para muitas repetições da performance em suas mais atuais estruturas de
registro e compartilhamento, essa continuidade não aconteceu devido à pandemia de covid-19
que se iniciava. Esse inesperado panorama fez recair outro grau de importância para essa
resposta afirmativa, pois talvez não fosse possível gerar novos vídeos antes do fim da pós-
graduação. Esse material recém captado viria, assim, a ser praticamente todo o material
disponível para ser apresentado na defesa do mestrado. De fato, dias após a captação destes
primeiros vídeos, as atividades da UNICAMP foram suspensas e a quarentena logo foi
determinada.
Sem ter a ideia ainda de quanto tempo essa situação se instauraria, mas supondo
que até a data de minha defesa tudo teria se normalizado, direcionei meu foco para a
organização da vídeo-instalação através da qual pretendia compartilhar meus resultados finais.
Enquanto esse contexto abrupto não dava previsões de seu desfecho, me dediquei à escrita da
dissertação e a análise do material que havia sido produzido até ali. Mesmo nesse novo
contexto, a pesquisa continuou seu amadurecimento, sendo revisada diversas vezes diante de
problematizações essenciais às quais eu ainda investigava. Emergiam questões como: Por que
vídeo? Por que instalação? O compartilhamento em vídeo não contradiz a importância do
bosque? Por que o público não vai até o bosque, lugar da performance?
Aos poucos, cheguei às seguintes impressões. O formato de vídeo-instalação

107
adveio de duas questões iniciais: primeiro, que as experimentações de compartilhamento com
plateias presenciais revelaram discrepâncias muito grandes entre o ponto de vista de quem
assiste e a intensidade da experiência do performer. Em segundo lugar, trata-se de uma
performance duracional e multifacetada, isto é, tudo que realizei e refleti motivado pelo nome
“estudos para macaco”, desde 2013, compõe a performance.
Mesmo pensando somente no período de dois anos e meio que compreende o
mestrado, a partilha da performance com público ao vivo não dá conta de comunicar, em um
só dia, a intensidade da conexão ecossomática investigada, correndo-se o risco de distorcer o
propósito da experiência, cujo fim não é o objeto artístico – o espetáculo ou performance em
si mesmos –, mas sim a relação com o contexto (FERNANDES, 2018).
Quanto à instalação, a ideia foi operar uma “perversão” na recepção do público,
convidando-o a entrar num novo ambiente, que lhe convocasse uma atitude mais produtiva
enquanto espectador. Per-versão, do latim per (através de) outra versão; ou ainda version
como “tradução”, emprestado do latim versio, “transformação”.
O projeto original para a instalação concebia que o espaço arquitetado abraçasse a
pessoa visitante por meio do ambiente sonoro, do design de luz, do posicionamento dos vários
vídeos distribuídos pela sala escura, alguma proposta de interatividade sugerindo a circulação
do público, dentre outros detalhes. A proposta de uma estrutura de instalação buscava fugir de
um compartilhamento superficial da pesquisa, ressaltando o aspecto sensorial do
conhecimento articulado pela investigação. A intenção era fomentar uma imersão durante a
apreciação do material videográfico tal qual o ideal de uma imersão no próprio bosque.
Inclusive, esse ideal talvez não fosse o mais provável de ser alcançado caso o público fosse
convidado a ir ao bosque.
Além disso, como constatado em diversas testagens das práticas ao longo da
pesquisa, algumas pessoas, quando em contato com mais natureza do que estão acostumadas,
não se sentem acolhidas e confortáveis.
Nos caminhos metodológicos de uma Performace como Pesquisa, mesmo as
elucidações podem se dar na forma de perguntas. São procedimentos de investigação
científica que colocam questões em movimento, novas respostas surgem, provocam novos
questionamentos e a pesquisa se mantém abertas para atualizações. No subcapítulo que segue,
descrevo e reflito sobre os processos de decisão final e de confecção dos materiais referentes
ao fechamento da presente pesquisa.
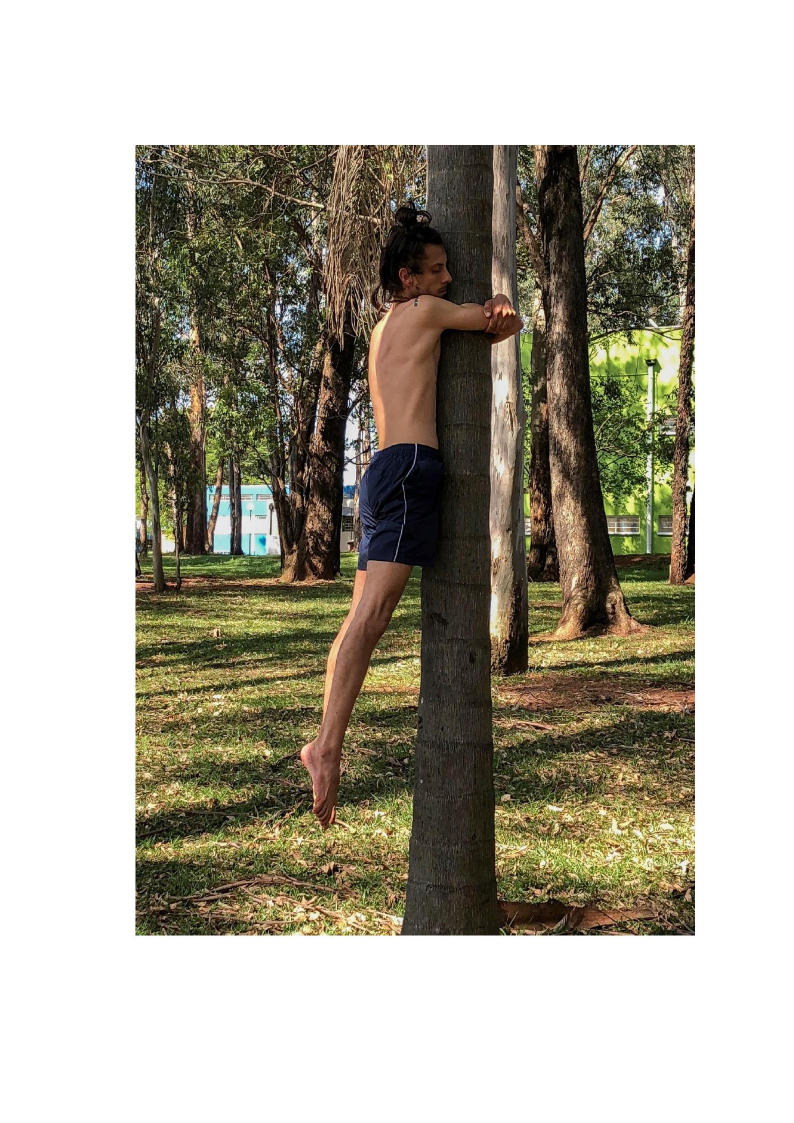
108
Figura 15 Ensaios no bosque_2018-2020_8

109
4.5 Enfim, compartilhamentos
Passado algum tempo desde o início do repentino isolamento social decorrente da
pandemia de Covid-19, tive a confirmação de que realmente as atividades acadêmicas não
iriam se normalizar por completo até a data limite da defesa e, portanto, definitivamente, a
parte prática não seria compartilhada de forma presencial. Diante disso, o projeto da vídeo
instalação precisou ser repensado.
A sugestão da orientadora foi esquecer por completo a instalação presencial,
incluir essa peculiaridade do percurso brevemente no texto da dissertação e focar em realizar
uma nova proposta, assumindo o formato virtual. Estava lançada a proposta: pensar um
recurso que se admitisse alternativo e emergencial, mas que não fosse apenas demonstração
do que a proposta original teria sido não fosse o advento da pandemia. O enfoque era alcançar
a potência almejada desde o início, porém, através dos novos recursos disponíveis.
A primeira decisão nesse sentido veio a ser a do desenvolvimento de um site, mais
especificamente, um “site-instalação”. O desafio essencial aqui era o próprio desenvolvimento
do site, já que meu conhecimento nessa área é restrito. Cogitei inclusive, a contratação de uma
pessoa profissional dessa área. No entanto, além do custo relativamente alto, isso me
esquivaria de algumas etapas importantes de serem feitas por mim no processo.
Em reorganizações de minhas estratégias e planejamento junto à orientadora,
cheguei à decisão de realizar o que fosse possível dentro do que eu mesmo alcançasse no
desenvolvimento do site. Assim, me lancei em horas de tutoriais sobre o assunto e em
experimentações empíricas nas plataformas wix, cargo e wordpress, dentre as quais acabei
por utilizar a primeira.
Para além disso, no intuito de carregar a potência pretendida para a instalação
presencial, diversas sutilezas precisariam ser pensadas, o que desencadeou muitas versões do
site que foram rascunhadas, testadas e descartadas. Uma das questões era fugir da construção
ou utilização de uma plataforma que visasse simplesmente disponibilizar os vídeos on-line.
A instalação presencial não se daria dessa forma, se diferenciaria de uma sala de
cinema, oferecendo um ambiente mais imersivo, no qual se pode escolher para qual vídeo
olhar e por quanto tempo; e através do qual os vídeos seriam apresentados, de fato, não como
um filme ou vídeo-dança, mas como uma performance que se comunica sensorialmente.
Outra questão é que eu pretendia transpor, para a versão virtual, a proposta inicial
da instalação presencial que era a de disponibilizar vídeos longos e simultâneos, que não
necessariamente precisariam ser vistos por inteiro para terem sentido. Na verdade, fazia parte

110
da proposta da instalação a exibição contínua de muitas horas de vídeo, independente da
presença ou não de espectadores.
A ideia de que, nesse momento, um site seria uma proposta forte e eficiente teve,
como referência inicial, o site-performance Dear Climate33 (CHAUDHURI; et al, 2015).
Nele, os primeiros elementos com os quais se tem contato não são informações sobre uma
proposta presencial, disponibilizadas on-line. A página de entrada do site já propõe uma certa
ambientação e uma sensação de envolver a pessoa que o acessa.
A proposta dessa performance inclui cartas e cartazes endereçados para o clima
com o intuito de instaurar novas abordagens de diálogo com ele, tendo em vista a atual
situação climática do planeta. Além disso, através do site, pode-se acessar uma série de
meditações em áudio que são também parte das proposições da performance. No entanto,
estes itens não estão apenas disponibilizados virtualmente. A estrutura do site está organizada
em consonância com a oferta da experiência de entrar em contato com eles. A minha
impressão, quando conheci esse site – bem antes de saber que minha pesquisa desencadearia
também num site –, foi de que ele se aproximava, em alguns aspectos, de uma experiência
presencial.
Outro site que me chamou atenção durante a busca por referências para minha
própria composição foi o da artista Pinar Yoldas34. Ele me trouxe um pouco menos a
impressão de ser uma parte da performance e mais uma plataforma para compartilhá-la. Ainda
assim, o design do site e a disposição dos vídeos, fotos e textos referentes ao trabalho dessa
artista me trouxeram uma sensação de imersão e me inspiraram quanto à disposição do
conteúdo de minha própria página.
Já no site do projeto Body and Earth35 de Andrea Olsen, a princípio, não vejo uma
ambientação que explicitamente tenta me envolver. No entanto, a qualidade de som e de
imagem de cada vídeo individualmente me leva à imersão. Além disso, todo o rico conteúdo
disponibilizado somente em áudio e vídeo me motivam a dedicar algum tempo para explorar
o site.
Comecei a traçar meus rascunhos para o site-instalação, colocando como
parâmetro o objetivo de me aproximar da instalação presencial e propondo que a tela do
computador fosse, de alguma forma, equivalente a uma sala de paredes todas pretas. Outro
33 Para o site-performance Dear Climate, acesse o link: https://www.dearclimate.net/
34 Para o site da artista, acesse o link: https://www.pinaryoldas.info/Ecosystem-of-Excess-2014
35 Para o site da artista, acesse o link: http://www.body-earth.org/

111
aspecto que ia aparecendo como central era dinâmica de transição de um vídeo para outro e de
exibição continua dos mesmos, também remetendo à experiência presencial.
As primeiras versões ficaram bastante frágeis, disponibilizavam os vídeos e um
menu simples para transitar entre eles, mas não provocavam nem imersão, nem uma
experiência sensorial. Não ficava exatamente claro como a pessoa deveria realizar sua
experiência dentro dele. No fim, parecia um site convencional e não um site-instalação.
Num momento seguinte, rascunhei a proposta de desenvolver uma interface de
botões fixa atrás da qual os vídeos transitariam de acordo com a interação de quem acessa o
site. Através desses botões, a pessoa poderia também variar entre diversas opções de áudio,
inclusive áudios explicativos sobre a performance.
Posteriormente, cogitei uma opção semelhante, porém com os vídeos dispostos
verticalmente em uma só página. Outra ideia que se revelou conveniente foi a de incluir uma
espécie de hall de entrada que introduziria a proposta do site e apresentaria instruções que
guiariam a experiência. Todas essas propostas estavam em voga e sendo empiricamente
testadas, cada qual apresentando aspectos que funcionavam e outros que não atingiam o que
eu pretendia, numa equação cujas variáveis incluíam meus desejos estéticos e performáticos e
também as minhas limitações dentro dessa linguagem bastante nova para mim.
Em conversas com a orientadora, identifiquei dois elementos pouco presentes no
que tinha desenvolvido até ali e que poderiam ser a chave para conseguir fazer do site uma
proposta sensorial e de imersão. Eram eles: uma disposição mais fragmentada dos conteúdos e
a possibilidade de uma apreciação mais randômica desses fragmentos.
Os fragmentos me permitiriam não abrir mão da proposta de disponibilizar todas
as horas de vídeo. Ao mesmo tempo, aprimorariam a ideia de expor mais de um vídeo
simultaneamente, facilitando que a experiência da visita ao espaço dos vídeos seja realmente
impactante.
Já o aspecto randômico remete a algo que, desde o início, tenho vislumbrado
como recorrente em uma instalação presencial. Nela, eu previa que uma pessoa poderia entrar
na instalação por poucos minutos ou segundos, apenas passar, mas ainda assim ter
encontrado, randomicamente, fragmentos potentes de vídeos que estavam passando
simultânea e repetidamente.
Com isso em mente e após assistir mais umas boas horas de tutoriais, comecei
uma nova jornada de tentativas para desenvolver este site. Resumindo o que foi uma
empreitada demorada, dei uma atenção maior à escolha das cores e do som ambiente do site,
eliminando a ideia de múltiplas opções de áudio em troca de uma proposta de som ambiente.

112
Depois, experimentei uma variação que veio a me convencer de que alcançaria os
parâmetros que cogitei para esse site-instalação. Fatiei as quase três horas de vídeo que tinha e
espalhei essas secções de, em média, cinco minutos desorganizadamente numa sequencia de
faixas horizontais (um dos recursos que aprendi a utilizar na plataforma wix), fazendo da
página uma extensa coluna de vídeos. Entre seleção dos vídeos mais relevantes e adaptações
para o bom funcionamento do site em diversos computadores, investiguei também a
disposição de um número menor de vídeos, dispostos em diversas páginas que pelas quais
pode-se transitar na horizontal.
Os vídeos fatiados deixavam mais claro que se tratava de uma performance de
longa duração e estimulavam mais o desejo de permanecer no site, assim como dentro da
experiência de uma instalação. Fiquei satisfeito com o “mecanismo” até então alcançado e
resolvi dispor, entremeados aos vídeos, fragmentos de textos da dissertação e de meus diários
de bordo. Parecia que eu começava a encontrar um caminho que abrangeria o necessário para
esse desdobramento da performance.
Essa repentina e emergencial decisão de desenvolver um site-instalação me
revelou o quanto eu estive imerso em uma discussão acerca de possibilidades de escrita
inovadoras, criativas e mais coerentes com a pesquisa em artes.
Ao longo da pós-graduação me encontrei com muitas leituras e debates a esse
respeito, pesquisas cujas escritas utilizam outras linguagens para além da palavra escrita,
pesquisas articuladas em práticas e performances que podem inclusive dispensar o
complemento de um texto escrito e, por último, mas não menos importante, toda a relação
desse leque de possibilidades com o rigor de uma pesquisa acadêmica.
O desenvolvimento do site me colocou empiricamente em contato com
plataformas que eu pude perceber híbridas entre configuração final de um processo criativo e
uma escrita multimídia sobre o mesmo.
Uma plataforma como o wix me apresentou a tela de meu computador tal qual um
editor de texto comumente utilizado para a escrita de um texto científico, porém, com
possibilidades bastante acessíveis de utilização também de vídeos, imagens, áudios, links,
diagramações e etc.
Áudio e imagem trouxeram possibilidades mais palpáveis e profundas de
organizar o compartilhamento de minha pesquisa e a experiência do acesso sensorial de
outrem a ela, apresentou outras faces do conhecimento e da curiosidade. Nesse sentido, já no
fluxo de criação do site, decidi confeccionar também um painel virtual de referências. Em
suma, uma página na qual re-disponibilizo uma série de vídeos já disponíveis online, os quais

113
encontrei ao longo de minha busca por referências transversais entre performance, somática e
ecologia, sejam de vanguarda ou atuais.
A possibilidade de dispor esses vídeos meio desorganizadamente em uma página,
justapostos somente ao nome do artista e da obra, facilitando um contato visual e um pouco
aleatório, se revelou um caminho surpreendente para uma síntese e objetividade, a qual tive
muito trabalho para desenrolar de forma exclusivamente textual. Parece ativar mais da
curiosidade e apresentar mais claramente a materialidade que essas performances têm e o
porque me impactaram ou influenciaram.
Em algum momento, estudando a diagramação de meus próprios vídeos, me veio
o desejo de ter acesso a essas referências em uma plataforma, colocando-as todas juntas e
permitindo um transitar mais dinâmico e ágil entre elas.
Muito do que foi decidido em termos das materializações finais da performance e
pesquisa “estudos para macaco” dentro do contexto da pós-graduação teve influência de
fatores externos e inesperados, tal qual o panorama pandêmico subitamente instaurado em
2020. Apesar do peso de uma necessidade de adaptação repentina, acredito que cheguei a
alcançar um bom resultado com a versão virtual. Acredito que um processo semelhante teria
acontecido com a construção da instalação presencial: a partir de testes que seriam realizados
na prática, haveria a abertura para novos aprimoramentos que só apareceriam a partir da
prática.
Tenho o desejo de realizar essa versão presencial do vídeo-instalação
posteriormente e acredito que algumas descobertas ocorridas no processo de construção do
site serão transpostas para a versão ao vivo. A site-instalação também será mantida,
aprimorada no sentido técnico do desenvolvimento do site e hospedagem na internet e
organizada para abrigar as invenções e inventariações dos próximos bosques nos quais me
diluirei. O site entrará no ar no início de novembro de 2020 com o seguinte domínio:
www.estudosparamacaco.art.
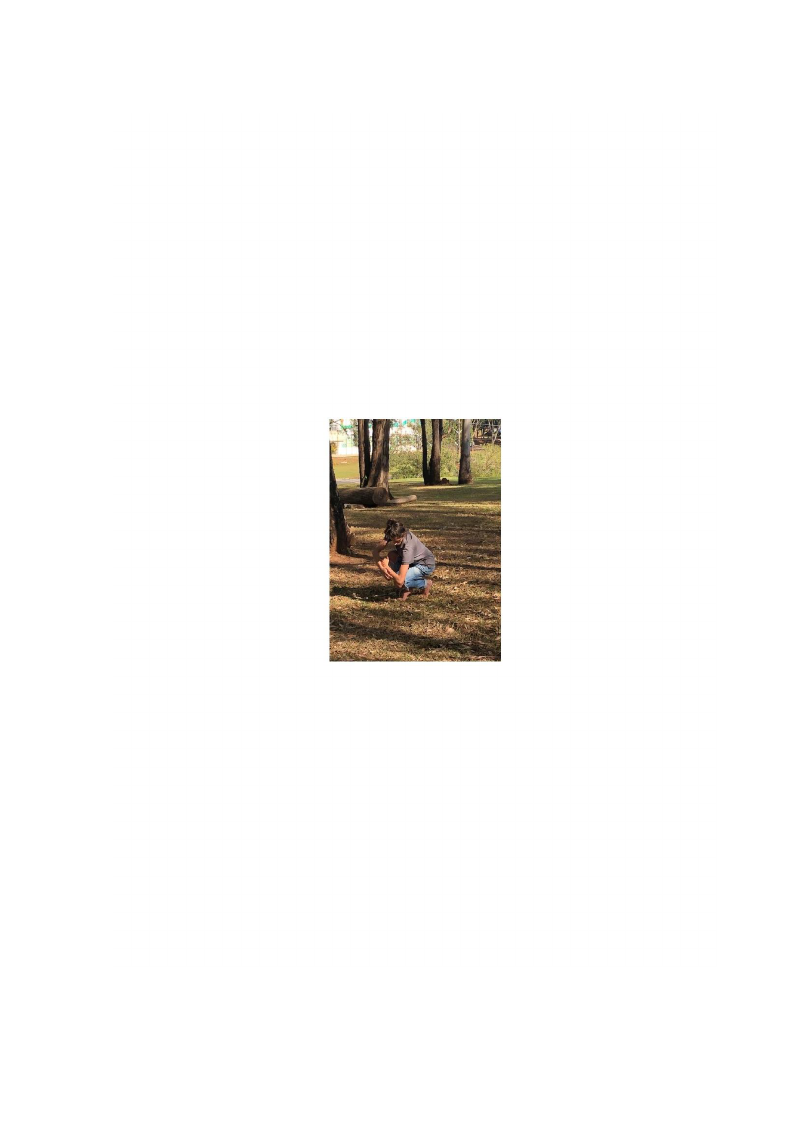
114
Figura 16 – Ensaios no bosque_2018-2020_9

115
5 O QUE A PESQUISA ME DISSE ATÉ AQUI
Ao longo da pós-graduação tive a oportunidade de experimentar metodologias de
pesquisa já bastante fundamentadas bibliograficamente, mas ainda inovadoras para mim, que
trazem a performance e a somática para a academia enquanto procedimentos práticos
eficientes no articular de uma investigação científica, inclusive, porque carregam em si
facetas do conhecimento muitas vezes ignoradas.
Foi nos entremeios dessas metodologias, experimentando variações e releituras,
que presenciei o desenrolar das transformações e atualizações de minhas práticas conforme as
realizava. Nessa dinâmica, tomei diversas decisões acerca da estrutura da performance, dos
compartilhamentos e das escritas referentes ao mestrado.
Aos poucos, em um fluxo característico da Performance como Pesquisa, as facetas
mais sutis do processo se desenrolaram em elucidações, perguntas e sensações que se
movimentaram continuamente junto às práticas. A escuta de si, segundo Reeve (2006),
frequentemente ignoradas pela velocidade das tecnologias e formas de organização
contemporâneas, foi estabelecida como parâmetro fundamental do processo. Essa autora
alerta que se queremos que o corpo manifeste sua sabedoria, precisamos nos familiarizar com
seus ritmos e também com os ritmos das estações do ano, respeitar as informações que
emergem dessa escuta e agir de acordo com elas, não existem atalhos.
Somente ao final do processo, pude olhar com perspectiva e perceber o quanto ele
havia se desenvolvido e transformado, bem como o quanto havia influenciado minha
formação e minhas próprias proposições enquanto performer e pesquisador. Uma das
primeiras elucidações da pesquisa foi a confirmação empírica de parâmetros da Performance
como Pesquisa e de seu diferencial no aproximar a teoria, a prática e a escrita com foco na
compreensão do conhecimento incorporado nos entremeios de processo artístico, artista, obra
e investigação de rigor acadêmico.
As abordagens que eu conheci no mestrado, me apresentaram processos artísticos
e investigativos que se articulam na prática, bem como formas de articular os resultados e
reflexões, contribuindo para o desenvolvimento coerente da pesquisa.
Diversas etapas compuseram a pesquisa. As experimentações errantes que, do
início da pós-graduação até a época da qualificação, testaram, afunilaram e sintetizaram os
procedimentos nos quais a pesquisa vinha se consolidando. As práticas posteriores à
qualificação que, menos focadas em compreender a própria pesquisa, propuseram testagens
mais pontuais sobre propostas previamente mapeadas.

116
Os momentos finais da pós-graduação nos quais a performance se configurou
definitivamente como motriz de curiosidades e conhecimentos. E as decisões e composições
do inventário a ser compartilhado, bem como das outras formas de escrita que sintetizam a
finalização da pesquisa.
Por isso, penso em minha pesquisa como “estudos”, porque os fragmentos, as
efemeridades, as tentativas incompletas ou falhas também importam. O que ela compartilha
são fragmentos e desdobramentos que visam oferecer um encontro sensorial com aquilo
vivenciado pelo performer. A certa altura, ir ao bosque poderia resultar em entrar em uma
imersão, ou não; em um estado de contemplação, ou não; em uma dilatação da percepção, ou
não. Sempre nesse lugar de estudo, o realizar de cada dia e de cada momento da performance
tem a sua importância particular. A ideia de “estudos” traz diversidade e imprevisibilidade,
fortalecendo a prática como método.
Os questionamentos acerca do modo de vida das sociedades contemporâneas se
mantiveram como motriz da pesquisa, como perguntas em busca de esclarecimento que
alimentam a prática; e de práticas que, por sua vez, colocam esses questionamentos em
movimento. Porém, nesses quase três anos de investigação prática e teórica, busquei
amadurecer e reorganizar meus questionamentos sob uma ótica “eco” e “somática”. Olhei-os
a partir de uma perspectiva ecológica, colocando, lado a lado, questões de abrangência de uma
crise planetária e formas convencionadas de perceber a si e ao mundo.
O que no início centralizava-se em desejo pessoal e reprimido de gerir a
individualidade e os movimentos pelo espaço de forma autônoma e criativa, revela, no atual
contexto, as cicatrizes de um pensamento antropocentrado e anti-ecológico no qual nasci
imerso. Isso que percebo em minha pele, transbordado para um contexto social mais amplo,
revela um ponto ápice do empobrecimento da sensibilidade e motricidade e, principalmente,
de nossa interação com o planeta que, justaposto à perda do sentido de pertencimento ao lugar
que habitamos, parece fomentar consequências perigosas. Consequências que transpassam
desde a subjetividade de cada pessoa até o estabelecer generalizado de um relacionamento
utilitário e hierárquico da espécie humana entre si e em relação ao planeta Terra.
Encontrei na performance caminhos para estruturar um lugar de buscas e
estabelecer lógicas distintas das convencionadas, rupturas da dita normalidade. Encontrei, no
diálogo entre somática e ecologia, uma consciência corporificada do planeta e uma amalgama
sensorial entre indivíduo e ambiente, plausível de ser articulada no movimento e na atenção,
diluindo-se as habituais hierarquizações entre humano, não-humano e meio.
Esse capítulo inclui muitos parágrafos que são restos dos capítulos anteriores,

117
parágrafos que não couberam, não importa o quanto eu tenha tentado. Lapidei-os ao ponto do
sofrimento, mas não couberam. São parágrafos que, somente depois, percebi como parte das
próprias conclusões, ou desse tipo de conclusão que a Performance como Pesquisa visa
alcançar sem sacrificar para tal a constante abertura para atualizações. Esses parágrafos que
não couberam me levam a considerar que “conclusão” pode ser exatamente aquilo que não
ficou respondido e que, portanto, finaliza a pesquisa e resume seus resultados justamente ao
apontar questões e pistas para dar início a etapas posteriores.
Pergunto-me qual o alcance de minhas investigações agora que se findam e
tornam-se conteúdo a ser compartilhado. Quer dizer, o que chega a outrem quando estabeleço
um lugar onde “macaquear” e me permitir investigar potenciais e desejos íntimos de
movimento, bem como a escuta de mim próprio, ao invés de padrões pré-estabelecidos? O
que o espaço ganha com isso? O quanto minhas realizações “solo” e “somáticas”, de fato,
interagem com o mundo? Ao dedicar-me a potencializar a percepção de um espaço e a mover-
me fluida e diluidamente nele com o intuito de acessar uma “consciência ecossomática” ou
uma “consciência planetária corporificada”, o quanto coloco em discussão o desequilíbrio
ecológico resultante de costumes dicotômicos e antropocentrados? Contribui de alguma forma
palpável para a ecologia?
Ao refletir sobre tais perguntas, me identifico com um artigo no qual Mathews
Nelson (2018) oferece o seguinte exemplo: se a proposta for seguir a sugestão de Mahatma
Gandhi (1868 – 1948) e sermos nós mesmos a mudança que queremos ver no mundo, a
confluência entre somática e ecologia apresenta um caminho palpável. Enxergo nessa
afirmação de Nelson, um ponto crucial dentre as elucidações que encontrei em minha
pesquisa.
Existem diversos caminhos para lançar um olhar crítico para o mundo em sua
contemporaneidade e para argumentar e propor práticas voltadas para a urgência de um
pensamento ecocentrado. No entanto, pelos caminhos que trilhei, o seguinte aspecto
sobressai: trazer para o corpo e compreender como corpo as indagações sentidas e as
revoluções almejadas para o futuro do mundo em todas as suas esferas.
A forma como nos percebemos e o quanto nos dedicamos à percepção consciente
influencia a forma como agimos e a própria materialidade do lugar que coabitamos. Isso
revela um lugar específico no qual me interessa atuar seja como pesquisador, como artista ou
como ativista, um lugar que busca tocar tão mais diretamente os ecossistemas e as outras
pessoas, quanto mais diretamente toca a si próprio.
Vejo essa reflexão alimentada e sustentada, por exemplo, pelos escritos de

118
Bettmann (2009) e Walla (2008; 2009), nos quais leio afirmações sobre a proximidade entre
os problemas ambientais e as posturas e atitudes de cada indivíduo humano perante si mesmo.
A partir desse enfoque, as práticas somáticas voltadas para a reintegração corpo-mente e para
a valorização da escuta de si delineiam uma forma singela e, ao mesmo tempo, incisiva de
diálogo com questões globais que atualmente colocam em risco a própria permanência da
espécie humana.
Observando a urgência de visões de mundo mais ecocentradas, o equilíbrio
ecológico e sustentabilidade como um enorme enigma, temos, ao menos, a garantia de que
está ao nosso alcance o lugar ideal para iniciarmos nossas buscas por alternativas. Possuímos
cada um, um corpo, isto é, um exato microcosmo dos padrões e estruturas que se repetem em
todos os outros níveis do cosmos.
No diálogo entre performance, ecologia e somática, tenho encontrado revelações
de uma crise ecológica e, também, reações e sugestões de alternativas para ela, germinadas
em um ponto de vista do corpo, da experiência e da unidade entre corpo individual, social e
planetário. Tenho percebido ser possível estabelecer um diálogo ecossomático com o espaço,
escutando-o, me colocando em diálogo com o corpo todo e improvisando com o momento
presente, mas também retomando partituras de movimento, dispositivos de improviso e ações
performáticas já experimentadas anteriormente. Em ambos os casos, mantendo-me aberto
para os estímulos oriundos, por exemplo, da grama, do sol, da terra e do vento.
Reafirmo nessas elucidações finais o interesse em fazer da pesquisa um lugar de
prática real e imediata de alternativas àquilo que ela problematiza, mesmo que solitária e
efemeramente. Ou seja, além de levantar questões sobre, efetivar um imediato contraponto às
convenções e normatizações que problematiza.
Na verdade, em um extremo do diálogo com os rigores acadêmicos, essas
considerações performadas já seriam a pesquisa como um todo. Ainda assim, gerar e
gerenciar numerosos registros e o seu compartilhamento revelou ter um papel fundamental,
não apenas como plataforma de apresentação dos resultados, mas para o próprio
desenvolvimento do processo.
Analisando as referências consultadas acerca da somática, da Performance como
Pesquisa e da performance como um todo, predomina um aspecto tácito sobre as questões,
procedimentos e saberes que se articulam em investigações semelhantes à minha. É próprio
dessas metodologias articular o conhecimento na prática, precisamente no momento de sua
realização. Ao mesmo tempo, é sabida a dificuldade inerente às mesmas de serem
compartilhadas completamente em toda suas nuances e em toda sua essência. Em última

119
instância, somente se a pessoa com quem se compartilha a pesquisa vivenciasse o que o
performer vivenciou ao longo de todo o processo ou no momento do fragmento que ela vê,
seria possível compartilhar completamente uma investigação tácita.
A proposta aqui é assumir ao máximo essas características tácitas, empíricas e
processuais, dentre outras especificidades inerentes aos caminhos pelos quais realizo minha
pesquisa. Isso sem invalidar a pesquisa, pelo contrário, contribuindo para o fortalecimento de
todo um campo do conhecimento ainda pouco convencional.
Porém, que justamente por isso ressalta sua importância. Levanta a questão de
contribuir para que novos caminhos e abordagens sejam sempre considerados na comunidade
acadêmica e afirmar que há dúvidas e curiosidades que somente por esses caminhos
poderemos acessar e/ou sanar. Abrir caminho para novas ramificações da pesquisa é abrir
espaço para que novas perguntas sejam pesquisadas.
Como pode-se pensar através da leitura de Fernandes (2019), a experiência restrita
ao performer e ao meio é também suficiente como pesquisa e como performance, visto que
essa troca singela compreende o mais essencial de uma experiência ecológica imersiva que se
realiza anteriormente a qualquer difusão da mesma.
Vejo em “estudos para macaco” uma imersão em temas referentes à organização
das relações entre nós enquanto sociedade que posiciona a pesquisa como linha de frente de
possíveis novas formas de se relacionar com o planeta. Ao mesmo tempo, não me vejo
apartado de uma realização ficcional.
Penso assim influenciado pela leitura do texto com o qual Pascal Gielen (2014) dá
inicio ao livro The Ethics os Art: Ecological Turn in the Performing Arts36. Nesse texto o
autor define uma postura de vida “ética” como aquela que preocupa-se com o presente com o
intuito de não interferir negativamente no futuro. Afirma, portanto, que um pensamento
ecológico é ético e que a arte é um campo de articulação de ambos justamente por se
desenvolver no campo da ficção.
Por não ter amarras na realidade corrente pode fazer previsões e sugestões para o
futuro (GIELEN, 2014), inclusive no que diz respeito à urgência e mesmo ao emergir de uma
sociedade mais sustentável e ecocentrada.
Artistas não se preocupam em medir e quantificar, mas em fazer uso de sua
autonomia para criar ambientes, para criar situações que testam através de seu potencial
imaginativo as realidades correntes (GIELEN, 2014). Assim, a epistemologia de um
36 “A ética da arte: virada ecologia na arte da performance” (tradução minha).

120
pensamento eco-centrado e qualquer proposição que sugira mudarmos nossas vidas para nos
proteger de um futuro distópico podem beber da sabedoria e das ferramentas que a arte vem
acumulando em sua história.
Nos compartilhamentos, site, foto, vídeo, instalação e texto se fazem discurso
propositalmente fragmentado em prol da ecologia, sobretudo, na forma de um convite
sensorial para perceber o mundo criticamente e cogitar possibilidades mais sustentáveis para a
vida. Tenho como intenção que o encontro de outrem com os desdobramentos de minha
pesquisa possa ter sua potência ampliada justamente por olhares de relance sobre recortes de
tudo que foi inventa(ria)do ao longo do processo.
O fragmento explicita o que o que é demaisiadamente novo e dinâmico para ser
consolidado de outra forma. O site, os vídeos, as fotos, o processo de construção,
desconstrução e revisão do texto, o painel de referências, tudo que encontrei e experimentei
no processo criativo, nas escritas e compartilhamentos referentes a ele se revelou e afirmou
como parte indissociável da investigação.
No futuro, gostaria de experimentar uma série de imersões um pouco mais curtas
em um número maior de bosques, gerando mais uma etapa de invenções e registros de novas
relações com espaços onde resta alguma natureza. Quiçá em um doutorado irei me aprofundar
ainda mais em cada um dos pilares que sustentam essa pesquisa, os estudos da performance,
as práticas somáticas e ecossomáticas, a antropologia e a ecologia principalmente nas
vertentes da ecologia profunda, do ecofeminismo, da sustentabilidade e da permacultura.
Penso também em, junto com a manutenção da realização de minha performance e de novas
experimentações no contexto da mesma, organizar ateliês no qual compartilhar meus
procedimentos e cocriar novas ecoperformances com as pessoas participantes.
Essa pesquisa não visa apontar “culpados”, mas sim, provocar uma fricção
pulsante e permanente que fique à disposição de outras pessoas, outros corpos e de
novas reflexões. Praticar em mim mesmo tentativas de vivenciar o amálgama e a equivalência
entre indivíduo e planeta e entre humano e não humano. Articular através dessas práticas,
eventos que estão ocorrendo com o planeta como um todo. Eventos globais que envolvem em
seus trâmites todos os indivíduos um por um. Daí o sentido de adentrar o palpável e o
desconhecido da conexão entre indivíduo e planeta tendo como porta de entrada o próprio
“eu”.
Visitar frequentemente uma clareira específica em um bosque me soa como uma
realização excêntrica. Porém, também houve uma sensação de estranheza quando me
encontrei pela primeira vez com a possibilidade de re-educar os sentidos como nos sugere a

121
somática, não me parecia algo comum. São realizações que dependem de um
movimento/momento raro de decisão sobre si mesmo. Quando faço e concretizo uma escolha
assim, mesmo sozinho e testemunhado apenas pelo bosque, insiro uma pequena porção de
excêntricas e urgentemente necessárias visões de mundo na realidade coletiva.
Talvez, para alguns olhares isso não se compartilhe carregando todo seu lado
conceitual. Talvez chegue apenas a imagem absurda de uma pessoa obcecada por um espaço
arborizado, atingindo o imaginário e tornando inegável que aquele momento existiu: um
homem de calça jeans escalou o tronco da árvore (enquanto elas ainda existem) e rolou aos
seus pés.
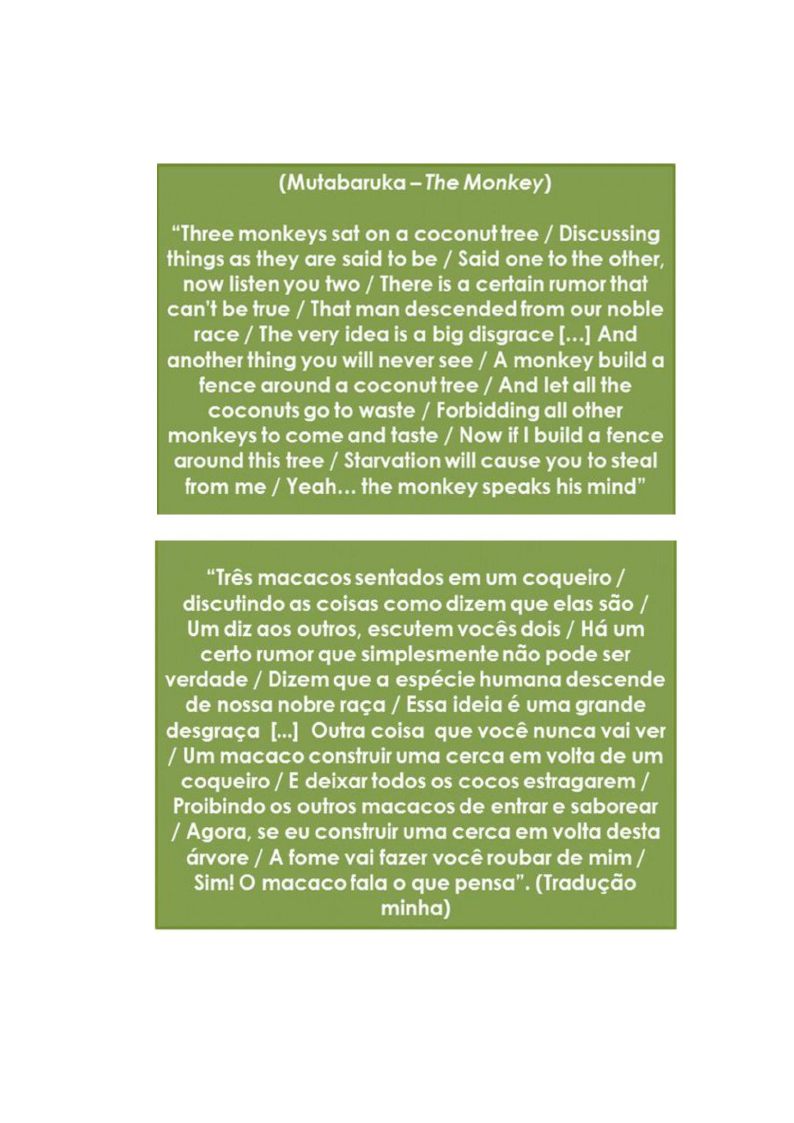
122
Figura 17 Letra de música_3: O macaco fala o que pensa
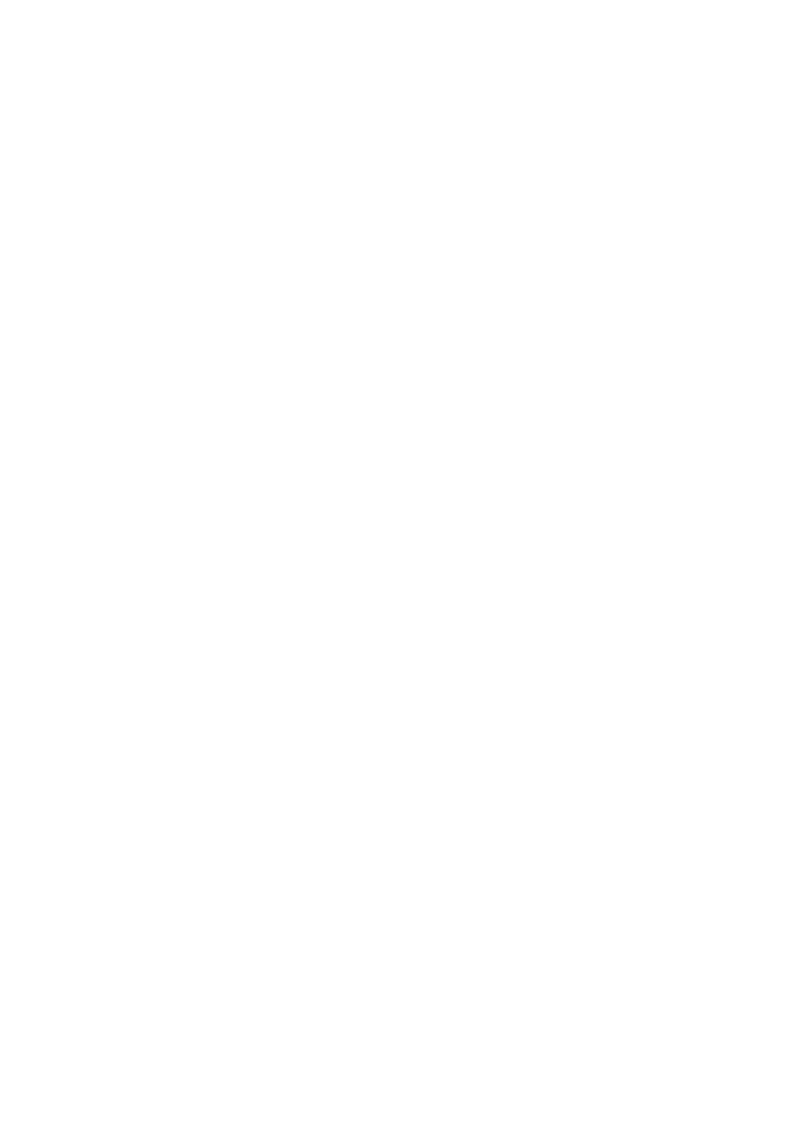
123
REFERÊNCIAS
ADAMS, Douglas. O guia do mochileiro das galáxias. São Paulo: Arqueiro, 2010.
ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.
BACON, Jane M.; MIDGELOW, Vida L. Processo de Articulações Criativas (PAC). In:
CERASOLI JUNIOR, Umberto (Ed.). Resumos do 5º Seminário de Pesquisas em
Andamento PPGAC/USP. São Paulo: PPGAC-ECA/USP, 2015, v. 3, n. 1, p. 41-53.
Disponível
em:
<http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/spa/Processo%20de%20articulac%CC%A7o
%CC%83es%20criativas%20%28PAC%29%20%28Jane%20M%20Bacon%2C%20Vida%20
Midgelow%29.pdf>. Acesso em: 15 dez 2019.
BAIOCCHI, Maura; PANNEK, Wolfgang. Taanteatro: teatro coreográfico de tensões. Rio
de Janeiro: Azougue Editorial, 2007.
__________. Taanteatro: rito de passagem. São Paulo: Transcultura, 2011.
__________. Taanteatro: Mandala de Energia Corporal. São Paulo: Transcultura, 2013.
BAITELLO Júnior, Norval. O Pensamento Sentado. Rio Grande do Sul: Unisinos, 2012.
BARDAWIL, Andréa. Um avesso possível de olhar. In: WOSNIAK, Cristiane; MARINHO,
Nirvana (Org.). O avesso do avesso do corpo – educação somática como práxis. Joinville:
Nova Letra, 2011, v. 4, p. 45-51.
BAUER, Susan. Body and earth as one. In: METZ, Mark (Ed.). Conscious Dancer. Berkley:
Conscious Dancer International, 2008, p. 8-9. Disponível em: <https://susanbauer.com/wp-
content/uploads/2010/07/Ecosomatics-CONSCIOUS-DANCER-8-9.pdf>. Acesso em: 12 nov
2018
BELÉM, Elisa. A noção de embodiment e questões sobre atuação. In: Sala Preta. São Paulo:
USP. 2011, v. 113, n. 1, p. 65-77 Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/sala
preta/article/view/57466> Último acesso em: 26 ago 2020.
BELLLEROSE, Christine. Ancestral Bodies dancing snow. In: BACON, Jane M.;
MIDGELOW, Vida L. (Ed.). Choreographic Practices – Special Issue: Performing
Ecologies. Reino Unido: Intellect Books, 2018, n. 9, n. 1, p. 81-96.
BERSTEIN, Ana. A casa com vista para o Mar de Marina Abramovic - Entrevista a Ana
Berstein. In: Sala Preta. São Paulo: USP. 2003, v. 3, n. 1, p. 132-140. Disponível em:
<http://www.revistas.usp.br/salapreta/issue/view/4685>. Acesso em: 17 jun 2019.
BETTMANN, Robert. Somatic Ecology: Somatics, Humanity and the Human Body.
Saarbrücken: VDM Verlag, 2009.
BINGHAM, Robert; FRALEIGH, Sondra. Performing ecologies in a world in crisis. In:
BACON, Jane M.; MIDGELOW, Vida L. (Ed.). Choreographic Practices – Special Issue:
Performing Ecologies. Reino Unido: Intellect Books, 2018, n. 9, n. 1, p. 3-16.
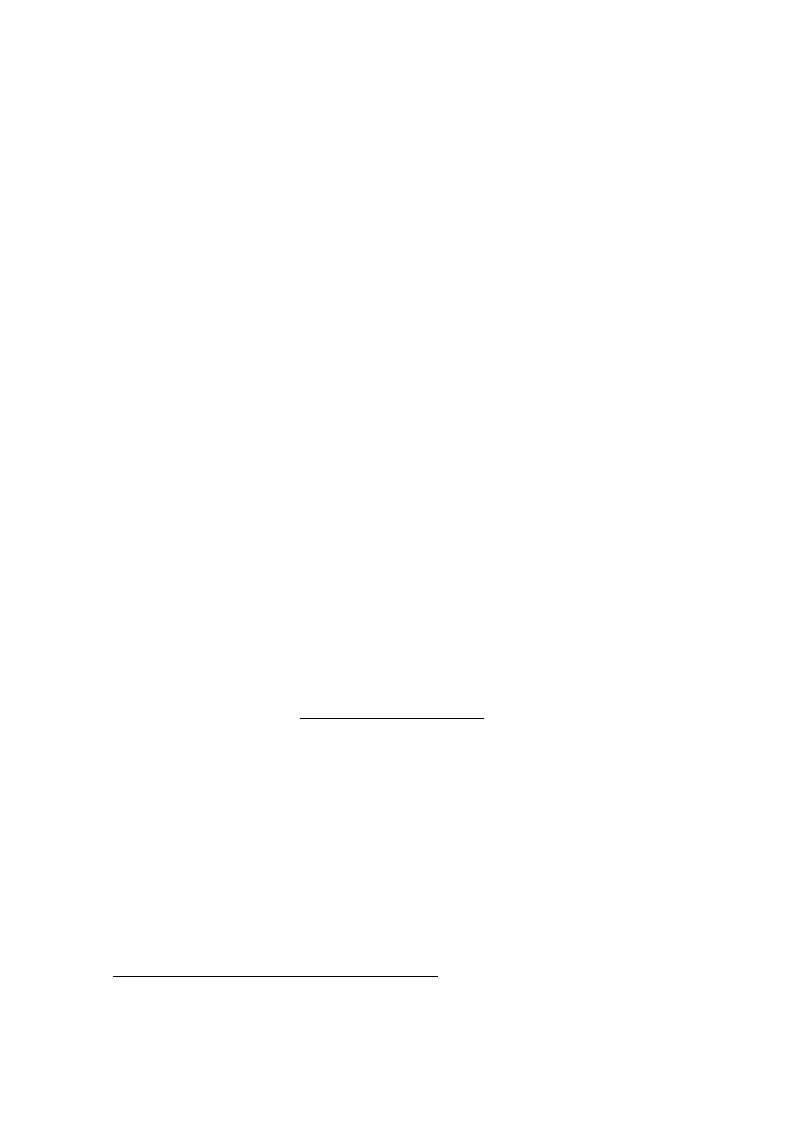
124
BYTTEBIER, Karolien; STALPAERT, Christel. Art and Ecology: Scenes from a tumultuos
affair. In: COOLS, Guy; GIELEN, Pascal (Ed.). The Ethics of art: ecological turns in the
performing arts. Amsterdam: Valiz, 2014.
CALVINO, Ítalo. O Barão nas Árvores. São Paulo: companhia das Letras/Companhia de
Bolso, 2009.
__________. Marcovaldo ou as estações na cidade. São Paulo: companhia das Letras, 1994.
CANDELARIO, Rosemary. Dancing with hyperobjects: Ecological Body Weather
choreographies from Height of Sky to into the Quarry. In: BACON, Jane M.; MIDGELOW,
Vida L. (Ed.). Choreographic Practices – Special Issue: Performing Ecologies. Reino
Unido: Intellect Books, 2018, n. 9, n. 1, p. 45-58.
CASTRO, Eduardo Viveiros de. O Recado da Mata. In: KOPENAWA, Davi; ALBERT,
Bruce. A Queda do Céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: Companhia das Letras,
2015, p. 11 – 41.
CHAUDHURI, Una; et al. Dear climate. In: HEATHER, Davis; TURPIN, Etienne (Ed.). Art
in the Anthropocene: encounters among aesthetics, politics, environments and
epistemologies. Londres: Open Humanities Press, 2015.
CLAVEL, Joanne; GINOT, Isabelle. Por uma ecologia da somática? In: ICLE, Gilberto.
(Org.). Revista Brasileira de Estudos da Presença. Porto Alegre: UFRGS, jan./abr. 2015, v.
5, n. 1, p. 85-100. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/presenca>. Acesso em: 19
nov 2018.
COOLS, Guy; GIELEN, Pascal (Ed.). The Ethics of art: ecological turns in the performing
arts. Amsterdam: Valiz, 2014.
DAN – Devir Ancestral. Direção, roteiro e performance de Maura Baiocchi, 2010 (20 min.),
son., color. Disponível em: <https://vimeo.com/85623662>. Acesso em: 14 jun 2019.
DAVID, Heather; TURPIN, Etienne. Art in the Anthropocene: Encounters Among
Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies. Londres: Open Humanities Press,
2015.
DO CARMO, Carlos Eduardo Oliveira. Fissuras pós-abissais em espaços demarcados pela
bipedia compulsória na dança. In: Ephemera - Revista do Programa em Pós Graduação da
Universidade Federal de Ouro Preto, v. 3, n. 5, p. 40-61, ago. 2020.
<https://periodicos.ufop.br:8082/pp/index.php/ephemera/article/view/4386/3435>. Último
acesso em: 12 jan 2021.
DOCUMENTARY Film on Planetary Dance. Direção de Andy Abrahams Wilson. EUA:
Open Eye Pictures, 2017.
(12 min.), son, color. Disponível em: <
https://www.youtube.com/watch?v=cq9Qvk90QvI >. Último acesso em: 07 out 2020.
EAST, Ali. Home imagined: Uncovering a sensuous history of people and place through eco-
somatic improvisation. In: BACON, Jane M.; MIDGELOW, VIDA L. (Ed.). Choreographic

125
Practices – Special Issue: Performing Ecologies. Reino Unido: Intellect Books, 2018, n. 9, n.
1, p. 145-168.
ELIAS, Norbert. O processo civilizador – Volume 1: uma história dos costumes. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1994.
FABIÃO, Eleonora. Programa Performativo: o corpo-em-experiência. In: Revista Ilinx.
LUME – UNICAMP, Campinas, n.4, dezembro de 2013. Disponível em: <
https://www.cocen.unicamp.br/revistadigital/index.php/lume/article/view/276/256>. Acesso em:
25 set 2018.
FE DE RATAS. Solo era um salvaje. Barcelona: Santo Grial Producciones, 2001. Disponível
em: < https://www.youtube.com/watch?v=j0AaEggYJ4A>. Acesso em 17 out 2020.
FERNANDES, Ciane. Dança Cristal: da arte do movimento à abordagem Somático-
Performativa. Salvador: EDUFBA, 2018.
__________. Somática como pesquisa: autonomias criativas em movimento como fonte de
processos acadêmicos vivos. In: CUNHA, Carla; PIZARRO, Diego; VELLOZO, Marila
Annibelli (Orgs.). Práticas somáticas em dança: Body-mind CenteringTM em criação,
pesquisa e performance. Brasília: Editora IFB, 2019, p. 121-138.
__________. In.: CAMPOS, Flávio (Med.). Mesa 1: Artes na Rua, no Circo e Performance
em tempos de crise Pandêmica e Política. Palestra proferida na ABRACE ON_LINE, ago.
2020.
Disponível
em:
<https://www.youtube.com/watch?v=kgLuKT6LqOI&feature=youtu.be> . Acesso em: 07 out
2020.
FORTIN, Sylvie. Nem do lado direito, nem do avesso: o artista e suas modalidades de
experiência de si e do mundo. In: WOSNIAK, Cristiane; MARINHO, Nirvana (Org.). O
avesso do avesso do corpo – educação somática como práxis. Joinville: Nova Letra, 2011, v.
4, p. 25-42.
FRUCEK, Jozef; KAPETANEA, Linda. Earthquake architecture. [200-?]. Disponível em:
<https://fightingmonkey.net/about#concepts>. Acesso em: 17 out 2020.
GERALDI, Silvia Maria; LAMBERT, Marisa Martins; COSTAS, Ana Maria Rodriguez.
Óscar e nós: há alguma teoria que não implique uma prática? In: IV Seminário de Pesquisa
do PPGADC, v. 4, 2016, Campinas. Anais eletrônicos... Campinas: UNICAMP/PPGADC,
2016.
Disponível
em:
<http://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/ppgadc/article/view/694>. Acesso em: 26
mai 2018.
GERALDI, Silvia Maria. A prática da pesquisa e a pesquisa na prática. In: CUNHA, Sabrina;
PIZARRO, Diego; VELLOZO, Marila (Org.). Práticas Somáticas em Dança: Body-Mind
Centeringtm em criação, pesquisa e performance. Brasília: Editora IFB, 2019.
GIELEN, Pascal. Situational Ethics: An artistic ecology. In: COOLS, Guy; GIELEN, Pascal
(Ed.). The Ethics of art: ecological turns in the performing arts. Amsterdam: Valiz, 2014.
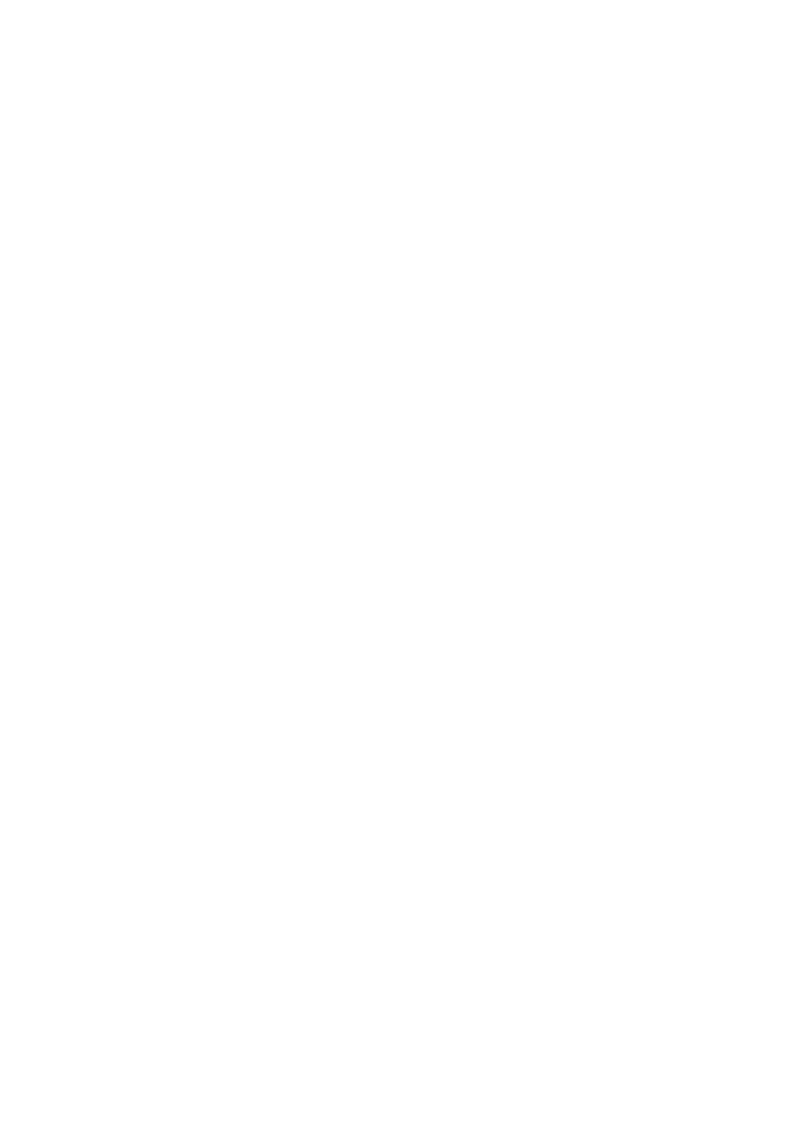
126
GLUSBERG, Jorge. A arte da Performance. São Paulo: Perspectiva, 2009
GUATTARI, Felix. As três ecologias. 9ª ed. Tradução de Maria Cristina F. Bittencourt.
Campinas: Papirus, 1993.
HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. Tradução de Enio Paulo Gianchini. Petrópolis:
Editora Vozes Limitada, 2015.
HANNA, Thomas. Corpos em revolta: a evolução-revolução do homem do século XX em
direção à cultura somática do século XXI. 2. ed. Rio de Janeiro: Edições MM, 1972.
__________. What is somatics? In: THE OPTOMETRIC EXTENSION PROGRAM
FOUNDATION (Org.). Journal of Behavioral Optometry. Timonium: OEP, 1991, v. 2, n.
2, p. 31-35. Disponível em: <https://www.oepf.org/journal/jbo-volume-2-issue-2>. Acesso
em: 02 abr 2018.
HASEMAN, Brad. Manifesto pela Pesquisa Performativa. In: CERASOLI JUNIOR, Umberto
(Ed.). Resumos do 5º Seminário de Pesquisas em Andamento PPGAC/USP. São Paulo:
PPGAC-ECA/USP, 2015, v. 3, n. 1, p. 41-53. Disponível em:
<http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/spa/Manifesto%20pela%20pesquisa%20perf
ormativa%20%28Brad%20Haseman%29.pdf>. Acesso em: 27 mai 2018.
HOLANDA, Gabriela Wanderley de. Sopro D’Agua: Corpo-ambiente criando
(de)composições em dança. 2019. 297 p. Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas) - Escola
de Teatro, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2019.
HUMAN Nature. Direção de Michel Gondry. Roteiro: Charlie Kaufman. Música: Graeme
Revell. França/EUA: Studiocanal, 2001. (96 min.), son, color. Legendado. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=LYFL3kQIMRQ>. Acesso em: 17 mai 2018.
KAFKA, Franz. Um artista da fome. Porto Alegre: L&PM, 2012.
KASTNER, Jeffrey; WALLIS, Brian (Ed.). Land and Environmental art. Michigan:
Phaidon Press, 1998
KRENAK, Aylton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras,
2019.
LEONARDELLI, Patrícia. O ator sem espetáculo. In: Revista Sala Preta, São Paulo, n. 2, p.
25-32. 2002.
LEPECKI, André. Errância como trabalho: Sete notas dispersas sobre dramaturgia da
dança. In: CALDAS, Paulo; GADELHA, Ernesto (Org.). São Paulo: Nexus, 2016. p.61-83.
LOS DISCÍPULOS DE OTILIA. Animal Racional. Barcelona: Tralla Records, 1996.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=d3IIxEZZ9uo>. Acesso em 04 jun 2019.
MARLEY, Bob. Concrete Jungle. Kingston: Tuff Gong Records, 1973. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=y07vgARrOUE>. Acesso em: 05 jun 2019.

127
MAZIERI, Marcus; PIMENTA, Fabio. Livro processo estudos para macaco. 2016.
Disponível
em:
<https://a53c3e7d-617e-4d79-8b52-
31bfce39d160.filesusr.com/ugd/65ed08_1133019fbafd4563ace99abc6a9e7b7a.pdf > Último
acesso em: 02 out 2020.
MORRIS, Desmond. O Macaco Nu. Rio de janeiro: Editora Record, 1967.
MUTABARUKA. The Monkey. Cambridge: Heartbeat Records, 2002. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=lI7Ipnaq24A>. Acesso em: 12 mai 2019.
NA NATUREZA Selvagem. Direção e Produção: Sean Penn. EUA: Paramount Pictures,
2007.
(148
min.),
son.,
color.
Disponível
em:
<
https://www.youtube.com/watch?v=L5Evt7G7LRc >. Acesso em: 11 set 2020.
NELSON, Mathews. Embodied ecologie: the eco-somatics of permaculture. In: FRALEIGH,
Sondra; BINGHAM, Robert. (Ed.). Choreographic Practices. Reino Unido: Intellect Books,
2018, n. 9, n. 1, p. 17-30.
OLSEN, Andrea. Body Stories: A guide to experimental anatomy. Lebanon: University Press
of New England, 1991.
__________, Body and Earth: an experiential guide. Lebanon: University Press of New
England, 2002.
__________. Dancing in Wild Places: Seaweed and ocean health. In: BACON, Jane M.;
MIDGELOW, Vida L. (Org.). Choreographic Practices – Special Issue: Performing
Ecologies. Reino Unido: Intellect Books, 2018, n. 9, n. 1, p. 97-117.
PERETTA, Éden. O Soldado Nu: Raízes da dança butõ. São Paulo: Perspectiva, 2015.
PERFECT Human, The. Direção de Jorgen Leth. Dinamarca: Det Danske Filminstitut, 1967.
(13 min.), son., p&b. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=W9kls6bMkRo>.
Acesso em: 07 out 2020.
PIMENTA, Fabio. Estudos para Macaco: encontros com o “agir” através do trabalho de
ator. 2014. 87 p. Monografia (Graduação em Artes Cênicas) – Centro de Educação,
Comunicação e Artes, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2014.
REEVE, Sandra. The Next Step: Ecological Body and Performance. 2006. Disponível
em: <https://www.moveintolife.com/books.html>. Acesso em: 17 out 2020.
__________. On the way to regenerative choreography. In: BACON, Jane M.; MIDGELOW,
Vida L. (Org.). Choreographic Practices – Special Issue: Performing Ecologies. Reino
Unido: Intellect Books, 2018, n. 9, n. 1, p. 75-80.
ROYO, Victoria Peréz. Sobre a pesquisa em artes: um discurso amoroso. In: ICLE, Gilberto.
(Org.). Revista Brasileira de Estudos da Presença. Porto Alegre: UFRGS, 2015, v. 5, n. 3.
Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/presenca/article/view/57862>. Acesso em: 27
mar 2018.

128
SCHIPHORST, Thecla. The varieties of user experience: bridging embodied methodologies
from somatics and performance to human computer interaction. 2009. 321 p. Tese
(Doutorado em filosofia) – Center for Advanced Inquiry in the Integrative Arts (CAiiA),
University of Plymouth, Plymouth, 2009.
SIQUEIRA, Adilson Roberto. Arte e sustentabilidade: argumentos para a pesquisa ecopoética
da cena. In: TONEZZI, José (Ed.). Moringa, v. 1, n. 1, p. 87-99. João Pessoa: UFPB, 2010.
SOTO, Merián. Go to the woods: Choreographic Practices for performing in nature. In:
BACON, Jane M.; MIDGELOW, Vida L. (Org.). Choreographic Practices – Special Issue:
Performing Ecologies. Reino Unido: Intellect Books, 2018, n. 9, n. 1, p. 169-179.
SOUZA, Aguinaldo Moreira de. O corpo ator. Londrina: Eduel, 2013.
__________. Dor e silêncio: performance e teatro sobre o holocausto nazista. Curitiba:
Appris, 2019.
TODD, Zoe. Indigenizing the Anthropocene. In: DAVID, Heather; TURPIN, Etienne. Art in
the Anthropocene: Encounters Among Aesthetics, Politics, Environments and
Epistemologies. Londres: Open Humanities Press, 2015.
TRIGO, Clara. Conexões criativas entre abordagens somáticas e criação autoral: acesso à
intimidade e um corpo que se constrói pela pesquisa criativa, reciclagem e poesia. In:
WOSNIAK, Cristiane; MARINHO, Nirvana (Org.). O avesso do avesso do corpo –
educação somática como práxis. Joinville: Nova Letra, 2011, v. 4, p. 53-59.
WALLA, Nala. Rewilding: A path towards embodied activism. 2008. Disponível em:
<http://www.bcollective.org/html/writing.html>. Acesso em: 20 fev 2020.
__________. Playground (v 1.0): ecossomatics at work and play in the landscape. 2009.
Disponível em: <http://www.bcollective.org/html/writing.html>. Acesso em: 20 fev 2020.
WHAT is fighting monkey? Produção: Linda Kapetanea & Jozef Frucek, 2015. (7 min.),
son., color. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=av4qO5Rbs_c>. Acesso
em: 20 jun 2019.
WOSNIAK, Cristiane; MARINHO, Nirvana (Org.). O avesso do avesso do corpo –
educação somática como práxis. Joinville: Nova Letra, 2011, v.4.
