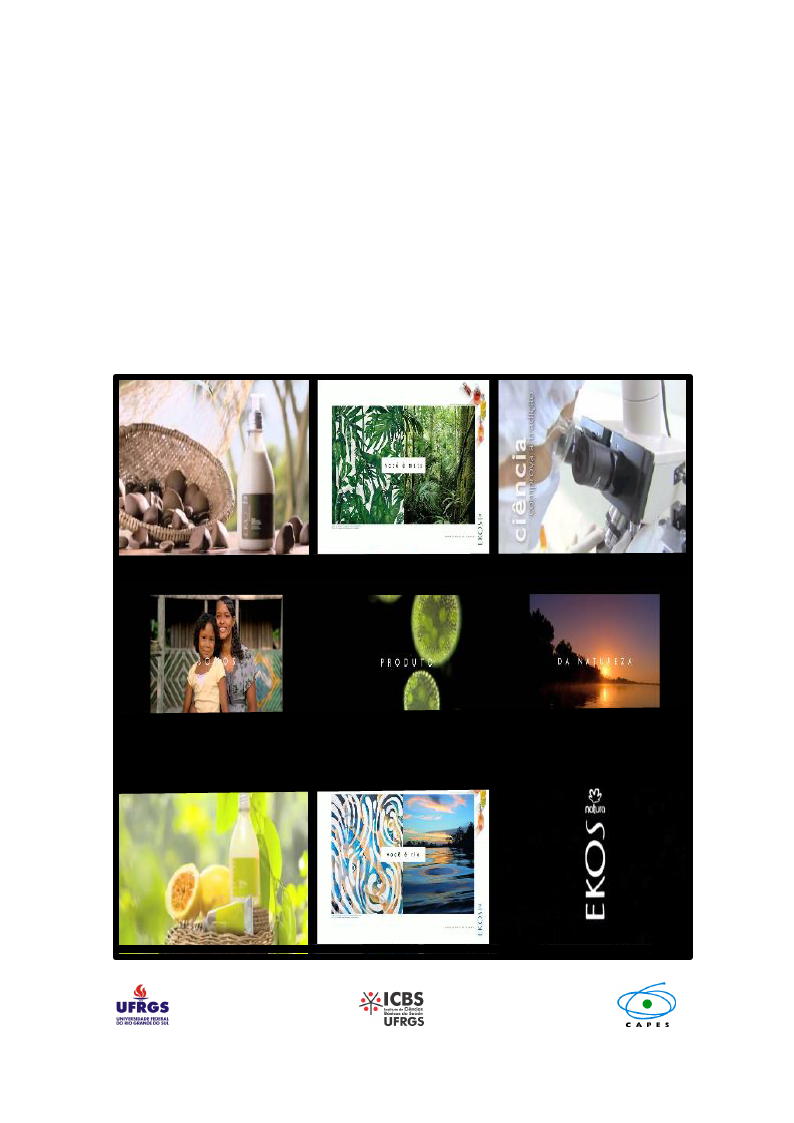
Thaís Presa Martins
As Naturezas de Natura Ekos:
vídeos publicitários constituindo
sujeitos consumidores “sustentáveis”

2
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS:
QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE
AS NATUREZAS DE NATURA EKOS:
VÍDEOS PUBLICITÁRIOS CONSTITUINDO
SUJEITOS CONSUMIDORES “SUSTENTÁVEIS”
Dissertação de Mestrado
Thaís Presa Martins
Porto Alegre
2016

3
Thaís Presa Martins
AS NATUREZAS DE NATURA EKOS:
VÍDEOS PUBLICITÁRIOS CONSTITUINDO
SUJEITOS CONSUMIDORES “SUSTENTÁVEIS”
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito
parcial para a obtenção do título de Mestra em Educação em
Ciências.
Orientadora: Profa. Dra. Nádia Geisa Silveira de Souza
Porto Alegre
2016
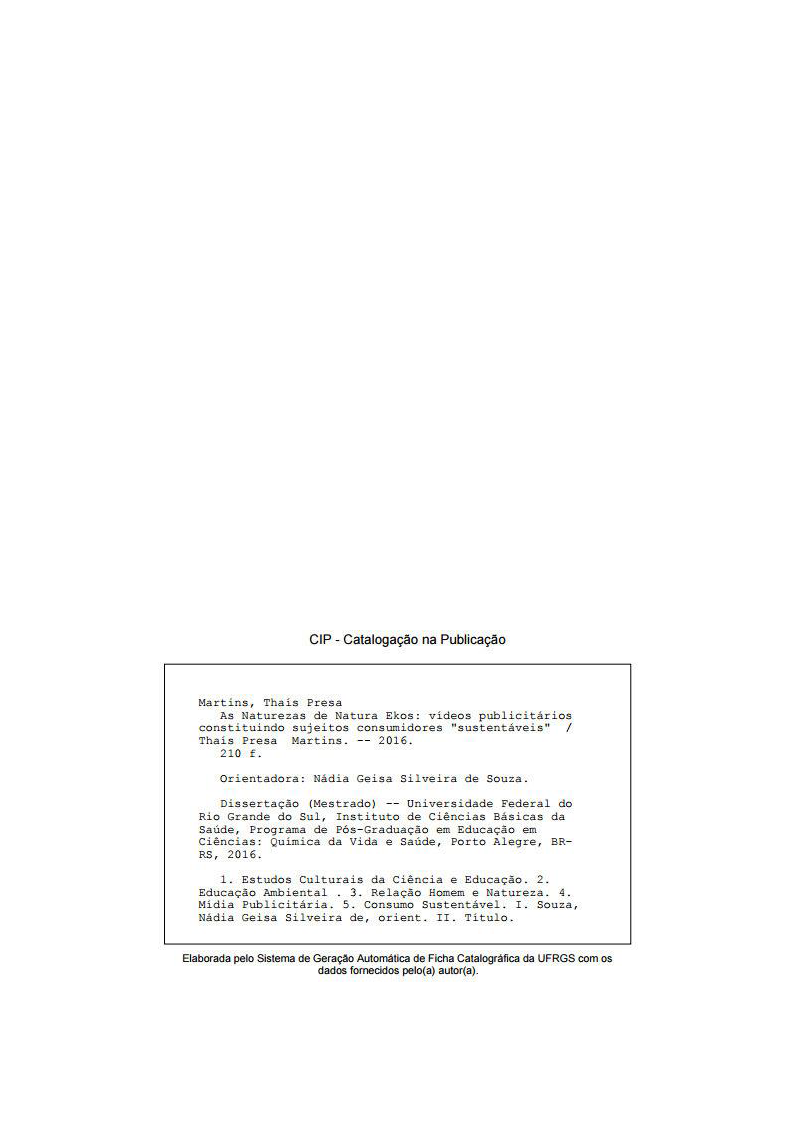
4
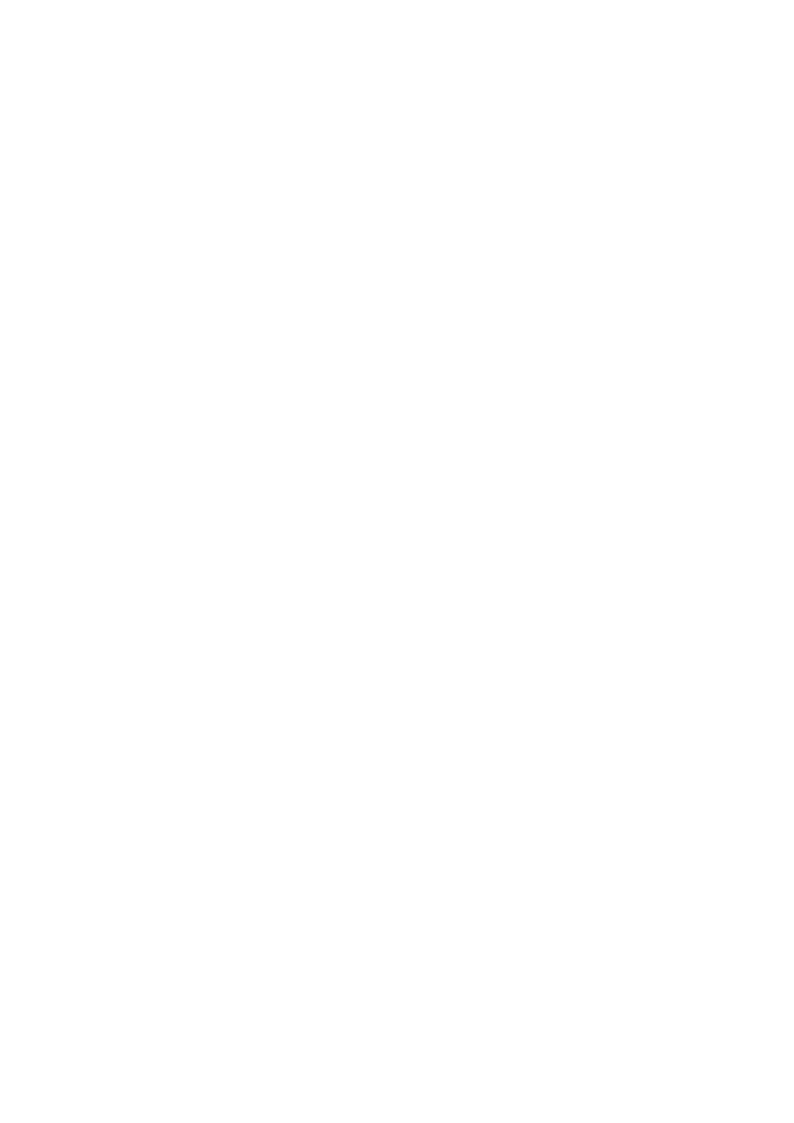
5
Dedico esta Dissertação de Mestrado ao meu pai, Carlos Cilon,
por ensinar-me boa parte das compreensões sobre “natureza”
que trago comigo, e à minha mãe, Solange, por, apesar de
todos os pesares tocantes à Educação Escolar Básica (pública e
privada), persistir neste caminho há mais de 20 anos com
muitas histórias inspiradoras para contar-me.

6
Agradecimentos
À minha mãe, Solange Passos Presa Martins, por preparar-me para a vida vivida,
ensinando-me a ser curiosa, perseverante, resiliente, independente e positiva frente às
adversidades. Ao meu pai, Carlos Cilon Mayer Martins, por todo incentivo e apoio
incondicionais às minhas decisões pessoais e profissionais e por ser um porto seguro
em todos os momentos. A ambos por todo amor, carinho, cuidado e atenção, e,
também, por todas as oportunidades e por toda a confiança conferidas a mim.
Às minhas queridas avós, Therezinha de Jesus Mayer Martins e Celi Passos Presa,
por serem, respectivamente, as minhas botânica e veterinária por vocação, e, assim,
terem despertado em mim o gosto por estudar a vida em suas inúmeras e
encantadoras formas. Agradeço, ainda, por toda a sabedoria de mais de oito décadas
vividas transmitida oralmente em nossos encontros regados por chá de hortelã
“natural” e mate-doce uruguaio.
Aos demais integrantes da minha família, em especial, à minha incrível irmã
canina, Luna Presa Martins, por ser este pedacinho peludo de alegria e de alma mais
evoluída, preenchendo os meus dias com amor, aconchego, energia, companhia e paz.
Aos meus amig@s, pela compreensão neste período e pela confiança em minha
capacidade profissional. Agradeço, também, ao meu ex-namorado, Thiago José
Michelin, por todo apoio, incentivo e companhia durante o Mestrado, bem como pelo
auxílio logístico, linguístico (revisões de abstracts) e high tech.
Aos/às professores/as que tive ao longo desta etapa, em especial, Maria Lúcia
Castagna Wortmann, por todas as aulas instigantes e desconcertantes sobre o campo
dos Estudos Culturais, repletas de informações, conteúdos e autores centrais para a
concepção e a escrita deste estudo. Agradeço, ainda, a um professor que tive o prazer
de conhecer na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Leandro Belinaso
Guimarães, pela simpatia com que me recepcionou, pelo entusiasmo com os seus
papéis de docente e de pesquisador, e pelas excelentes indicações de referências.

7
Às integrantes da banca avaliadora desta Dissertação, as Profas. Dras. Tatiana
Souza de Camargo, Shaula Maíra Vicentini de Sampaio e Paula Regina Costa Ribeiro,
por prontamente aceitarem o meu convite; pelos ótimos pareceres avaliativos que
emitiram sobre esta Dissertação, no sentido de contribuir para a melhoria da
qualidade deste e de meus futuros estudos; e pelas excelentes pesquisas que
realizaram ao longo de suas carreiras, que servem como inspiração para inúmeros
outros/as autores/as, como eu. Além disso, agradeço às professoras Tatiana e Shaula
pelas preciosas indicações de referências; e, em especial, a Tatiana, por todo carinho,
incentivo e aprendizado durante a minha orientação em nível de Iniciação Científica,
que muito contruíram para que eu pudesse chegar até este Programa de Pós-
Graduação na UFRGS.
Ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e
Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGQVS/UFRGS), por todos os
saberes docentes e discentes compartilhados e, também, por todo apoio, atenção e
dedicação dos seus funcionários, sobretudo, os queridos da Secretaria.
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES), por
conceder-me bolsa de pesquisa para a realização desta Dissertação com dedicação
exclusiva.
À minha supervisora de Estágio de Docência em nível de Mestrado no Curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRGS, Profa. Dra. Heloisa Junqueira, por todos
os ensinamentos docentes apre(e)ndidos em meio a uma acolhida extremamente
empática, afetuosa e carinhosa.
Por fim, agradeço imensamente à minha orientadora, Nádia Geisa Silveira de
Souza, por sua disponibilidade, atenção e presença ao longo de todo o período do meu
Mestrado. Além disso, sou grata à sua paciência com o meu amadurecimento analítico
ao longo desta pesquisa; aos muitos livros emprestados; às inúmeras indicações de
referências (e de páginas); às observações, às sugestões e às correções incisivas, e,
também, à agradável acolhida em sua casa para as nossas reuniões de orientação.

8
As palavras determinam nosso pensamento
porque não pensamos com pensamentos, mas com palavras,
não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência,
mas a partir de nossas palavras.
E pensar não é somente “raciocinar” ou “calcular” ou “argumentar”,
como nos tem sido ensinado algumas vezes,
mas é sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece.
E isto, o sentido ou o sem-sentido, é algo que tem a ver com as palavras.
E, portanto, também tem a ver com as palavras
o modo como nos colocamos diante de nós mesmos,
diante dos outros e diante do mundo em que vivemos.
E o modo como agimos em relação a tudo isso.
(LARROSA, 2002, p. 21)

9
Acreditar no mundo significa principalmente suscitar acontecimentos,
mesmo pequenos, que escapem ao controle.
(DELEUZE, 1992, p. 28)

10
Resumo
Discursos em prol da “natureza” foram ingressando na ordem do dia em diversas
instâncias e práticas sociais, vindo a atuar como potentes diferenciais para a venda de
produtos pela mídia, particularmente, pela publicidade. Assim, novos nichos de
mercado, novas categorias de produtos e novos valores empresariais foram sendo
construídos, constituindo um novo perfil de sujeitos consumidores: os “sustentáveis”
ou socioambientalmente “corretos”. Nesta direção, analisei como e de que lugar a
linha de produtos Natura Ekos da empresa Natura Cosméticos fala sobre a “natureza”
para atingir e formar sujeitos consumidores “sustentáveis”, a partir dos vídeos
publicitários da campanha “Somos Produto da Natureza”. Para tanto, utilizei-me de
ferramentas teórico-metodológicas dos Estudos Culturais, em suas vertentes pós-
estruturalistas; pretendendo tecer uma articulação entre diferentes campos –
“natureza”, cultura, política, publicidade, ciência e consumo –, a partir de saberes
oriundos das áreas da Educação, da Filosofia, da Sociologia e da Comunicação. Tracei
uma revisão histórica sobre a construção discursiva das noções de “natureza” desde a
Antiguidade Grega, atentando para as (des)continuidades que foram ocorrendo e
configurando as distintas compreensões que apresentamos hoje. Abordei a
emergência das pedagogias culturais, entendendo que: a) a mídia exerce um papel
eminentemente pedagógico, ao passo em que (in)forma os sujeitos sobre o mundo; b)
a publicidade é uma das principais forças de moldagem dos pensamentos e dos
comportamentos; c) os anúncios publicitários utilizam-se de inúmeras estratégias para
ensinar sobre a “natureza” – formando sujeitos consumidores de produtos
“biodiversos” e “sustentáveis”, obtendo lucro financeiro com a construção de uma
imagem “verde”. A meu ver, os anúncios publicitários analisados ensinam-nos certos
modos de pensarmos, estarmos, sentirmos e agirmos em relação à “natureza”,
articulando determinados elementos discursivos e não-discursivos. Os vídeos têm a
finalidade de educar os sujeitos consumidores socioambientalmente “corretos”
construindo o entendimento de que os mesmos são produto da “natureza”, de que os
produtos Ekos também são esta “natureza” e de que, portanto, adquirir e consumir os
produtos Natura Ekos é pertencer a esta “natureza” veiculada. A campanha lança mão
de estratégias publicitárias dinâmicas (sons, imagens, cores, enunciados, movimentos)
para construir aquilo que quer mostrar para o espectador: a indissociável relação entre
o homem e a “natureza”. Ekos comercializa uma visão de “natureza” como sinônimo
de “essência” e de “(re)conexão” consigo e com o planeta; uma “natureza” estética,
ética e moralmente benéfica, que deve ser buscada, preservada e cuidada ao se
consumir os seus produtos produzidos com os bens “naturais” da Amazônia. Nesta
perspectiva, penso que um grande desafio educacional consiste em promover
deslocamentos por meio do alfabetismo crítico em relação à mídia, para que possamos
(re)pensar a separação entre homem e “natureza”, sujeito e objeto, humano e não-
humano, cultural e “natural”; propondo novos olhares e novas compreensões para o
mundo e para o funcionamento de suas redes.
Palavras-chave: Estudos Culturais. Pedagogias Culturais. Relação Homem e Natureza.
Mídia Publicitária. Consumo Sustentável.

11
Abstract
Speeches in favor of “nature” were entering on the agenda in several social instances
and practices, acting as powerful differentiators for the sale of products by the media,
particularly by advertising. Thus, new market niches, new product categories and new
business values were being built, creating a new profile of consumer subjects: the
“sustainable” or social environmental “correct”. In this direction, I analyzed how and
from which place the line of products Natura Ekos of Natura Cosmetics company talks
about the “nature” to reach and form “sustainable” consumer subjects, from
advertising videos of the campaign “We Are Product of Nature”. Therefore, I used
theoretical and methodological tools of the Cultural Studies, in its post-structuralist
strands; intending to weave a link between different fields – “nature”, culture, politics,
advertising, science and consumption – from knowledge derived from the fields of
Education, Philosophy, Sociology and Communication. I traced a historical review of
the discursive construction of “nature” notions since Greek Antiquity, observing the
(dis)continuities that have been occurring and configuring the different understandings
that we present today. I discussed the emergence of the cultural pedagogies,
understanding that: a) the media plays an eminently teaching role, while it (in)forms
the subjects about the world; b) advertising is one of the main shaping forces of
thoughts and behaviors; c) the commercials use numerous strategies to teach about
the “nature” – forming consumer subjects of “biodiverse” and “sustainable” products,
obtaining financial profit from the construction of this “green” image. In my point of
view, the commercials analyzed teach us certain ways of thinking, being, feel and act in
the "nature", articulating certain discursive and non-discursive elements. The videos
are intended to educate the social environmental “correct” consumer subjects by
building the understanding that they are product of “nature”, that the Ekos products
are also this “nature” and that, therefore, purchase and consume the Natura Ekos
products is to belong to this conveyed “nature”. The campaign makes use of dynamic
advertising strategies (sounds, images, colors, statements, movements) to build what
it wants to show to the viewer: the inseparable relation between man and “nature”.
Ekos markets a vision of “nature” as a synonym of “essence” and “(re)connection” with
yourself and the planet; an aesthetic, ethical and morally benefic “nature”, that must
be sought, preserved and cared for consuming its products made with the “natural”
Amazon goods. In this perspective, I think a great educational challenge is to promote
displacements through critical literacy about the media, so we can (re)think the
separation between man and “nature”, subject and object, human and non-human,
cultural and “natural”; proposing new perspectives and new understandings for the
world and for the operation of its networks.
Keywords: Cultural Studies. Cultural Pedagogies. Relationship Man and Nature.
Advertising Media. Sustainable Consumption.

12
Lista de Figuras
Figura 1 - Sequência de cenas selecionados do vídeo “Natura Ekos - Somos Produto da
Natureza”...................................................................................................................... 136
Figura 2 - Sequência de cenas selecionadas do vídeo “Making Of - Natura Ekos & Emma
Hack”............................................................................................................................. 144
Figura 3 - Peça “você é rio” apresentada no vídeo “Making Of-Natura Ekos & Emma
Hack”............................................................................................................................. 159
Figura 4 - Peça “você é mata” apresentada no vídeo “Making Of-Natura Ekos & Emma
Hack”............................................................................................................................. 159
Figura 5 - Sequência de cenas selecionadas do vídeo “Conheça a Nova Linha Natura
Ekos Corpo” .................................................................................................................. 163
Figura 6 - Sequência de cenas selecionadas do vídeo “Da Floresta para o seu Banho”
...................................................................................................................................... 176

13
Sumário
AGRADECIMENTOS .................................................................................... 6
RESUMO................................................................................................... 10
ABSTRACT................................................................................................. 11
LISTA DE FIGURAS .................................................................................... 12
SUMÁRIO ................................................................................................. 13
INTRODUÇÃO ........................................................................................... 15
6.1 Como Surgiram as Preocupações com as Questões Ambientais?........................ 17
6.2 Pedagogias da “Natureza”: ensinamentos que visam ao lucro ............................ 30
6.3 Por que Estudar Anúncios Publicitários que Falam sobre a “Natureza”? ............ 35
6.4 Apresentação da Organização da Dissertação ..................................................... 43
CAPÍTULO 1 – VÍDEOS PUBLICITÁRIOS E EDUCAÇÃO: POTENTES
ENSINAMENTOS SOBRE A “NATUREZA” ................................................... 45
7.1 Caminhos Metodológicos da Dissertação............................................................. 46
7.1.1 Um Olhar para a Empresa Natura Cosméticos .............................................. 47
7.1.2 A Linha de Produtos Cosméticos e de Higiene Natura Ekos .......................... 49
7.1.3 Por que Analisar a Campanha Publicitária “Somos Produto da Natureza”? . 51
7.2 Estratégia Teórico-Metodológica: o campo dos Estudos Culturais ...................... 55
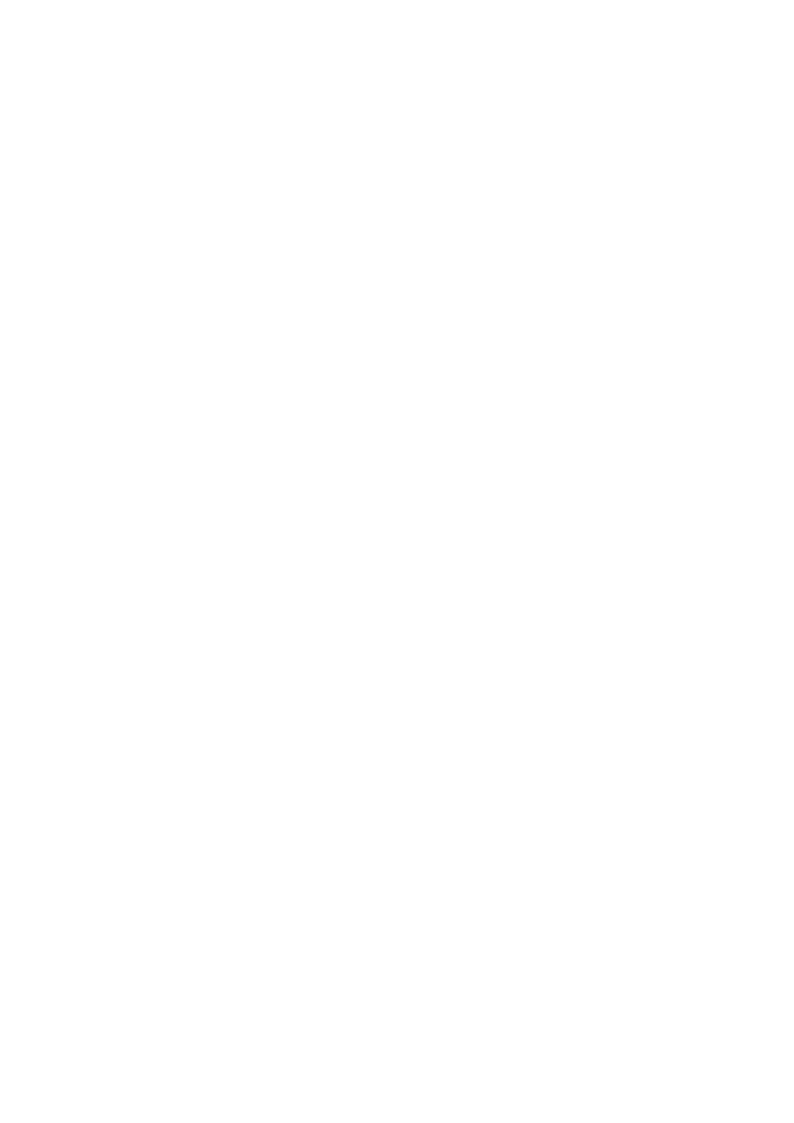
14
7.2.1 Aportes dos Estudos Culturais da Ciência e da Educação.............................. 67
7.2.2 Pedagogias Culturais: o ensino muito além dos muros da escola ................. 70
CAPÍTULO 2 – AS NATUREZAS DA “NATUREZA”: (RE)CONSTRUÇÕES
DISCURSIVAS AO LONGO DE TEMPOS, ESPAÇOS E RELAÇÕES DE PODER . 81
8.1 A Invenção da “Natureza”..................................................................................... 82
8.1.1 Um Olhar Histórico para a “Natureza”........................................................... 86
8.2 A “Natureza” como Efeito de Tecituras Culturais............................................... 104
8.2.1 Biodiversidade e Sustentabilidade: construções discursivas recentes de
produção da “natureza” ........................................................................................ 123
CAPÍTULO 3 – “SOMOS PRODUTO DA NATUREZA”: O QUE OS VÍDEOS
PUBLICITÁRIOS ENSINAM? ..................................................................... 135
9.1 “Somos Produto da Natureza”?.......................................................................... 136
9.2 A (Re)conexão entre Homem e “Natureza” ....................................................... 144
9.3 A Ciência como Instância Legitimadora da “Natureza” ...................................... 163
9.4 O Processo Produtivo de Construção da “Natureza” ......................................... 176
CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................... 187
REFERÊNCIAS.......................................................................................... 196

15
Introdução
Muitas vezes, não percebemos que os nossos atos, as maneiras de
narrar os acontecimentos, os modos de vermos a nós mesmos e aos
outros, tudo isso são negociações que vamos estabelecendo
diariamente com os significados que nos interpelam através da
cultura. Somente compartilhando os significados que circulam pelas
sociedades – seja através das relações de amizade e vizinhança que
estabelecemos, dos programas a que assistimos na televisão, dos
cursos que fazemos, das revistas e livros que lemos, das notícias que
escutamos no rádio – é que vamos aprendendo a ver e a ler de
determinada forma as coisas do mundo e a estabelecer relações com
os outros e com a natureza (GUIMARÃES, 2006, p. 1).
A partir da citação acima, proponho que pensemos sobre as pedagogias da
“natureza” que nos interpelam e subjetivam na ordem do dia, por vezes, sem
percebermos; visto que elas constituem o que consideramos ser a “natureza” e como
negociaremos as nossas relações com a mesma. Assim, poderemos entender que as
“verdades” nas quais acreditamos “são construídas histórica e culturalmente e,
portanto, pensar sobre essa construção talvez nos possibilite desconstruir alguns
aspectos e discursos que nos pareçam excessivamente naturalizados e
inquestionáveis” (GUIMARÃES, et al., 2015, p. 48).
O estudo realizado em minha pesquisa de Mestrado, apresentado por meio
desta Dissertação, emergiu da percepção de que discursos1 em prol da “natureza”
foram ingressando na ordem do dia em diversas instâncias e práticas sociais, vindo a
atuar como potentes diferenciais para a venda de produtos pela mídia,
particularmente, pela publicidade. Assim, novos nichos de mercado, novas categorias
de produtos e novos valores empresariais foram sendo construídos, constituindo um
novo perfil de sujeitos consumidores: os “sustentáveis” ou socioambientalmente
“corretos”. Nesta direção, objetivei analisar como e de que lugar a linha de produtos
Natura Ekos fala sobre a “natureza” para atingir e formar sujeitos consumidores
1 Considero como práticas discursivas aquelas práticas sociais que instituem os “objetos” de que falam
(o discurso) ou o comportamento apreendido pelo visível (o não-discursivo) (FOUCAULT, 1995; 1998b).

16
“sustentáveis”, a partir de vídeos publicitários da campanha “Somos Produto da
Natureza”. Para tanto, utilizei-me de ferramentas teórico-metodológicas do campo dos
Estudos Culturais da Ciência e da Educação, em suas vertentes pós-estruturalistas.
Nesta perspectiva, convido o/a leitor/a a pensar sobre alguns questionamentos
iniciais: a) Em que condições puderam emergir as preocupações com as questões
ambientais, particularmente, em relação a um educativo ambiental e a um consumo
“verde”?; b) Com que interesses instâncias e práticas sociais ensinam os sujeitos sobre
a “natureza”?; c) Qual é a relevância de estudarmos anúncios publicitários que falam
sobre a “natureza”?
Ao fim destas primeiras explanações e provocações, considero necessário dizer
o lugar de onde falo como Mestranda. Esta Dissertação tem como pano de fundo a
minha formação pessoal e profissional como bióloga, Especialista em Gestão
Ambiental, pesquisadora de temas ambientais há sete anos, educadora em formação
e, sobretudo, curiosa por inúmeras áreas do conhecimento – dentre elas, a
Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, pela qual tive uma breve e
importante passagem.

17
6.1 Como Surgiram as Preocupações com as Questões Ambientais?
A ampla difusão das preocupações com as questões ambientais2 é algo
historicamente recente, relativo à segunda metade do século XX, após a Segunda
Guerra Mundial (1935-1945)3. Conforme Grün (2011), o uso da bomba atômica na
Guerra foi um marco central para desencadear um choque e um profundo repensar
sobre o poder de aniquilação ao qual havia chego a Humanidade. Os seres humanos
adquiriram a autoconsciência da possibilidade de destruição completa da Terra. Assim,
discursos em prol da luta, da proteção e da preservação do ambiente foram
gradativamente espraiando-se e instalando-se pelas sociedades, sobretudo, entre os
anos 1960 e 1970. Esse período, de acordo com Carvalho (2004), foi marcado pelo
clima de constestações a “verdades” construídas ao longo da história, como as que
justificavam a desigualdade entre os homens e as mulheres; o padrão de dominação
da cultura branca, ocidental e masculina; a ciência ser baseada em uma suposta
“racionalidade” técnica, e o desenvolvimento econômico e tecnológico a qualquer
custo (seja ambiental ou social). Nesta época, os chamados novos movimentos sociais
passaram a reivindicar novos direitos e, acima de tudo, o reconhecimento das
diferentes visões, identidades e estilos de vida, de modo a oporem-se ao paradigma
ocidental, moderno, industrial e científico. Guimarães et al. (2015) destacam que
muitos destes movimentos posicionaram-se como contrários às guerras, à corrida
armamentista e aos aparatos militares das nações. Os autores mencionam, também,
que os ecologistas estão entre estes grupos e que surgiram tecendo críticas aos modos
de vida das sociedades industriais do pós-guerra:
A primeira fase do capitalismo industrial, marcado pelas máquinas a
vapor, pela locomotiva, pelo telégrafo, pelo carvão, era
relativamente pouco expansiva sobre os territórios e as vidas
humanas se compararmos com os nossos tempos atuais. De qualquer
forma, ela foi muito mais invasiva sobre a população e seus
2 Neste tópico da Introdução, faço uso da expressão questões ambientais, a fim de explanar o
surgimento das preocupações com as mesmas de uma maneira abrangente. No entanto, nos itens
seguintes, utilizarei a palavra natureza para marcar a especificidade das problematizações que realizo ao
longo deste estudo – noções e compreensões sobre natureza desde a Antiguidade Grega até hoje nos
vídeos publicitários da linha de produtos Natura Ekos.
3 Em 1945, o lançamento das bombas atômicas no Japão encerrou a Segunda Guerra Mundial e,
também, tornou-se um marco das movimentações pacifistas, que passaram a alertar sobre o potencial
destrutivo dos modos de vida das sociedades ocidentais (GUIMARÃES et al., 2015).

18
territórios do que as sociedades notadamente agrícolas anteriores. Já
a segunda fase petrolífera e elétrica se disseminou fervorosamente,
pois permitiu a produção industrial em larga escala, exigindo uma
nova organização do trabalho e um consumo massivo de produtos
(GUIMARÃES et al., 2015, p. 25).
Esta nova conformação mundial da produção e do consumo de materiais criou
condições para a proliferação de movimentos constestatórios que apontaram para os
limites do crescimento industrial e populacional. Dentre eles, cito a publicação da obra
Primavera Silenciosa (1962), de Rachel Carson, – questionando o modelo convencional
de agricultura com uso indiscriminado de substâncias tóxicas e abordando os impactos
socioambientais dos pesticidas e dos inseticidas (CARSON, 2010) – e, a elaboração do
estudo Limites do Crescimento (1970), pelo Clube de Roma e pelo Massachussetts
Institute of Tecnology (MIT) – evidenciando a limitação do crescimento dos recursos
“naturais”, relativa à demanda populacional e aos interesses econômicos (MEADOWS
et al., 1973).
Outros marcos das preocupações com as questões ambientais foram os
grandes eventos internacionais voltados para estas discussões. Em 1972, pela primeira
vez, países reuniram-se para debater estes temas em nível mundial, durante a
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD)
em Estocolmo (Suécia). O intuito deste encontro foi fomentar a ação governamental e
os organismos internacionais a protegerem o ambiente e, como resultado, houve a
constituição da Declaração de Estocolmo – um referencial no campo ambiental, que
menciona a necessidade de se considerar a Educação Ambiental como um elemento
crítico para o enfrentamento da crise ambiental. Assim, este evento foi uma
importante contribuição para que a Organização Mundial das Nações Unidas (ONU)
criasse um organismo direcionado para as questões ambientais: o Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) (UNITED NATIONS ENVIRONMENT
PROGRAMME, 1972). No ano de 1975, ocorreu o Encontro Internacional de Educação
Ambiental, realizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura (UNESCO), em Belgrado (Iugoslávia), onde foi criado o Programa
Internacional de Educação Ambiental e se elaborou a Carta de Belgrado. Essa se
configurou como o primeiro documento intergovernamental a definir objetivos,
princípios e diretrizes para a Educação Ambiental; afirmando o caráter contínuo,

19
multidisciplinar e integrado às diferenças regionais – atentando a interesses nacionais
e mundiais – do campo. Além disso, esta Carta associou as questões ambientais a
aspectos sociais e econômicos, ao mencionar que (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE,
2016):
É absolutamente vital que os cidadãos do mundo insistam em
medidas que apoiem um tipo de crescimento econômico que não
tenha repercussões prejudiciais para as pessoas, para o seu ambiente
e suas condições de vida. É necessário encontrar maneiras de
assegurar que nenhuma nação cresça ou se desenvolva às custas de
outra e que o consumo feito por um indivíduo não ocorra em
detrimento dos demais. Os recursos do mundo devem ser
desenvolvidos de modo a beneficiar toda a humanidade e
proporcionar melhoria da qualidade de vida de todos (CARTA DE
BELGRADO, 1975, p. 1).
Neste sentido, a consciência da crise escológica dos anos 1970, somou-se às
constatações do fracasso do modelo econômico capitalista na solução dos problemas
globais, denunciando o processo ilimitado de exploração de bens “naturais” e a
insustentabilidade socioambiental por ele desencadeada (SCOTTO et al., 2007). Em
1977, a 1ª Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental ou, Conferência de
Tbilisi (Geórgia), organizada pela UNESCO, foi considerada o principal marco da história
da Educação Ambiental; originando, em 1980, a publicação do texto “La Educación
Ambiental: las grandes orientaciones de la Conferencia de Tbilisi”, contendo 41
recomendações para a realização da Educação Ambiental. No ano de 1992, na cidade
do Rio de Janeiro (Brasil), ocorreu a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, também conhecida como Rio-92 ou Eco-92 – marcando a forma
como a humanidade passou a entender a sua relação com o planeta. A comunidade
política internacional, a partir de então, admitiu ser preciso conciliar o
desenvolvimento econômico com o social e com a utilização dos recursos “naturais”,
reconhecendo o conceito de desenvolvimento sustentável e, portanto, pensando na
garantia da qualidade de vida para a geração atual e para as futuras gerações. Esta
avaliação surgiu do pressuposto de que se todas as pessoas almejassem aos mesmos
padrões de desenvolvimento dos países ricos, não haveria recursos “naturais” para
todos sem a geração de impactos ambientais graves e, possivelmente, irreversíveis.
Assim, ficou acordado que os países em desenvolvimento na época deveriam receber
apoio financeiro e tecnológico para desenvolverem modelos de desenvolvimento

20
“sustentáveis”, inclusive, reduzindo os seus padrões de consumo – especialmente, de
combustíveis fósseis (como petróleo e carvão mineral). Em 1997, foi realizada pela
UNESCO a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e
Consciência Pública para a Sustentabilidade, em Thessaloniki (Grécia). Neste evento,
destacou-se que, após cinco anos da Rio-92, o desenvolvimento da Educação
Ambiental ainda era insuficiente. A partir de então, buscou-se indicar as principais
dificuldades para popularizar a Educação Ambiental; reafirmar as recomendações da
Conferência de Tbilisi, e enfatizar a necessidade de ampliação da capacitação dos
educadores ambientais (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016; SENADO FEDERAL,
2016).
O Brasil também se envolveu na luta pelas questões ambientais, sendo o
estado do Rio Grande do Sul o pioneiro do chamado movimento ecopolítico brasileiro
(OLIVEIRA, 2008a). Diversos órgãos em prol do ambiente foram criados, dentre eles: a
União Protetora da Natureza (UPN) (GUIMARÃES et al., 2015); a Associação Gaúcha de
Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN); a Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(SMAM); a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), e a Reserva Biológica do
Lami (OLIVEIRA, 2008b). A partir desta mudança de postura dos sul-rio-grandenses,
podemos dizer que foram sendo criadas condições para que os indivíduos começassem
a ter consciência da importância das questões ambientais, atentando para as
consequências de suas ações tanto para a geração do período quanto para as futuras
(MARTINS; SOSTER, 2014).
Segundo Guimarães et al. (2015), além da criação de órgãos ambientais, alguns
princípios educativos começaram a tornar-se estreitamente relacionados às questões
ambientais no Brasil. No início dos anos 1970, embora ainda não se possa falar em
uma Educação Ambiental, passou a estabelecer-se um forte “educativo” por meio das
práticas dos militantes dos movimentos ecologistas. A partir deste período, um
sentimento de urgência tomou conta dos ecologistas: “Os movimentos ocuparam as
ruas, as vozes ecoaram em jornais, em revistas, em rádios, em programas televisivos
[...] procuraram fazer barulho, buscando inibir as práticas pelas quais lutavam e
condenavam” (idem, p. 26). A educação, apesar de ser vista como fundamental pelos
movimentos ecologistas, designava um tempo não imediato. Assim, nada substituía as

21
lutas que deveriam tomar as ruas com urgência. De qualquer maneira, a relevância da
educação estava presente nas estratégias “educativas” das lutas, constituindo os
sujeitos participantes das mesmas. Para estes indivíduos, alguns princípios educativos
precisariam nortear a formação das futuras gerações, mostrando-se imperativos: “era
necessária uma mudança de atitudes, um reexame dos valores e uma redefinição do
progresso e do desenvolvimento” (idem, p. 27). Neste sentido, podemos dizer que os
princípios educativos atrelados às questões ambientais emergiram de modo mais
visível e disseminado durante a década de 1970, articulando-se como “ação política de
transformação dos valores e das atitudes dos sujeitos” (idem, p. 27); ao encontro do
Manifesto de José Lutzenberger (1977)4 – um dos marcos da centralidade do educativo
ambiental deste período. Nas palavras do autor:
Fundamentalmente, a solução dos problemas ambientais está na
educação. Mas a educação é um processo lento, demasiado lento
para conter ainda a avalanche que se aproxima do estrondo. Já não
podemos esperar que a próxima geração indique o novo rumo e
repare os estragos. Se nada fizermos hoje, não lhes deixaremos
chance para tanto. Que adianta ensinar aos jovens o amor à Natureza
se, daqui a dez ou vinte anos, quando a eles couber o poder de
decisão, não mais existir natureza para salvar. Para que ainda tenha
sentido a educação da juventude, devemos fixar já os novos
caminhos, devemos começar logo a reparar o que pode ser reparado,
devemos evitar a continuação e o incremento dos estragos e
devemos iniciar hoje os processos que só frutificarão em longo prazo
(LUTZENBERGER, 1977 apud GUIMARÃES et al., 2015, p. 26).
Conforme Guimarães et al. (2015), a Educação Ambiental emergiu como um
campo de saberes e de práticas nos anos 1980, e o campo (aqui entendido como um
“terreno de ideias e de discursos5 e práticas que passa a ser nomeado como Educação
Ambiental” (idem, p. 27)) consolida-se e institucionaliza-se de forma crescente no
Brasil durante a década de 1990 – tendo como marco de sua expansão a Conferência
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro
4 LUTZENBERGER, J. Fim do Futuro? Manifesto Ecológico Brasileiro. Porto Alegre: Movimento; UFRGS,
1977.
5 Para Michel Foucault, discurso não é a combinação de palavras que representariam as coisas do
mundo, mas sim uma prática que, sistematicamente, forma os objetos de que fala – por exemplo, o
discurso clínico, o discurso econômico, o discurso psiquiátrico – neste caso, os discursos da “natureza” e
da “sustentabilidade”. Esses discursos podem ser entendidos como histórias que, encadeadas e
enredadas entre si, se complementam, se completam, se justificam e se impõem a nós como jogos de
verdade (VEIGA-NETO, 2000).
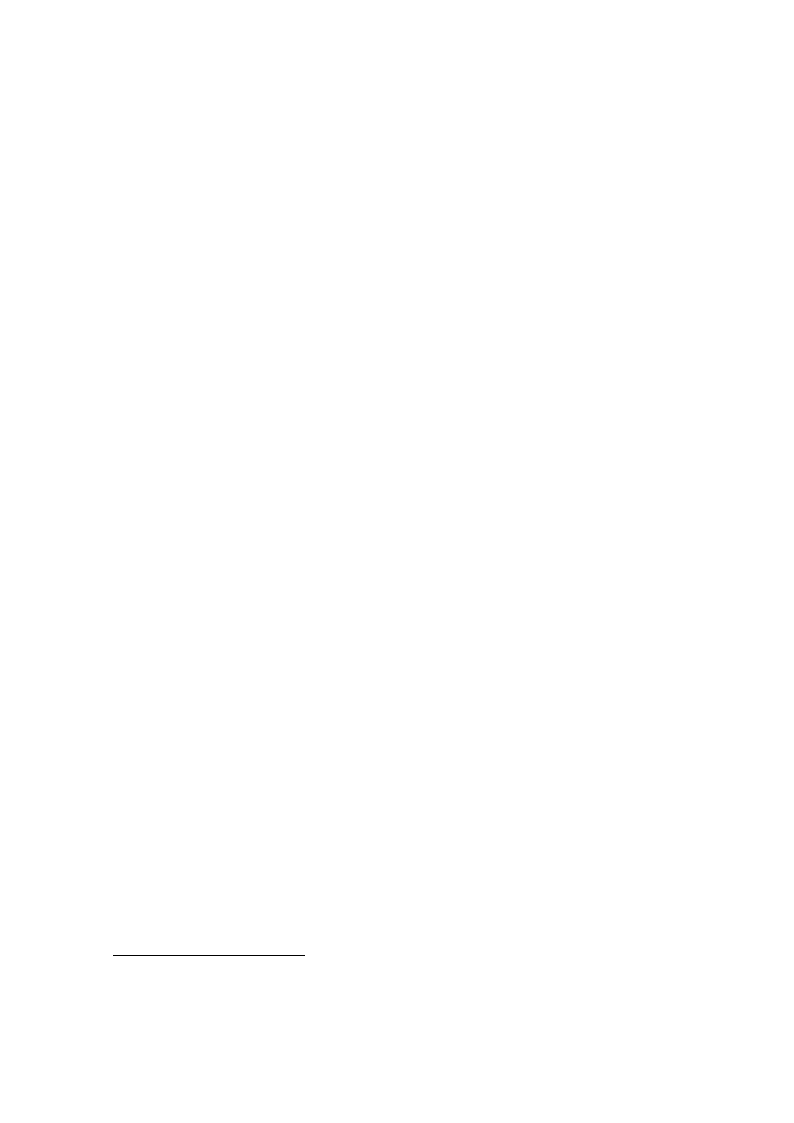
22
(1992). Este processo, no entanto, está longe de ter sido unitário e sem conflitos,
devido às diferentes ideias e concepções dos sujeitos que o constituíram ao longo do
tempo, configurando-se como um campo contestado, “ou seja, como disputado por
diferentes concepções políticas, perspectivas teóricas, epistemológicas, enfim, um
campo em formação constante” (idem, pp. 27-28).
Hoje, podemos dizer que independentemente da perspectiva teórica que
norteie as ações de Educação Ambiental ela apresenta alguns requisitos centrais,
dentre eles: apresentar um olhar interdisciplinar para as questões ambientais. Esse
aspecto é um dos poucos considerados quase unânimes pelos integrantes do campo.
De acordo com o artigo 10 da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795,
de 1999): “A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa
integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino
formal”; destaco o primeiro parágrafo deste artigo: “[...] a educação ambiental não
deverá ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino6”
(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1999). Nesta direção, os trabalhos de Educação
Ambiental não podem restringir-se a determinadas disciplinas escolares – como
Ciências (no Ensino Fundamental) e Biologia (no Ensino Médio) –, pois os saberes
ambientais extrapolam os limites disciplinares; e nem resultarem na criação de uma
disciplina específica para lidar com as questões ambientais, visto que os pressupostos
do campo criticam a ciência moderna – ao dividir, segmentar e fracionar o
conhecimento. A interdisciplinaridade, segundo Carvalho (2004):
[...] não pretende a unificação dos saberes, mas deseja a abertura de
um espaço de mediação entre conhecimentos e articulação de
saberes, no qual as disciplinas estejam em situação de mútua
coordenação e cooperação, construindo um marco conceitual e
metodológico comum para a compreensão de realidades complexas
(CARVALHO, 2004, p. 121).
A Educação Ambiental é um campo em constante processo de (re)construção,
repleto de possibilidades temáticas a serem abordadas de modo interdisciplinar, e que
nos convida a lançarmos um olhar crítico para o que parece dado como certo ou
6 No segundo parágrafo do artigo 10 da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 1999),
faculta-se a existência de uma disciplina específica de Educação Ambiental em Cursos de Pós-
Graduação, extensão e áreas direcionadas para aspectos metodológicos do campo (PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA, 1999).

23
inquestionável. Hoje, as preocupações ambientais são numerosas e diversas,
abrangendo questões de diferentes ordens. A superpopulação humana; a destruição e
a degradação de hábitats; a biopirataria; a introdução de espécies exóticas; a emissão
de gases causadores do efeito estufa; o descarte inadequado de resíduos e de rejeitos;
os testes com e o manuseio de seres vivos; a desigualdade na distribuição de renda e
de alimentos; a proliferação de doenças virais (tais como o Zika vírus), dentre tantos
outros exemplos, revelando os efeitos das intervenções humanas realizadas de
maneira equivocada e excessiva. Assim, para podermos seguir adiante na discussão
acerca da centralidade de um pensamento interdisciplinar sobre as questões
ambientais, considero importante atentarmos para o consumo. Esse tema – apesar de
ser fundamental para os debates em Educação Ambiental por propiciar uma postura
de enfrentamento político dos sujeitos – é pouco trabalhado pelos educadores
ambientais, uma vez que exige um entrelaçamento entre inúmeros aspectos: culturais,
históricos, sociais, políticos, econômicos, midiáticos, éticos, morais, etc. O consumo
não abrange somente o que consumimos, mas como e por que o fazemos... Em outras
palavras, em que conjuntura cultural (particularmente, pensando sobre os apelos da
mídia publicitária) somos interpelados a adquirir determinados produtos e/ou serviços
e por que os consumimos? O que nos move a esta ação? Podemos pensar, também, a
respeito das condições socioambientais envolvidas com o ato de consumir... Como e
por quem as matérias-primas dos produtos que utilizamos são extraídas, produzidas,
embaladas, transportadas e vendidas? De onde vem o que consumimos? Dentre
tantos outros questionamentos possíveis e pertinentes... Neste sentido, proponho que
revisitemos, brevemente, o cenário no qual puderam surgir as preocupações
ambientais com o ato de consumir.
De acordo com Portilho (2010), as preocupações ambientais com o consumo
emergiram durante a década de 1960 (como vimos no início deste tópico); porém, a
propagação das mesmas de modo hegemônico e institucionalizado é recente,
sobretudo, a partir do evento Rio-92. Ao longo dos anos 1990, o consumo foi
tornando-se uma questão de política ambiental atrelada a propostas de
sustentabilidade. No entanto, antes da década de 1990, era possível notar algumas
“ações governamentais de regulação do consumo ambientalmente significante,
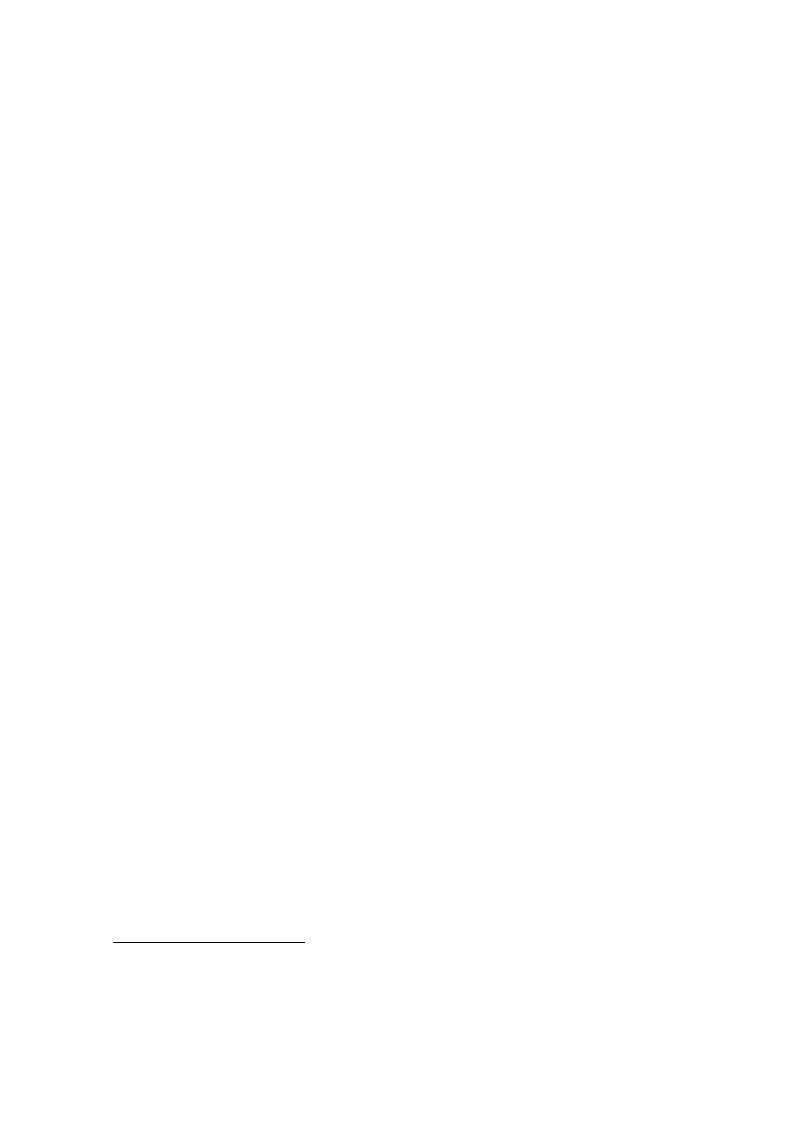
24
principalmente relacionadas à redução do consumo doméstico de água e energia,
embora a questão ambiental7 não fosse ainda a preocupação primeira nestas
questões” (idem, p. 108). Após a Rio-92, a Comissão para o Desenvolvimento
Sustentável (CDS) das Nações Unidas foi criada para implementar a chamada Agenda
21, dando início a um programa de pesquisas para examinar rigorosamente os desafios
a serem enfrentados, associados aos impactos ambientais decorrentes dos padrões de
consumo. Esta Comissão, em 1994, em Oslo (Noruega), realizou o “Simpósio sobre
Consumo Sustentável e Padrões de Produção”, a fim de debater as mudanças que
seriam necessárias. Em 1995, no mesmo lugar, foi realizado outro evento sobre o
tema, para proporcionar a CDS um conjunto de propostas que poderiam contribuir
para estabelecer medidas políticas direcionadas a mudanças comportamentais dos
sujeitos, das empresas e das instituições governamentais e internacionais. Ainda em
1994, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA reconheceu a importância ambiental
relacionada aos padrões de consumo, bem como a necessidade de desenvolver
pesquisas científicas sobre o assunto, visando conhecer mais sobre os impactos
ambientais decorrentes do ato de consumir e, também, sobre as complexas interações
entre diversos fatores associados ao mesmo – políticos, econômicos, mercadológicos,
culturais, tecnológicos e comportamentais. O Brasil também se envolveu com as
preocupações ambientais voltadas ao consumo. Em 1996, o País sediou o workshop
“Produção e Consumo Sustentáveis: padrões e políticas”, decorrente de uma
cooperação com a Noruega. No ano de 1998, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente
de São Paulo organizou o “Encontro Interregional do Grupo de Especialistas sobre
Proteção de Consumidores e Sustentabilidade”, contando com 45 especialistas de mais
de 25 países. Como resultado, o encontro elaborou um documento com propostas
para ampliar a Diretriz de Defesa dos Consumidores (n.39/248 de 9/4/1985) da ONU,
objetivando englobar o tema consumo sustentável. Para Portilho, estes
acontecimentos e muitos outros podem ser considerados exemplos efetivos das
mudanças de entendimentos sobre as questões ambientais, de modo a influenciarem
7 Portilho (2010) refere-se à questão ambiental como um complexo conjunto de fatores e variáveis
existentes na interface entre sociedade e “natureza”, em seus aspectos biológicos, éticos, estéticos,
territoriais, políticos, sociais, culturais, econômicos e axiológicos (teorias relacionadas com a questão
dos valores, em especial, os morais).

25
decisavamente as políticas ambientais e, cada vez mais, as “políticas de consumo”
também.
Neste momento, considero pertinente fazermos algumas explanações sobre
expressões que marcam o consumo relativamente às preocupações ambientais.
Segundo Portilho (2010), inicialmente, os impactos ambientais relacionados ao
consumo englobavam a noção de “consumo verde” e, mais tarde, concentraram-se
nos limites do chamado “consumo sustentável”, “[...] além de expressões similiares
que contribuem mais para confundir do que para enriquecer a discussão, tais como
‘consumo ético’, ‘consumo responsável’ e ‘consumo consciente’” (idem, p. 110). Assim,
para facilitar o desenvolvimento deste estudo, farei uso das expressões consumo
“sustentável” e consumidores “sustentáveis” ou socioambientalmente “corretos”,
problematizando algumas noções sobre “sustentabilidade” durante o segundo capítulo
desta Dissertação.
Conforme Portilho (2010), “o surgimento da ideia de um ‘consumo verde’ e,
portanto, de um ‘consumidor verde’, só foi possível após o deslocamento da definição
da questão ambiental, da produção para o consumo” (idem, p. 111). A autora afirma
que a proposta de um consumo verde surgiu a partir de três fatores inter-relacionados:
a) a proliferação do ambientalismo, sobretudo, a partir da década de 1970; b) a
ambientalização das empresas a partir dos anos 1980, e c) a emergência das
preocupações com os impactos ambientais oriundos dos estilos de vida e dos padrões
de consumo das sociedades a partir de 1990. Como vimos os aspectos “a” e “c”
mencionados pela autora anteriormente, proponho que, agora, analisemos o
surgimento do setor empresarial no cenário ambientalista durante a década de 1980,
quando passa a abandonar, gradativamente, a imagem de “vilão” e a construir uma
imagem de “amigo do verde”. Até então, as preocupações ambientais eram vistas
como um impedimento ao crescimento econômico, e a preservação ambiental
significava investir financeiramente sem ter retorno para os empresários, ou seja, uma
redução da competitividade da empresa frente ao mercado. Questões ambientais e
desenvolvimento econômico eram entendidos como esferas antagônicas, acreditando-
se que para haver lucro financeiro era necessário haver poluição e esgotamento dos
recursos “naturais”. No entanto, em grande parte como resultado do crescimento da

26
pressão da população e do governo, iniciou-se a apropriação de algumas noções
ambientais por parte das empresas durante os anos 1980. A partir de então, o setor
empresarial intitulou-se como “o principal segmento capaz de levar adiante o projeto
de uma sociedade ambientalmente sustentável” (idem, p. 112); apresentando como
principal estratégia para o enfrentamento da crise ambiental as inovações tecnológicas
das tecnologias limpas. Nesta perspectiva, Portilho considera que a combinação dos
três fatores citados no início deste parágrafo – o ambientalismo público, a
ambientalização do setor empresarial, e a percepção dos impactos ambientais do
consumo – propiciaram que especialistas, políticos e organizações ambientalistas
passassem a considerar o papel dos sujeitos em suas tarefas cotidianas para o
agravamento da crise ambiental, exigindo e estimulando mudanças nos padrões
individuais de consumo. Assim, a autora pontua que as ações conscientes dos
indivíduos, através da informação e da preocupação com as questões ambientais,
mostraram-se uma nova estratégia para solucionar os problemas ambientais e para
promover as mudanças necessárias em direção à sociedade “sustentável”. Desde
então, inúmeros guias do tipo “como defender a Terra” (idem, p. 113) começaram a
ser publicados por organizações ambientalistas, pesquisadores e governos; sendo um
dos mais representativos o inglês “O Guia do Consumidor Verde” (1988), objetivando
mostrar aos consumidores o que fazer para reduzir as suas contribuições pessoais para
o desencadeamento de problemas ambientais. Nesta direção,
O consumidor verde foi amplamente definido como aquele que, além
da variável qualidade/preço, inclui, em seu “poder de escolha”, a
variável ambiental, preferindo produtos que não agridam, ou são
percebidos como não agredindo o meio ambiente. [...] trata-se de
indivíduos que, por causa de suas crenças éticas, “voluntariamente e
por sua própria iniciativa”, modificam seu consumo para não
prejudicar o meio ambiente. [...]. Dessa forma, o movimento de
consumo verde seguiu adiante enfatizando a habilidade dos
consumidores de agir em conjunto, trocando uma marca X por uma
marca Y, ou mesmo parando de comprar um determinado produto,
para que os produtores percebessem as mudanças na demanda
(PORTILHO, 2010, pp. 114-115).
A importância destas mudanças nos modos de pensar e de agir dos sujeitos
consumidores bem informados e conscientes a respeito das questões ambientais pode
ser observada, por exemplo, em campanhas bem-sucedidas empreendidas por

27
Organizações Não-Governamentais (ONGs) e por grupos de indivíduos que defendem
determinadas causas ambientais. Portilho (2010) cita a ONG Friends of the Earth
(Amigos da Terra), que conseguiu promover alterações em grandes companhias,
tornando os seus produtos livres de clorofluorcarbonos (CFCs), e a ameaça dos sujeitos
consumidores de boicotarem o sanduíche Big Mac – desencadeando a decisão do Mc
Donald’s de abandonar a utilização de CFCs. Os consumidores verdes prezam por
escolhas que consideram “mais corretas”, boicotando empresas, serviços e produtos
que acreditem não atenderem aos seus valores morais. Além disso, este grupo de
pessoas é adepto do uso de tribunais e dos recursos da Internet (blogs, vídeos, redes
sociais, grupos de conversas, etc.) como estratégias para pressionar as grandes
corporações a adotarem medidas de produção compatíveis com as exigências
socioambientais. Assim,
[...] a pressão exercida pelos consumidores ao buscarem produtos
“verdes” e boicotarem produtos de grande impacto ambiental seria a
mola propulsora que estimularia a competitividade empresarial, o
desenvolvimento de produtos “ecologicamente corretos” e o uso de
tecnologias limpas. [...] Neste movimento, vale ressaltar a
importância da primeira “geração ambientalizada” de pessoas com
alto poder aquisitivo e, ao mesmo tempo, interessadas em um estilo
de vida de baixo impacto ambiental, baseados em uma preocupação
ética com o meio ambiente. Muitas empresas passaram a se
interessar em captar o poder de compra dessas pessoas,
percebendo-as como um novo nicho de mercado (PORTILHO, 2010,
pp. 115-116).
Dobson (1991) apud Portilho (2010) menciona que esta ideia apareceu como
um “ar fresco” muito potente; uma vez que seria possível adquirir xampús e
champanhes e, simultaneamente, ajudar na criação de um mundo mais saudável –
atentendo ao nosso altruísmo e ao nosso auto-interesse ao mesmo tempo. Portilho
(2010) aponta que “o ideal da autolimitação das necessidades e a denúncia dos vícios
da Sociedade de Consumo, que estavam no centro dos movimentos ecológicos da
década de 60 e 70, acabaram em segundo plano, dando lugar ao shopping ecológico”
(idem, p. 118) – expressão utilizada pela autora para referir-se à expansão da demanda
por produtos orgânicos, alimentação dietética, ecoturismo, dentre outros. Para
Portilho, enquanto que, durante os anos 1960 e 1970, os padrões de consumo das
sociedades industrializadas eram vistos como a primeira causa dos problemas

28
ambientais, o consumo verde, por sua vez, ao invés de promover enfrentamentos
serve para atender à continuidade dos privilégios das sociedades mais abastadas
economicamente, de modo a favorecer a expansão do capitalismo predatório. Em
outras palavras, bastam algumas pequenas alterações e tudo está bem. Assim, “a
necessidade da redução do consumo é substituída pela simples modificação dos
produtos consumidos” (idem, p. 120). Nesta perspectiva, Bauman (2008b) pontua que
as noções de “responsabilidade” e de “escolha responsável” que residiam no campo
semântico do dever ético e das preocupações morais pelo Outro, foram sendo
transferidos para o âmbito da auto-realização. “‘Responsabilidade’ agora significa, no
todo, responsabilidade em relação a si próprio (“você deve isso a si mesmo”[...]),
enquanto ‘escolhas responsáveis’ são, no geral, os gestos que atendem aos nossos
interesses [...]” (idem, p. 119). A “responsabilidade por” (designando o bem-estar e a
dignidade do Outro) vai sendo substituída pela “responsabilidade perante” – o
superior, a autoridade, a causa e os seus porta-vozes. Neste sentido, “consumir”:
[...] significa investir na afiliação social de si próprio, o que, numa
sociedade de consumidores, traduz-se em “vendabilidade”: obter
qualidades para as quais já existe uma demanda de mercado, ou
reciclar as que já se possui, transformando-as em mercadorias para
as quais a demanda pode continuar sendo criada. [...]. O consumo é
um investimento em tudo que serve para o “valor social” e a auto-
estima do indivíduo. [...]. O objetivo crucial, talvez decisivo, do
consumo na sociedade de consumidores (mesmo que raras vezes
declarado com tantas palavras e ainda com menos freqüência
debatido em público) não é a satisfação de necessidades, desejos e
vontades, mas a comodificação ou recomodificação do consumidor:
elevar a condição dos consumidores à de mercadorias vendáveis. [...].
Os membros da sociedade de consumidores são eles próprios
mercadorias de consumo, e é a qualidade de ser uma mercadoria de
consumo que os torna membros autênticos dessa sociedade. Tornar-
se e continuar sendo uma mercadoria vendável é o mais poderoso
motivo de preocupação do consumidor, mesmo que em geral latente
e quase nunca consciente. [...]. “Fazer de si mesmo uma mercadoria
vendável” é um trabalho do tipo faça-você-mesmo e um dever
individual (BAUMAN, 2008b, pp. 75-76).
Entendo que os consumidores “sustentáveis” ou socioambientalmente
“corretos” realizam as suas escolhas de consumo com base em seus valores morais e
éticos, mas que tais critérios não os tornam, necessariamente, “boas” pessoas
preocupadas com o outro. Há outros fatores envolvidos... Guimarães (s/d) alerta que
ser “verde” é estar “ligado” ao nosso tempo, ou seja, significa ser condizente com os

29
discursos em prol das questões ambientais aos quais somos interpelados na ordem do
dia. Para o autor, o que está sendo posto em jogo é mais do que a produção de uma
subjetividade “verde” de indivíduos “amigáveis” com o planeta e com os outros seres
vivos; é a conexão indissolúvel entre este sujeito e as prerrogativas de um mercado em
renovação e expansão em direção ao lucro financeiro proporcionado pelo nicho
“verde”.

30
6.2 Pedagogias da “Natureza”: ensinamentos que visam ao lucro
Após este breve olhar para as conjunturas históricas, sociais, culturais, políticas
e econômicas em que puderam emergir as preocupações com as questões ambientais
– até o momento em que foram criadas condições para a construção discursiva do
campo da Educação Ambiental e do nicho de mercado do Consumo “Sustentável” –
proponho, agora, que atentemos para os ensinamentos sobre a “natureza” a que
somos submetidos cotidianamente, por vezes, sem percebermos. Guimarães (2008)
afirma que os modos como vemos e como nos relacionamos com a “natureza” são
resultantes do tempo e do espaço em que vivemos e que, portanto, são diversificados
e produzidos culturalmente. As nossas ações e escolhas cotidianas e as maneiras como
relatamos os acontecimentos e vemos a nós e aos outros são negociações que
estabelecemos com os significados que nos interpelam na e pela cultura. Neste
sentido, “é na cultura, nesse espaço de circulação e de compartilhamento de
significados, que vamos aprendendo a lidar com a natureza e, também, vamos
estabelecendo o nosso lugar no mundo [...]” (idem, p. 88).
Penso que constituímos as nossas identidades através das relações sociais que
estabelecemos com os nossos familiares, amigos, professores, colegas, vizinhos e,
também, por meio dos artefatos culturais que nos cercam – livros; programas de
televisão; filmes; rótulos de produtos; páginas de revistas, de jornais e da Internet;
busdoors; outdoors; vídeos publicitários, etc. –; formando, inclusive, o que
consideramos ser a “natureza”. Assim, inúmeras instâncias e práticas culturais, visando
obter lucro financeiro, tecem uma série de noções e de estratégias que nos ensinam
determinados modos de agirmos e de posicionarmo-nos em relação à “natureza”.
Economizar água e energia elétrica, separar o lixo orgânico do reciclável, e consumir
produtos “sustentáveis” são alguns exemplos. Estas pedagogias da “natureza” (como
estou denominando) são construídas por: emissoras de televisão, museus, empresas
de petróleo e de cosméticos, dentre outros; geralmente, de modo bastante atrativo –
com cores, sons, movimentos, frases curtas e linguagem de fácil compreensão.
A mídia figura como uma das instâncias sociais com destacado papel na
constituição do que consideramos ser “verdadeiro” e do que não. Na televisão

31
brasileira, inúmeros canais abertos além dos prioritariamente educativos – tais como a
TV Educativa de Porto Alegre (TVE) e a TV Cultura –, vêm abordando o tema
“natureza”, sobretudo, em relações com a “sustentabilidade” (resumidamente, palavra
empregada para englobar o tripé: ambiente, sociedade e economia). Isso pode ser
observado na Rede Globo de Televisão (rede com mais audiência no Brasil) nos
programas: Globo Natureza (apresentado nos intervalos da programação, patrocinado
por anúncios publicitários da linha de produtos Natura Ekos da empresa Natura
Cosméticos), Como Será?, Globo Repórter, Fantástico, Planeta Extremo, Domingão do
Faustão e, também, em telejornais (Jornal Hoje e Jornal Nacional); em minisséries
(Amazônia – De Galvez a Chico Mendes), e em novelas (Malhação, Sete Vidas,
Totalmente Demais, Velho Chico) – que, cada vez mais, retratam os problemas
socioambientais contemporâneos, como a falta e a poluição da água, o aquecimento
global e o desmatamento ilegal da Floresta Amazônica.
Os museus têm alcançado bastante destaque dentre as muitas práticas e
instâncias educativas que se valorizam hoje, seja por representarem a cultura de um
determinado lugar ou pelas tecnologias que vêm expondo. O Museu de Ciências e
Tecnologia (MCT) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
caracteriza-se por ser um museu de caráter lúdico e interativo, onde os visitantes
podem manusear quase todos os experimentos das exposições. Este museu foi
apontado pelo Trip Advisor categoria Melhores Museus - edição 2015 como o 9º
melhor do Brasil e 15º melhor da América Latina; e é apontado, pelo mesmo
aplicativo, como a melhor atração turística da cidade de Porto Alegre/RS, Brasil
(MUSEU DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA PUCRS, 2016; TRIP ADVISOR, 2016). Schwantes
(2007) analisa o MCT em relação à sua interatividade e às suas estratégias para o
ensino de Ciências. Além disso, a autora focaliza as ações educativas do museu
voltadas para o ensino sobre a “natureza”, como os dioramas de oito paisagens
brasileiras – litoral, capão litorâneo, banhado, campo, floresta amazônica, planalto de
araucárias, mar e cerrado – enquadrados em vitrines. Essas são dispostas lado a lado,
apresentando exemplares que representam a flora e a fauna de cada ambiente, por
meio de pinturas ou da técnica da taxidermia. Lenoir (1997, p. 57), ao analisar as
estratégias utilizadas pelos curadores das exposições de museus de história natural,
afirma que “o museu, embora seja um fragmento, evoca a experiência do significado e

32
variedade da natureza de maneira mais completa do que a própria natureza”, ao
apresentar os indivíduos mais coloridos, mais esteticamente belos e com as
proporções corporais mais “naturais”. Neste sentido, Schwantes (2007) compreende
que, nas exposições dos museus, são expostas visões sobre a “natureza” e sobre o
mundo como se fossem inquestionáveis, mas que foram construídas através do olhar
dos organizadores – “reforçando uma visão de Natureza que pode ser ordenada e
dominada, à imagem e semelhança das expectativas humanas” (idem, p. 322). Além
disso, a autora aponta que um museu interativo possibilita que os visitantes retornem
inúmeras vezes, pois sempre haverá algo novo. Nesta direção, o museu torna-se um
produto consumível, adquirido pela compra de um ingresso, onde “podemos consumir
tudo o que nos cerca: Natureza, jogos, experimentos, brincadeiras e, também,
conhecimento” (idem, p. 326).
As empresas, por sua vez, também utilizam-se de diversas estratégias para
ensinar sobre a “natureza” visando obter lucro financeiro. Ferreira (2007) problematiza
as ações educativas de uma das maiores empresas do Brasil e do setor de petróleo do
mundo, a Petrobras. Para a autora, os programas e projetos realizados pela corporação
são vistos por seus proponentes como “‘alternativas’ diferenciadas e mais eficazes do
ponto de vista educativo do que aquelas contidas nos livros didáticos e nas
explanações usuais das aulas de ciências sobre as fontes de energia, sua utilidade,
aplicabilidade (produtos e serviços)” (idem, p. 297), assim como do uso
ecologicamente “correto” das mesmas. Assim, os programas e projetos analisados por
Ferreira trazem “orientações” de como valorizar a produção da Indústria e,
simultaneamente, respeitar a “natureza”. Existem programas dirigidos às escolas com
o intuito de tornar a educação escolar mais dinâmica e contextualizada, divulgando a
importância do processo industrial e da tecnologia que a companhia utiliza, e
promovendo um estreitamento das relações entre a empresa e as escolas. Os
discursos pedagógicos presentes nestes projetos educativos da Petrobras prezam pela
aplicabilidade dos conteúdos escolares como uma possibilidade dos estudantes de
resolverem os problemas do cotidiano. Outro aspecto observado pela autora é que
nestes programas/projetos empresariais de cunho educativo estão presentes
enunciados sobre a “‘necessidade de manter-se a área industrial em total equilíbrio
com a natureza’ constituindo o discurso ecológico, mas, também, o pedagógico e o
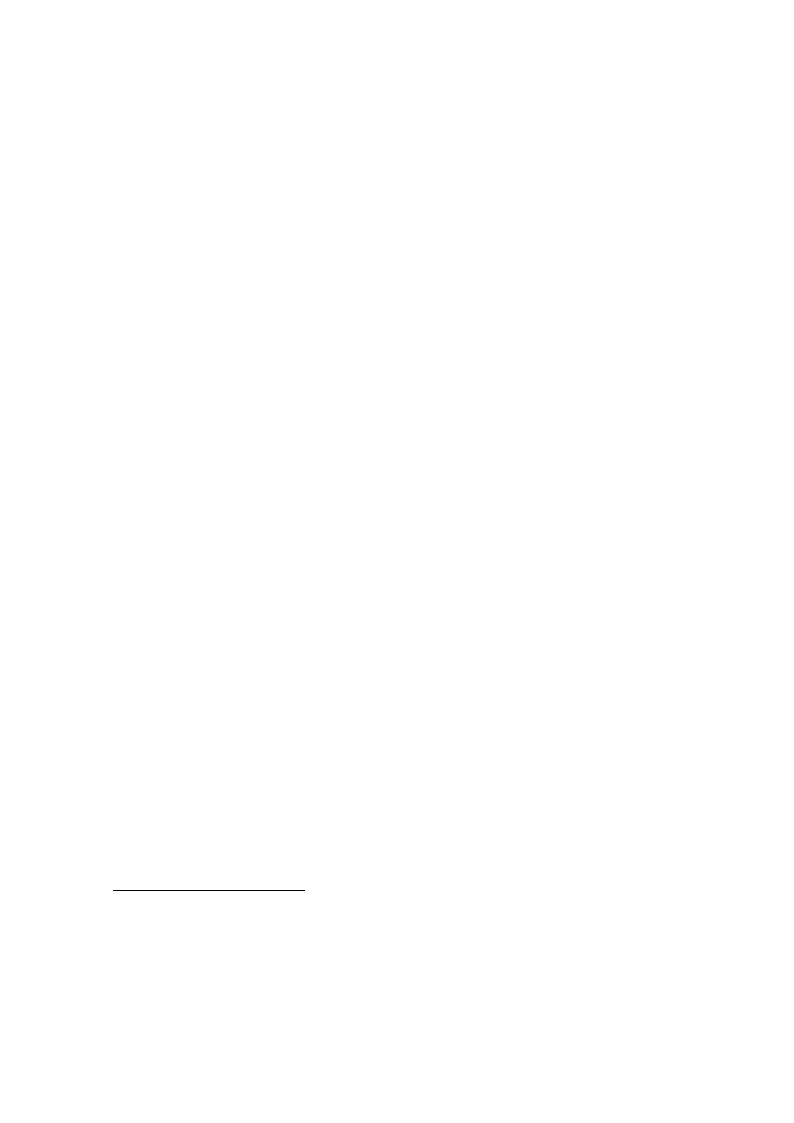
33
político, entre outros” (idem, p. 300). Neste sentido, estes discursos “integram redes
discursivas que constroem as visões e ações associadas à educação escolar, à educação
ambiental, ao desenvolvimento tecnológico e à soberania nacional” (idem, p. 300). O
discurso ecológico está sempre presente nos filmes publicitários da Petrobras e em
suas imagens, parecendo, para Ferreira, ser o aspecto mais enfatizado nos programas
dirigidos às escolas. A companhia intitula-se como defensora da natureza, mesmo que,
por vezes, ela possa ser a causadora dos efeitos danosos à mesma... A autora analisa
que o discurso ecológico não é uma exclusividade das empresas, visto que é
atravessado por outros discursos como o da mídia publicitária. Assim, os ensinamentos
em prol da “natureza” marcam a responsabilidade e o compromisso da Petrobras de
promover um ambiente em condições adequadas à manutenção e à qualidade de vida
da população. Tais pedagogias são produzidas por estratégias de marketing que
transformam acidentes ecológicos em projetos de educação ambiental8, fontes de
poluição em sinônimos de geração de emprego e de renda para a população, e áreas
desmatadas para a construção da planta industrial em parques ambientais
equilibrados, que servem para receber alunos de escolas e para manter a legitimidade
da empresa estatal perante as questões socioambientais. Além disso, considero
importante ressaltar que os discursos ecológicos ou as pedagogias da “natureza”
produzidas pela Petrobras contribuem para criar uma imagem “verde” ou
“sustentável” para a companhia, conferindo credibilidade e lucro financeiro para a
mesma, ao destacar-se para potenciais investidores internacionais.
Algumas empresas do setor de cosméticos utilizam-se do discurso em prol da
“natureza” relacionado ao bem-estar do consumidor consigo mesmo e com o outro, ao
reaproveitamento e à reciclagem de embalagens, ao fato de não realizarem testes com
animais, etc. Dentre estas companhias, no Brasil, a Natura Cosméticos destaca-se das
demais por ser a que apresenta o maior apelo ao consumo “sustentável” – sendo este
o seu diferencial no mercado, nas estratégias de marketing e no retorno financeiro. A
8 Aqui, Ferreira (2007) está referindo-se a um acidente ecológico ocorrido, em 1999, num dos afluentes
de um rio do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, com vazamento de óleo. Após o acontecimento, a
Petrobras promoveu um projeto ambiental de despoluição do rio, através de um convênio mantido com
vários órgãos e entidades, contando com ações de educação ambiental direcionadas a escolas da Região
Metropolitana de Porto Alegre e do Vale dos Sinos, e, também, com iniciativas voltadas à segurança em
casos de acidentes como vazamento de óleo e de combustíveis. Segundo a autora, este projeto
conseguiu melhorar a imagem da companhia diante da opinião pública, ao envolver a comunidade da
região.

34
Natura ensina sobre a “natureza” em seu sítio; em suas campanhas publicitárias
(outdoors, busdoors, vídeos publicitários); em suas revistas (digital e impressa); em
seus relatórios anuais; na concepção das suas linhas, nas embalagens e nos rótulos dos
seus produtos. Estas pedagogias da “natureza” produzidas pela Natura Cosméticos
serão analisadas de maneira aprofundada ao longo desta Dissertação.

35
6.3 Por que Estudar Anúncios Publicitários que Falam sobre a
“Natureza”?
A produção cultural da “natureza” exercida, por exemplo, pelas construções
discursivas da “biodiversidade” e da “sustentabilidade”9 está envolta por e em
inúmeras estratégias – sobretudo, econômicas, ambientais, científicas e midiáticas –
gerando inúmeros sentidos circulantes sobre como devemos pensar, considerar e
relacionarmo-nos com a “natureza”. Neste entendimento, trago discussões sobre o
papel atual que a mídia desempenha no ordenamento social e acerca dos
ensinamentos publicitários, que constituem a conexão entre o homem e a “natureza”
como estratégia para a venda de produtos – (re)criando um tipo específico de sujeito
consumidor: o “verde”, “sustentável” ou socioambientalmente “correto”.
Gradativamente, os meios de comunicação de massa, enquanto uma das
instâncias culturais implicadas na produção da “natureza”, passaram a veicular e a
instituir alternativas nos padrões culturais de consumo, por meio de redes discursivas
em direção a alternativas social e ambientalmente “corretas”. Estas mudanças para
uma linguagem em prol da “natureza” abarcaram: novos nichos de mercado; novos
tipos de prestações de serviços; novas classes profissionais; novos rótulos de produtos
alimentícios, cosméticos, têxteis e novas categorias de produtos. Desse último,
emergiram os chamados produtos sustentáveis – aqueles que ao longo de todo o
processo de extração, produção, transporte e descarte objetivam gerar menos danos
ao ambiente. Neste cenário, uma nova categoria de sujeitos consumidores, bastante
particular em seus princípios e critérios de escolhas, foi sendo interpelada e capturada
pelos apelos publicitários em prol da “natureza”: os socioambientalmente “corretos” –
aqueles que compram produtos e/ou serviços que atendam a condições sociais justas
e à conservação dos recursos “naturais” para as gerações futuras.
Desta maneira, o consumo não pode ser compreendido sem que se considere o
contexto cultural dos sujeitos, visto que “a cultura é a ‘lente’ através da qual as
9 A produção discursiva da “natureza”, a partir das noções de “biodiversidade” e de “sustentabilidade”,
será discutida no segundo Capítulo desta Dissertação.

36
pessoas veem os produtos”10 (SOLOMON, 2011, p. 568). Isso significa dizer que as
coisas, os valores, os desejos, as atitudes, as ações dos sujeitos (dentre elas, consumir),
só existem a partir de redes de significação que se articulam no campo social; nem as
coisas nem os significados estão dados para sempre, mas são constituídos social e
historicamente. Os significados não correspondem a uma qualidade essencial dos
objetos a ser revelada, pois a essência das coisas é uma invenção humana. Assim,
podemos dizer que as linguagens que utilizamos em diversas instâncias sociais estão
profundamente implicadas na instituição de práticas e na constituição de identidades
sociais (WORTMANN, 2005). Portanto, a linguagem é um elemento-chave para
analisarmos as direções em que a mídia se move quando fala sobre a “natureza” e os
sujeitos consumidores socioambientalmente “corretos”.
Conforme Souza (2007), hoje, os meios de comunicação de massa (rádio,
televisão, revistas, jornais, anúncios publicitários) constituem sofisticados mecanismos
de poder e configuram-se como importantes estratégias de regulação da sociedade,
articulando diversas tecnologias – imagens, sons, textos, cores – produzindo
determinados significados de estilo de vida. Nós, ao sermos interpelados por estes
significados, “com os quais aprendemos a nos identificar, incorporamos necessidades,
valores, desejos e formas de agir para alcançar a felicidade, por exemplo” (idem, p.
22). Nesta direção, anúncios publicitários buscam interpelar os consumidores por suas
necessidades. Essas podem ser de ordem biogênica, compreendida pelos elementos
indispensáveis à sustentação da vida, tais como água, alimento e abrigo, ou, de ordem
psicogênica, aquelas adquiridas no processo de se tornar membro de uma cultura, por
exemplo, status, poder e associação (SOLOMON, 2011). O segundo tipo torna-se
interessante para pensarmos sobre as estratégias publicitárias voltadas à captura dos
sujeitos, através daquilo que se diz sobre determinados produtos, interpelando e
constituindo consumidores. De acordo com Kellner (1995), os anúncios publicitários
configuram “textos culturais multidimensionais, com uma riqueza de sentidos que
exige um processo sofisticado de decodificação e interpretação” (idem, p. 112). As
10 Willis (1997) apresenta um interessante pensamento ao afirmar que consumimos até mesmo com os
olhos, sem a necessidade de efetivarmos uma troca econômica pela mercadoria. Neste sentido,
“absorvemos produtos com o olhar cada vez que empurramos um carrinho pelos corredores de um
supermercado, assistimos televisão ou dirigimos ao longo de uma rodovia pontuada por logotipos. O
consumo visual é de tal forma parte de nosso panorama cotidiano que não nos damos conta dos
significados inscritos em tais procedimentos” (idem, p. 44).
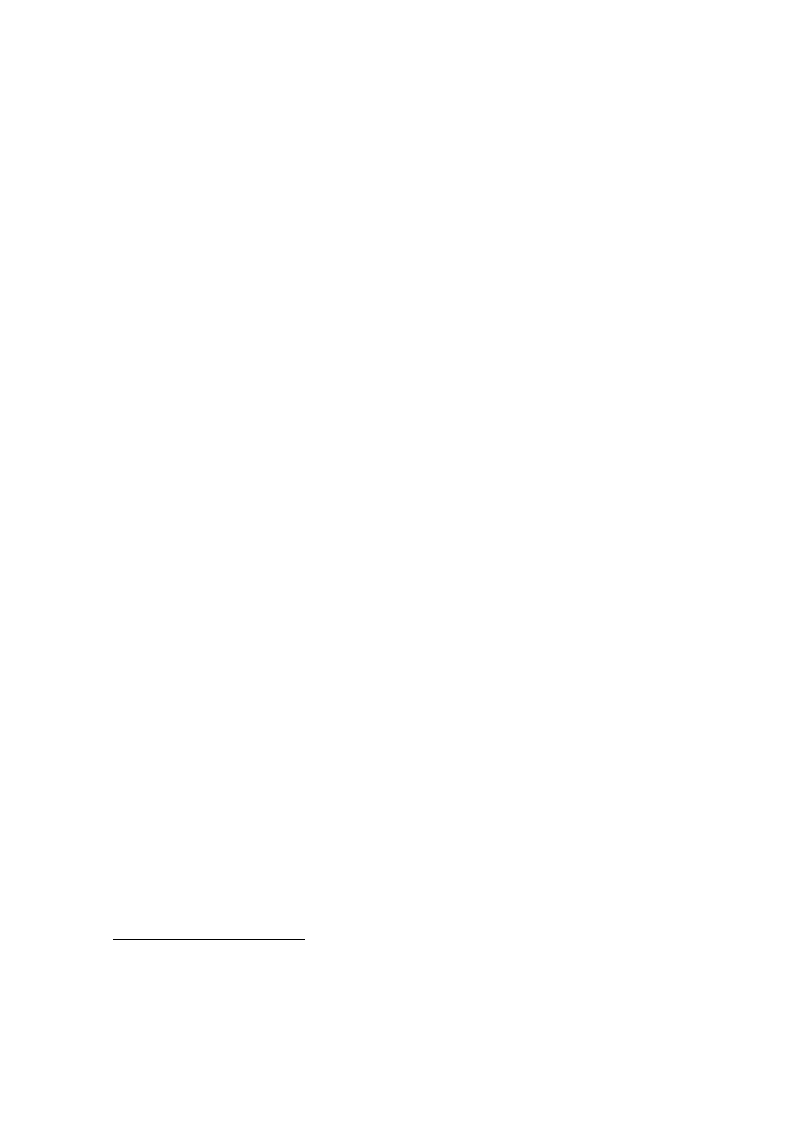
37
imagens publicitárias, por sua vez, constituem a linguagem não-verbal, veiculando
significados e mensagens simbólicas que, ao associarem características sociais
desejáveis aos produtos, vendem, simultaneamente, estilos de vida, posições de
sujeitos consumidores e produtos. Desta maneira, Woodward (1997) afirma que a
publicidade pode construir identidades, pois nela é prescrito o que devemos sentir e
desejar, a fim de ocuparmos uma determinada posição de sujeito – por exemplo, uma
mulher sedutora, uma dona de casa realizada ou um homem atraente. Para a autora,
os anúncios são eficazes em vender coisas somente se “tiverem um apelo para os
consumidores e se fornecerem imagens com as quais eles possam se identificar”
(idem, p. 18). Segundo Solomon (2011) “um produto que oferece benefícios coerentes
com o que os membros de uma cultura desejam em algum momento no tempo têm
muito mais chances de conquistar a aceitação do mercado” (idem, p. 568). Um
exemplo disto são os “cosméticos feitos de matérias naturais, sem testagem em
animais, o que refletiu as apreensões dos consumidores quanto à poluição, ao
desperdício e aos direitos dos animais” (idem, p. 568). Tal oportunidade de mercado é
a que a empresa Natura Cosméticos foi gradativamente inserindo-se e tem mostrado-
se cada vez mais rentável, conforme mais sujeitos consumidores alinham-se a estes
pensamentos e a estas formas de agir.
Segundo Kellner (2006), a nossa vida cotidiana é permeada por diferentes
níveis de espetáculo11. Esse, conforme o autor, é um dos princípios que organizam a
economia, a política e a sociedade, estendendo-se a diversos campos, tais como o
comércio, os esportes, a moda, a arquitetura, o erotismo, as artes, o terrorismo,
dentre outros. As nossas práticas cotidianas, de acordo com Kellner, estão sendo
redesenhadas pelos processos de globalização do mercado e de expansão da
informática e da microeletrônica e, desta maneira, estamos imersos em uma
sociedade do infoentretenimento, na qual anúncios publicitários e marketing são
partes essenciais do espetáculo global. Para o autor, há um entendimento de que as
formas de espetáculo evoluem conforme o tempo e a multiplicidade dos avanços
11 Douglas Kellner refere-se à noção de espetáculo como “uma forma alienante de manipulação
ideológica e econômica que nutre a cultura de lazer e entretenimento fácil, visando à docilização das
audiências. Nesse contexto, o espetáculo funcionaria como um duplo do mundo, operando com regras
próprias e inexoráveis em prol da despolitização e pacificação do público” (ROCHA; CASTRO, 2009, p.
50).

38
tecnológicos; havendo contradições, ambiguidades, instabilidades e imprevisibilidades,
que fazem com que as produções da “sociedade do espetáculo” nem sempre consigam
interpelar e atingir o público. Assim, Kellner (2001a, p. 11) considera que “o público
pode resistir aos significados e mensagens [...], criar sua própria leitura e seu próprio
modo de apropriar-se” dos elementos discursivos da mídia.
Posto isto, entendo que os valores atribuídos pelos indivíduos sejam um fator
importante no processo de recepção das mensagens dos anúncios e das imagens. Para
Solomon (2011), o valor designa “uma crença de que alguma condição é preferível à
sua condição oposta” (idem, p. 172), movendo os consumidores a comprarem aqueles
produtos que consideram relacionarem-se à determinada meta a ser atingida. Ao
encontro destas considerações, faz-se necessário discutir os valores éticos que temos
ao pensarmos e agirmos em relação à “natureza”. Grün (1994) considera que a
questão dos direitos ambientais concerne muito mais ao “campo educativo” do que a
uma normatização ou institucionalização jurídica dos problemas do ambiente. Assim,
“a questão dos valores é anterior a questão do direito. E a questão dos valores é uma
questão educativa” (idem, p. 180). Serres (1991) indica que a nossa relação com a
“natureza” é parasitária, visto que supomos ser os únicos sujeitos de direito pelo fato
de o havermos fundado. Assim, o sujeito do conhecimento e da ação dispõe de todos
os direitos, e seus objetos de nenhum. Para o autor,
É por isso que necessariamente entregamos as coisas do mundo à
destruição. Dominadas, possuídas do ponto de vista epistemológico,
menores na consagração pronunciada pelo direito, elas nos recebem
como anfitriãs sem as quais, amanhã, deveremos morrer.
Exclusivamente social, nosso contrato se torna mortífero para a
perpetuação da espécie (SERRES, 1991, p. 49).
Nesta linha de raciocínio, Grün (1994) afirma que a educação moderna, muitas
vezes, vê a “natureza” como um objeto inerte e passivo à espera de um corte analítico
do ser humano. A “natureza” desantropomorfizada e desprovida de valor tem sido a
nossa referência educativa: “[...] existe, em nossa cultura (ocidental), um pressuposto
solidamente enraizado de que a natureza em si mesma não possui valor algum” (idem,
p. 185). Felizmente, existe uma pequena parcela da comunidade científica e grande
parte dos movimentos ecológicos em processo de desaprendizagem do corpo de
conhecimentos e de valores que um dia foram considerados “corretos” e

39
“inabaláveis”. Estes grupos têm reafirmado: “a vida é um valor tomada por si mesma.
Qualquer vida” (idem, p. 186). Nesta perspectiva, é importante considerarmos nesta
discussão, também, o valor intrínseco da “natureza”. Diz-se que algo tem valor
intrínseco quando tem valor por si, valor inerente. A noção de valor intrínseco que o
autor utiliza aqui é oposta a noção de valor instrumental, na qual a “natureza” tem
valor apenas quando há algum interesse utilitário em questão. Para Leff (2013), “os
valores ambientais surgem contra a cultura do poder fundado na razão tecnológica e
na racionalidade econômica. [...] reinvidicam-se os valores da subjetividade, da
diversidade cultural, da democracia participativa e da tolerância” (idem, p. 87). Ao
encontro disto, a ética ambiental relaciona a conservação da biodiversidade ao
respeito com a heterogeneidade étnica e cultural dos indivíduos, de maneira a
articular ambos os princípios, visando preservar os recursos “naturais” e a envolver as
comunidades na gestão do seu ambiente. Entretanto, os valores ambientais e a ética
ambiental têm sido sistematizados por conceitos e teorias, sendo articulados com as
bases materiais de uma nova racionalidade produtiva (ecotecnológica), por meio de
instrumentos técnicos, normas jurídicas, políticas científicas, movimentos sociais e
estratégias políticas; constituindo uma racionalidade para a gestão ambiental do
desenvolvimento. Neste entendimento, apresentamos diferentes valores éticos em
relação à “natureza”, pois há múltiplas instâncias culturais que nos ensinam o que
desejar, o que valorar, como pensar e como agir. Para Solomon (2011), cada sujeito
será interpelado pela publicidade de maneira diferente12. Aquilo que é valorizado ou
não por determinada cultura é aprendido por meio de vários agentes de socialização,
dentre eles, os pais, os amigos, os professores e a mídia13 – essa, aqui, particularmente
interessante.
12 Ao encontro disto, Louro (1999, p.25, grifos meus) afirma que “[...] a produção dos sujeitos é um
processo plural e também permanente”. Além disso, é interessante pensarmos sobre os diferentes níveis
de atenção que as propagandas atuais e as antigas provocam-nos. De acordo com Dulac (2007, p. 89),
“dispensamos às propagandas antigas, muitas vezes, uma atenção maior do que às propagandas
contemporâneas e isso pode estar relacionado com o afastamento que nos é permitido tendo em vista
sermos as consumidoras [a autora refere-se a produtos de beleza destinados a mulheres] potenciais
para as quais são criadas, ao contrário daquelas”. Para a autora, não há um modo “natural” de ser
mulher; inato às muheres por ser parte de sua “natureza”; a feminilidade e a beleza são entendidas
como construções histórico-culturais.
13 Conforme Louro (1999, grifos meus), homens e mulheres adultos são “gravados” por determinados
comportamentos e modos de ser ao longo de suas histórias pessoais. Para que estas marcas sejam
efetivas, “[...] um investimento significativo é posto em ação: família, escola, mídia, igreja, lei participam
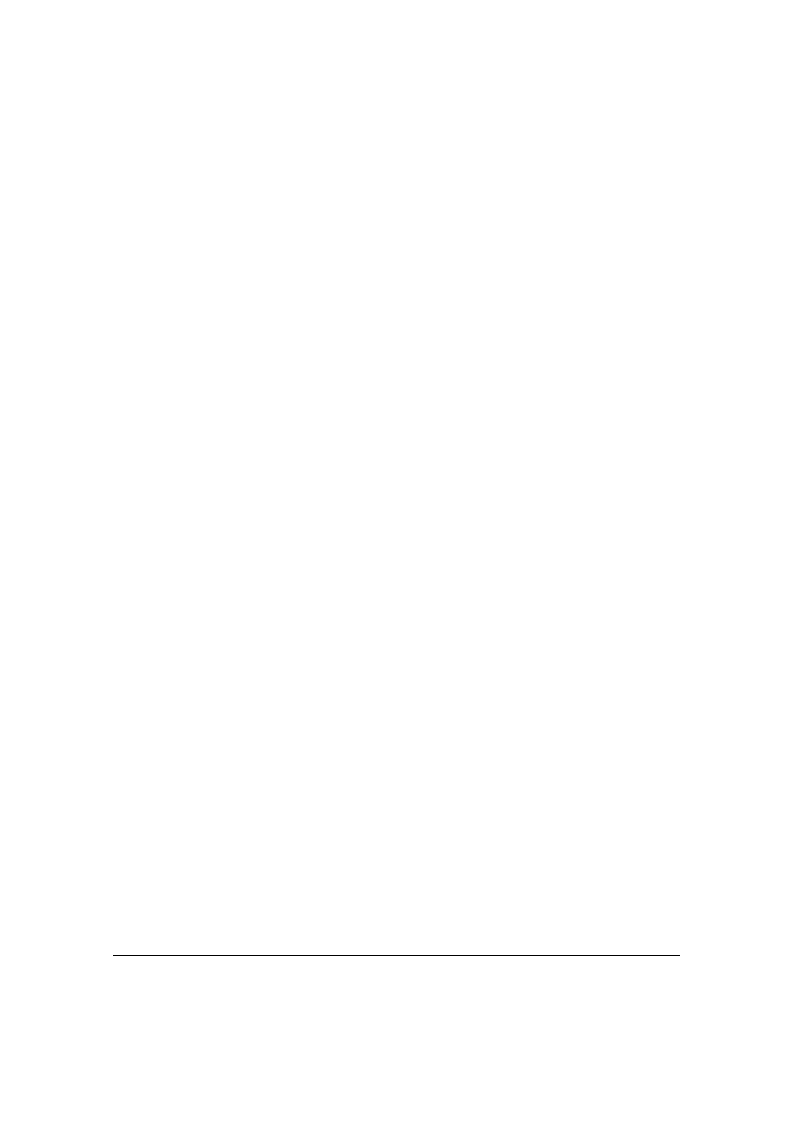
40
Kellner (2001b) menciona que a nossa época é marcada pela cultura da mídia,
que toma o lugar das instituições tradicionais (como a Igreja) e atua como o principal
instrumento na socialização de jovens e de adultos. Conforme o autor, cada vez com
mais frequência, os meios de comunicação de massa conferem papéis aos sujeitos,
atuando como elementos formadores de suas identidades, de modo a ultrapassar,
muitas vezes, os efeitos produtivos das ações dos pais ou dos professores. No entanto,
Fischer (2002) alerta-nos para o papel que a família e, sobretudo, a escola,
hipocritamente, exercem ao questionarem os significados que circulam na mídia, como
se somente ali estivessem os erros, os pecados, as distorções das “verdades”, e como
se em seus próprios espaços (familiar e escolar) não se produzissem inúmeros
preconceitos, violências, discriminações; não se procurasse classificar arbitrariamente
os indivíduos.
Neste sentido, os meios de comunicação de massa contemporâneos
apresentam um papel central na produção e na divulgação de “verdades”, o que os
tornou importantes ensinamentos circulantes na cultura, pois mais do que informar,
educam os indivíduos acerca do mundo. A partir deste entendimento, o estudo tomou
os vídeos publicitários como pedagogias culturais, ou seja, como um meio que ensina
através das “verdades” que veicula, funcionando como uma estratégia reguladora da
sociedade contemporânea. Kellner (1995) considera que a publicidade exerce uma
pedagogia, ao ter como finalidade educar os indivíduos sobre o que eles precisam e
devem desejar, pensar e fazer para serem felizes e bem-sucedidos. Segundo Giroux;
McLaren (1995), há pedagogia em qualquer lugar em que experiências sejam
traduzidas e “verdades” construídas, mesmo que se tenha a sensação de que elas
sempre tenham sido as “verdades válidas”. Consequentemente, “aprendemos muito
sobre as prioridades de uma cultura observando os valores comunicados pelas
propagandas” (SOLOMON, 2011, p. 175). Rocha; Castro (2009) afirmam que o
marketing e a propaganda são vistos, hoje, como instâncias que desempenham
importantes papéis na segmentação e na educação dos indivíduos – novos gostos,
novas tendências e novos estilos. Nesta direção, Featherstone (1995) observa que os
dessa produção. Todas essas instâncias realizam uma pedagogia, fazem um investimento que,
frequentemente, aparece de forma articulada, reiterando identidades e práticas hegemônicas enquanto
subordina, nega ou recusa outras identidades e práticas; outras vezes, contudo, essas instâncias
disponibilizam representações divergentes, alternativas e contraditórias” (idem, p. 25).
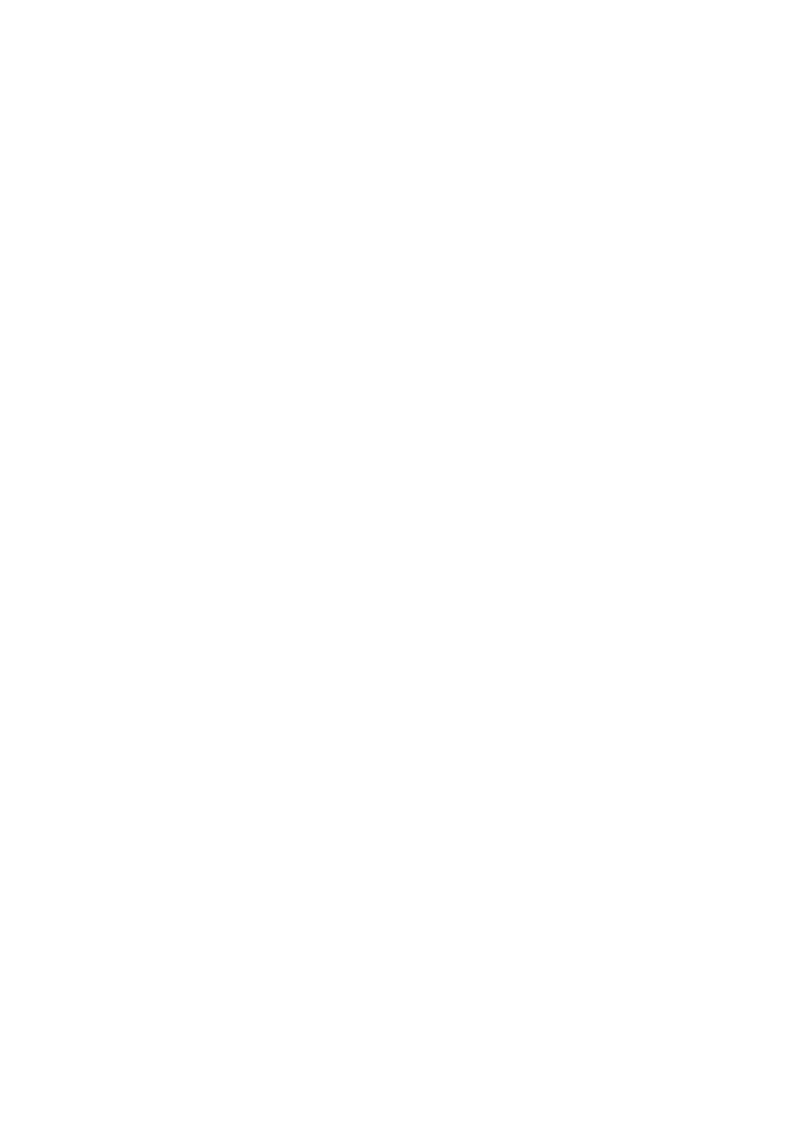
41
profissionais atuantes nestas áreas auxiliam a “modelar e criar os mundos de sonhos”
(idem, p. 111), considerando a mídia implicada na constituição do imaginário social.
Costa (2002) considera que adultos, jovens e crianças, de algum modo, têm
seus campos de ação estruturados por poderes e saberes produzidos, detidos e
exercidos pela mídia, em troca do prazer e do fascínio que ela suscita (referindo-se, em
particular, ao veículo televisivo). Conforme a autora, não podemos passar ilesos por
suas telas, visto que os meios de comunicação de massa produzem nossas identidades
e subjetivam-nos. Ao encontro destas considerações, Louro (2002) também enfatiza a
importância de considerarmos a mídia como uma pedagogia cultural:
Hoje, passa-se a comprender que importantes processos educativos
estão ocorrendo em muitos outros locais além das escolas e através
de operações tecnológicas e culturais muito diversificadas. [...] Essa
nova ótica supõe que se considere a cultura e, mais especificamente,
as múltiplas formas de cultura popular, como “pedagogias culturais”.
Todas essas instâncias passam a ser compreendidas não apenas
como transmissoras de conhecimento, de valores ou de verdades,
mas como eficientes produtoras de identidades (LOURO, 2002, p.
206).
A partir destes entendimentos, penso ser muito importante dirigirmos os
nossos olhares – como educadores/as, pesquisadores/as e cidadãos/cidadãs – para as
inúmeras formas de ensino, além dos muros das escolas e demais instituições de
ensino, que estão postas em circulação, interpelando-nos, constituindo-nos e
subjetivando-nos. Se há ensino não só nas salas de aula, o campo da Educação pode e
deve tornar-se atento ao que está acontecendo neste processo. Precisamos utilizar
outras lentes para lermos o que não está dito, pensarmos de outros modos,
questionarmos... Como e por que o conceito de “natureza” foi (re)inventado e
(re)construído ao longo dos tempos/espaços? Como e de que lugar a “natureza” vem
sendo narrada pela mídia? Com que intenção midiática a “natureza” passou a ser
apresentada como algo a ser valorizado, buscado e cuidado? Como são constituídos os
sujeitos consumidores socioambientalmente “corretos”? Cabe a nós, professores/as,
diversificarmos os nossos leques de estratégias metodológicas e expandirmos os
nossos horizontes, de modo que seja possível “ler, analisar e decodificar os textos da
mídia” (KELLNER, 2001a, p. 425); possivelmente, tornando as nossas aulas mais
dinâmicas, atrativas e compreensíveis.
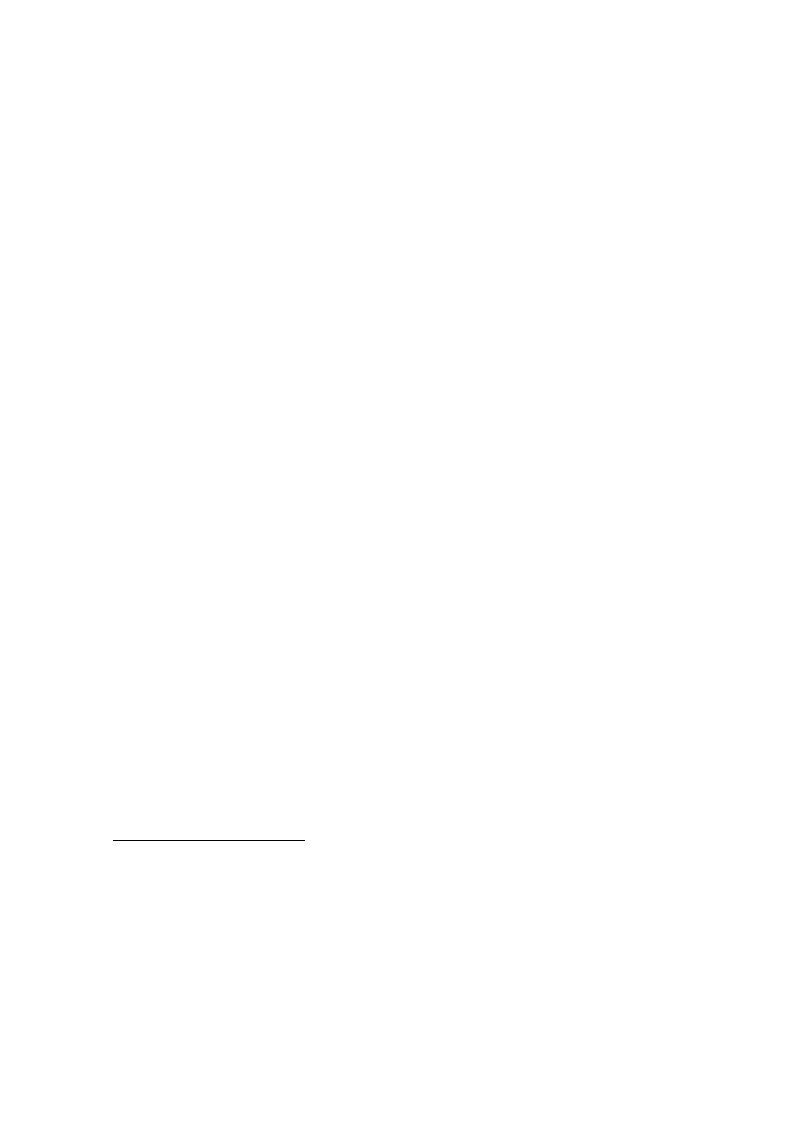
42
A perspectiva dos Estudos Culturais permite-nos, justamente, olharmos o
objeto de pesquisa sob diversos prismas, e, também, examinarmos as diversas
instâncias culturais implicadas na constituição das subjetividades, das formas de
pensar e de agir em relação a nós e ao mundo14 – como a publicidade. Essa se tornou,
de certo modo, para Kellner (1995), o “discurso político dominante do século XX, com
suas imagens de mercadorias, consumo, estilos de vida, valores e papéis de gênero
deslocando outras formas de discurso político” (idem, p. 111), e “pode ser uma das
principais forças de moldagem do pensamento e do comportamento” (idem, p. 112).
Neste sentido, aquilo que pensamos e o modo como intervimos e nos vemos em
relação ao que aprendemos ser a “natureza” também é adquirido e apreendido por e
em práticas culturais.
Tais entendimentos moveram-me a analisar o que se diz e como se fala sobre a
“natureza” em vídeos publicitários da campanha midiática “Somos Produto da
Natureza”15 pertencente à linha de produtos Natura Ekos da empresa Natura
Cosméticos. A seleção do material pautou-se por elementos que propiciassem uma
análise dos discursos sobre a “natureza” postos em circulação, que funcionam como
um importante diferencial para a venda de produtos por parte da publicidade. Este
nicho midiático “sustentável” atrelado à Indústria de produtos “sustentáveis”, visa
interpelar e atingir sujeitos consumidores socioambientalmente “corretos”, que têm
interesse em adquirir estes tipos específicos de produtos ou que passarão a ter
curiosidade em conhecer estas mercadorias diferenciadas, a partir dos apelos
publicitários – sons, cores, imagens, movimentos, slogans, discursos, enunciados –,
que vendem uma ideia de “natureza” estética, ética e moralmente benéfica, que deve
ser preservada e buscada ao ser consumida.
14 Nesta linha de raciocínio, Amaral (1997b) alerta-nos (em particular, no papel de docentes) para as
mudanças (científicas, tecnológicas, midiáticas, “internéticas”, etc.) do tempo em que vivemos, ao
afirmar que é nele “que somos chamados a atuar, a fazer escolhas, a selecionar textos e conteúdos para
nossos estudantes. [...] Em seu trabalho cotidiano, os educadores necessitam estar mais atentos às
formas plurais de produção de sentido no nosso mundo atual” (idem, p. 84).
15 Penso a análise de peças publicitárias ao encontro do que propõe Bicca (2007) – além de suas
possíveis ligações ao consumo e ao entretenimento, vendo-as como formas de pedagogia que nos
ensinam valores, modos de vida e visões de mundo. Assim, considero que a publicidade classifica,
constitui e define os sujeitos de muitas maneiras, por meio de inúmeras estratégias publicitárias (sons,
cores, imagens, movimentos, narrativas e enunciados).
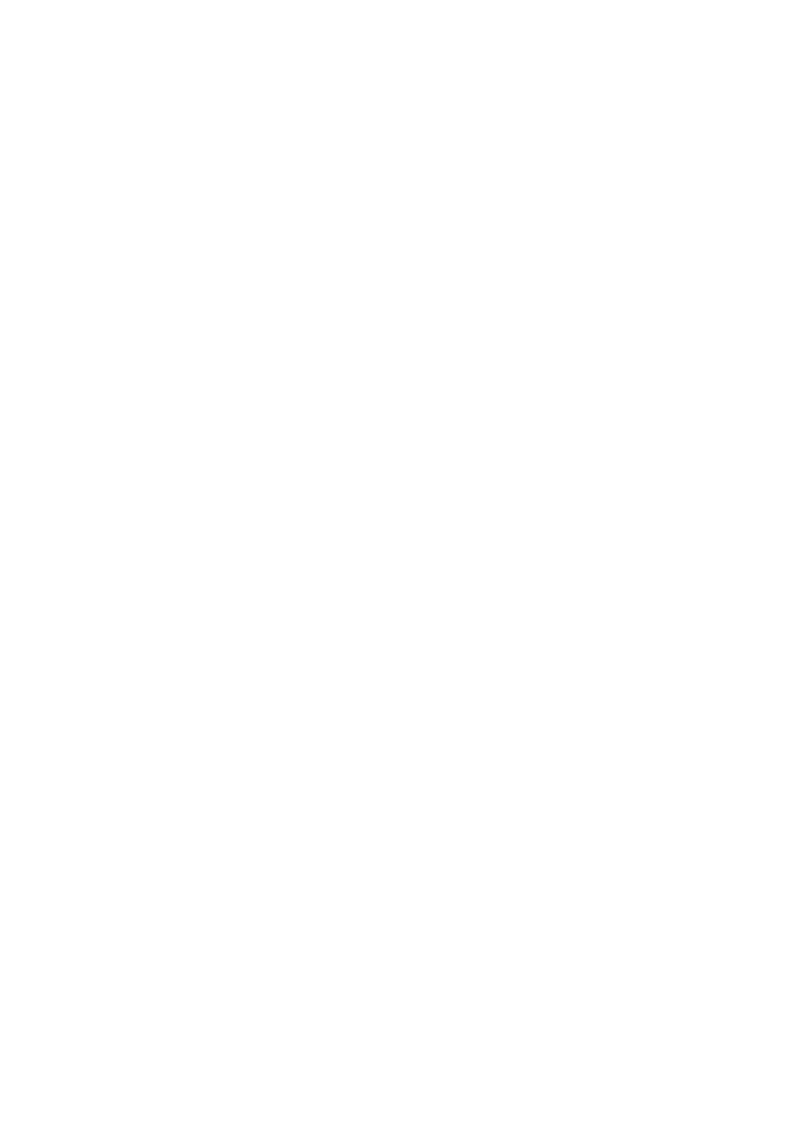
43
6.4 Apresentação da Organização da Dissertação
O corpo desta Dissertação está organizado em cinco partes: um tópico
introdutório, três capítulos e um item sobre as considerações finais do estudo. O
primeiro capítulo corresponde ao embasamento teórico-metodológico da pesquisa; o
segundo, às discussões sobre as noções e compreensões acerca da “natureza” em
diferentes momentos históricos, e o terceiro, às análises de quatro vídeos publicitários
veiculados pela campanha “Somos Produto da Natureza” da linha de produtos de
higiene e cosmética Natura Ekos pertencente à empresa Natura Cosméticos.
O primeiro movimento deste estudo foi embasar-me em ferramentas teórico-
metodológicas do campo dos Estudos Culturais da Ciência e da Educação, em suas
vertentes pós-estruturalistas. Assim, durante o Capítulo 1, trago algumas
considerações acerca deste campo, discutindo as noções de cultura, virada cultural,
pós-modernidade, poder enquanto relação de poder, jogos de verdade, linguagem,
classificação e imagem. Apresento um olhar para a empresa Natura Cosméticos, para a
linha de produtos de higiene e cosmética Natura Ekos, e para a campanha publicitária
“Somos Produto da Natureza”. Abordo a emergência e a importância das pedagogias
culturais, entendendo que: a) a educação está envolvida em relações de saber/poder;
b) a cultura é pedagógica e a pedagogia é cultural; c) há inúmeras instâncias e práticas
culturais que nos ensinam determinadas “verdades”; d) a mídia exerce um papel
eminentemente pedagógico, ao (in)formar os sujeitos sobre o mundo, subjetivando-
os; e) a publicidade é uma das principais forças de moldagem dos nossos pensamentos
e comportamentos; f) a cultura é a lente pela qual os indivíduos veem os produtos; g)
cada sujeito é interpelado de modo distinto pela publicidade, pois constitui-se por
diferentes agentes de socialização, artefatos culturais e valores, e h) os anúncios
publicitários utilizam-se de inúmeras estratégias para ensinar sobre a “natureza” –
formando sujeitos consumidores socioambientalmente “corretos” de produtos
“biodiversos” e “sustentáveis”, de maneira a obter lucro financeiro com a construção
de uma imagem “verde”. Neste sentido, compreendo que o alfabetismo crítico em
relação à mídia, em leituras críticas de elementos discursivos e não-discursivos, seja de
extrema importância, a fim de que se possam provocar alguns deslocamentos nos

44
modos de pensar e de agir em relação às pedagogias da “natureza” constituídas pela
publicidade.
O segundo movimento desta pesquisa foi entender as noções de “natureza”
como construções culturais produzidas em determinados tempos, espaços e contextos
sociais, políticos e econômicos, em meio a diversos embates e relações de poder.
Neste sentido, ao longo do Capítulo 2, teço uma breve revisão histórica sobre as
compreensões de “natureza” desde a Antiguidade Grega (séculos VI a.C. - III d.C.) até
os dias de hoje. Além disso, empreendo uma discussão da “natureza” como efeito de
tecituras culturais, analisando a mesma sob alguns entendimentos do sociólogo Bruno
Latour. Por fim, neste Capítulo, discuto as noções de biodiversidade e de
sustentabilidade como construções discursivas recentes associadas à produção da
“natureza” – que se tornou uma das mais poderosas armas do discurso ocidental, ao
acolher o discurso do desenvolvimento sustentável e promover uma nova, limpa e
socialmente aceitável maneira de imperialismo global...
O terceiro movimento desta Dissertação foi analisar e discutir quatro vídeos
publicitários da linha de produtos de higiene e cosmética Natura Ekos da empresa
Natura Cosméticos. Os anúncios ensinam-nos certos modos de sentirmos, pensarmos,
estarmos e agirmos em relação à “natureza”, articulando determinados elementos
discursivos e não-discursivos produtores de sentido. Ao ensinar, os vídeos integram a
constituição dos sujeitos consumidores socioambientalmente “corretos” construindo o
entendimento de que tanto os indivíduos quanto os produtos são a “natureza” e de
que, portanto, adquirir e consumir os produtos Ekos é pertencer à “natureza”.

45
CAPÍTULO 1
Vídeos Publicitários e Educação:
potentes ensinamentos sobre a “natureza”
Ao contrário do que se pensa, se as margens limitam e contêm o rio,
dão a ele forma e curso, não são as margens que produzem o rio, mas
justamente o contrário, é o fluxo das águas, o passar incessante de
seus torvelinhos que vai escavando as margens, dando a elas
contornos, é o rio que produz suas margens (ALBUQUERQUE JÚNIOR,
2007, p. 29).
A partir da citação acima, podemos fazer uma analogia entre os elementos
elencados por Albuquerque Júnior e os que constituem esta pesquisa. O rio poderia ser
pensado como o objeto desta Dissertação (a empresa Natura Cosméticos) e as
margens, como a estratégia teórico-metodológica (o campo dos Estudos Culturais)
com a qual operei. Durante os dois anos de Mestrado, o material empírico com que
trabalhei passou por inúmeras mudanças – no sítio, nos produtos, nas campanhas, nos
anúncios publicitários, etc. –, bem como eu alterei bastante as lentes com quais
enxerguei este objeto, tendo em vista as diversas leituras que fiz e refiz ao longo deste
período. Assim, entendo que o material empírico da pesquisa e os seus movimentos
foram decisivos para que eu pudesse definir os caminhos metodológicos que trilharia e
não tanto o contrário. Neste capítulo, apresento o objeto do estudo, as escolhas que
me levaram ao mesmo e as ferramentas teórico-metodológicas nas quais me embasei
para analisá-lo – os Estudos Culturais da Ciência e da Educação, com análise de
Pedagogias Culturais –; considerando, portanto, os vídeos publicitários como
pedagogias culturais, que operam em nosso cotidiano ensinando-nos como devemos
ser, estar, sentir e agir em relação à “natureza”, de modo a constituir nossas
identidades e subjetividades como sujeitos consumidores.

46
7.1 Caminhos Metodológicos da Dissertação
Esta pesquisa teve como objeto de análise a campanha publicitária “Somos
Produto da Natureza” da linha de produtos de higiene e cosmética Natura Ekos da
empresa Natura Cosméticos. O conjunto destes anúncios publicitários foi examinado
ao longo do ano de 2015, através de quatro vídeos, divulgados entre 2012 e julho de
2015 no sítio da Natura. Atualmente, estes materiais audiovisuais – muito sofisticados
em termos de produção de imagens e de narrativas – encontram-se disponíveis no
sítio do YouTube; pois, em agosto de 2015, Ekos lançou uma nova campanha
publicitária: “Viva a sua Natureza”. Os vídeos analisados neste estudo foram os
seguintes: “Natura Ekos - Somos Produto da Natureza” (1min); “Making Of - Natura
Ekos & Emma Hack” (2min 33s), “Conheça a Nova Linha Natura Ekos Corpo” (1min 49s)
e “Da Floresta para o seu Banho” (4min 09s) (NATURA COSMÉTICOS, 2014a, 2014b,
2014c, 2014d). Segundo Amaral; Conceição (2013), a estreia da campanha “Somos
Produto da Natureza” ocorreu na TV, no ano de 2012, durante o horário nobre da
Rede Globo de Televisão e, também, no cinema, em um happening (um tipo de
propaganda interativa) – que verificou e exibiu os batimentos cardíacos de alguns
espectadores, enquanto veiculava o vídeo publicitário na tela do cinema –, visando
aproximar ainda mais a empresa, a campanha, o consumidor e os produtos. As
escolhas pelo objeto de estudo, pelos materiais audiovisuais e pelo recorte temporal
da análise foram orientadas com o intuito de dispor de elementos discursivos e não-
discursivos que propiciassem uma análise dos ensinamentos sobre a “natureza” postos
em circulação, operando como importantes diferenciais para a venda de produtos
“biodiversos” e “sustentáveis” por parte da mídia publicitária.
A fim de analisar os vídeos publicitários mencionados anteriormente, utilizei-
me de ferramentas teórico-metodológicas dos Estudos Culturais da Ciência e da
Educação, em suas vertentes pós-estruturalistas. Nesta direção, pretendi tecer um
trabalho que articulasse diferentes campos: “natureza”, cultura, política, mídia
publicitária, ciência, e consumo; a partir de saberes oriundos das áreas da Educação,
da Filosofia, da Sociologia e da Comunicação.
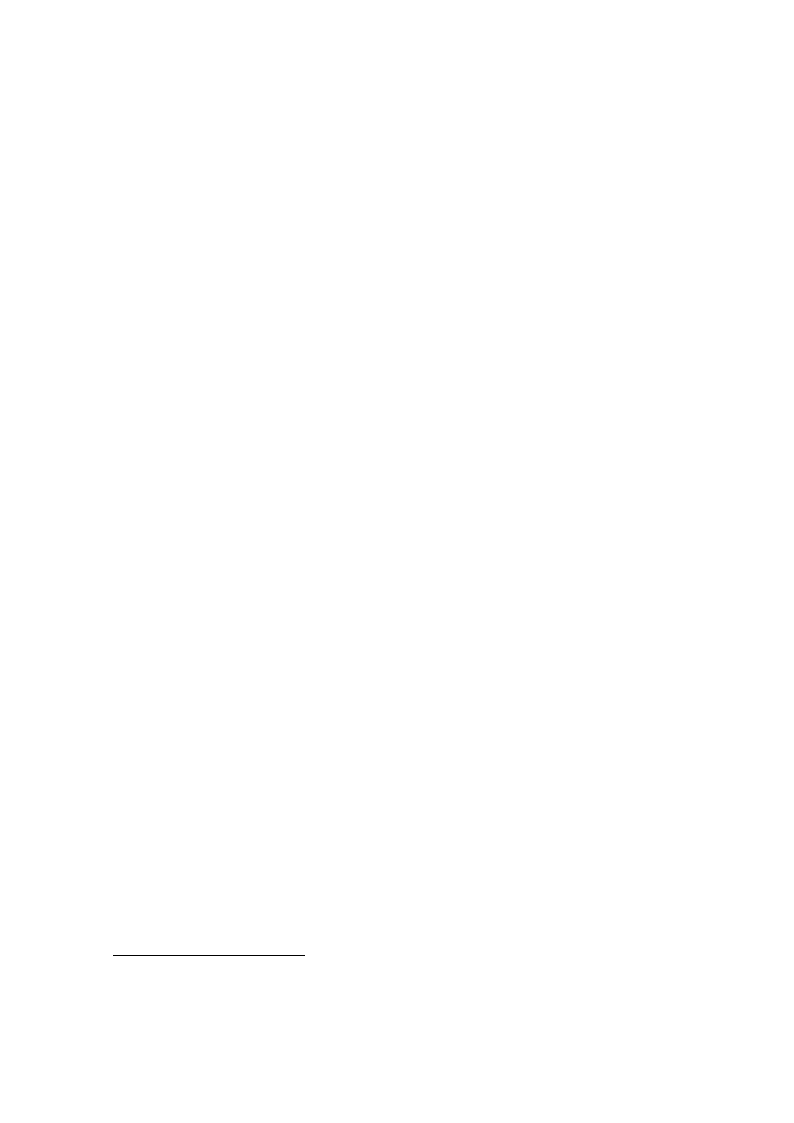
47
No próximo item deste tópico, apresento a empresa Natura Cosméticos, as
condições em que a mesma foi concebida, e as suas noções e premiações em relação à
“sustentabilidade”. Em seguida, focalizo a linha de produtos Natura Ekos e os intuitos
pelos quais a mesma foi (re)construída ao longo do tempo e das mudanças de
pensamentos e de atitudes dos indivíduos em relação às questões ambientais. Por fim,
justifico os motivos pelos quais considero importante olharmos atentamente para os
vídeos publicitários da campanha “Somos Produto da Natureza” e para os seus
ensinamentos sobre a “natureza”, visando à constituição de sujeitos consumidores
socioambientalmente “corretos”.
7.1.1 Um Olhar para a Empresa Natura Cosméticos
Na perspectiva de um mercado emergente voltado para fortes apelos em prol
da “natureza” e da sustentabilidade, a empresa Natura Cosméticos foi fundada em
1969, tendo o próprio nome o significado de “natureza” em latim (NATURA
COSMÉTICOS, 2015a). Desde então, a Natura vem sendo apontada, por critérios de
sustentabilidade empresarial16, como a empresa mais sustentável do Brasil e como a
44ª do mundo, segundo o ranking internacional The Global 100 Most Sustainable
Corporations (em português, “As 100 Corporações Globais Mais Sustentáveis”),
divulgado em 21 de janeiro de 2015, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos,
na Suíça (CORPORATE KNIGHTS, 2015). Em 27 de janeiro de 2016, conforme o mesmo
ranking, a Natura Cosméticos foi indicada pelo sétimo ano consecutivo como uma das
100 empresas mais sustentáveis do mundo, figurando na posição 61 da lista (NATURA
COSMÉTICOS, 2016a; CORPORATE KNIGHTS, 2016). Este levantamento anual é
realizado desde 2005, contemplando as companhias com as melhores práticas de
sustentabilidade corporativa, conforme os seguintes indicadores principais: energia,
16 Penso ser importante dizer que não estou julgando se considero ou não a Natura Cosméticos uma
empresa sustentável ou socioambientalmente “correta”, mas sim citando o que pode ser conferido no
sítio da empresa e em notícias e rankings empresariais a níveis nacional e internacional sobre
sustentabilidade.

48
emissões de carbono, consumo de água, resíduos sólidos, capacidade de inovação,
pagamentos de impostos, relação entre o sálario médio do trabalhador e o do CEO,
planos de previdência corporativos, segurança do trabalho, percentual de mulheres
em cargos de gestão e “bônus por desempenho” – quando a remuneração dos
executivos está, de alguma maneira, atrelada ao desenvolvimento da sustentabilidade
empresarial (ECO DESENVOLVIMENTO.ORG, 2015). Em 2014, a Natura passou a
compor o Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) – referência para investidores
que pautam as suas decisões por questões socioambientais (NATURA COSMÉTICOS,
2015a). De acordo com o relatório de resultados de 2014 da Organização, este
reconhecimento reforça o posicionamento da empresa com investidores que buscam
apoiar o desenvolvimento de negócios mais sustentáveis (NATURA COSMÉTICOS,
2015a). A Natura acredita na inovação como um dos pilares para o seu modelo de
desenvolvimento sustentável. Recentemente, a empresa recebeu o certificado B Corp
– que designa uma rede global de empresas e de organizações que associam o seu
crescimento econômico à promoção de bem estar social e ambiental –, e o prêmio
ambiental da Organização Mundial das Nações Unidas (ONU), Campeões da Terra
2015, na categoria Visão Empresarial (NATURA COSMÉTICOS, 2016d).
A Natura Cosméticos disponibiliza de maneira voluntária anualmente, em seu
sítio, relatórios (em português e em inglês) acerca de suas atividades e de seus
impactos sociais, ambientais e econômicos, ressaltando temas como: gestão de
recursos hídricos; gestão de resíduos sólidos; mudanças climáticas;
empreendedorismo sustentável; qualidade nas relações; sociobiodiversidade, e
educação. Tal iniciativa vai além de uma prestação de contas para os consumidores e
fornecedores; demonstra, efetivamente, o interesse da empresa por destacar-se de
suas concorrentes do setor de higiene e de cosmética tanto nacional quanto
internacionalmente. Outra estratégia de diferenciação da organização é a confecção
de produtos a partir de bioativos brasileiros, em harmonia com os períodos das safras
dos recursos “naturais” (NATURA COSMÉTICOS, 2015a). Além disso, a Natura
Cosméticos vem tornando-se cada vez mais próxima de seus clientes, sobretudo desde
2015. Isso pode ser percebido através das transformações no seu sítio – mais fácil de
navegar, por meio de links de acesso direto a informações específicas, separações

49
entre produtos masculinos e femininos, opções de compra online e de produtos em
promoção –, e da campanha publicitária “Chame Que Vem”, com uma proposta
bastante direta de convidar os consumidores a chamarem os produtos Natura para
suas casas, designando um processo mais ágil e mais cômodo de consumo: o digital
(NATURA COSMÉTICOS, 2016b; 2016c). Hoje, a empresa está presente em sete países
da América Latina e, também, na França; contando com uma rede de 7 mil
colaboradores e de 1,5 milhão de consultores/as, além de fornecedores e de outros
parceiros (NATURA COSMÉTICOS, 2016d).
7.1.2 A Linha de Produtos Cosméticos e de Higiene Natura Ekos
Dentre as linhas de produtos de higiene e de cosmética da Natura, a Natura
Ekos é o exemplo mais característico do apelo em prol da “natureza” e da
sustentabilidade. Desde a sua concepção, em 2000, Ekos foi particularmente pensada
e produzida para ser o grande símbolo das preocupações socioambientais da empresa
(NATURA COSMÉTICOS, 2015b; 2015c):
Natura Ekos é a marca que, desde seu nome, nos religa com a
natureza. Do grego, oikos significa “a nossa casa”, do tupi-guarani,
ekó é sinônimo de vida, e no latim, echo corresponde a tudo o que
reverbera, que logo será ouvido. Assim, somos o eco de todos os
povos que viveram e conviveram com a natureza antes de nós e
seremos eco para os povos que virão no futuro (NATURA
COSMÉTICOS, 2015c).
A linha Natura Ekos foi criada após uma pesquisa da Natura Cosméticos com
seus/suas consumidores/as na qual foi constatada a necessidade de valorizar a riqueza
dos recursos “naturais” da flora brasileira. Para atender a esta demanda, a Natura
buscou um novo modelo de criar e de produzir dentro de seu nicho de mercado,
passando a adotar a consciência de que a “natureza” é a inspiração para os seus
relacionamentos (eu complemento: e para as suas vendas). Assim, Ekos, desde o
princípio, teve o propósito de (re)descobrir, ressaltar, valorizar, preservar e difundir o
patrimônio “natural”, cultural e social do Brasil, despertando em cada indivíduo,
através de seus produtos, a consciência de que o homem e a “natureza” são um só.

50
Nesta perspectiva, a linha Ekos representa a materialização das crenças da Natura,
através de um projeto de sustentabilidade que valoriza o patrimônio socioambiental e
cultural brasileiro. Desta maneira, a organização assumiu uma postura sustentável
para aliar a especificidade de seus produtos à competitividade proporcionada por
ações socioambientalmente “corretas” (NATURA COSMÉTICOS, 2015d).
De acordo com este direcionamento, a linha Natura Ekos foi sendo
(re)construída desde a sua criação, passando por adaptações para ser cada vez mais
sustentável – embalagens com refis, com economia de água e com uso de materiais
reaproveitados e/ou reciclados; rótulos com mais informações sobre o ciclo-de-vida
dos produtos; produtos oriundos de fontes cem por cento vegetais; expansão de
mercados consumidores, fornecedores e matérias-primas (abrangendo do norte ao sul
do Brasil, como o açaí e o mate-verde respectivamente); e sítio com aspecto mais
artesanal e “natural”, enfatizando o trabalho manual de fabricação dos sabonetes Ekos
(NATURA COSMÉTICOS, 2015b; 2015c; 2015d). Segundo Natura Cosméticos (2015b;
2015c; 2015d), a estratégia de marketing da linha Ekos apoia-se em três pilares
principais: o uso de matérias-primas da biodiversidade brasileira; o desenvolvimento
sustentável17, e a cultura e os saberes das tradições populares. Assim, a Natura
Cosméticos apresenta o desenvolvimento sustentável como um de seus carros-chefe –
guiando-se por ambições para o ano de 2020, cujos valores e comportamentos
socioambientais são elencados como os “necessários para a construção de um mundo
mais sustentável” (NATURA COSMÉTICOS, 2015d, p. 12). Assim, compondo a Visão de
Sustentabilidade da empresa e de suas linhas de produtos:
Seremos geradores de impactos sociais, ambientais e econômicos
positivos, entregando valor para toda a nossa rede de relações em
todos os negócios, marcas e geografias em que atuarmos, por meio
de nossos produtos, serviços e canais de comercialização (NATURA
COSMÉTICOS, 2015d, p. 12).
Conforme Leff (2013), a sustentabilidade aparece, no cenário atual, como uma
necessidade de reestabelecer o lugar da “natureza” na economia e no
17 Para a Natura, o desenvolvimento sustentável é um dos grandes pilares norteadores, correspondendo
àquele economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto (NATURA COSMÉTICOS,
2015a).

51
desenvolvimento, internalizando condições ecológicas na produção, assegurando a
sobrevivência e o futuro da humanidade. Assim, para o autor:
Da vontade de capitalizar a natureza através do mercado à
descentralização da economia e à construção de uma racionalidade
ambiental baseada em princípios não mercantis (potencial ecológico,
equidade transgeracional, justiça social, diversidade cultural e
democracia), a sustentabilidade se define através de significados
sociais e estratégias políticas diferenciados (LEFF, 2013, p. 48).
A noção de “natureza” da Natura é mais nítida na linha Natura Ekos do que nas
outras linhas de produtos da empresa. Ekos, desde 2011, passou a adotar a ideia de
um convite à (re)conexão entre o homem e a “natureza” como o seu norte – por meio
do oferecimento de seus produtos e das histórias das comunidades fornecedoras dos
ativos da biodiversidade brasileira (da Floresta Amazônica sobretudo) – percebendo a
atual desconexão entre os indivíduos e a sua “essência” (sua origem, sua “natureza”);
em um ambiente cada vez mais competitivo do que colaborativo.
7.1.3 Por que Analisar a Campanha Publicitária “Somos Produto da
Natureza”?
“Nunca antes, na história da humanidade, vivenciamos transformações de
modo tão veloz; talvez nunca antes ‘as coisas’ tenham perdido os sentidos de modo
tão rápido naquilo que podemos configurar como cultura do consumo e da
descartabilidade” (SUSIN; SANTOS, 2014, p. 10). Os sujeitos consumidores, hoje,
desvalorizam a durabilidade das coisas; o que é velho é defasado, impróprio para
continuar sendo usado. As coisas são produzidas e consumidas para durar pouco
tempo, por exemplo, as roupas e os sapatos que utilizamos nesta estação do ano, e
que, na próxima, estarão “fora de moda”. Esta lógica de consumir e descartar logo em
seguida não é válida apenas para os objetos materiais, mas também para as relações
humanas; em outras palavras, os valores que atribuímos às coisas mudaram. Nada é
feito para o longo prazo (BAUMAN, 2008b). Para o autor, todos os mercados
funcionam por meio de três regras centrais:
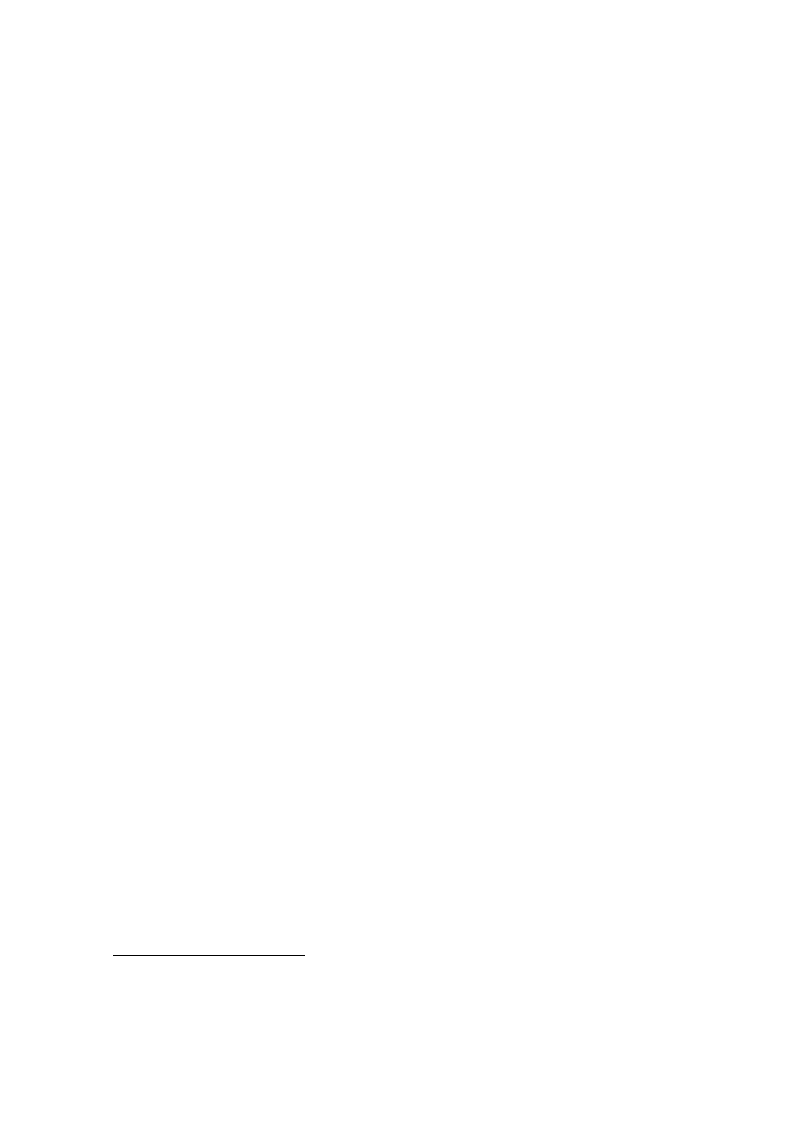
52
Primeira: o destino final de toda mercadoria colocada à venda é ser
consumida por compradores. Segunda: os compradores desejarão
obter mercadorias para consumo se, e apenas se, consumi-las for
algo que prometa satisfazer os seus desejos. Terceira: o preço que o
potencial consumidor em busca de satisfação está preparado para
pagar pelas mercadorias em oferta dependerá da credibilidade e da
intensidade desses desejos (BAUMAN, 2008b, p. 18).
Nesta perspectiva, Bauman (2008b) auxilia-nos a pensarmos sobre as
complexas relações entre o consumo e a constituição de nossas identidades e
subjetividades, interferindo não só nas mercadorias que compramos, mas também no
modo como nos relacionamos conosco e com os outros. Conforme o autor, na
sociedade de consumidores18, ninguém torna-se sujeito sem antes ser uma mercadoria
e, necessariamente, vendável; “a característica mais proeminente da sociedade de
consumidores [...] é a transformação dos consumidores em mercadorias” (idem, p. 20).
O principal motivo que estimula os consumidores a consumir é sair da invisibilidade e
da imaterialidade monótona, destacar-se da massa de objetos que não se distinguem
e, desta maneira, captar o olhar dos outros sujeitos consumidores. Ou seja, os
indivíduos desejam tornarem-se mercadorias notáveis, notadas, cobiçadas,
comentadas e destacadas. Assim, a subjetividade dos consumidores está envolta pela
compra e pela venda de símbolos e de “valores sociais” implicados na constituição de
sua identidade e de sua auto-estima. Cito, aqui, a busca incessante dos sujeitos
(homens e mulheres; jovens, adultos e idosos) por tratamentos estéticos (cosméticos,
com laser, com luz pulsada e, inclusive, cirúrgicos) para tornarem-se mais jovens, mais
magros e/ou mais curvilíneos, e, também, para terem a pele e os cabelos mais lisos,
mais hidratados e mais macios.
Segundo Bauman (2008b), hoje, a felicidade dos sujeitos não é tão associada à
satisfação de suas necessidades, mas a um volume e a uma intensidade de desejos
crescentes. “Novas necessidades exigem novas mercadorias, que por sua vez exigem
novas necessidades e desejos; o advento do consumismo augura uma era de
‘obsolescência embutida’ dos bens oferecidos no mercado” (idem, p. 45), assinalando
um aumento exponencial da Indústria de remoção do lixo. Neste sentido, a sociedade
18 Bauman (2008b) utiliza o termo sociedade de consumidores para referir-se a um tipo de sociedade
que interpela os seus membros basicamente na condição de consumidores. Esta sociedade “promove,
encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumistas, e rejeita
todas as opções culturais alternativas” (idem, p. 71).

53
de consumidores é avaliada conforme a felicidade dos seus membros – que não é
maior em países economicamente prósperos e desenvolvidos e, tampouco, feita para
durar a longo prazo. Para a sociedade de consumidores, a satisfação dos sujeitos deve
ser apenas uma experiência momentânea. Nesta direção, o autor menciona que:
[...] a satisfação duradoura, de uma vez por todas, deve parecer aos
consumidores uma perspectiva bem pouco agradável. Na verdade,
uma catástrofe. Como diz Dan Slater, a cultura do consumo “associou
a satisfação à estagnação econômica: nossas necessidades não
podem ter fim... (Ela) exige que nossas necessidades sejam
insaciáveis e que ao mesmo tempo procurem mercadorais para a sua
satisfação”. Ou talvez pudéssemos dizer: somos impulsionados e/ou
atraídos a procurar incessantemente por satisfação, mas também a
temer o tipo de satisfação que nos faria interromper essa procura
(BAUMAN, 2008b, p. 127).
Nesta linha de raciocínio, considero oportuno atentarmos para a relação
contemporânea que temos com o que consumimos em articulação com o que
concebemos ser a “natureza” e com as nossas ações em relação à mesma. Será que
somos consumidores socioambientalmente “corretos” ou “sustentáveis” quando
compramos, consumimos e descartamos os produtos? Será que pensamos nas
consequências culturais, sociais, ambientais, econômicas e políticas de nossas escolhas
como consumidores ao adquirirmos um produto e/ou um serviço? Será que
efetivamente temos condições de fazermos escolhas mais “corretas” como
consumidores, a partir das (in)formações veiculadas e disponibilizadas pela mídia
publicitária, pelas empresas e pelos fornecedores? Será que o consumo sustentável
pode existir na lógica econômica capitalista de uma sociedade de consumidores
direcionados à insatisfação constante com o que possuem? Ao pensar sobre estas
questões, resolvi analisar ensinamentos postos em circulação sobre a “natureza” e
sobre o consumo “sustentável”. Assim, direcionei o meu olhar para a campanha
publicitária “Somos Produto da Natureza” e para as pedagogias veiculadas pela
mesma; entendendo-as como “verdades” apresentadas de forma bastante atrativa
(sons, imagens, cores, movimentos, enunciados e discursos), que podem e devem ser
discutidas nas salas de aula.
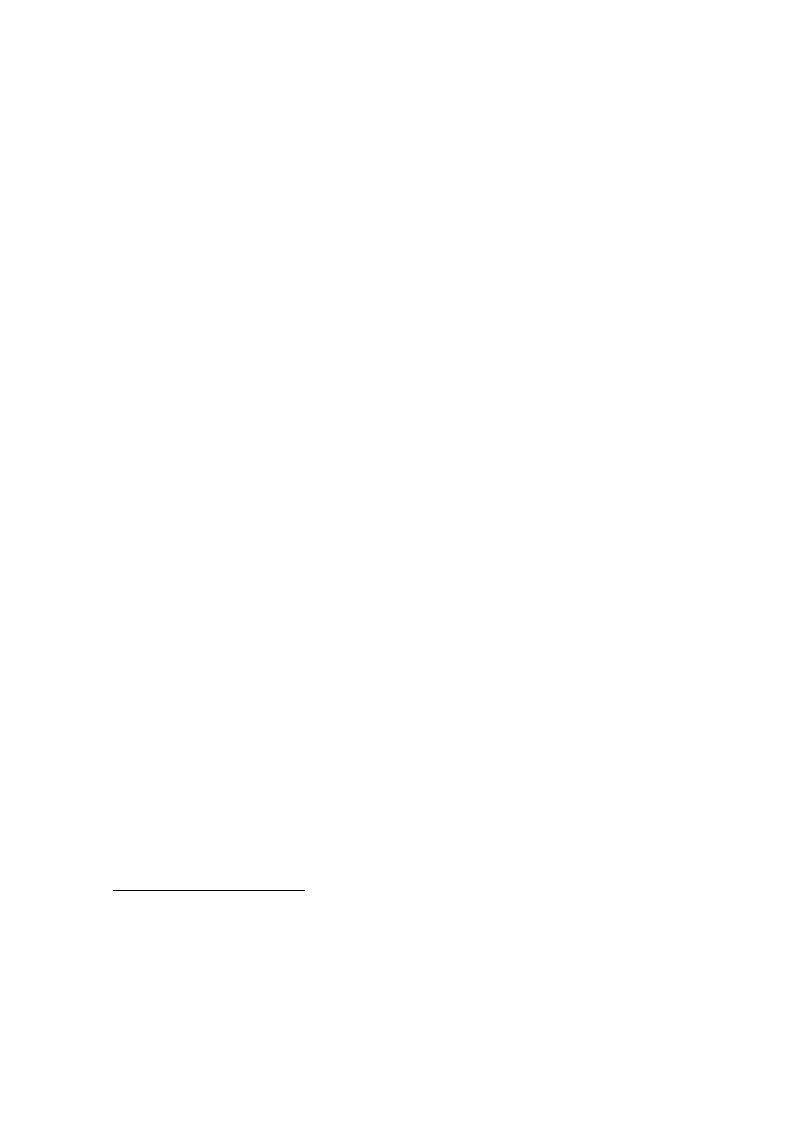
54
No ano de 2012, a linha de produtos Natura Ekos lançou a campanha
publicitária “Somos Produto da Natureza”19 – direcionando os nossos olhares para os
bosques, os rios, os pássaros, o vento movimentando a vegetação, as ondas do mar, e
os sábios que nunca se desconectaram da “natureza” e têm muitos saberes a
compartilhar. Assim, Ekos diz, por meio de enunciados voltados para os sentidos e
para a essência humana, que, ao entrarmos em contato com estes elementos,
poderemos sentir, novamente, cores, cheiros, formas e energias – a conexão com a
“natureza”, pois “somos rio, somos bicho, somos árvore, somos raiz” (NATURA
COSMÉTICOS, 2014a). Ou seja, para Natura Ekos, a “natureza” é uma rede
interdependente de relações que engloba os seres vivos, os seres abióticos e todos os
ecossistemas, construindo a ideia de que nós somos a “natureza” e, por isso, devemos
(re)conectarmo-nos à mesma e aos outros seres, assim como consumir os produtos
“biodiversos” e “sustentáveis” – a “natureza” – de Natura Ekos. Nesta direção, penso
que os anúncios publicitários da linha de produtos Natura Ekos ensinam-nos
determinados modos de sentir, de pensar e de agir em relação à “natureza” e a nós
mesmos. A Natura, ao colocar em circulação elementos discursivos e não discursivos
socioambientalmente “corretos” associados aos seus produtos, interpela e forma
sujeitos consumidores, vendendo os seus produtos que são a “natureza” –
representada pela empresa como a Floresta Amazônica.
19 Considero importante mencionar que não conheci a empresa Natura Cosméticos e que não entrei em
contato com a mesma para obter informações sobre a campanha publicitária “Somos Produto da
Natureza” e sobre as intenções que a Natura teve ao criá-la e veiculá-la. Analisei, somente, os materiais
que foram e que estão disponibilizados pela corporação na Internet e na TV, acessíveis a qualquer outra
pessoa. Além disso, entendo ser necessário afirmar que não estou julgando se os conteúdos difundidos
por esta campanha são “bons” ou “maus”, mas que estou olhando para os ensinamentos sobre a
“natureza” que estão sendo postos em circulação, passando a constituir as nossas subjetividades como
sujeitos consumidores.
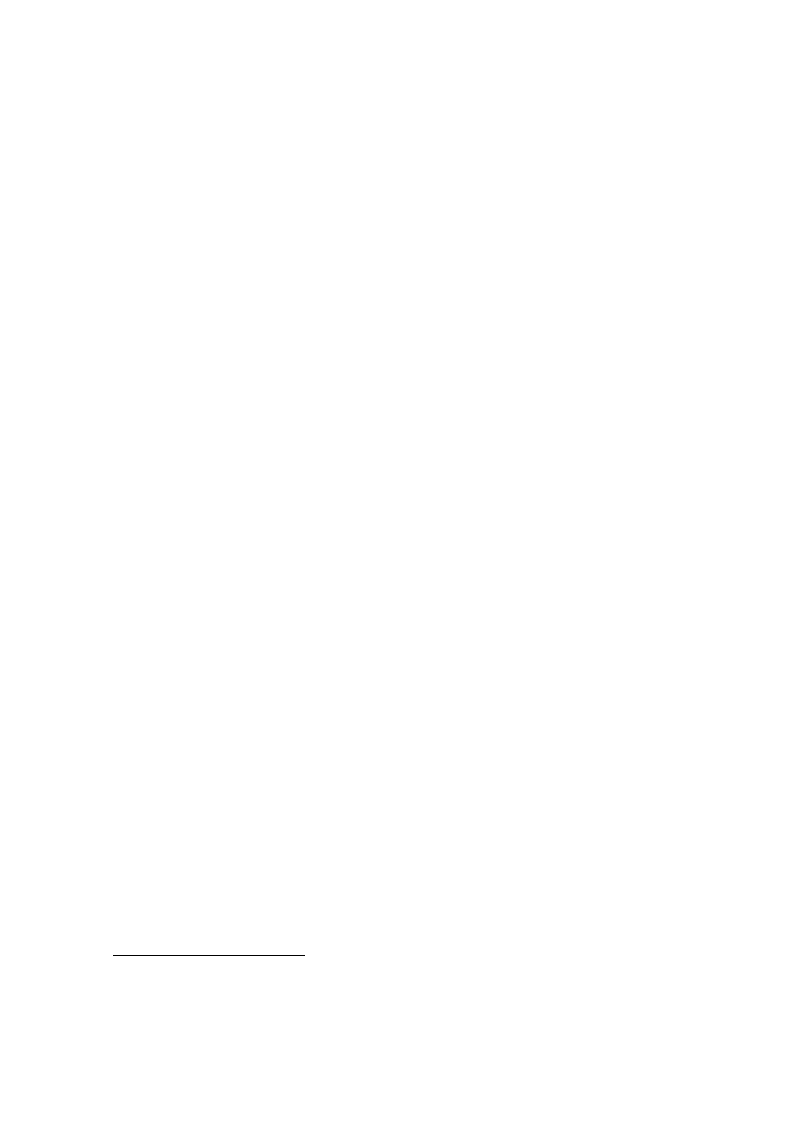
55
7.2 Estratégia Teórico-Metodológica: o campo dos Estudos Culturais
Como dito anteriormente, este estudo pautou-se em ferramentas teórico-
metodológicas dos Estudos Culturais da Ciência e da Educação, em suas vertentes pós-
estruturalistas, para analisar vídeos publicitários da linha de produtos cosméticos e de
higiene Natura Ekos. Neste momento, irei apresentar o campo a partir do qual
embasei-me para poder conceber e construir esta Dissertação.
Os Estudos Culturais emergiram durante os anos 1950 na Inglaterra,
questionando as concepções elitistas que diferenciávam a “alta” e a “baixa” cultura,
designando, respectivamente, os clássicos da filosofia, da literatura, da pintura, da
música; e a música popular, o design, as atividades de lazer e a publicidade, por
exemplo (HALL, 1997b; COSTA, 2000). Após os pioneiros estudos de Richard Hoggart
(The Uses of Literacy, 1957) e de Raymond Williams (Culture and Society, 1958), foi
fundado o Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), na Universidade de
Birmingham, em 1964, vindo a estruturar este campo de estudos institucionalmente
(SCHULMAN, 1999). Desde as primeiras pesquisas em Estudos Culturais, esses
buscaram analisar os artefatos da cultura considerados pouco ortodoxos – as formas
de entretenimento da classe trabalhadora, os romances água-com-açúcar, as
telenovelas, etc. –, visto que tais objetos de análise (sobretudo, os provenientes dos
meios de comunicação de massa20) constituem as coisas que veiculam e, portanto,
também atuam na formação das identidades sociais e das subjetividades dos sujeitos
(HALL, 1997c). Assim, podemos dizer sinteticamente que este campo ocupa-se da
centralidade da cultura na constituição das dimensões sociais implicadas em todos os
domínios da vida humana (COSTA et al., 2003; JOHNSON, 1999; ESCOSTEGUY, 1999;
SCHULMAN, 1999; HALL, 1997a).
Os Estudos Culturais constituem um campo interdisciplinar, transdisciplinar e
“ativa e agressivamente antidisciplinar” (NELSON et al., 1995, p. 8), o que garante uma
relação desconfortável com as disciplinas acadêmicas. Desta maneira, esta área de
20 Os meios de comunicação de massa ou a cultura das massas, conforme Menser; Aronowitz (1998, p.
37), “[...] implicam (como no caso da produção em série) a produção de uma grande quantidade de
objetos mais ou menos uniformes (que sejam informações, coisas, imagens ou relatos) que logo se
disseminam para uma grande quantidade de usuários ou receptores”.

56
estudos resulta da insatisfação com algumas disciplinas e com seus próprios limites
(ESCOSTEGUY, 1999), utilizando-se de qualquer campo que seja necessário à produção
de conhecimento para um projeto específico (NELSON et al., 1995), e constituindo-se
na intersecção com “diferentes disciplinas [...], visando o estudo de aspectos culturais
da sociedade” (HALL, 1980, p. 7). Neste sentido, os Estudos Culturais são vistos como
um processo, como uma alquimia para produzir conhecimento útil sobre o amplo
domínio da cultura humana (NELSON et al., 1995; JOHNSON, 1999). A partir deste
entendimento, “todas as formas de produção cultural precisam ser estudadas em
relação a outras práticas culturais e às estruturas sociais e históricas”, estando os
Estudos Culturais, portanto, “comprometidos com o estudo de todas as artes, crenças,
instituições e práticas comunicativas de uma sociedade” (NELSON et al., 1995, p. 13).
Os Estudos Culturais objetivam pesquisar a cultura em seu contexto histórico,
analisar métodos fenomenológicos ou etnometodológicos de pesquisa, e empregar
abordagens interpretativas. Este campo busca investigar, intensivamente, os
significados da experiência humana, a partir de sua efetivação na linguagem e em
outras práticas de significação, buscando examinar, sistematicamente, as práticas
institucionais, a estrutura da sociedade e os movimentos políticos contemporâneos
(SCHULMAN, 1999). Conforme Nelson et al. (1995), a metodologia deste campo de
estudos “pode ser mais bem entendida como uma bricolage. Isto é, sua escolha da
prática é pragmática, estratégica e auto-reflexiva” (idem, p. 9), consistindo em
elementos de interpretação, de avaliação e de crítica. Consequentemente, a escolha
pelas práticas de pesquisa “depende das questões que são feitas, e as questões
dependem de seu contexto” (idem, p. 9). As preocupações dos Estudos Culturais são
com as “interrelações entre domínios culturais supostamente separados”, por
exemplo, crenças populares e ciência; com “o terreno cotidiano das pessoas e com
todas as formas pelas quais as práticas culturais falam a suas vidas e de suas vidas”
(idem, p. 27). Neste sentido, os Estudos Culturais interessam-se pela produção e pela
organização social das formas culturais, envolvendo não só o conteúdo da pesquisa,
mas como e por que ela é realizada; o método e o objeto de estudo de maneira
relacional (JOHNSON, 1999). Assim,

57
Devemos examinar, naturalmente, as formas culturais do ponto de
vista de sua produção. Isto deve incluir as condições e os meios de
produção, especialmente, em seus aspectos subjetivos e culturais.
Em minha opinião, deve incluir descrições e análises também do
momento real da própria produção – o trabalho de produção e seus
aspectos subjetivos e objetivos (JOHNSON, 1999, p. 63).
Definir o que são os Estudos Culturais é uma árdua tarefa, segundo Nelson et
al. (1995), pois o campo apresenta características distintas em diferentes tempos e
espaços. Entretanto, para os autores, é importante salientar que os Estudos Culturais
têm o compromisso de analisar as práticas culturais através de seu envolvimento com
e no interior de relações de poder. Neste entendimento, os Estudos Culturais são uma
tradição intelectual e política. Há uma dupla articulação da cultura neste campo, visto
que a mesma assume o papel de terreno onde a análise ocorre, de objeto de estudo, e
de local da crítica e da intervenção política. Em virtude disto, os praticantes do campo
acreditam que os Estudos Culturais não são apenas estudos sobre mudanças culturais,
mas intervenções nestas mudanças, e enxergam a si próprios como participantes
politicamente engajados. Portanto, este campo deve, constantemente, “questionar
sua própria conexão com relações contemporâneas de poder, seus próprios
interesses” (idem, p. 31). Nesta direção, de acordo com Wortmann et al. (2007), os
Estudos Culturais – em articulações com a educação, a ciência, a mídia, o corpo, os
museus, a “natureza”, etc. – questionam as novas configurações da cultura, os novos
mapas culturais e as novas configurações sociais; bem como os saberes estabelecidos e
legitimados pela tradição, pela erudição e pelas investigações científicas. Além disso,
este campo dedica-se a analisar a multiplicidade das produções culturais que nos
subjetivam, de modo a abandonar os enfoques escolares geralmente utilizados no
campo educativo (aqui, em particular, da Educação em Ciências), discutindo e
tensionando os discursos e as práticas circulantes na escola e nas instâncias, nas
instituições e nos processos culturais.
Dentre as tensões que constituem o campo dos Estudos Culturais está a própria
definição de cultura, cujas tentativas nascem a fim de atender à necessidade de
respostas a mudanças históricas (NELSON et al., 1995). A cultura designa um processo
pelo qual os significados e as definições são socialmente construídos e historicamente
transformados (JOHNSON, 1999); invocando, concomitantemente, domínios
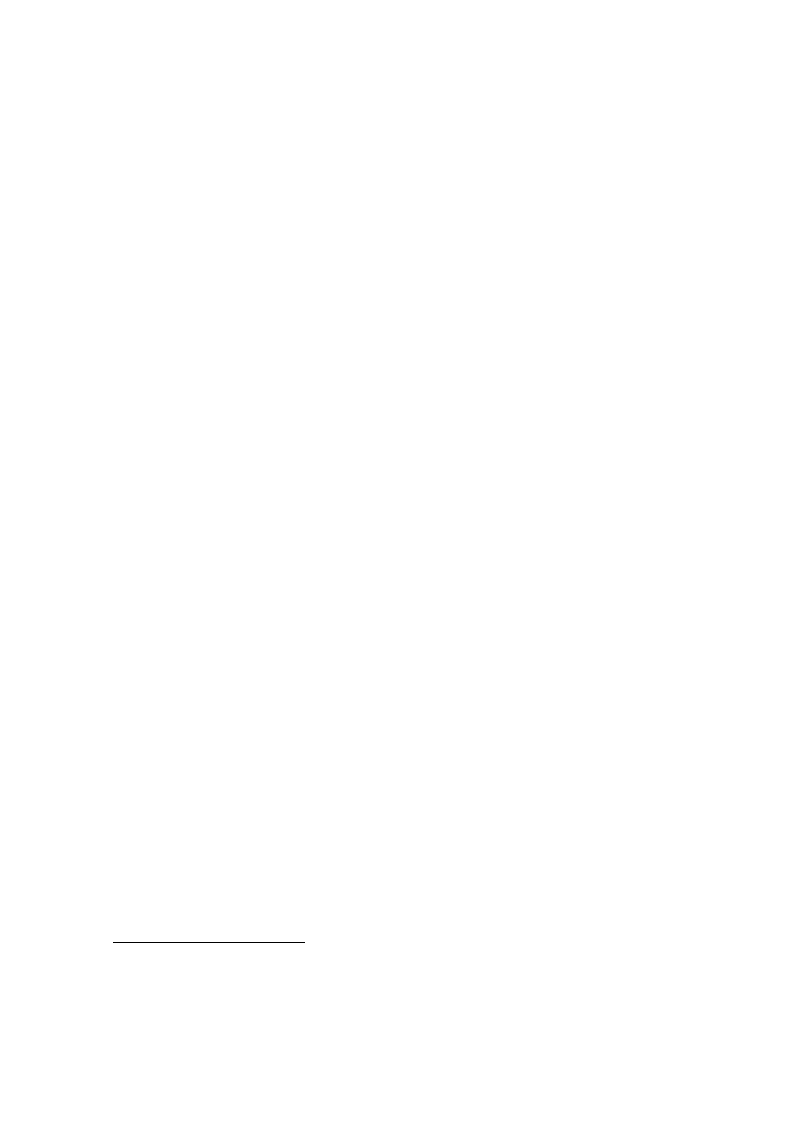
58
simbólicos e materiais (WILLIAMS, 1988). Neste sentido, a cultura pode significar “o
terreno real, sólido, das práticas, representações, línguas e costumes de qualquer
sociedade histórica específica”, e, ainda, “as formas contraditórias de ‘senso comum’
que se enraizaram na vida popular e ajudaram a moldá-la” (HALL, 1986a, p. 26). Os
estudiosos dos Estudos Culturais tomaram como objeto qualquer artefato que poderia
ser considerado cultural – exposições de museus, livros, filmes, programas de
televisão, anúncios publicitários, dentre outros – passando a abandonar a dicotomia
entre a teoria e a prática, o passado histórico e o mundo contemporâneo, a alta
cultura e a vida real, a cultura culta e a não culta (SILVA, 2013), e a considerar a
existência de culturas apenas, em um sentido mais amplo e mais abrangente, sem
distinções nem classificações entre os saberes. Assim, a cultura não consiste no melhor
que se tenha pensado e dito, como o auge de uma civilização desenvolvida. Nada na
cultura está dado, tudo é produzido (HALL, 1997a). Nesta direção, os Estudos Culturais
concebem a cultura como um campo de lutas em torno da significação social. A cultura
constitui e é constituída por significados, em que distintos grupos sociais, situados em
diferentes posições de poder, disputam pela imposição de seus significados à
sociedade mais ampla. O que está centralmente em jogo é a definição da identidade21
cultural e social dos diferentes grupos, que deve ser pensada a partir do interior da
representação, através da cultura e não fora dela (SILVA, 2013). Podemos entender a
cultura, então, como “a produção e o intercâmbio de significados – o ‘dar e o receber
de significados’ – entre os membros de uma sociedade” (HALL, 1997b, p. 2), ou, como
um campo de produção de significados em que distintos grupos sociais, que ocupam
posições diferenciadas de poder, travam um embate pela imposição de seus
significados à sociedade mais ampla (SILVA, 2013). Neste entendimento, podemos
dizer que dois indivíduos pertencem a uma mesma cultura quando eles interpretam o
mundo de modo semelhante e podem expressar pensamentos e emoções de forma
que eles sejam compreendidos por ambos, através da linguagem – sinais e símbolos,
que representam e significam determinados conceitos, ideias, emoções e sentimentos.
21 Entendo identidade como uma celebração móvel, formada e transformada continuamente em relação
às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam;
sendo definida historicamente e não biologicamente. Assim, o sujeito assume identidades distintas em
diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente (HALL, 1997b).

59
Sendo assim, a tentativa de definir “cultura” precisa considerar o destacado papel
exercido pelos significados, visto que estes organizam e regulam as práticas sociais,
influenciando as nossas ações (HALL, 1997b). Em resumo, é possível dizer que os
Estudos Culturais preocupam-se com as questões situadas na conexão entre: cultura,
significação, identidade e poder (SILVA, 2013); e que “é porque sabemos que não
estamos no controle de nossas próprias subjetividades que precisamos tão
desesperadamente identificar suas formas e descrever suas histórias e possibilidades
futuras” (JOHNSON, 1999, p. 72).
A fim de entendermos a importância da linguagem para a cultura e,
consequentemente, para o campo dos Estudos Culturais, em suas vertentes pós-
estruturalistas, recorro a Stuart Hall (1997a; 1997b). Ele menciona que a chamada
virada cultural foi o início de uma revolução de atitudes em relação à centralidade da
linguagem. A partir desta virada, o significado passou a ser entendido como algo que é
produzido e não “achado” nas coisas. Assim, nem as coisas em si nem os usuários da
língua estabelecem os significados, pois as coisas não significam por si mesmas; o
significado é construído por meio de sistemas de representação. Neste sentido, a
“virada cultural” configurou-se como:
[...] uma inversão da relação que tradicionalmente tem se pensado
que existia entre as palavras que usamos para descrever as coisas e
as próprias coisas. A suposição usual do senso comum é a de que os
objetos existem “objetivamente”, como tal, “no mundo” e, assim,
seriam anteriores às descrições que deles fazemos. Em outras
palavras, parece normal presumirmos que as “moléculas” e os
“genes” precedem e sejam independentes em seus modelos
científicos; ou que a “sociedade” exista independentemente das
descrições sociológicas que dela se fazem. O que estes exemplos
salientam é o modo como a linguagem é pressumivelmente
subordinada e está a serviço do mundo do “fato”. Entretanto, nos
últimos anos, a relação entre a linguagem e os objetos descritos por
ela tem sido radicalmente revista. A linguagem passou a ter um papel
mais importante. Teóricos de diversos campos – filosofia, literatura,
feminismo, antropologia cultural, sociologia – têm declarado que a
linguagem constitui os fatos e não apenas os relata (DU GAY, 1994
apud HALL, 1997a, p. 9).
Ressalto que Hall (1997a) não nega a existência material das coisas, mas
compreende que os atores sociais utilizam a língua para construir e negociar os

60
significados. A fim de exemplificar o seu entendimento, Stuart Hall menciona que uma
pedra existe além de nossas descrições sobre ela; porém, “a identificação que fazemos
da mesma como ‘pedra’ só é possível devido a uma forma particular de classificar os
objetos e de atribuir significado aos mesmos” (idem, p. 10). Em outras palavras, o
termo “pedra” é entendido pelo autor como parte de um sistema de classificação que
diferencia as coisas (pedra, ferro e madeira) e, também, como integrante de um
sistema de classificação diferente, que distingue pedra de penedo, de rocha, de seixo,
dentre outras palavras relacionadas. Assim, Hall compreende que os objetos existem
para fora dos sistemas de significação (cada um atribuindo um significado diferente ao
termo “pedra”). Os objetos existem, mas só podem ser definidos (como “pedra”, por
exemplo) caso haja um sistema de significação ou uma linguagem capaz de classificá-
los de determinado modo, atribuindo-lhes um significado que os distingua entre si.
Segundo o autor, esta discussão “manteve aberto um fosso entre a existência e o
significado de um objeto. O significado surge, não das coisas em si – a ‘realidade’ –
mas a partir dos jogos de linguagem e dos sistemas de classificação nos quais as coisas
são inseridas” (idem, p. 10). Nesta direção, afirmar que “uma pedra é apenas uma
pedra num determinado esquema discursivo ou classificatório não é negar que a
mesma tenha existência material, mas é dizer que seu significado é resultante não de
sua essência natural, mas de seu caráter discursivo” (idem, p. 10). Ou seja, o que
consideramos serem fatos “naturais” são resultados de construções e de fenômenos
discursivos e, portanto, culturais – como a própria palavra “natureza”, que
problematizo ao longo deste estudo.
A expressão centralidade da cultura utilizada por Hall (1997a) é um dos
elementos centrais de sua obra, indicando a ampla expansão de tudo que está
associado a mesma desde a segunda metade do século XX e o seu importante papel
constitutivo ao penetrar em cada recanto da vida social contemporânea, mediando
tudo. Para o autor, a cultura está presente nas vozes e nas imagens que nos
interpelam cotidianamente, nas telas e nos postos de gasolina e, também, dentro de
nossos lares, por meio do consumo, das tendências mundiais da moda e da cultura do
futebol, por exemplo. Faz-se importante dizer que, para Hall, nem tudo é cultura, mas
que todas as práticas sociais dependem e têm relação com os significados. Assim, a

61
cultura é uma das condições constitutivas da existência e toda a prática social tem uma
dimensão cultural. A cultura constitui o “político” e o “econômico”, da mesma maneira
que o “político” e o “econômico” constituem a cultura e impõem limites a mesma.
Estes elementos constituem-se mutuamente, articulam-se. Nesta perspectiva, o autor
compreende que: “toda prática social tem condições culturais ou discursivas de
existência. As práticas sociais, na medida em que dependem do significado para
funcionarem e produzirem efeitos, se situam ‘dentro do discurso’, são ‘discursivas’”
(idem, p. 14). Conforme Hall, em parte, a centralidade da cultura:
[...] repousa nas mudanças de paradigma que a “virada cultural”
provocou no interior das disciplinas tradicionais, no peso explicativo
que o conceito de cultura carrega, e no seu papel constitutivo ao
invés de dependente, na análise social. Um aspecto disto é a
expansão da “cultura” a um espectro mais amplo, mais abrangente
de instituições e práticas. Então, falamos da “cultura” das
corporações, de uma “cultura” do trabalho, do crescimento de uma
“cultura” da empresa nas organizações públicas e privadas (du Gay,
1997), de uma “cultura” da masculinidade (Nixon, 1997), das
“culturas” da maternidade e da família (Woodward, 1997b), de uma
“cultura” da decoração e das compras (Miller, 1997), de uma
“cultura” da desregulamentação (nesta obra), até mesmo de uma
“cultura” do em forma, e — ainda mais desconcertante — de uma
“cultura” da magreza (Benson, 1997). O que isto sugere é que cada
instituição ou atividade social gera e requer seu próprio universo
distinto de significados e práticas — sua própria cultura. Assim sendo,
cada vez mais, o termo está sendo aplicado às práticas e instituições,
que manifestamente não são parte da “esfera cultural”, no sentido
tradicional da palavra. De acordo com este enfoque, todas as práticas
sociais, na medida em que sejam relevantes para o significado ou
requeiram significado para funcionarem, têm uma dimensão
“cultural” (HALL, 1997a, p. 13).
Entendo que a cultura constitui os sujeitos, assim como os sujeitos constituem
a cultura e que, portanto, ela está envolvida em relações de poder, contribuindo para a
produção de assimetrias nas capacidades dos indivíduos e dos grupos sociais de
definirem e de satisfazerem as suas necessidades. Johnson (1999) considera que os
sujeitos estão enovelados em um sistema de contextos, sentidos22 e representações, e
que a cultura não constitui um campo autônomo, mas “um local de diferenças e de
lutas sociais” (idem, p. 13).
22 Penso o sentido como algo atribuído, produzido e fabricado pelas relações estabelecidas entre os
indivíduos. Assim, inserido dentro de um sistema de representações e de contextos específicos, uma
teia sociocultural (COSTA et al., 2003; JOHNSON, 1999).

62
Compreendo o termo representação como as práticas culturais de produção de
significados, que, ao representarem os signos (modelos, objetos, desenhos, sons,
símbolos e imagens), através da linguagem, dão sentido aos nossos pensamentos,
sentimentos, conceitos e, também, ao mundo material, às pessoas e às coisas. Neste
sentido, os sujeitos estão transpassados por construções históricas – representações –
circulantes na cultura, de modo a constituir e instituir o que e como “ver” a si e ao
mundo, e as práticas culturais resultam de processos de construção sócio-históricos.
Tanto os sujeitos quanto as práticas discursivas podem ser considerados
representações de grupos sociais (SOUZA, 2001). Assim, a representação pode ser
concebida como uma noção que se estabelece discursivamente, atribuindo
significados conforme critérios de validade e de legitimidade estabelecidos segundo
relações de poder (COSTA et al., 2003; JOHNSON, 1999). O campo das práticas
culturais é um espaço de coerção onde – na trama das práticas discursivas, legitimadas
por regimes de verdade hegemônicos e desiguais – atuam relações de poder imbricas à
produção dos significados que circulam no campo social. Neste sentido, é no espaço
social que são “travadas batalhas” pela representação das “verdades” e identidades de
um determinado grupo social (SOUZA, 2001); por exemplo, nas práticas culturais da
ciência e da mídia – instâncias, hoje, fortemente implicadas na constituição dos
sujeitos e na manutenção do ordenamento social.
Diferentemente das teorias liberais, weberianas ou marxistas, penso o poder a
partir da particular concepção de Foucault. Segundo o autor, o poder não é uma força
que emana de um centro (o Estado), algo unitário e localizável. O poder atua como
uma rede, em meio a diversos pontos com relações desiguais e móveis, na qual os
indivíduos circulam e, também, estão em posição de exercer o poder e de sofrer a sua
ação. O poder não é adquirido, arrebatado ou compartilhado, visto que não existe no
princípio das relações de poder uma oposição binária e global entre dominadores e
dominados; elas são ações sobre ações, pulverizadas, distribuídas e capilarizadas.
Neste sentido, o poder não é o “mal”, ele é imanente à lógica de se viver em sociedade
(FOUCAULT, 1998a; 1997b). Segundo Foucault (1997b):
Dizendo poder, não quero significar “o poder”, como conjunto de
instituições e aparelhos garantidores da sujeição dos cidadãos em um
Estado determinado. Também não entendo poder como modo de
sujeição que, por oposição à violência, tenha a forma de regra. Enfim,

63
não o entendo como um sistema geral de dominação exercida por
um elemento ou grupo sobre o outro e cujos efeitos, por derivações
sucessivas, atravessam o corpo social inteiro (FOUCAULT, 1997b, p.
88).
De acordo com Veiga-Neto (2000), Foucault toma o poder enquanto relação;
algo exercido, efetuado e operado em rede, onde sujeitos exercem ações sobre outros,
em meio a uma multiplicidade de mecanismos de poder e de resistência. Além disso, o
poder é considerado não coercitivo, repressivo e negativo, mas algo produtivo: “ele
inventa estratégias que o potencializam; ele engendra saberes que o justificam e
encobrem; ele nos desobriga da violência e, assim, ele economiza os custos da
dominação” (idem, p. 63). Além disso, para Foucault (1999, p. 161): “o poder produz;
ele produz realidade; produz campos de objetos e rituais da verdade. O indivíduo e o
conhecimento que dele se pode ter se originam nessa produção”. Neste
entendimento, não há relação de poder sem que se produza um campo de saber,
assim como não existe saber que não esteja implicado em relações de poder (SOUZA,
2001). Após estas considerações importantes para podermos pensar acerca do poder a
partir das compreensões de Michel Foucault, considero pertinente trazer outra ideia
central para este estudo: os jogos de verdade. Foucault (1997a) considera que os
enunciados não estão escondidos nas entrelinhas, mas nas linhas, visto que são, a
partir de modos de existência, tomados como pontos de uma vasta rede, que por si só
não tem significado, mas que compõe um discurso que instituirá as “verdades”. Assim,
alguns enunciados fazem-se presentes em determinados períodos e em outros não.
Para Foucault (2001), a verdade é deste mundo, produzida nele devido a múltiplas
coerções, e nele produz relações de poder. Cada sociedade possui seus jogos de
verdade particulares, ou seja, os discursos que acolhe e que faz funcionar como
verdadeiros, os mecanismos que possibilitam distinguir os enunciados verdadeiros dos
falsos. Foucault (1995) entende que o enunciado não é uma unidade elementar
gramatical ou lógica, como uma frase ou uma proposição, mas uma modalidade de
existência própria de certo conjunto de signos. Tal modalidade relaciona-se com um
domínio de objetos, prescreve uma posição definida a qualquer sujeito possível e
situa-se entre outras performances verbais, dotando-se de uma materialidade
repetível.

64
Nesta perspectiva, compreendo que a linguagem, imbricada a relações de
poder, é o cerne das discussões culturais, ocupando uma posição privilegiada na
construção e na circulação dos significados que atribuímos às coisas (HALL, 1997a). A
linguagem tem uma função eminentemente classificatória e nomeadora. Classificar
significa separar, segregar, incluir e excluir. Desta maneira, certas entidades podem ser
incluídas em determinada classe (tornar-se uma classe), apenas se outras entidades
forem excluídas, deixadas de fora (BAUMAN, 1999). Estamos envoltos por sistemas
classificatórios e somos norteados por formatos padronizados. A classificação é da
ordem humana, visto que está profundamente relacionada à linguagem (BOWKER;
STAR, 1999). Passamos muito tempo de nosso dia fazendo trabalhos eminentemente
classificatórios, frequentemente, de modo tácito. No entanto, poucos indivíduos
questionam-se acerca dos sistemas classificatórios que utilizam e elaboram
mecanicamente na ordem do dia. Eles parecem poder ser de apenas uma maneira... Os
seres vivos, por exemplo, parecem sempre ter sido classificados (e da mesma forma!),
sendo que há várias histórias sobre este assunto. Uma das primeiras tentativas de
classificação do mundo vivo foi proposta pelo filósofo grego Aristóteles, durante o
século IV a. C. Ele ordenou os animais conforme seus tipos de reprodução e por terem
ou não sangue de cor vermelha. Além disso, há relatos de que Aristóteles teria dividido
as plantas em duas categorias: “com flores” e “sem flores”. Teofrasto, discípulo do
filósofo, teria classificado as plantas por suas utilidades – plantas para serem usadas
nos templos, plantas para serem usadas na alimentação, etc. – e, por suas maneiras de
cultivo. No entanto, a maioria dos livros, incluso os didáticos, credita a Karl Von Linné
(ou Lineu), médico e botânico sueco, o desenvolvimento de um sistema (ou de uma
“sistemática”), que faz uso de categorias hierárquicas e é utilizado até hoje com
algumas alterações. Lineu instaurou um determinado modo de ver, de classificar e de
ordenar os seres vivos em 1758 (RIPOLL, 2008). Para a autora,
Tais práticas, procedimentos e instrumentos classificatórios, nascidos
de um desejo de controle de uma natureza considerada “exótica” e
“selvagem”, bem como de um desejo de manutenção da
normalidade do mundo, promoveriam, através da ordenação (de
pessoas e de coisas/situações ou, ainda, de humanos e de não-
humanos), um maior e melhor controle das ações, dos
comportamentos e da produtividade da vida (RIPOLL, 2008, p. 46).

65
Conforme Wortmann (2005), a linguagem desempenha um papel fundamental
na instituição dos sentidos que damos às coisas e ao mundo, pois, efetivamente,
constitui o nosso pensamento. Portanto, os atos por meio dos quais explicamos algo,
não só representam as coisas, mas também têm como efeito a própria produção da
realidade. A linguagem institui as pessoas, os objetos e as emoções, com um
determinado sentido e não outro. Assim, para Flores (2011), a inércia cultural faz-nos
considerar o caráter das coisas como algo definido: elas se afirmam diante de nós por
meio de um caráter “lógico” e “objetivo” de modos de pensar que se apresentam
como “naturais”. No entanto, as essências dos meios também são conceitos
construídos. A partir da importância da linguagem em nossa constituição como
sujeitos, proponho que pensemos sobre as imagens (as linguagens não-verbais) que
nos circundam e interpelam na ordem do dia. Hoje, as imagens estão presentes de
forma marcante em nosso cotidiano. Vivemos imersos em um mundo imagético, sendo
provocados e instigados incessantemente. Rose (2007) considera que estamos
cercados por diversos tipos de tecnologias visuais (fotografias, filmes, televisores, etc.),
que por meio de múltiplas imagens, cores, ângulos, formas e modelos apresentam-nos
a “realidade”, aquilo que acontece no mundo; assim, carregando diversos sentidos
atribuídos ao mundo, aos sujeitos e aos seus corpos. Didi-Huberman (2012) pondera
que a imagem não é um simples corte; é uma impressão, um rastro, um traço visual.
Ela adquire sentido ao ser introduzida, introjetada em determinados tempos e
espaços, assumindo o papel de representar o que aconteceu.
Johnson (1999) afirma que, na perspectiva dos Estudos Culturais, o texto não é
estudado por si próprio ou pelos efeitos sociais que produz, mas sim pelas formas
subjetivas ou culturais que efetiva e que disponibiliza. O texto é um meio, um material
bruto a partir do qual determinadas formas – narrativas, enunciados, problemas
ideológicos, modos de endereçamentos, posições de sujeitos – podem ser abstraídas.
Assim, o objeto deste campo de estudos não é o texto, “mas ‘a vida subjetiva das
formas sociais’ em cada momento de sua circulação, incluindo suas corporificações
textuais” (idem, p. 75). Neste sentido, a leitura (de imagens, de enunciados, de
palavras) não é apenas recepção ou assimilação, mas sim, ela própria, um ato de
produção. Se o texto é o material bruto desta prática, a leitura esbarra nos problemas
dos limites textuais, tornando-se muito importante atentar para que “o texto-tal-

66
como-produzido é um objeto diferente do texto-tal-como-lido” (idem, p. 64). Além
disso, o autor aponta que, hoje, textos dos mais diversos tipos e direções são
encontrados através de meios coexistentes e em fluxos com diferentes ritmos. Neste
entendimento,
Os materiais textuais são complexos, múltiplos, sobrepostos,
coexistentes, justapostos; em uma palavra, “intertextuais”. Se
usarmos uma categoria mais ágil como “discurso”, para indicar
elementos que atravessam diferentes textos, podemos dizer que
todas as leituras são também interdiscursivas (JOHNSON, 1999, p.
88).
Segundo Johnson (1999), “nenhuma forma subjetiva atua, jamais, por conta
própria” (idem, p. 88). As combinações dos elementos dos discursos não são
preexistentes, por meios formais ou lógicos, nem mesmo a partir de análises empíricas
dos discursos públicos. Ao contrário, as combinações originam-se de lógicas mais
particulares: das atividades estruturadas da vida, tanto objetiva quanto
subjetivamente, e de leitores com determinadas localizações sociais, histórias e
interesses subjetivos; seus mundos privados. Tais considerações indicam a
centralidade de considerarmos o contexto dos sujeitos – esse “determina o significado,
as transformações ou a saliência de uma forma subjetiva particular, tanto quanto a
própria forma” (idem, p. 89). O contexto inclui elementos culturais (culturas privadas,
formas de vida, senso comum, etc.), e contextos de situações imediatas, como o
contexto doméstico de um lar e o contexto ou a conjuntura histórica mais ampla.
Neste sentido, “as narrativas ou as imagens sempre implicam ou constroem uma
posição ou posições a partir das quais devem ser lidas ou vistas” (idem, p. 85). Essa
consideração revela-se importante, especialmente, quando a aplicamos à análise de
imagens visuais de filmes ou, ainda, à leitura de slogans – pois, mostra como a
publicidade age para produzir uma identificação ativa, pondo de lado as razões e as
escolhas individuais dos consumidores. Assim, a pressão publicitária para “inferir
efeitos ou leituras a partir de uma análise da produção é constante” (idem, pp. 60-61).
Ela caracteriza uma rica vertente do campo dos Estudos Culturais, que tem focalizado,
sobretudo, analisar campos particulares do discurso público; e foi o que pretendi
realizar ao longo desta Dissertação.

67
7.2.1 Aportes dos Estudos Culturais da Ciência e da Educação
O surgimento de diversos campos não-disciplinares do conhecimento marcou
fortemente a segunda metade do século XX. Nesse período, proliferaram-se inúmeras
formas de conceber o conhecimento, modos de produção das Ciências “estabelecidas”
– os muitos ramos das Ciências usualmente denominadas como Humanas, Sociais e
“Naturais” –, e outras áreas de estudos oriundas de diferentes matrizes e instâncias
teóricas. Tais campos instituíram-se em articulações com algumas Ciências, muitas
vezes, vinculando-se a movimentos sociais – étnicos, raciais, sexistas, estéticos, anti-
colonialistas, pacifistas, ambientalistas, etc. –, que construíram posições e formas
alternativas de pensar o mundo durante os anos 1960. Dentre estas “novas” áreas do
conhecimento estão: os Estudos de Gênero e Sexistas; os Estudos Literários; os
Estudos sobre Etnias e Raça, e os Estudos Culturais, aos quais estão associados os
Estudos Culturais da Ciência (WORTMANN; VEIGA-NETO, 2001). Esses estudos
abrangem uma multiplicidade de investigações em História, Filosofia, Sociologia,
Antropologia, Teoria Feminista e Crítica Literária. No entanto, estes campos não
compartilham de um marco conceitual, nem de uma metodologia para identificá-los;
constituindo-se nos embates entre as formulações interdisciplinares pós-positivistas
em História e Filosofia da Ciência e as perspectivas sociológicas assumidas a partir do
Programa Forte em Sociologia do Conhecimento (ROUSE, 1993b). Dentre as variadas
denominações que as diferentes perspectivas destes estudos têm recebido em função
de suas direções estão: Estudos da Tecnologia, da Sociedade e da Ciência; Estudos de
Ciência; Estudos Políticos da Ciência e Tecnologia, e Valores Humanos (NELKIN, 1998).
Cabe ressaltar, brevemente, que a expressão Estudos de Ciência é a preferida pelos
sociólogos da Sociologia do Conhecimento Científico (em inglês, sigla SSK); utilizando-a
para diferenciar as suas investigações das que são pautadas pela Sociologia da Ciência
Institucional. A denominação Estudos de Ciência e Tecnologia (em inglês, sigla STS)
refere-se, geralmente, a estudos deste campo quando há algum interesse específico
nas tecnologias, e a expressão Estudos Culturais da Ciência é usada em uma dimensão
mais restrita, principalmente, em pesquisas que envolvem questões étnicas e de
gênero (HESS, 1997).

68
Conforme Nelkin (1998), os primeiros programas de Estudos da Ciência como
um campo independente em relação ao ensino e à investigação surgiram nos anos
1960. Nessa época, circulavam textos que criticavam a Ciência, os seus valores
tecnocráticos e as suas implicações sociais. Simultaneamente, começavam a ser
desenvolvidos programas de Estudos da Ciência, da Tecnologia e da Sociedade por
cientistas politicamente influentes, voltados, sobretudo, à tradução e à comunicação
dos conhecimentos científicos. De maneira geral, estes cientistas objetivavam
“melhorar a compreensão pública sobre a Ciência, responder às críticas crescentes e
servir aos interesses pragmáticos da política científica” (idem, p. 48). Assim, os textos
críticos referidos fomentaram o desenvolvimento de estudos acerca das implicações
sociais e ambientais da Ciência e da Tecnologia. Eram estudos práticos sobre
controvérsias científicas, investigações de atitudes, avaliações da tecnologia, e análises
de riscos, que acabaram por despertar a desconfiança dos cientistas – para os quais
parecia ser mais adequado apresentar enfoques otimistas e menos críticos sobre a
Ciência. Dos Estudos da Ciência, da Tecnologia e da Sociedade derivaram trabalhos
sobre cienciometria e indicadores científicos, assim como análises acerca de mudanças
nas políticas científicas dos governos e das investigações sobre a cultura e a
comunicação científicas. Entre 1970 e 1980, passaram a ser desenvolvidos estudos
acerca dos processos sociais de investigação científica e dos modos como a Ciência é
influenciada e moldada por valores sociais. Nesta direção, a Ciência passou a não mais
ser aceita como uma instância alheia aos códigos culturais, às forças sociais e
econômicas, e aos interesses de seus profissionais; pelo contrário, passou a ser vista
como “um produto social e cultural e a comunidade científica como mão-de-obra”
(idem, p. 50).
Segundo Wortmann; Veiga-Neto (2001), os Estudos Culturais da Ciência
constituem-se como um potente campo de investigações: ora como uma tendência da
qual devemos desconfiar – ao pôr em questão preceitos historicamente referenciados
para celebrar o conhecimento científico e as práticas que o produzem –, ora como um
produtivo campo de estudos, pois, a partir dele podemos discutir a construção
discursiva da Ciência e de suas produções. Assim, independentemente da vertente dos
Estudos Culturais da Ciência em questão, pode-se dizer que todas as discussões deste
campo estão, sempre e necessariamente, implicadas em e por relações de poder. Os

69
Estudos Culturais alertam-nos, ainda, para as possíveis articulações que podem ser
estabelecidas com a Educação, não somente em relação a compreensões vigentes
sobre a Ciência em processos de significação instaurados na academia e nas
instituições de pesquisa, mas, também, nos discursos da economia, da mídia, dentre
tantos outros, construídos e circulantes nas diferentes instâncias da cultura e em seus
produtos – filmes, programas de TV, propagandas, etc. Essas produções culturais,
“mesmo sem estarem voltadas diretamente para a escola, têm efeitos profundos e
contínuos não apenas sobre as atividades pedagógicas que lá acontecem, como,
também, sobre as identidades dos sujeitos que estão lá”23 (idem, p. 116). Em outras
palavras, inúmeras instâncias, além dos muros da escola, ensinam e constituem os
sujeitos, ordenando e orientando determinados tipos de condutas. Nesta perspectiva,
os autores afirmam que qualquer política educacional ou programa pedagógico que
tenha por intuito formar sujeitos minimamente críticos, que compreendam as relações
entre a ciência e a vida humana e nelas intervir, deverá incluir os aportes do campo
dos Estudos Culturais da Ciência em suas agendas.
De acordo com Hall (1997a), o domínio constituído pelas atividades,
instituições e práticas existentes desde o século XX – a revolução cultural – expandiu-
se para além do conhecido, em termos de escala, escopo global e amplitude de
impacto. Houve uma síntese do tempo e do espaço em decorrência das novas
tecnologias e, assim, estamos vivendo em mundos “virtuais”. A mídia reduz distâncias
e aumenta a velocidade com que as imagens viajam, configurando o que o autor
entende como “novos ‘sistemas nervosos’ que enredam numa teia sociedades com
histórias distintas, diferentes modos de vida, em estágios diversos de desenvolvimento
e situadas em diferentes fusos horários” (idem, p. 2). Assim, é neste momento que as
revoluções globais da cultura causam impactos sobre os nossos modos de viver, o
sentido que damos à vida e as nossas aspirações para o futuro. Neste sentido, Kellner
(2001a, p. 32) alerta-nos para o fato de que “a cultura nunca foi mais importante, e
23 Considero importante pensarmos acerca dos paradoxos e das ambiguidades do tempo em que
vivemos – tempo de genética e biotecnologia sendo incorporadas às nossas vidas e às nossas casas
cotidianamente, através dos meios de comunicação de massa; tempo internético, no qual grande parte
da população não tem acesso às informações; tempo em que se morre por malária e febre amarela e,
em que a tecnologia, a ciência e a informação não são “democráticas”, “para todos” e “para o bem da
humanidade” (RIPOLL, 2007).

70
nunca antes tivemos tanta necessidade de um exame sério e minucioso da cultura
contemporânea”.
7.2.2 Pedagogias Culturais: o ensino muito além dos muros da escola
Inúmeros autores atuantes no campo dos Estudos Culturais articulam a política
da análise à política do trabalho intelectual, demonstrando “a diferença social que a
teoria pode fazer” (NELSON et al., 1995, p. 17). Tal possibilidade que os Estudos
Culturais apresentam de, efetivamente, fazerem a diferença, encontra um lugar
bastante profícuo nas salas de aula (GROVER, 1992; GIROUX, 1992a). Nesta direção,
“clarificar como e por que o trabalho dos/as professores/as nas escolas pode estar
vinculado tanto pedagógica quanto politicamente com o trabalho cultural em outros
locais exige reteorizar a função político-educativa da escolarização” (SIMON, 1995, p.
67). Assim, penso que precisamos reconhecer que as políticas do currículo, as
condições de ensino e as práticas pedagógicas são orientadas por políticas nacionais,
estaduais e municipais, e, também, identificarmos que a escolarização está envolvida
com a distribuição desigual de conhecimentos e de recompensas simbólicas entre
grupos distintos de indivíduos. Desta maneira, a escolarização implica a manutenção
de relações de dominação, e as escolas encontram-se, inevitavelmente, presas na
relação indissociável entre cultura, conhecimento e poder (SIMON, 1995; GIROUX,
1995a). Neste sentido, os Estudos Culturais “desafiam a suposta inocência ideológica e
institucional dos/as educadores/as convencionais ao argumentar que os/as
professores/as sempre trabalham e falam no interior de relações histórica e
socialmente determinadas de poder” (GIROUX, 1995a, p. 86). A pedagogia representa
um modo de produção cultural que está implicado em como o poder e o significado
são utilizados para construir e organizar o conhecimento, os desejos e os valores; não
se reduzindo ao domínio de habilidades e de técnicas (SILVA, 1995), pois ela é uma
prática cultural e, portanto, só pode ser compreendida por meio de questões
históricas, políticas, culturais e de poder (GIROUX, 1995a). A pedagogia deve ser
responsabilizada ética e politicamente pelos discursos que produz, pelas asserções que

71
realiza acerca das memórias sociais e, ainda, pelas cenas do futuro que considera
legítimas (SILVA, 1995). Nesta perspectiva, a educação é “um local de luta e de
contestação contínuas” (GIROUX, 1995a, p.86),
Moldada na intersecção entre a reprodução social e cultural, por um
lado, e nas rupturas produzidas através de práticas alternativas,
resistentes e desestabilizadoras, por outro [...]. Como instituições
ativamente envolvidas em formas de regulação moral e social, as
escolas pressupõem noções fixas de identidade cultural e nacional
(GIROUX, 1995a, p. 86).
Neste entendimento, os/as professores/as ocupam um inevitável papel
político, ao serem educadores/as que agem como agentes na produção, na circulação
e no uso de formas particulares de capital cultural e simbólico (SMITH, 1994). Para
Giroux (1995a), os Estudos Culturais entendem que a educação cria um privilegiado
espaço narrativo para alguns estudantes e que, simultaneamente, reforça
desigualdades e subordinações para outros. Segundo o autor, a divisão intelectual do
trabalho tem sido feita em disciplinas convencionais, o que propicia poucas
oportunidades para os estudantes, a fim de estudarem “questões sociais mais amplas
através de uma perspectiva multidisciplinar” (idem, p. 87). Felizmente, estamos
gradativamente migrando de disciplinas tradicionais destinadas à preservação de uma
“cultura comum” para “os campos mais hibridizados da literatura mundial e
comparativa, dos estudos de mídia, ecologia, sociedade e tecnologia, e cultura
popular” (idem, p. 90); ao encontro do que prezam os Estudos Culturais, de modo a
facilitar a problematização de questões relativas a gênero, classe e identidade, por
exemplo (NELSON et al., 1995). Em outras palavras, os Estudos Culturais preocupam-se
menos com certificações e avaliações, e mais com a forma como o conhecimento, os
textos e os produtos culturais são utilizados – rejeitando a ideia de professores como
meros transmissores do conhecimento (GIROUX, 1995a). Assim, os Estudos Culturais
oferecem aos educadores a possibilidade de entenderem como as dinâmicas de poder,
de privilégio e de desejo social estruturam a vida cotidiana da sociedade; propiciando
que os mesmos repensem suas teorias e práticas para a educação no século XXI
(GIROUX, 1992b; 1994; 1995a).
Segundo Giroux (1995b), os Estudos Culturais ampliam a nossa compreensão
sobre o que é pedagógico, ao passo em que abarcam os ensinamentos efetivados em

72
espaços não-escolares, tais como: a Igreja, a família, a cultura popular, a televisão, o
jornal, o rádio e o cinema, concebendo-os como pedagogias culturais. Essa expressão
não deve ser entendida como “um conjunto de estratégias e habilidades a serem
empregadas para ensinar conteúdos pré-fixados” (idem, p. 135), mas, em um sentido
crítico, como algo que atenta para o controle e para o poder implicados na produção
de conhecimentos e de identidades no interior dos grupos sociais. Nesta direção,
Giroux; McLaren (1995) mostram-nos que há pedagogia em qualquer lugar onde
experiências são traduzidas e “verdades” construídas, mesmo que tenhamos a
sensação de que elas sempre tenham sido as “verdades válidas”. De acordo com
Santos (1998, p. 98), a palavra “pedagogia” do termo “pedagogias culturais” relaciona-
se “com conhecimento e poder, e em como este se exerce sobre as condições de
produção daquele, selecionando o que é válido e legítimo como conhecimento, que
representações estão em jogo para nos compor, etc”. Neste entendimento, Silva
(2013) afirma que a cultura passa a ser vista como pedagógica e que a pedagogia passa
a ser concebida como cultural; assim, os processos escolares podem ser comparados
com outros sistemas culturais. Para o autor, sob a perspectiva dos Estudos Culturais,
todo conhecimento é cultural e vinculado ao poder, pois constitui um determinado
sistema de significação. Alinhado a isto, o campo dos Estudos Culturais analisa
instâncias, institições e processos culturais diversos (como os mencionados
anteriormente, e muitos outros, dentre eles: os museus, as páginas virtuais e a
publicidade), abordando-os como pedagogias culturais – produções culturais que
participam da construção de certos modos de ser e de estar no mundo, em meio a
relações de poder, constituindo saberes além dos limites escolares.
Hall (1997a) destaca que a cultura apresenta uma crescente centralidade nos
processos globais de formação e de mudança, implicada em nossa vida cotidiana como
constituidora de nossas identidades e subjetividades. Kellner (2001a) afirma que cada
vez mais espaços e artefatos culturais estão postos em jogo nos processos citados por
Stuart Hall e que estes precisam ser discutidos no currículo escolar, visando melhorar
não só os espaços e as dimensões educativas escolares, mas também, as questões
relativas à diferença. Neste sentido, Giroux (1995b) ressalta que examinarmos a
cultura dos meios de comunicação de massa, com seus massivos aparatos de

73
representação e de mediação do conhecimento, é central para podermos
compreender como as dinâmicas do poder, do privilégio e do desejo social estruturam
as nossas vidas, uma vez que, nas sociedades ocidentais, os valores afirmados são os
dos grupos com poder e prestígio. Neste entendimento, Fischer (1997) aponta-nos o
papel pedagógico exercido pela mídia:
As diversas modalidades enunciativas [...] dos diferentes meios e
produtos de comunicação e informação – televisão, jornal, revistas,
peças publicitárias – parecem afirmar em nosso tempo o estatuto da
mídia não só como veiculadora, mas também, como produtora de
saberes e formas especializadas de comunicar e de produzir sujeitos,
assumindo nesse sentido uma função nitidamente pedagógica
(FISCHER, 1997, p. 61).
A nossa época é marcada pela cultura midiática, que toma o lugar de
instituições tradicionais, atuando como o principal instrumento da socialização dos
sujeitos. As corporações da mídia conferem papéis aos indivíduos como elementos
formadores de nossas identidades, muitas vezes, suplantando os efeitos produtivos
das ações de nossos pais e/ou professores neste processo (KELLNER, 2001b). A
presença dos meios de comunicação de massa na ordem do dia escolar não é um tema
novo, pois muito tem sido dito acerca das relações entre programas de TV e escolas,
jornais e educação, mídia e violência, etc. Porém, hoje, acrescentamos outros aspectos
a esta discussão, dando ênfase ao problema mais amplo da cultura, atuante na
consituição das subjetividades dos sujeitos (FISCHER, 2002). Nesta direção, a autora
aponta-nos questionamentos atuais e pertinentes:
[...] cada vez mais nos perguntamos em que medida as imagens,
textos, sons e cores da mídia – dos programas de TV e rádio às
reportagens e matérias de um sem-número de revistas e jornais –
passam a ter uma participação efetiva nos modos pelos quais
crianças, adolescentes e jovens (e adultos também, por que não
dizer?) conduzem e pautam suas práticas diárias, suas formas de
comunicar-se, seu jeito de compreender não só o mundo social e
político como, principalmente, a própria vida pessoal, os
sentimentos, desejos e emoções mais íntimos. Que aprendem eles,
que discursos os interpelam incessantemente nesses espaços
sedutores da mídia? Que efeitos de sentido têm os enunciados que
circulam nesses meios, especialmente quanto à produção de sujeitos
– de formas de existência que se tornam verdades para os indivíduos
e grupos, na relação consigo mesmos? (FISCHER, 2002, p. 135).

74
Não pretendo aqui responder a tais questões, mas sim fomentar o surgimento
de outras ao longo deste estudo, para podermos pensar de outros modos acerca dos
apelos midiáticos aos quais estamos expostos na ordem do dia. Considero os meios de
comunicação de massa centrais em nossa cultura contemporânea, uma vez que estão
implicados na constituição do que somos, do que queremos ser, de como agimos e de
como queremos agir. Nesta direção, entendo ser importante atentarmos,
particularmente, para a mídia publicitária, e para as transformações pelas quais a
mesma passou antes do e durante o século XX. Segundo Postman (1985) apud Kellner
(1995), no primeiro período, a publicidade tendia a ser predominantemente
informativa, fazendo uso de meios impressos, argumentações racionais, persuasões
verbais e retóricas, de maneira a induzir os consumidores a comprar os produtos
oferecidos. No entanto, Kellner (1995) menciona que, a partir dos anos 1980, os
anúncios publicitários começaram a utilizar em larga escala fotografias e ilustrações,
passando a apresentar textos em formato de slogans, jingles e rimas simples, “com a
imagem substituindo a racionalidade discursiva” (idem, p. 111). Neste sentido, a
publicidade tornou-se, de certo modo, o “discurso político dominante do século XX,
com suas imagens de mercadorias, consumo, estilos de vida, valores e papéis de
gênero deslocando outras formas de discurso político” (idem, p. 111). Desde esta nova
configuração, a publicidade passou a ser uma das esferas mais avançadas de produção
de imagens, com mais recursos financeiros, talento e energia investidos do que
qualquer outra forma de cultura da nossa sociedade capitalista. Neste sentido, a
publicidade “é uma pedagogia que ensina os indivíduos o que eles precisam e devem
desejar, pensar e fazer para serem felizes, bem-sucedidos [...]” (idem, p. 112). Assim, a
mídia publicitária “ensina uma visão de mundo, valores e quais comportamentos são
socialmente aceitáveis e quais são inaceitáveis”; e mais: a publicidade “pode ser uma
das principais forças de moldagem do pensamento e do comportamento” (idem, p.
112). Nesta perspectiva, Douglas Kellner afirma que:
Um exame cuidadoso das revistas, da televisão e de outros anúncios
imagéticos indicam que ela [a publicidade] é avassaladoramente
persuasiva e simbólica e que suas imagens não apenas tentam
vender o produto, ao associá-lo com certas qualidades socialmente
desejáveis, mas que elas vendem também uma visão de mundo, um
estilo de vida e um sistema de valor congruentes com os imperativos
do capitalismo de consumo (KELLNER, 1995, p. 113).

75
Nesta perspectiva, compreendo que as imagens apresentam importantes
efeitos pedagógicos. De acordo com Pires (2008), algumas imagens levam-nos
imediatamente a questionarmos determinados hábitos, costumes e ideias. No entanto,
outras, mais discretas ou com menos significados para nós, podem passar
despercebidas... Para Manguel (2001), “só podemos ver aquilo que, em algum feitio ou
forma, nós já vimos antes” (idem, p. 27). De qualquer modo, as imagens, percebamos
ou não, interpelam-nos e constituem-nos. Pires (2008) pondera que, na cultura urbana
contemporânea, o contato com as imagens ocorre continuamente e a representação
pela imagem tem enorme penetração no meio social. Desde crianças, aprendemos a
interpretar as imagens e somos subjetivados pelas mesmas. Neste sentido, ao
analisarmos imagens criticamente, poderemos tornar-nos mais resistentes a
imposições de determinadas atividades, papéis, modelos de gênero e posições de
sujeito consideradas “naturais”, “boas” e “satisfatórias”. Não existe uma única maneira
de ler imagens e a definição de sua interpretação provém, justamente, desta
diversidade. Kellner (1995) considera fundamental pensarmos sobre algumas
estratégias para que possamos conviver com o ou “sobreviver ao assalto das imagens,
mensagens e espetáculos da mídia que inundam nossa cultura” (idem, p. 107). O autor
propõe que desenvolvamos um alfabetismo crítico em relação à mídia e de
determinadas competências em relação à leitura crítica de imagens. Tal proposição
objetiva constituir um alfabetismo que contribua para “tornar os indivíduos mais
autônomos e capazes de se emancipar de formas contemporâneas de dominação,
tornando-se cidadãos/ãs mais ativos/as, competentes e motivados/as para se
envolverem em processos de transformação social” (idem, p. 107). A inundação
midiática a qual Kellner refere-se tem revelado-se mais intensa a partir do surgimento
da televisão e, posteriormente, da Internet. Assim,
Desde o momento em que acordamos com rádios despertadores e
ligamos a televisão com os noticiários da manhã até nossos últimos
momentos de consciência, à noite, com os filmes ou programas de
entrevista noturnos, encontramo-nos imersos num oecano de
imagens, numa cultura saturada por uma flora e uma fauna
constituídas de espécies variadas de imagens, espécies que a teoria
cultural contemporânea apenas começou a classificar” (KELLNER,
1995, p. 108).

76
Nesta linha de raciocínio, a leitura crítica das imagens que nos cercam,
apreendem e interpelam tem um papel educativo central; uma vez que pode originar –
em sintonia com as teorias moderna e pós-moderna – uma “nova pedagogia radical
que tentasse ir à raiz de nossa experiência, nosso comportamento e conhecimento, e
que objetivasse [...] a criação de novos eus, plurais, fortalecidos e mais potentes”
(KELLNER, 1995, p. 109). Ler imagens criticamente envolve tanto aprender como
apreciar, decodificar e interpretar imagens, quanto analisar a forma como elas são
constituídas e operam em nossas vidas, e o conteúdo que elas comunicam. Conforme o
autor, a nossa experiência e os nossos eus são socialmente construídos e
sobredeterminados por uma ampla gama de imagens, discursos e códigos que algumas
teorias pós-modernas – Foucault, Derrida, Deleuze/Guattari, Lyotard – auxiliam a
entender. Neste sentido, Louro (2002) considera que a tarefa dos/as educadores/as de
estenderem o seu ofício às diversas pedagogias culturais circulantes não é simples,
pois exige que o profissional não só olhe com interesse educacional para as instâncias
culturais populares – cinema, televisão, revistas, games – lendo pedagogicamente os
conteúdos que veiculam, mas também que penetrem intimamente em seus processos
produtivos e em seus modos de funcionamento.
Steinberg (1997) pensa que as organizações criadoras das pedagogias culturais
da publicidade não são educacionais, mas ligadas a certos interesses comerciais que
atuam em favor de vantagens individuais, e não do bem social. Para a autora, as
pedagogias culturais são estruturadas pelas dinâmicas comerciais, nas quais agem
forças que se impõem a todos os aspectos das nossas vidas. Além disso, Steinberg
considera que estas pedagogias produzem determinadas formas educacionais
extremamente bem-sucedidas – ao serem julgadas de acordo com os critérios
capitalistas. Bicca (2007) ressalta que, nas peças publicitárias, há uma preocupação em
apontar para quem os produtos e os serviços estão sendo vendidos e que este
endereçamento24 é feito conforme o público que, possivelmente, venha efetuar a
24 Concebo o termo endereçamento ao encontro de Ellsworth (2001) apud Dazzi (2007), como algo que
não está somente no texto de um filme (no caso deste estudo, de um filme publicitário), mas que, de
alguma maneira, age sobre os seus espactadores imaginados ou reais, ou, ainda, sobre ambos. Em
outras palavras, Ellsworth considera o termo “endereçamento” um evento ocorrido em algum lugar
entre o social e o individual; um entre-espaço – social, psíquico, ou ambos –, que está situado entre o
texto de um determinado filme e os usos que os espectadores fazem do mesmo.

77
compra. Além disso, para a autora, a propaganda vai além de ser lida pelos/as
prováveis compradores/as; “a publicidade mostra (e, ao mostrar, produz), também,
quem é o(a) usuário(a) mais frequente de algum artefato, indicando suas mais
conhecidas características e o que significa possuir/usar o bem em questão” (idem, p.
333). Simultaneamente, podemos perceber que os produtos promovidos pelos
anúncios publicitários são planejados conforme o interesse dos possíveis
consumidores, pois, de acordo com Solomon (2011, p. 568) – “um produto que oferece
benefícios coerentes com o que os membros de uma cultura desejam em algum
momento no tempo têm muito mais chances de conquistar a aceitação do mercado”.
Um exemplo disto são os “cosméticos feitos de matérias naturais, sem testagem em
animais, o que refletiu as apreensões dos consumidores quanto à poluição, ao
desperdício e aos direitos dos animais” (idem, p. 568) – como é o caso da linha de
produtos cosméticos Natura Ekos analisada neste estudo.
Hoje, observamos um aumento crescente da oferta e da publicidade de
produtos e de serviços dos mais diversos setores econômicos, voltados ao nicho de
mercado “sustentável” – cosméticos feitos com embalagens reaproveitadas, produtos
de higiene e de limpeza com refis, alimentos orgânicos produzidos localmente,
materiais de construção que utilizam menos água, eletrodomésticos que economizam
energia, lavagens de veículos e de roupas a seco, etc. – supostamente, atendendo ao
critério de utilizar os recursos “naturais” para suprir as demandas atuais, sem
comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem as suas. Neste
sentido, Solomon (2011) afirma que o consumo não pode ser compreendido sem que
se considere o contexto cultural dos sujeitos, pois “a cultura é a ‘lente’ através da qual
as pessoas veem os produtos” (idem, p. 568). Posto isto, entendo que os valores
atribuídos pelos indivíduos sejam um fator importante no processo de recepção das
mensagens das imagens e dos anúncios publicitários. Para o autor, o valor designa
“uma crença de que alguma condição é preferível à sua condição oposta” (idem, p.
172), movendo os consumidores a comprarem aqueles produtos que consideram
relacionarem-se à determinada meta a ser atingida.
Nesta direção, faz-se necessário discutirmos os valores éticos que
apresentamos ao pensarmos e agirmos em relação à “natureza”. Grün (1994)

78
considera que a questão dos direitos ambientais concerne muito mais ao “campo
educativo” do que a uma normatização ou institucionalização jurídica dos problemas
do ambiente. Assim, “a questão dos valores é anterior a questão do direito. E a
questão dos valores é uma questão educativa” (idem, p. 180). Neste sentido,
apresentamos diferentes valores éticos em relação à “natureza”, pois há múltiplas
instâncias culturais que nos ensinam o que devemos desejar e valorar, e como
devemos pensar e agir. Conforme Solomon (2011), cada sujeito será interpelado pela
publicidade de maneira diferente25. Aquilo que é valorizado ou não por determinada
cultura é aprendido por meio de vários agentes de socialização, dentre eles: os pais, os
amigos, os professores e a mídia26 – essa, aqui, particularmente interessante.
A produção cultural da “natureza” exercida pelos meios de comunicação de
massa – por exemplo, através das construções discursivas publicitárias das noções de
“biodiversidade” e de “sustentabilidade”27 – está envolta por e em inúmeras
estratégias (sobretudo: políticas, econômicas, ambientais, científicas e midiáticas),
gerando diversos sentidos sobre como devemos pensar, considerar e relacionarmo-nos
com a “natureza”. Assim, os vídeos publicitários que circulam na televisão e nas
páginas da Internet voltados ao mercado “sustentável”, lançam mão de certas
estratégias midiáticas (sons, imagens, movimentos, cores) atreladas a determinados
enunciados científicos, de modo a validar os discursos que veicula. Ripoll (2012)
considera que vivemos cercados por uma “bioforia” – termo proposto por Van Dijck
25 Louro (1999, p.25, grifos meus) afirma que “[...] a produção dos sujeitos é um processo plural e
também permanente”. Além disso, é interessante pensarmos sobre os diferentes níveis de atenção que
as propagandas atuais e as antigas provocam-nos. De acordo com Dulac (2007, p. 89), “dispensamos às
propagandas antigas, muitas vezes, uma atenção maior do que às propagandas contemporâneas e isso
pode estar relacionado com o afastamento que nos é permitido tendo em vista sermos as consumidoras
[a autora refere-se a produtos de beleza destinados a mulheres] potenciais para as quais são criadas, ao
contrário daquelas”. Para a autora, não há um modo “natural” de ser mulher; inato às muheres por ser
parte de sua “natureza”; a feminilidade e a beleza são entendidas como construções histórico-culturais
– assim como estou concebendo a “natureza” neste estudo.
26 Conforme Louro (1999, grifos meus), homens e mulheres adultos são “gravados” por determinados
comportamentos e modos de ser ao longo de suas histórias pessoais. Para que estas marcas sejam
efetivas, “[...] um investimento significativo é posto em ação: família, escola, mídia, igreja, lei participam
dessa produção. Todas essas instâncias realizam uma pedagogia, fazem um investimento que,
frequentemente, aparece de forma articulada, reiterando identidades e práticas hegemônicas enquanto
subordina, nega ou recusa outras identidades e práticas; outras vezes, contudo, essas instâncias
disponibilizam representações divergentes, alternativas e contraditórias” (idem, p. 25).
27 A produção discursiva da “natureza”, a partir das noções de “biodiversidade” e de “sustentabilidade”
será discutida no segundo Capítulo desta Dissertação.

79
para designar “uma espécie de sentimento eufórico relacionado às alegadas
potencialidades das biotecnologias no século XXI” (idem, p. 427). De uma maneira
geral, o comportamento “biofórico” dos sujeitos resulta da forma como os
conhecimentos científicos são, muitas vezes, apresentados pelos meios de
comunicação de massa, ao supervalorizarem a estética em detrimento do
aprofundamento das informações; de modo espetacularizado, como se estivéssemos
assistindo a um “show” da ciência. Podemos notar que tal “espetáculo da mídia” não
se restringe às notícias, mas que se estende a uma série de produtos industriais,
veiculados pela publicidade sob o amparo da expressão cientificamente comprovado,
interpelando os consumidores com o rótulo das “verdades científicas”. Neste sentido,
termos que aludem à linguagem científica, tais como “nano”, “bio”, “eco” e
“sustentável” vão além das prateleiras dos supermercados e das farmácias, eles
circundam as nossas práticas cotidianas de modo “naturalizado”. Zamboni (2001)
menciona que, em nossas conversas corriqueiras, utilizamo-nos de diversos discursos
“científicos”, a fim de legitimarmos as nossas opiniões e as nossas práticas – usamos
expressões médicas quando contamos casos de doenças familiares, alinhamos os
nossos hábitos alimentares às “verdades” nutricionais vigentes, dentre diversos outros
exemplos –, mostrando como o discurso da ciência contém um alto valor simbólico na
ordem do dia e como apresenta-se incontestável e infalível. Ao mesmo tempo,
conforme Silva; Susin (2014), os discursos populares vêm sendo considerados saberes
menores e com menos credibilidade, uma vez que costumam ser vistos como “crenças
ou mitos que devem ser substituídos pelo conhecimento ‘correto e verdadeiro’, o
saber legítimo da ciência” (idem, p. 141). Tal diferença de status de “verdade” pode
ser observada diariamente nos anúncios publicitários, repletos de discursos científicos
sobre a eficácia dos mais diversos produtos e serviços. Cito as propagandas de
repelentes e de inseticidas (desde 2015, cada vez mais frequentes, em decorrência da
alta taxa de reprodução do mosquito Aedes aegypti, um “vilão” da espécie humana,
que transmite três graves doenças: dengue, febre chikungunya e zika vírus); as
campanhas publicitárias governamentais de vacinação e de prevenção das doenças
sexualmente transmissíveis (DSTs), e os vídeos publicitários de produtos de higiene e
de cosmética (pastas dentais, cremes antirrugas, cremes anti-acne, sabonetes
antibacterianos, etc.) –; cada vez mais com a presença de profissionais da área da

80
saúde (biólogos, médicos, dentistas, dentre outros), devidamente vestidos como
cientistas (utilizando jalecos brancos), para conferir credibilidade e legitimidade aos
discursos que estão sendo vendidos. Neste sentido, os enunciados científicos
(com)provam a qualidade de seus ativos, vindo a construir “verdades” sobre os
produtos citados.
Entendo que a mídia publicitária parece constituir-se como uma instância social
que produz e que põe em circulação alguns ensinamentos de modo muito mais
agradável do que a escola tem feito; competindo desigualmente com a mesma, não
em relação aos conteúdos que veicula, mas ao poder de atratividade que exerce sobre
os sujeitos. De acordo com Guimarães; Silva (2009, p. 36), qualquer artefato cultural é
passível de tornar-se um recurso didático, “menos para apontar os seus ‘erros’ ou as
suas ‘distorções’ [...], mas para entender, efetiva e minimamente, o que eles nos
ensinam sobre biologia, sobre corpo, sobre beleza, sobre saúde, [...] sobre natureza,
sobre genética, sobre o DNA, sobre os seres vivos, etc.”. Neste sentido, compreendo
que as ferramentas teórico-metodológicas do campo dos Estudos Culturais, com
análise de pedagogias culturais (particularmente, de vídeos publicitários) podem
operar como novos horizontes de estudo e como novas perspectivas analíticas para
os/as pesquisadores/as da área da Educação atuantes em qualquer nível de ensino;
sobretudo, para pensarmos de forma crítica acerca dos elementos discursivos e não-
discursivos que nos interpelam e subjetivam, borrando as fronteiras entre “natureza”,
publicidade, ciência, política, economia e consumo.

81
CAPÍTULO 2
As Naturezas da “Natureza”:
(re)construções discursivas ao longo de
tempos, espaços e relações de poder
Isto que chamamos “natureza” é parte e resultado de uma longa
história cultural e de uma aplicada atividade humana (VIVEIROS DE
CASTRO, 2007, p. 125).
A partir da citação de Viveiros de Castro (2007), podemos pensar que o que
denominamos “natureza” designa uma invenção histórica, social e cultural, criada
numa rede de sentidos – saberes, noções, valores, imagens –, cujos discursos orientam
os nossos modos de ser, estar, sentir, pensar, agir e consumir. Assim, neste capítulo,
transito por diferentes momentos históricos desde a Antiguidade Grega até os dias de
hoje, procurando chamar a atenção para a dimensão constitutiva da “natureza”. Para
tal percurso, utilizo-me de narrativas de autores sobre como vem se falando da
“natureza” no Ocidente; não pretendendo abarcar todas as explicações e todos os
momentos históricos – o que seria uma impossibilidade. Ao me interrogar sobre o
modo como se fala da “natureza” nos vídeos publicitários da Natura, olho para o
passado procurando possíveis marcas naquilo que tomamos como sendo a “natureza”
hoje, numa tentativa de provocar outros modos de pesar e de conceber a nossa
relação com a mesma.

82
8.1 A Invenção da “Natureza”
A partir de um entendimento da cultura como algo central em nossas vidas –
um conjunto de práticas produtoras de significações sobre as coisas, o mundo e nós –
podemos dizer que ela está intimamente ligada às relações de poder postas em jogo
pelas práticas sociais (HALL, 1997a). Nesta perspectiva, diferentes formas de
relacionarmo-nos com a “natureza” dizem respeito a ideias constituídas culturalmente,
que nos interpelam acerca do que é a “natureza” e de quais são as possíveis formas de
relacionarmo-nos com a mesma (GUIMARÃES, 2007). Assim,
[...] os modos como vemos a natureza, e também como nos
relacionamos com os diferentes seres que nela estão, são
constituídos culturalmente. Alio a essa consideração a suposição de
que a cultura, através das práticas derivadas dos inúmeros artefatos
(os filmes, os vídeos educativos, as revistas, as histórias em
quadrinhos, os livros didáticos, os romances, as novelas televisivas,
os documentos históricos, os relatos de viagem, entre inúmeros
outros) produzidos em diferentes instâncias de produção cultural, é o
locus central das dispustas e negociações dos significados dados à
natureza e, também, às possíveis formas de estabelecermos relações
com a mesma. Podemos também dizer que há uma dimensão
pedagógica nesse processo, na medida em que, ao estarmos
mergulhados em uma profusão de artefatos culturais, somos
interpelados por diferentes significados produzidos e disputados na
cultura sobre a natureza (GUIMARÃES, 2007, pp. 240-241).
Nesta direção, Amaral (2007) pondera que a percepção que temos sobre o que
consideramos ser a “natureza” é “[...] profundamente marcada por construções
estéticas e culturais que nos permitem estabelecer ‘o que ver’, o que admirar, o que
‘conservar’ e ‘proteger’ no mundo dito ‘natural’” (idem, p. 250). Conforme a autora,
precisamos olhar para as transformações que nós exercemos nos seres humanos e
não-humanos e, ainda, para a complexa produção do nosso entendimento e das
nossas possibilidades de significação daquilo que consideramos ser a “natureza”.
Conforme Amaral (2003) e Leff (2010; 2013), a “natureza” foi e é falada, narrada,
pintada e apresentada nas e pelas culturas desde as representações pré-históricas da
arte rupestre e, sobretudo, na concepção atual do mundo, que naturaliza a “natureza”,
concebendo-a como algo que está dado como sinônimo de bens e de recursos
“naturais” dos quais podemos usufruir; rompendo as suas inter-relações e ignorando a
sua complexidade.

83
A “natureza” é talvez a palavra mais complexa da linguagem, permeada por
todo tipo de histórias, geografias, sentidos, fantasias, sonhos e imagens de desejo
(WILLIAMS, 1988). Além disso, a “natureza” é uma das metáforas mais potentes e
performáticas da língua em nível social e político. Para Swyngedouw (2011), se há um
termo que deve ser explorado, a “natureza” deve ocupar, sem dúvidas, um posto
muito elevado na lista de candidatos, visto que acolhe uma pluralidade de fantasias e
de desejos, tais como: “o sonho de uma natureza sustentável, o desejo de fazer amor
em uma praia calorosa ao pôr-do-sol, o medo e a vingança da Natureza se seguirmos
expulsando CO2 para a atmosfera...” (idem, p. 43, minha tradução livre do espanhol
para o português). A “natureza” é proclamada, conforme o autor, como o substituto
de outros desejos e paixões, frequentemente, reprimidos ou invisíveis; constituindo-se
como um elemento vazio central, cujo sentido somente é esclarecido quando há uma
relação com outros significantes, reconhecíveis de maneira direta. Cito alguns
exemplos: instinto “natural”, ordem “natural”, lei “natural”, recurso “natural”,
sanduíche “natural”, suco “natural”, beleza “natural”, etc.
Para pensarmos sobre a “natureza”, Marín-Díaz (2009) sugere que transitemos
por diferentes metáforas e imagens que expressaram e definiram a atitude dos
sujeitos com relação à mesma ao longo do tempo, como manifestações das formas do
pensamento em determinados momentos históricos. Assim, na tentativa de conhecer
diversas formas como se pensou a “natureza” em diferentes épocas e suas relações
com os pensamentos no presente, volto o meu olhar para o passado. Tal percurso
pode criar condições para concebermos a “natureza” como uma invenção, uma
construção sócio-histórica, criada numa rede de sentidos – saberes, compreensões,
valores, imagens –, cujas formações discursivas orientam nossos modos de ser, estar,
pensar, agir e consumir. Neste entendimento, talvez, possamos conceber que a
“natureza”, constantemente apresentada pelo dualismo natureza/cultura, não deveria
ser separada das condições culturais em que é concebida. Lenoble (1990, pp. 16-17)
afirma que: “não existe uma Natureza em si, existe apenas uma Natureza pensada [...].
A ‘natureza em si’, não passa de uma abstração. Não encontramos senão uma ideia de
natureza que toma sentido radicalmente diferente segundo as épocas e os homens.”.
Latour (2004), por sua vez, menciona que a “natureza” é uma maneira histórica de

84
pensarmos sobre as nossas relações com os objetos e com as políticas entre nós; e
que, portanto,
[...] jamais teremos um acesso imediato “à” natureza; não teremos
acesso a esta, dizem os historiadores, os psicólogos, os sociólogos, os
antropólogos, senão por meio da história, da cultura, de categorias
mentais especificamente humanas. [...] ao afirmarmos que a
expressão “a” natureza, não tem nenhum sentido, parece que
tornamos a encontrar o bom senso das ciências humanas (LATOUR,
2004, p. 65).
Discursos em prol da “natureza” difundiram-se no campo social, de maneira
expressiva e globalizada, a partir de 197028. Desde então, sociedades, organizações,
legislações e governos vêm travando embates por tentativas de mudanças de posturas
e por redirecionamentos de ações em relação às questões ambientais e, também,
relativamente ao modo como relacionamo-nos com a “natureza”. Nesta direção, uma
difusão de sentidos e de relações com o ambiente vieram a atuar como potentes
diferenciais para a venda de produtos pela mídia, particularmente, pela publicidade,
utilizando-se de determinadas noções de “natureza”.
Amaral (1997a), ao tratar das representações da “natureza” no discurso
publicitário, destaca o quanto vivemos em uma cultura fotocêntrica, auditiva e
televisual. Assim, os sons eletronicamente produzidos e a constante proliferação das
imagens funcionam como um tipo de “catecismo da mídia”, uma “pedagogia
perpétua”, por meio da qual aprendemos a codificar comportamentos e valores, e a
reproduzir e “naturalizar” significados e representações, que organizam a nossa vida
cotidiana de modo decisivo. Para a autora, as imagens publicitárias, em suas
complexas redes de representações, constroem não só o desejo de comprar
determinado produto, mas também uma ideia sobre o mundo – o que é ter sucesso,
ser livre e feliz, quem manda e quem obedece, etc. Em relação à “natureza”, Amaral
ressalta a frequência com que as mídias utilizam suas imagens (fotografias de
ambientes bucólicos, agrestes; florestas tropicais e densas; quedas d’água;
agrupamentos humanos), suas cores e seus sons (cantos de pássaros; coaxar de sapos;
barulhos do vento e da água; ruídos das grandes cidades) como sistemas de referência
em peças publicitárias, visando à venda de diversos produtos – xampús, cremes,
28 Para um breve revisitar histórico sobre o início das preocupações com as questões ambientais, leia a
Introdução desta Dissertação.

85
inseticidas, cigarros, bebidas, automóveis, pneus, calçados, televisores, e, até mesmo,
educação –, associando a tais elementos alguns valores simbólicos, como: saúde,
beleza, “naturalidade”, liberdade e aventura. Nestas situações são construídas formas
de ver, de compreender e de se posicionar frente à “natureza”; e, por vezes, estas
diferentes formas opõem as noções de “natureza” e de cultura, vinculando a
“natureza” ao primitivo e à ausência de bens industrializados e, a cultura ao uso das
tecnologias, à urbanização e à presença dos seres humanos. Além disso, os anúncios
recriam e superam a definição de natural e de próprio à “natureza”, a partir da
evocação das tecnologias. Em outras propagandas, a “natureza” acaba sendo vinculada
à saúde e à beleza, recorrendo, frequentemente, às visões antropocêntricas e
utilitaristas sobre a “natureza” – o que ainda é usual nos currículos escolares
tradicionais.
Nesta linha de raciocínio, inicialmente, revisito algumas compreensões de
“natureza”, a fim de conhecer noções e transformações que foram ocorrendo em
diferentes épocas, configurando os elementos discursivos que integram e produzem as
formas de pensarmos a “natureza” hoje. Posteriormente, trago discussões sobre a
mídia como uma importante instância educativa, ao ensinar como devemos ser, estar,
pensar, agir e consumir. Em relação à “natureza” não é diferente, pois os meios de
comunicação de massa veiculam “verdades” que se imbricam e constituem as formas
como devemos significar e negociar a nossa relação com a mesma. Neste sentido,
torna-se relevante olharmos de maneira crítica acerca do que e de como se fala sobre
a “natureza” nos anúncios publicitários29, que, segundo Fischer (1997) – configuram
materialidades discursivas, geradoras e veiculadoras de discursos e, assim,
constituidoras de sujeitos sociais. Ao final deste capítulo, analiso e discuto como a
linha de produtos Natura Ekos fala sobre a “natureza” com a finalidade de atingir e de
formar sujeitos consumidores, a partir de quatro vídeos publicitários: “Natura Ekos -
Somos Produto da Natureza”; “Making Of - Natura Ekos & Emma Hack”, “Conheça a
Nova Linha Natura Ekos Corpo” e “Da Floresta para o seu Banho”.
29 O discurso publicitário é entendido, aqui, como uma importante instância educativa, pois nos ensina,
cotidianamente, qual “natureza” devemos admirar e cuidar, qual “natureza” podemos dominar e
desprezar, e quais são as relações possíveis entre a sociedade e a “natureza” (AMARAL, 1997b).

86
8.1.1 Um Olhar Histórico para a “Natureza”
Segundo Kesselring (2000), o termo “natureza” provém do latim natura,
palavra relacionada a nasci, traduzida como nato. Tal etimologia associa-se ao que os
gregos chamaram de terceiro caráter da “natureza”. É possível que os significados dos
troncos linguísticos das palavras “conhecer” e de “natureza” ou “gênese” sejam os
mesmos – o que seria interessante conforme o autor, pois designaria que os processos
da “natureza” e os processos cognitivos seriam aparentados uns com os outros. No
entanto, segundo ele, os processos que se estabelecem contra a “natureza”, hoje, são
oriundos do próprio conhecimento da “natureza”, bem como de suas aplicações – em
referência aos efeitos negativos das Ciências Naturais sobre a “natureza”30.
Na Antiguidade Grega (séculos VI a.C. - III d.C.), particularmente, a época
Clássica Grega, o conceito de “natureza” (physis) era o oposto do de arte e do de
artesanato (tèchne). O termo grego tèchne referia-se à capacidade humana de
construção – casas, instrumentos, esculturas, entre outros. O conceito de physis, em
contraposição, representava o cosmo, o universo, tudo o que existia. De acordo com
os gregos, o primeiro caráter do conceito de physis era a vida orgânica. Assim, como a
imagem arquetípica do Estado e do cosmo era o organismo, physis era o paradigma
utilizado por muitos filósofos para tratar destas questões. A “natureza”, no entanto,
era vista como um processo circular, repetitivo, o surgir e o desvanecer – sendo este o
segundo caráter do conceito de physis. Neste pensamento, a “natureza” era eterna e
imperecível; não havia evolução das estrelas, dos planetas, dos seres vivos, bem como
não existia um criador; ela seria o princípio do que surge e do que desaparece, onde
tudo se repetiria eternamente. Há, ainda, o terceiro caráter da physis, mais específico
e particularmente interessante para as análises posteriores dos anúncios publicitários
da linha de produtos Natura Ekos – a natureza como essência, o princípio de cada ser.
Alguns filósofos tentaram determinar esta essência, procurando por algo material.
Tales pensou na água, e Anaximenes, no vapor e no ar. Heráclito foi além do material e
propôs a guerra como a essência. Pitágoras, por sua vez, revolucionou o pensamento
até então (século V a.C.), afirmando que a physis, a essência de todos os seres, era a
30 Kesselring (2000) refere-se a questões levantadas por inúmeros autores, ao encontro do que comento
sobre a Ciência ao longo desta Dissertação.

87
estrutura geométrica ou o número. Assim, os pitagóricos buscaram representar todas
as relações encontradas na “natureza” como a harmonia das esferas astronômicas.
Platão deu continuidade ao raciocínio de Pitágoras, explicando a essência através da
matemática – como a Ciência Moderna faz até hoje, por exemplo, explicando a
composição química da água pelo símbolo H20. O pensamento de Aristóteles (384 a.C.
- 322 a.C.) merece destaque, pois, para este filósofo grego, a physis era o princípio de
movimento e de repouso de todas as coisas, devido a isso, cada ser aspiraria ao seu
lugar “natural”: objetos pesados tenderiam para baixo e objetos leves (tais como o
fogo) tenderiam para cima (KESSELRING, 2000). Sendo assim, nos seres vivos:
[...] o princípio do movimento é a phyche, a alma. Visto que ela é
imaterial, os aristotélicos chamaram a alma de “forma corporis”.
Enquanto princípio da vida, a alma é, ao mesmo tempo, o princípio
das capacidades e qualidades específicas de cada ser vivo. Os
movimentos das plantas são o crescer e o murchar: a planta tem uma
alma vegetativa. Animais e homens podem se movimentar, deslocar-
se de lugar em lugar; eles têm impulsos e inclinações, sentem
necessidades, etc.; isso tudo é possível graças à sua alma apetitiva, o
thymós (KESSELRING, 2000, p. 156).
De acordo com Kesselring (2000), para Aristóteles, o Homem teria uma alma
racional; seria capaz de pensar e de planejar as suas ações. Assim, os indivíduos
estariam aptos a compreender a “natureza” por meio da ciência. Tanto a ciência
quanto o conhecimento da “natureza” pertenceriam à “natureza” humana. Para
Aristóteles, “[...] a Ciência, no sentido estrito, lida com os princípios imutáveis da
Natureza, e, graças à sua razão (nous), o Homem tem acesso direto a esses princípios”
(idem, p. 157). Conforme Junqueira; Kindel (2009), a visão de mundo instituída pelo
filósofo Aristóteles predominou até o século XVI. Para ele, a “natureza” deveria ser tida
como animada e viva, onde as espécies realizariam os seus fins “naturais”; e, em
consequência deste entendimento, a analogia entre a “natureza” e o organismo
(sobretudo, o humano), adquiriu muita força explicativa. Nesta perspectiva, podemos
notar que desde a Grécia Antiga há noções e compreensões extremamente distintas
sobre o conceito de “natureza”.
Durante a Idade Média (século XVI), no Ocidente cristão, surgiram novas
concepções de “natureza”, sobretudo, por meio da tradição bíblica, baseada no Antigo
Testamento (portanto, com raízes orientais). Para esta tradição, a “natureza” era do
âmbito da criação. Desse pensamento surgiu uma bifurcação: por um lado, o mundo

88
teria início e fim; por outro, o planeta não teria surgido de forma espontânea, mas sim,
através de um criador. Esse, no entanto, não faria parte do mundo e,
consequentemente, não residiria dentro da “natureza”. Nesta direção, a cosmologia
cristã não convivia tranquilamente com a cosmologia antiga, segundo a qual nada
existiria fora da “natureza”. A partir do século XII, especialmente, a relação entre a
sabedoria grega (sophia) e a “verdade” cristã impôs-se, visto que as obras de
Aristóteles passaram a ser conhecidas e traduzidas para outros idiomas. Neste cenário,
a ideia aristótelica sobre a “natureza” ser o princípio interno de movimento e de
repouso das coisas foi defendida por outros pensadores, porém, alterada: quem
atribuiria a cada ser a sua determinação individual (a sua physis) seria Deus. Desta
maneira, houve uma mudança na imagem da “natureza” fora do Homem, bem como
na imagem da “natureza” dentro do Homem (KESSELRING, 2000). O conceito de
“natureza” adquiriu:
[...] um componente normativo que se manifestou, por exemplo, na
convicção de que a Arte deveria imitar a Natureza. Sem essa
implicação normativa no conceito medieval de Natureza, a discussão
sobre o direito natural no começo da Idade Moderna [...]
permaneceria incompreensível. E sem a ideia do direito natural não
haveria a ideia moderna dos direitos humanos, isso é, direitos que
competem, por natureza, a cada ser humano (KESSELRING, 2000, p.
158).
Durante o período do Renascimento (aproximadamente, entre o fim do século
XIV e o início do século XVII), ocorreram mudanças importantes, principalmente,
quanto à concepção do ser humano. O homem europeu, até então reduzido a uma
inquietante solidão metafísica e envolto pela subserviência a Deus, procurou refazer-
se em busca de sua dignidade humana, sua autoria. Essa foi refletida em diversas áreas
– na pintura, surgiram os primeiros retratos individuais; nas obras artísticas e literárias
apareceram as assinaturas dos autores; dentre outros exemplos. O sentimento de
insatisfação do homem renascentista, crítico e criador ante o presente e o passado
nostálgico, contribuiu para a constituição do humanismo científico (SINGER, 1947 apud
SOUZA, 1996). A Ciência desta época apresentou duas visões frente à “natureza”: a
organiscista e a mecanicista. A primeira concebeu o macrocosmos como um organismo
de seres vivos, e o conhecimento como o resultado das experiências sensoriais e/ou
intuitivas da “realidade”. A segunda, por sua vez, compreendeu o universo como um

89
mecanismo de formas geométricas, e o conhecimento como o resultado das
experiências mensurativas. No entanto, em ambas estava inclusa a visão do cosmos
(manifestação ou livro de Deus) e dos seres “naturais”; a exclusividade da experiência
por meio de métodos, entendida como o único modo possível para o conhecimento da
“natureza”; a busca pelo domínio técnico da “realidade natural”; e, ainda, a grande
importância dos símbolos, para conferirem uma expressão científica às experiências.
Havia características diferentes para as duas visões em relação aos tipos de símbolos –
para os organicistas, a experiência sensorial requeria metáforas; enquanto que os
mecanicistas salientavam a exigência de um signo algébrico, a fim de expressar a
experiência mensurativa (SOUZA, 1996).
Segundo este conjunto de ideias ora semelhantes ora díspares, e a partir da
tentativa de tornar evidente no corpo humano a sua semelhança com Deus,
prosperaram as pesquisas sobre a “natureza” do homem. O “espírito” do
Renascimento proveu de diversas maneiras estes estudos... Na anatomia, o ver e o
saber buscaram evidenciar, no próprio fundamento corpóreo, a constitutiva dignidade
do homem entre os seres visíveis do mundo criado. Nas artes, o corpo humano foi
configurado como uma regra da perfeição de todas as formas artísticas e arquiteturais.
Para os filósofos que propunham a visão mecanicista (Nicolás de Cusa, Leonardo da
Vinci, dentre outros), a “realidade natural” era uma trama de “razões” matemáticas,
que, para ser conhecida requeria a matematização da experiência – a capacidade
intelectual de quem sabia percebê-las e expressá-las: o chamado “saber ver”.
Conforme estes sábios, os seres “naturais” eram vistos como formas geométricas,
realizadas segundo a proporção e a necessidade divinas; originando o conceito
moderno de “lei natural” (PIÑERO, 1963 apud SOUZA, 1996).
Na Idade Moderna (séculos XVI - XVIII), a ideia cristã da criação ainda era
bastante forte e preponderante. Deus permanecia como uma instância exterior à
“natureza”, criador e preservador do mundo, “mexendo” nos seres sempre que
necessário. As Ciências Naturais Modernas seguiram alguns rastros da Teologia
Medieval, herdando a ideia teológica do determinismo geral e contínuo. No entanto,
ao longo do período, este determinismo foi sendo transferido das “mãos de Deus”
para as leis “naturais”. A concepção da Idade Média de que Deus ocuparia uma
posição fora da “natureza” continuou válida na Idade Moderna. Entretanto, o Homem,

90
antes situado dentro da “natureza”, passou, agora, a ocupar uma posição externa à
“natureza” – ele é quase divino; elevou-se como dominador, como dono da
“natureza”. A “natureza” tornou-se um objeto do Homem, de sua Ciência e de sua
manipulação. O pensamento foi posto fora da “natureza” (KESSELRING, 2000). Na
Modernidade, a visão cartesiana de mundo pensa a “natureza” como um objeto do
homem. Esse, então, pergunta-se: Como posso dominar algo do qual faço parte? Como
resposta, o homem pensou que não poderia fazer parte da “natureza” (GRÜN, 2006).
Assim, o homem retirou-se da “natureza” para ser o dono dela e passou a ver-se como
o centro do mundo (JUNQUEIRA; KINDEL, 2009). A ideia aristotélica de “natureza”
animada e viva foi sendo substituída pela noção de uma “natureza” inanimada e
mecânica. As cores, os tamanhos, os sons, os cheiros e os toques da “natureza” são
substituídos por um mundo “sem qualidades” (GRÜN, 2011).
Nesta época, o homem abandona o sentimento de solidariedade com a
“natureza”, apresentado nos séculos anteriores, passando a ver-se como um estranho
no meio “natural”. Em decorrência disto, é possível que o ser humano tenha
procurado conhecer a “natureza” segundo a sua razão e através da criação de leis
universais, a fim de investigá-la por meio de experiências e de métodos analíticos, cuja
matemática seria a linguagem capaz de expressar os fenômenos “naturais” (RADL,
1988 apud SOUZA, 1996). De acordo com esta visão, o fenômeno que escapasse destas
características não seria passível de ser conhecido. A partir deste entendimento, a
Ciência passa a ocupar-se do que o homem pode conhecer; concebendo o que é
qualitativo (a “essência” dos seres ou das coisas) como algo fora deste saber. No final
do século XVII, as visões mecanicistas, cujas explicações fundamentavam-se em
princípios da Física, predominaram sobre as organicistas, baseadas em princípios
biológicos (SOUZA, 1996). Em suma, durante a Idade Moderna, o homem coloca-se
para fora da “natureza” para dominá-la, pois é a imagem e semelhança de Deus;
figurando como o único ser que tem acesso ao conhecimento – esse, necessariamente,
matemático, “racional” e “objetivo”.
Sousa Santos (1996) menciona que uma nova racionalidade científica totalitária
foi sendo constituída durante a Idade Moderna, na medida em que negou o caráter
racional das formas de conhecimento não pautadas por princípios epistemológicos e
por regras metodológicas. Surgiu uma nova visão do mundo e da vida: o conhecimento
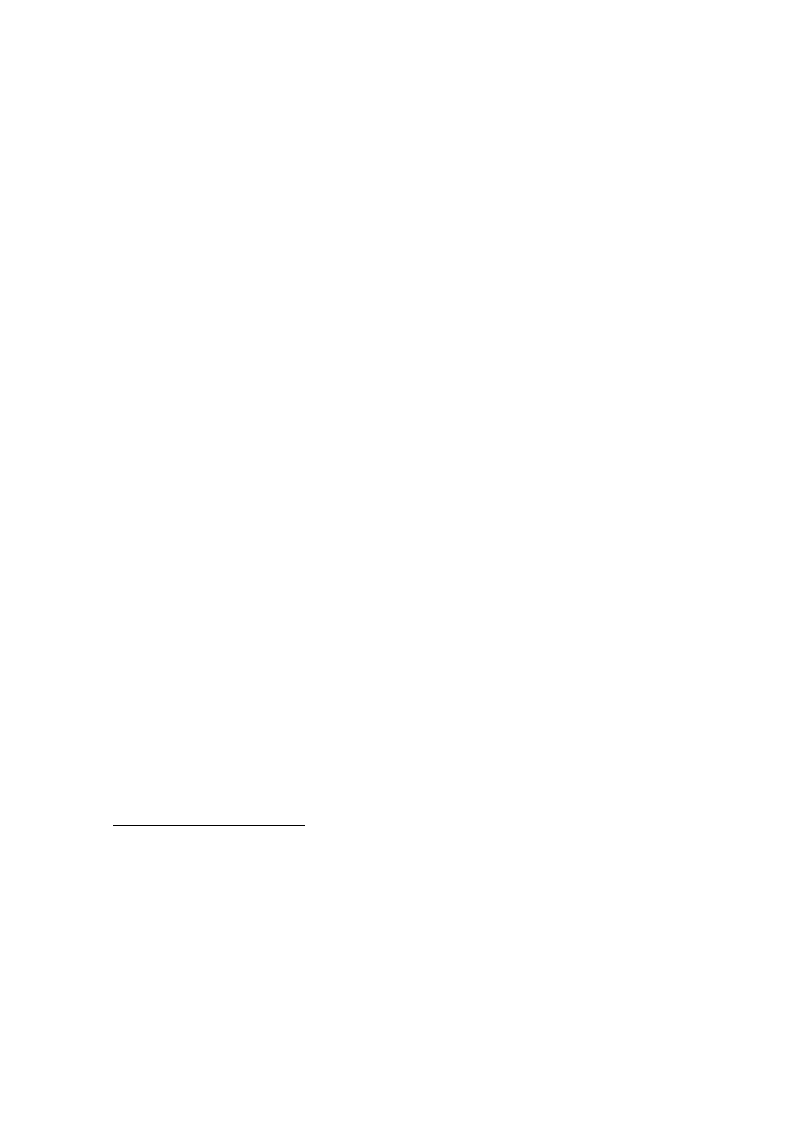
91
científico e o conhecimento do senso comum de um lado e, a “natureza” e a pessoa
humana de outro. Assim, a Ciência Moderna contrapôs-se à Ciência Aristotélica, ao
passo em que desconfiou das evidências de nossas observações imediatas. A
“natureza” passou a ser vista como algo passivo, eterno e reversível, um mecanismo
cujos elementos podem ser desmontados e relacionados sob a forma de leis, não
havendo nada que nos impediria de desvendar os seus mistérios por meio de
experiências ativas, ordenadas, sistemáticas, rigorosas, estáveis, mensuráveis e não
mais contemplativas, descompromissadas, e livres. O que não fosse quantificável não
seria relevante para a ciência. Conhecer significava dividir e classificar, para,
posteriormente, determinar relações entre o que foi separado, reduzido de sua
complexidade e descontextualizado de seu lugar e de seu tempo31. O ser humano
visava conhecer a “natureza” para dominá-la e controlá-la.
Segundo Grün (1994), na Ciência Moderna, o processo de conhecer configura
uma ruptura com o mundo “natural”, visto que o conhecimento das coisas do mundo
implica dar-lhes uma nova ordem que não aquela que os sentidos captam, mas a que a
razão impõe. A “natureza” passou a ser objetificada pela visão de mundo cartesiana-
newtoniana, e é neste sistema de valores surgidos nos séculos XVI e XVII que estamos
inseridos culturalmente até hoje... Além disso, esta visão mecanicista da vida
apresenta-se como a dominante em grande parte das Universidades ao redor do
mundo. Assim, posso pensar que os objetos e as coisas do mundo não são organizados
por si, mas sim pela razão instrumental do ser humano. Para Grün, a Ciência Moderna
estrutura-se sobre a distinção entre “natureza” e sociedade, fato e valor, ciência e
ética. O racionalismo enquanto método de abordagem do “real” foi inaugurado no
século XVII com o pensamento de René Descartes32. O homem foi tomado como um
31 Para Grün (1994), a razão cartesiana pressupõe a divisibilidade infinita do objeto. Assim, “o processo
de objetificação e fragmentação promovido pela ciência moderna atingiu diferentes níveis, que vão
desde a célula, animais, plantas e seres humanos até a natureza considerada como um todo. A
influência do pensamento cartesiano não se limita apenas à pesquisa teórica e experimental nas
universidades. Ela se faz presente no currículo das escolas na forma de padrões culturais” (idem, p. 177).
Estes padrões perpassam a educação das séries iniciais da Escola Básica ao Ensino Superior e podem ser
representados pelos livros-texto; por exemplo, no estudo do corpo humano que inicia com o estudo das
células.
32 Grün (2006) menciona que os filósofos René Descartes (1596-1650) e Francis Bacon (1561-1626)
foram e continuam sendo importantes referências para a definição de “natureza” como algo estático,
sem vida e mecânico, que pode ser estudado, controlado e dominado pelo homem; compondo, assim,

92
ser pensante e à razão humana atribuiu-se a exclusiva capacidade de conhecer e de
estabelecer o que é “verdade”. O reducionismo de Descartes (mathesis universalis)
buscou fundar uma “ciência da certeza”, na qual a matemática figuraria como algo
“exemplar” em relação à “verdade”. Uma ciência que prezava pela ordem e pela
medida, visando compreender toda a estrutura do mundo físico, quantificando a
“natureza”. Buscou-se no conhecimento matemático um suporte para entender e
estruturar o mundo, tendo em vista a conquista da “natureza”. As ideias de Descartes
foram incorporadas, também, aos seres vivos, “plantas e animais passaram a ser
concebidos como máquinas” (idem, p. 176). Neste sentido,
Na epistemologia cartesiana, existe um observador que vê a natureza
como quem olha para uma fotografia. Existe um “eu” que pensa e
uma coisa que é pensada; esta coisa é o mundo transformado em
objeto. O sujeito está fora da natureza e, mais do que isso, ele é
autônomo. A autonomia da razão pode ser considerada como uma
das principais causas do Antropocentrismo. Em uma postura
antropocêntrica, o homem é considerado o centro de tudo e todas as
coisas no universo existem em função dele (GRÜN, 1994, p. 177).
Conforme Grün (1994), a fim de fornecer aos cientistas a possibilidade de uma
descrição matemática da “natureza”, Galileu postulou determinadas restrições aos
cientistas: “eles deveriam se restringir ao estudo das propriedades essenciais dos
corpos materiais – formas, quantidade e movimento. A consequência disto é a perda
da sensibilidade estética, dos valores e da ética” (idem, p. 174). A “natureza” foi
desantropomorfizada e um potente império intelectual foi constituído sobre este
objeto inerte e passivo. Desta maneira, as dimensões sociais e políticas da vida
humana encontraram outras formas de expressarem-se, diferentes daquelas da
religião. Diante do processo de laicização das sociedades, as “certezas” da fé foram
sendo substituídas pela confiança otimista da razão. A “natureza” passou a ser vista
apenas como o lugar onde eventos ocorriam, uma matéria morta, uma fonte
inesgotável de riquezas. Nesta direção, as ideias propostas por René Descartes:
[...] influenciaram muito a nossa relação com a natureza, pois
Descartes foi o primeiro filósofo a propor uma física matemática;
com Descartes a física deixa de ser especulativa e passa, de fato, a
intervir na natureza. As consequências disso são enormes para os
desdobramentos da nossa relação com a natureza – a objetividade
cartesiana fez com que “perdêssemos” a possibilidade de pensar
uma linha divisória entre “natureza” e cultura (sendo esta última algo que diferencia o homem do
“natural”). Tal dualismo será bastante discutido ao longo deste estudo.

93
historicamente e colocou o homem europeu e branco na posição de
Dono e Senhor da natureza (GRÜN, 2006, p. 63).
Grün (1994) afirma que a educação na modernidade foi pensada e executada
como um processo no qual o objetivo maior era conquistar a “natureza”. O processo
educacional da época foi profundamente influenciado pela Filosofia e pela Ciência
Moderna, para as quais conhecer era sinônimo de romper com a “natureza”. Estudar
humanidades assinalava os indivíduos “cultos”. Ser culto significava ser radicalmente
antinatural, separado da “natureza”. Nesta compreensão, cultura era: “em primeiro
lugar, antes de tudo, um estado especificamente humano, o próprio fato de ser
humano, isto é, aquilo pelo qual o homem distancia-se da natureza e distingue-se
especificamente da animalidade” (FORQUIN, 1993, p. 12). Assim, para Grün, as
pessoas eram alienadas da “natureza”, pois passavam por um processo de abandono
da “consciência natural”. Nesta direção, tomou curso um processo de objetificação do
mundo “natural”, cujas consequências são sentidas até hoje em forma de uma crise
ambiental global. De acordo com Sousa Santos (1989), a crise de degenerescência da
Ciência Moderna adquire proporções ainda maiores, pois ao pensarmos acerca da
relação entre homem e “natureza”, em seu conjunto, encontramos explicações sobre a
destruição ambiental sustentadas em ações anônimas – ninguém parece ser
diretamente responsável, mas somos todos vítimas.
No processo crescente de constituição das cidades e de urbanização na Europa,
durante o século XVIII, houve uma radicalização da ordem burguesa e do seu almejado
“domínio humano” sobre o ambiente, materializado nos progressos técnicos que
tornaram possível a existência da Primeira Revolução Industrial. No entanto, a
triunfante Indústria nascente trouxe sua implacável contraface: a degradação
ambiental. Ao final do século XVIII, a Grã-Bretanha liderava a produção de carvão com
cerca de 90% do que o mundo produzia no período. O carvão, principal combustível da
Revolução Industrial, era utilizado para fins comerciais e domésticos, gerando enormes
quantidades de resíduos. Assim, o fenômeno smog inglês (mistura de nevoeiro e
fumaça) tornou-se a marca registrada das profundas alterações sociais e ambientais
oriundas do modo de produção industrial. Neste contexto, era notória a degradação
do ambiente nas cidades pela contaminação do ar, pela disseminação de doenças e
pelas péssimas condições de vida oferecidas aos trabalhadores. Além disto, a

94
Inglaterra sofria com os impactos de uma intensa explosão populacional, passando de
75% de população rural em 1700 para 85% de população urbana em 1800 – o que
resultou em um crescimento desordenado das cidades industriais e, em uma alta
concentração populacional constituída, sobretudo, por trabalhadores de baixa renda,
expostos a ambientes insalubres de trabalho e de moradia. Assim, a experiência
urbana condensava violência social e degradação ambiental como dois lados
indissociáveis deste novo modo de produção (CARVALHO, 2010; 2012). Nas palavras da
autora,
Enquanto a nova disciplina do trabalho nas fábricas ia marcando o
ritmo de formação da classe operária, as condições de vida no
ambiente fabril e nas cidades tornavam-se insuportáveis. A
deteriorização do ambiente urbano era, em muitos casos, ainda pior
que nos dias de hoje. [...] Não havia coleta de lixo, saneamento
adequado. Os trabalhadores se amontoavam em cortiços e eram
submetidos a longas e penosas jornadas de trabalho. A propagação
de epidemias era altíssima. Os relatos médicos da época registram
um aumento significativo dos casos de doença mental, infanticídio e
suicídio. Também se tem conhecimento de grande difusão, neste
período, de seitas e cultos de caráter apocalíptico (CARVALHO, 2012,
p. 57).
Segundo Carvalho (2010), a degradação ambiental não chegou a destacar-se na
caótica realidade urbano-industrial como um objeto específico da luta social, porém, a
deteriorização do ambiente foi percebida de maneira acentuada no período,
desencadeando mudanças culturais importantes. Nesta direção, “a insatisfação com as
condições de vida oferecidas pelo projeto civilizatório urbano-industrial, parece ter
sido crucial na geração de um forte sentimento anti-social que fez oscilar o pêndulo
dos valores relativos da natureza” (idem, p. 112); desencadeando uma mobilização
populacional expressiva, sobretudo, inglesa. Assim, novas formas de ver a “natureza”
passaram a opor-se à visão dominante até então, constituindo as raízes histórico-
culturais do interesse contemporâneo pela “natureza”.
Emerge a valorização do mundo “natural” e selvagem (wilderness) nos Estados
Unidos, principalmente no século XIX; e, a partir do século XVIII na Inglaterra, o
nascimento das chamadas novas sensibilidades – designando a atração pela “natureza”
e a valorização do selvagem, do inculto e do rústico como parte da integridade
biológica, estética e moral. A visão antropocêntrica sobre a “natureza”, na qual o
homem seria o seu dominador, preponderante no contexto social dos séculos XVI e

95
XVII – tempo de afirmação de uma nova ordem burguesa e mercantil –, passou a
contrastar com o olhar biocêntrico, que vê o homem como parte do meio “natural”.
Esta mudança cultural voltada para uma valorização da “natureza” reafirmou-se com o
movimento romântico durante o século XIX e, como um acontecimento de longa
duração, permanece até hoje (THOMAS, 1989; GRÜN, 1995; CARVALHO, 2010; 2012).
Conforme Carvalho (2010; 2012), na contraposição à violência social e
ambiental do mundo urbano afirmou-se a nostalgia da “natureza” intocada. As
paisagens “naturais” e a “natureza” em geral passaram a ser consideradas “bens”
desejados e valorizados pela sociedade. Hábitos como ter um pequeno jardim em casa,
criar animais domésticos, passear ao ar livre, ouvir música em ambientes “naturais”, ir
ao campo aos finais de semana e observar pássaros foram amplamente registrados
pela literatura e pela pintura dos séculos XVIII e XIX. O isolamento, antes considerado
um infortúnio, passou a ser buscado e os retiros temporais da sociedade passaram a
ser valorizados. Desta maneira,
O campo foi tomado como um espaço de saúde, de integridade e
beleza, associado a uma vida saudável, verdadeira, íntegra. Surge um
novo sentimento estético: a natureza agora é bonita. Os habitantes
do campo eram considerados não somente mais saudáveis, como
também eram moralmente mais admiráveis que os da cidade.
Tornou-se um lugar-comum afirmar que o campo era mais bonito do
que a cidade (CARVALHO, 2010, p. 112, grifos meus).
De acordo com Carvalho (2010; 2012), a estima pela “ordem natural” selvagem
e não cultivada, ou seja, não submetida à intervenção humana, passou a ser um tipo
de ato religioso, em sintonia com o Romantismo do século XIX. Em nome desta
sensibilidade que idealizava a “natureza” enquanto reserva do bem, da beleza e da
“verdade”, iniciou-se um importante debate acerca do sentido do “bem viver”, “onde
a natureza foi vista como um ideal estético e moral. Esta posição se expressou em
inúmeras críticas às distorções da vida nas cidades, às intervenções, à violência contra
animais, plantas, etc.” (idem, 2012, p. 59). Para a autora (2012, p. 59), este sentimento
de apreciação da “natureza”, chamado de “novas sensibilidades”, pode ser
considerado como uma sensibilidade burguesa: “[...] Afinal, era esta parcela da
população que efetivamente podia dispor de tempo e recursos para cultivar os novos
hábitos de convívio e admiração da natureza”. No entanto, a “origem de classe” das
novas sensibilidades para a “natureza” não se restringiu ao comportamento ou ao

96
ideário de uma única classe. Carvalho menciona a sua generalização enquanto valor
para um conjunto mais amplo da sociedade. Nesta perspectiva, a “natureza” passou a
ser considerada bela e, também, moralmente benéfica, pois nela permanecia a
“pureza” não degradada pela ordem humana. Os habitantes das montanhas passaram
a ser elogiados por sua inocência e simplicidade. Ao encontro disto, a “natureza” não
mais ameaçava a ordem urbana; pelo contrário, havia sido convertida em um espaço
belo e vital, do qual a sociedade precisava para conseguir restaurar-se dos excessos da
vida racionalizada. Neste sentido,
Assim como as ervas, antes daninhas, ganham em sua defesa os
argumentos da botânica, que começava a desenvolver-se, as plantas
silvestres são objeto dos primeiros atos de proteção do Parlamento.
Também cresce a indignação diante da crueldade com os animais e
multiplicam-se os comportamentos de defesa dos animais como a
condenação do costume das caçadas e o estímulo ao hábito de
observação de pássaros (CARVALHO, 2010, p. 113).
Outro fato importante advindo da Revolução Industrial foi a transformação dos
significados do tempo e do espaço, através do aumento da velocidade de
deslocamento. As distâncias passaram a ser vencidas não somente no deslocamento
físico, mas também, nos deslocamentos simbólicos, iniciados pelo telefone e pelo
telégrafo (SARAIVA, 2007). Neste contexto, as viagens foram facilitadas, estimulando
excursões de prazer e/ou de estudo para desfrutar do contato com o meio “natural”
(CARVALHO, 2010).
No século XIX, após a aceitação da Teoria da Evolução de Charles Darwin, houve
uma nova mudança no posicionamento do ser humano dentro da “natureza”.
Conforme Kesselring (2000), costuma-se dizer que o êxito de Darwin foi uma segunda
revolução copernicana, pois, se com a cosmologia copernicana “o Homem perdeu a
sua posição privilegiada no centro do Universo [...], o Homem perdeu, agora, a sua
prioridade ontológica em relação aos animais e às plantas. Enquanto espécie gerada
pela evolução, o Homem é um produto da Natureza” (idem, p. 164). Tal compreensão
gerou mudanças no posicionamento do ser humano: a perda da “divindade” humana,
o Homem como parte da “natureza”, e um deslocamento da posição de Deus como
criador do humano a sua imagem e semelhança. Tal pensamento faz-se presente até
hoje e será retomado durante as análises dos vídeos da linha de produtos Natura Ekos.

97
Segundo Kesselring (2000), desde o século XX até o presente, “natureza” e
técnica passaram a borrar as suas “fronteiras”. O Homem criou processos e produtos
artificiais, patenteou organismos construídos por modificações genéticas e mudou o
seu estilo de vida, sendo dominado pela técnica em geral; assim, vivendo como se
estivesse fora da “natureza”, ocupando-a e explorando-a. Desta maneira, a concepção
de que o Homem está posicionado fora da “natureza”, confirma-se, pelo menos, em
relação aos usos da “natureza”. De acordo com o autor, hoje, o brasileiro de classe
média não se vê relacionado com a “natureza”, o que é bastante preocupante. Será
que continuaremos arraigados à concepção de “natureza” da Idade Moderna, na qual
o Homem era o dono da “natureza”? O autor responde-nos que sim, caso continuemos
assumindo a ideia da concorrência uns com os outros, subjacente ao nosso atual
sistema econômico capitalista.
A partir deste breve olhar histórico para algumas noções e compreensões sobre
a “natureza”, considero que o cenário ambiental em que nos encontramos é marcado
por tensões. Segundo Grün (1995), há um movimento pendular que oscila entre a
nostalgia de um passado “natural” perdido e a busca por um futuro tecnologicamente
saneado e mítico. Para Grün (2011), o processo civilizatório caracterizou-se e
caracteriza-se por ser um permanente distanciamento e esquecimento da “natureza”,
porque os seres humanos têm receio de voltar à sua condição original: a barbárie.
Assim, de certa forma, a “natureza” representa o primitivo e o horror, como
apresentado pelas pesquisas de Amaral (2003) e de Braun (1999).
Amaral (2003) problematiza a produção cultural da “natureza” –
especificamente, a paisagem do Rio Grande do Sul –, por viajantes estrangeiros do
século XIX. A autora afirma que as matas foram representadas como lugares terríveis,
sombrios, assolados por feras e, concomitantemente, incultos (sem a ação dos
homens), desertos e desabitados (ao passo em que lá viviam apenas animais e plantas
ou homens de etnias tidas como inferiores). Braun (1999), por sua vez, trata das
representações de ambiente em antigos textos destinados a orientar professores
católicos e protestantes que atuávam em escolas do Vale do Rio dos Sinos, no estado
do Rio Grande do Sul, Brasil, entre os séculos XIX e XX – quando ocorria a ambientação
dos colonizadores alemães e de seus descendentes nesta região. Assim, a autora pode
analisar que os sujeitos de etnia alemã foram instituídos como “trabalhadores

98
exemplares” e suas ações e posições frente ao ambiente/à “natureza” foram
assumidas como adequadas – quando confrontadas com as exercidas por etnias
consideradas “inferiores” (sobretudo, índios, negros e descendentes de portugueses).
A autora afirma que, nestes documentos, as matas eram qualificadas como inóspitas, e
o solo como improdutivo. Além disso, o sucesso dos trabalhadores alemães em sua
colonização é associado ao processo de subtituição das florestas por áreas de cultivo,
que, posteriormente, transformaram-se em celeiros de produtos comercializáveis.
Assim, os novos habitantes destas terras (gente branca e industriosa) introduziram, ao
longo deste processo de ocupação, formas de produção semelhantes as das
sociedades capitalistas da Europa; legitimaram a prática do desmatamento – tida
como ação proveitosa e necessária, porque era economicamente lucrativa e
esteticamente embelezadora, segundo os critérios das paisagens típicas europeias.
Assim, as novas plantações não incluíam somente espécies necessárias ao sustento dos
sujeitos, mas reproduziam as paisagens da Europa, reconhecida como detentora de
uma cultura mais “aprimorada”. Era o barulho das serrarias e não os sons da floresta,
que promovia a paz e a segurança aos “civilizados”, visto que dele dependia o alcance
da situação econômica e do conforto material desfrutados por alguns de seus
compatriotas na “bela e organizada” Europa. Nesta perspectiva, Braun (1999) e Amaral
(2003) chamam a atenção para o fato de que se hoje se consideram os
desmatamentos, as queimadas, as substituições de espécies nativas por espécies
exóticas, e o sacrifício de animais nativos como problemas ambientais, esta não era a
visão circulante na cultura destes primeiros tempos da colonização. Cabe, aqui, uma
ressalva de acordo com Wortmann (2001):
[...] A autora [BRAUN, 1999] defrontou-se com discursos que
representam os imigrantes alemães como trabalhadores, ordeiros,
desbravadores, empreendedores, civilizados e amantes da natureza,
em função da riqueza dos pomares e jardins que ainda hoje
usualmente circundam suas casas. Seu trabalho não visou contestar
tais representações e, muito menos, buscar substituí-las por outras,
que tenha eleito, ao longo de seu trabalho, como mais “fiéis” ou
adequadas à representação desse grupo de sujeitos e das suas ações
(WORTMANN, 2001, p. 41).
Nesta direção, meu estudo procura mostrar alguns dos elementos discursivos e
não-discursivos que configuram as relações entre o homem e a “natureza”,
entremeados, simultaneamente, por uma noção romântica de retorno à “natureza” e

99
por um processo de abandono da mesma em busca de um suposto “progresso”
civilizatório. Wortmann (2007) menciona que podemos pensar a “natureza” a partir de
duas representações centrais. A primeira delas é a ideia de que existe uma harmonia
da “natureza”, vinculada ao pensamento religioso judaico-cristão, que assume a
existência de um criador que organizou todas as coisas e todos os seres em “seus
devidos lugares”. A segunda possibilidade é a representação que remete ao
pensamento evolucionista lamarquista, supondo a existência de uma força
organizadora interna que permite um constante “ajustamento” dos seres ao ambiente.
Nesta direção, para a autora, a harmonia da “natureza” estaria associada a motivações
inerentes à “natureza”. Faz-se importante ressaltar que não pretendo, aqui, discutir as
origens destas representações a fundo, mas sim indicar que elas estão associadas a
discursos que circulam ao longo do tempo e da cultura nas sociedades ocidentais.
Os modos de pensar sobre a existência da “natureza” não se sucederam no
tempo, mas foram transformando-se, articulando elementos discursivos que geraram
(des)continuidades no pensamento em diferentes épocas. Segundo Hoeffel; Fadini
(2007), as formas de compreender a “natureza” e as relações estabelecidas com o
mundo não-humano diferem entre determinadas culturas e determinados momentos
históricos, e mesmo entre um grupo de indivíduos pertencentes a uma mesma cultura
há interpretações radicalmente diferentes a respeito do conceito de “natureza”.
Assim, para Carvalho (2010) e Leff (2010; 2013) não podemos imaginar que as “novas
sensibilidades” erradicaram o olhar antropocêntrico sobre a “natureza”. Além de
certas conjunturas e de certos tempos históricos que originaram discursos distintos,
ambas as interpretações conservam-se; expressando-se, hoje, em uma luta de forças
que demarca, em variações de ênfase e de intensidade, o terreno no qual surge o
debate ecológico atual. Neste sentido, podemos dizer que as visões de “natureza” –
domada ou antropocêntrica e contemplativa ou biocêntrica – demarcam algumas das
disputas discursivas atuais acerca do meio “natural”.
Para pensarmos de outro modo acerca de algumas noções de “natureza”
circulantes, Kindel (2001) examina filmes infantis de Walt Disney Corporation que
tratam da “natureza”. A autora toma os vídeos como instâncias educativas, que
ensinam sobre as relações entre os seres vivos (Vida de Inseto), sobre quem é uma
“verdadeira” mulher (Pocahontas), sobre quem reina e quem é servo (O Rei Leão),

100
dentre outros. Kindel lida com os efeitos constitutivos que as representações contidas
nestes desenhos animados exercem sobre as crianças, uma vez que a bruxa de A
Pequena Sereia é gorda; o rei malvado de O Rei Leão é mais escuro que o bondoso; e a
protagonista Pocahontas do filme de mesmo nome é magra e graciosa. A autora
ressalta que diversos personagens trazem representações das diferenças de maneira
negativa, sejam elas de gênero, de raça ou de etnia. Como nestes filmes a diferença
está contida em personagens não-humanos (animais e plantas), isto ocorre de um
modo tão sutil que é possível que um olhar mais crítico sobre as suas cenas passe
despercebido. Na direção do que afirma Silva (2010), – as relações de poder fazem
com que as “diferenças” adquiram um sinal e que o “diferente”, então, seja julgado
negativamente em relação ao que é “não-diferente” – Kindel interessa-se pelas cenas
e pelos efeitos dos filmes e o que os mesmos produzem nos sujeitos. Kindel (2007)
aprofunda algumas de suas discussões sobre os desenhos animados produzidos pela
Disney, e considera que as representações da “natureza” presentes nos artefatos
culturais interpelam-nos cotidianamente. Especificamente em relação ao filme
Pocahontas, a autora destaca a presença de duas visões sobre o meio “natural” – a
visão cartesiana de “natureza” e a visão da busca por um retorno à “natureza”.
Permito-me, aqui, destacar alguns pontos destes pensamentos apresentados no filme.
A primeira visão é explícita pelo personagem John Smith (protagonista estrangeiro,
inglês) e seus companheiros da tripulação britânica, ao desembarcarem no lugar
selvagem (a América do Norte) com recursos “naturais” (sobretudo, ouro) a serem
explorados, demarcados, domados e extraídos. A segunda visão torna-se nítida após
John Smith ter contato com Pocahontas (protagonista nativa, indígena), que o ensina a
ser parte da “natureza” (ciclo da vida/ligação entre todos os seres); estar na
“natureza” (cuidado/alteridade), e a sentir as suas sensações (valor intrínseco33) –
cores, perfumes, ventos, movimentos. Nesta direção, Kindel menciona a existência de
uma busca pelo retorno à “natureza”, ao “paraíso perdido”, ao identificar nesta
“natureza” as características primitivas, originais e “verdadeiras” daquilo que tem sido
configurado como a “essência” da existência animal e animal-humana. Para a autora, a
busca pelo retorno à “natureza” é totalmente contrária a visão cartesiana de
“natureza”; enxergando o meio “natural” como “espaço de inocência, como um lugar
33 O termo valor intrínseco será retomado e discutido ao longo deste Capítulo.
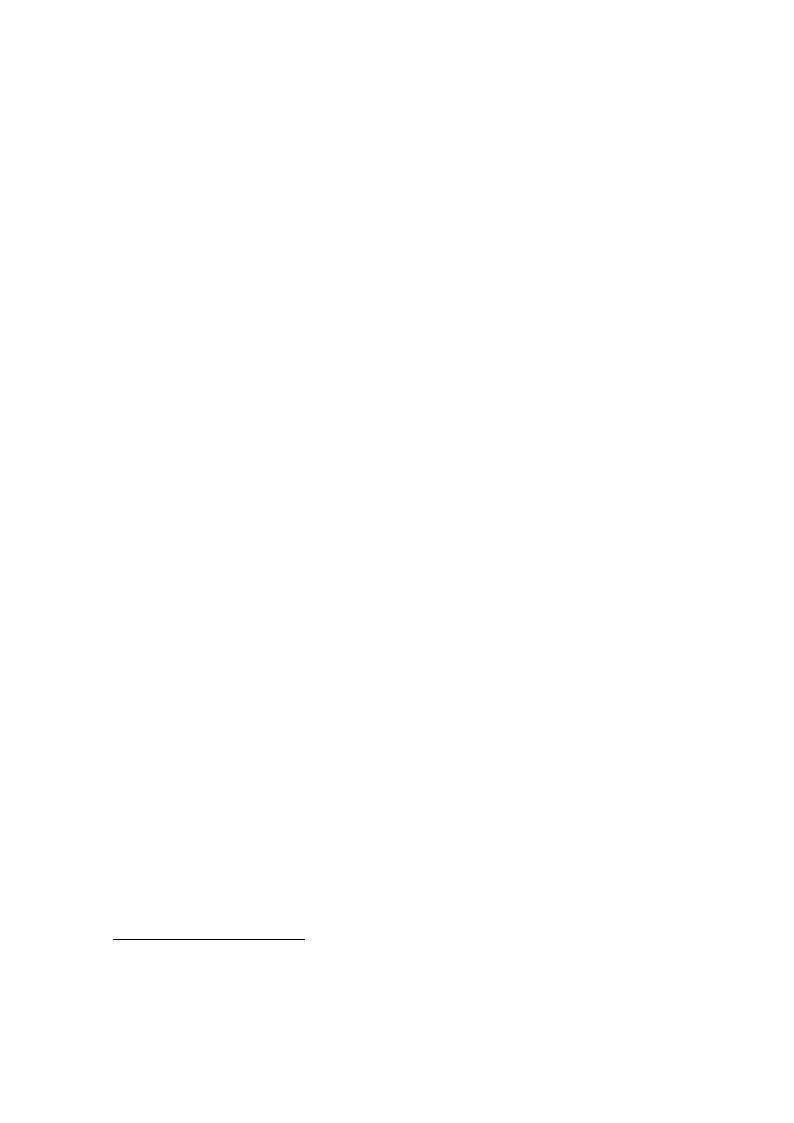
101
não corrompido, que segue leis próprias, que é regido pelas ‘forças’ do universo, sem a
interferência do animal-homem” (idem, p. 228). A autora refere-se ao domínio da
visão cartesiana de “natureza” como algo preponderante a partir da Modernidade.
Segundo este pensamento, o meio “natural” seria um “objeto” do homem moderno e,
assim sendo, a beleza estaria na “natureza” manipulada pelo homem e não mais na
floresta virgem.
Amaral (2000) menciona que a visão da “natureza” intocada e harmônica pode
retratar um homem distante da mesma, decorrendo em uma visão antropocêntrica de
mundo. Assim, Amaral (2003) entende que o nosso antropocentrismo manifesta-se,
por exemplo, ao ressaltarmos a utilidade da “natureza” para a produção de artefatos
tecnológicos e de bens de consumo para nós mesmos. Entretanto, para a autora,
simultaneamente, apresentamos uma visão contemplativa e romântica da “natureza”,
ao exaltarmos a sua beleza e a sua “pureza”. Tal tensão interpretativa, de acordo com
Carvalho (2010), aparece na polaridade antropocentrista/biocentrista34 no ecologismo
e é estruturante de boa parte das representações e dos sentidos do nosso cenário
ambiental. Neste entendimento, Amaral (2000) aponta que:
A produção discursiva sobre a natureza se reveste de muitas
roupagens, passando dos discursos biológico, ecológico, ativista,
médico, filosófico, econômico a discursos produzidos pela articulação
entre peças publicitárias, a divulgação na mídia das
descobertas/espetáculos da ciência, os documentários de História
Natural e os filmes de ficção científica (AMARAL, 2000, p. 235).
Neste momento, proponho que ponderemos a respeito da nossa visão
antropocêntrica sobre a “natureza”. Junqueira; Kindel (2009) discutem a influência e o
predomínio da visão antropocêntrica de “natureza”, de ciência e de mundo, na leitura
e na escrita do ensino de Ciências e de Biologia, em livros didáticos utilizados por
escolas. Para tanto, as autoras realizaram uma análise histórica acerca das mudanças
de noções e de compreensões sócio-culturais sobre a relação entre o homem e a
“natureza”. Elas compreendem a visão antropocêntrica como uma das formas de se
ver a “natureza” – entendida como um espaço de manipulações, explorações e
34 Para Grün (1994), o sujeito descentrado, que não se julga o centro do mundo, é um sujeito (dissidente
da racionalidade científica antropocêntrica) ligado a um sentimento quase religioso de respeito pela
vida, não só humana, mas qualquer outra forma de vida. E é essa posição/visão biocêntrica, segundo o
autor, que aponta para uma nova ética e para uma nova relação com a vida, apresentada como tendo
um valor em si mesma (valor intrínseco).

102
apropriações culturais e humanas, que nos permite escrever, traduzir e interpretar a
“natureza”, por meio do olhar humano que se afasta da mesma. Dentre os
apontamentos de Junqueira e Kindel, há explanações sobre a sua escolha por grifar a
escrita da palavra Homem com “h” maiúsculo, indicando determinados significados.
Por um lado, a opção designa a fidelidade à convenção internacional, que representa a
espécie humana: Homo sapiens (do latim, homem sábio ou homem que sabe), ainda
muito utilizada pelas Ciências Naturais, e, por outro lado, expressa a filiação à visão
antropocêntrica – “que atribui ao Homem centralidade e poder sobre a natureza,
sobre o mundo e sua ciência. Neste caso, ocupar a posição central implica ser mais
apto, mais hábil, mais inteligente, enfim, ser melhor, mais importante e mais
necessário do que as outras espécies vivas” (idem, pp. 4-5). Neste sentido, para as
autoras, o Homem manifesta-se como a “espécie superior”. Tal compreensão é
difundida tanto pela explicação criacionista da origem da vida, segundo a qual o
Homem é a imagem e semelhança de Deus e, portanto, o representante de Deus na
Terra; quanto pela concepção evolucionista, que explica esta “superioridade” humana
através da diversidade específica da nossa espécie, que é expressa por duas
características fundamentais: telencéfalo desenvolvido e polegar opositor –
diferenciando-nos de todos os outros grupos de seres vivos, inclusive, de todos os
outros agrupamentos de animais mamíferos. Seguindo esta linha de raciocínio, as
autoras apontam-nos uma contradição:
Paradoxalmente, talvez, são justamente essas características da
espécie mais evoluída, com atributos de superioridade, que, ao longo
da história da humanidade, têm sido consideradas como suporte e
legitimação do princípio que afirma a necessidade de conhecer e de
compreender a natureza para poder controlá-la e dominá-la.
Portanto, o domínio dos humanos sobre a natureza definiu e
continua definindo uma fronteira territorial entre nós-humanos e a
natureza, como se estivéssemos fora dela ou ocupando mundos
diferentes (JUNQUEIRA; KINDEL, 2009, p. 5).
Em discussões acerca da visão antropocêntrica de mundo, ainda hoje, a obra de
Nicolau Copérnico (1473-1543), intitulada “Sobre a Revolução dos Orbes Celestes”
(1543), tem sido considerada um ponto de partida para o processo revolucionário e
agregador de diversos saberes da época, denominado como Revolução Científica
Moderna. Em sua publicação, Copérnico defendeu matematicamente o modelo
heliocêntrico do cosmo, no qual o Sol seria o centro e a Terra e os demais planetas

103
girariam ao seu redor. No entanto, a hipótese heliocêntrica foi demonstrada
empiricamente apenas no século XVII, com o auxílio do aparelho telescópio e os
estudos mais avançados de Galileu Galilei (1564-1642). Mesmo assim, a contribuição
científica de Copérnico foi e é reconhecida como o início da ruptura da noção de que o
cosmo seria geocêntrico (a Terra imóvel como o centro cósmico), formulada por
Cláudio Ptolomeu durante o século II (JUNQUEIRA; KINDEL, 2009). Tal ruptura de
paradigma cosmológico evidenciou, logo,
[...] um deslocamento de posição do planeta Terra, de central à
periférica. Esta ruptura, além de marcar o começo da chamada
Modernidade, bem como o da Ciência Moderna, produziu efeitos
significativos na concepção de mundo da época e nos correlatos
conhecimentos religiosos, filosóficos, técnicos e científicos que
permeavam as sociedades, além dos que viriam a ser produzidos até
os dias de hoje, nos vários campos do saber. Assim sendo, o que
chamamos de Revolução Científica Moderna tem sido considerada
como uma representação histórica da ruptura epistemológica
iniciada há mais de quatro séculos, expressando tanto a sua
profundidade como a sua ressonância nas ciências e nas culturas
vigentes (JUNQUEIRA; KINDEL, 2009, p. 6).
De acordo com Junqueira; Kindel (2009), um exemplo desta ressonância hoje é
a noção de “natureza” como um recurso “natural”, um “bem”, à disposição do homem,
evidenciando a visão antropocêntrico-utilitarista de “natureza”, que passa a ser
dominante desde o deslocamento simbólico da Terra do centro para a periferia do
cosmo. Tal visão antropocêntrico-utilitarista mostra-se muito importante para que
possamos pensar acerca de outras construções discursivas da “natureza” e, portanto,
será retomada e discutida sob outros enfoques no próximo tópico deste Capítulo.

104
8.2 A “Natureza” como Efeito de Tecituras Culturais
A natureza é, com efeito, muito difícil de apreender. Trata-se do
mundo físico ao redor e dentro de nós, como as árvores, rios, cadeias
montanhosas, o HIV, micróbios, elefantes, petróleo, cacau,
diamantes, nuvens, nêutrons, o coração, [...]? Compreende coisas
como as rosas em um jardim botânico, suco de laranja recém-
espremido, Adventure Island na Disneylândia (um dos ecotopos com
maior biodiversidade da Terra), um eco-edifício de Richard Rogers,
[...], tomates geneticamente modificados ou uma hamburgueria?
Deveríamos ampliá-la para incluir a cobiça, a ganância, o amor, a
compaixão, a fome, a morte? Ou deveríamos pensar nela em termos
de dinâmicas, de relações e processos racionais como as mudanças
climáticas, os movimentos dos furacões, a proliferação e a extinção
das espécies, a erosão do solo, secas, cadeias alimentares, as placas
tectônicas, produção de energia nuclear, buracos negros, supernovas
e coisas neste estilo? (SWYNGEDOUW, 2011, p. 42, minha tradução
livre do espanhol para o português).
Swyngedouw chama a nossa atenção para a abrangência e a complexidade da
noção de “natureza” ao mostrar compreensões, produções, ações e fenômenos que
podem ser associados à mesma. A “natureza”, enquanto construção discursiva,
“objeto” criado pelo homem, pode abranger os mais diversos elementos da cultura, do
meio físico, dos organismos vivos e até mesmo dos sentimentos. Neste sentido, para
pensarmos sobre a abrangência da palavra “natureza”, além de dirigirmos os nossos
olhares para o passado, precisamos analisar os fatores e os atores enredados na
dinâmica contemporânea do mundo, ou seja, necessitamos observar as mudanças que
estamos vivenciando em relação à velocidade das coisas, das comunicações, dos
discursos e do consumo – esse, inclusive, das (in)formações a que somos
cotidianamente interpelados desde o momento em que despertamos até a hora em
que dormimos... Acordamos desligando o alarme do telefone celular e informando-nos
em sites de notícias, caixas de e-mails, redes sociais, e grupos de conversas com
familiares e amigos; tomamos café-da-manhã enquanto assistimos à televisão e
“engolimos” anúncios publicitários a cada 15min aproximadamente; dirigimo-nos para
o trabalho com o rádio ligado, ouvindo músicas e propagandas de jornais, de produtos
e de políticos, e vendo inúmeros outdoors e busdoors ao longo do trânsito;
trabalhamos utilizando o computador e observando dezenas de pop-ups (propagandas
que surgem na tela para chamar a nossa atenção) durante horas; chegamos em casa e

105
o que fazemos para descansar? Assistimos mais à televisão, escutamos mais o rádio,
acessamos mais a Internet e utilizamos mais o celular até o momento em que tudo
cessa por cerca de oito horas de sono para recomeçar no mesmo ritmo frenético no
dia seguinte... Hoje, vivemos em um mundo complexo, onde culturas, naturezas,
tecnologias e relações de poder articulam-se, transformando e produzindo nossas
subjetividades e identidades, vindo a constituir nossos pensamentos,
comportamentos, valores, desejos e corpos. Nesta perspectiva, considero importante
atentarmos para os efeitos das tecituras culturais em que estamos inseridos, que nos
ensinam o que é a “natureza”, o que faz parte da “natureza”, o que valorizar na
“natureza” e como consumir a “natureza”. Para podermos levar esta discussão à
diante, trago discussões acerca da compreensão de “redes” utilizada pelo sociólogo
Bruno Latour.
As redes são constituídas entre e sobre enunciados – podemos pensar acerca
dos científicos, dos midiáticos, dos econômicos, dos empresariais, dos ambientalistas,
etc., ao falarem sobre a “natureza”. Assim, torna-se possível traçar uma retrospectiva
histórica de uma assertiva específica, passando por diferentes tipos de enunciados e
percebendo como os graus de factividade aumentam ou diminuem constantemente,
em consequência de muitas operações. Uma rede pode ser definida como um
conjunto de posições nas quais um objeto adquire significado, ficando evidente que a
factividade de um objeto é relativa, ou seja, apresenta sentido para uma determinada
rede ou para redes particulares. De acordo com Latour e Woolgar, é fácil examinar a
extensão de uma certa rede; precisa-se questionar quantos são os indivíduos que
conhecem o significado de determinada palavra – por exemplo, “natureza”,
“biodiversidade” ou “sustentabilidade”. Os autores citam o termo “TRF” (ou “TRH”)
para esclarecer as suas compreensões sobre as redes (LATOUR; WOOLGAR, 1997):
[...] Temos certeza de que, para a maioria dos leitores, ele não quer
dizer grande coisa, quiçá absolutamente nada. O termo não
abreviado, fator (hormônio) de liberação da tirotropina (em inglês,
Thyrotropin Releasing Factor – Hormone), faz com que um maior
número de pessoas aproxime-o de ciência. Um grupo mais restrito
sabe que ele tem relação com o domínio da endocrinologia. Para
alguns milhares de médicos, por exemplo, o TRF está relacionado a
um tipo de teste utilizado para confirmar as possíveis disfunções da
hipófise. Para outros milhares de endocrinólogos, TRF está ligado a
uma disciplina em plena efervescência. Eles reconhecem no TRF uma
das famílias de fatores recentemente descobertos. É possível que

106
estes pesquisadores em atividade, e que são endocrinólogos, tenham
lido pelo menos alguns dos 698 artigos publicados (em 1975) com o
termo TRF no título [...]. Se eles são médicos, há chances de terem
lido pelo menos um dos artigos ou uma das obras que apresentam
essa substância. Se forem estudantes, terão tomado conhecimento
do TRF pelos manuais (LATOUR; WOOLGAR, 1997, pp. 104-105).
Neste entendimento de que as palavras apresentam significados com
determinados sentidos para certos grupos de indivíduos, Latour; Woolgar (1997)
abordam a construção de algumas “verdades” – os “fatos científicos” – criados em e
por redes de cientistas. Os autores mencionam que o TRH é aceito como um “fato”
bastando mencionar que “regula a liberação de TSH pela hipófise”, que “sua fórmula
química é Pyro-Glu-His-Pro-NH2” e que “ele pode ser encontrado nesta ou naquela
firma de produtos químicos” (idem, pp. 105-106). Assim, um fato científico funciona
como um instrumento de pesquisa, poupando os cientistas de “fontes de ruído”, uma
vez que elimina uma das inúmeras variáveis desconhecidas implicadas nas análises e
nos experimentos científicos. No entanto, para além destas redes científicas o TRH ou
TRF não existe, visto que passa a estar fora de seu contexto de produção e de
compreensão; é apenas um “pó branco banal” (idem, p. 106), sem qualquer etiqueta
para identificá-lo. Assim, a substância só será o TRF, quando estiver inserida na “rede
das práticas sociais que torna a sua existência possível” (idem, p. 202), no caso, “na
rede da química dos peptídeos, da qual é originário” (idem, p. 108). Os autores
chamam a atenção, também, para as condições e as práticas científicas nas quais um
“fato” é “descoberto”, em outras palavras, algo que estava na “natureza” (o TRF) e foi
desvelado, examinado, conhecido, identificado e publicado (em papers) pelos
cientistas:
A natureza paradoxal dos fatos não tem nada de particularmente
misterioso. Os fatos são construídos de modo a que, uma vez
resolvida a controvérsia, eles sejam tomados como fatos adquiridos.
A origem do paradoxo está na observação das práticas científicas.
Quando um observador considera que a estrutura do TRF é o Pyro-
Glu-His-Pro-NH2 e percebe que o TRF “real” também é Pyro-Glu-His-
Pro-NH2, ele fica deslumbrado com esse magnífico exemplo de
correspondência entre o espírito humano e a natureza. Mas um
exame mais aprofundado dos processos de produção revela que essa
correspondência é bem mais trivial e bem menos misteriosa: a coisa
e o enunciado são correspondentes pela simples razão de que têm a
mesma origem. Sua separação é apenas a etapa final do processo de
sua construção (LATOUR; WOOLGAR, 1997, p. 202).
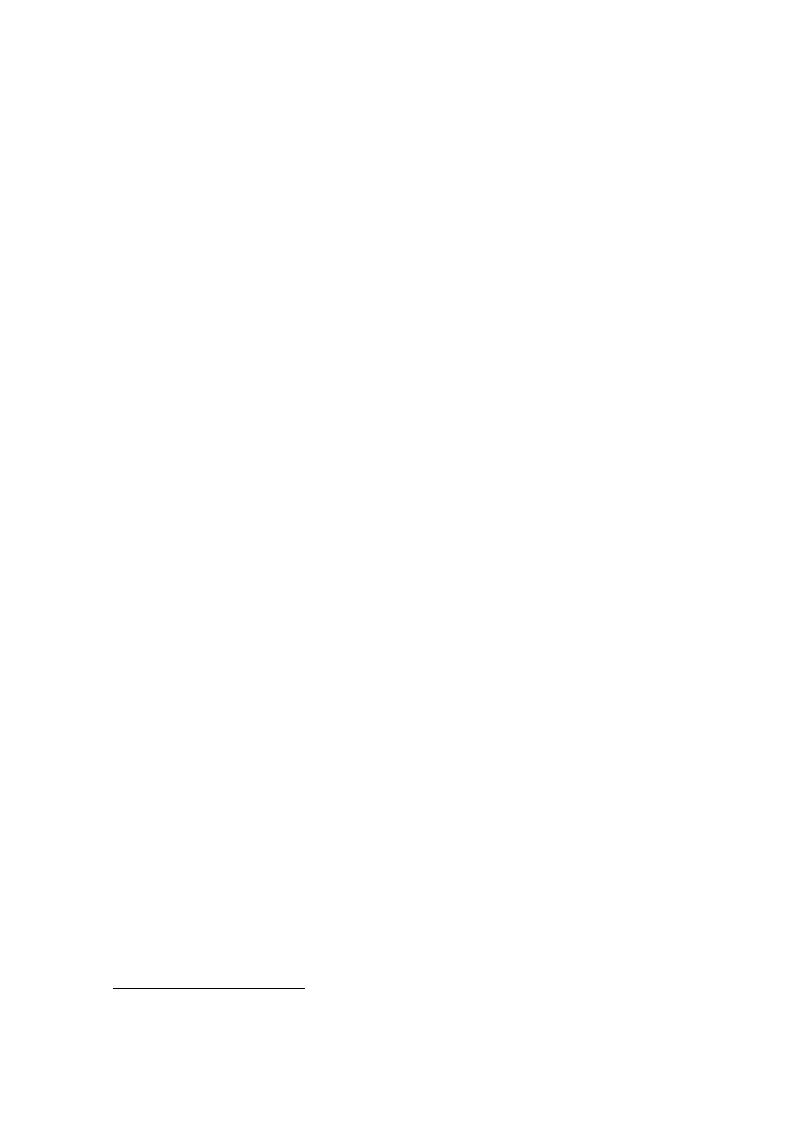
107
Na citação acima, podemos notar que Latour; Woolgar (1997) compreendem
que um “fato” e uma “realidade” são construções discursivas tanto quanto os termos
“natureza” ou “TRF”, e que só existirão, isto é, só terão sentido, para membros de uma
determinada rede, em um determinado espaço e em um determinado tempo. Assim,
conforme os autores, os objetos, os “fatos” e os enunciados são ambos produções
sociais, históricas e culturais. Nesta perspectiva, para estabilizar os processos de
produção dos “fatos” é necessário ocultar a sua história, os cientistas que os afirmam,
os instrumentos que permitem a sua medição, a calibração dos instrumentos que os
certificam, as disputas nos diferentes campos das instituições científicas envolvidas,
dentre outros elementos. A ciência é, portanto, um produto das circunstâncias
consideradas independentes da prática da ciência – o que justificaria o movimento de
tentar “eliminar” qualquer traço de circunstância, a fim de tornar possível a existência
de “objetos estáveis”. Para Latour (1994), os “fatos científicos” são representados em
textos admitidos e autorizados por um grupo de pessoas – uma comunidade científica
ou, eu complemento: “especialistas especialmente especializados” –, e mesmo que
artificiais, caros, difíceis de reproduzir, estes fatos representam a natureza como ela é.
Neste sentido, Lenoir (1997) aponta-nos o referente do trabalho científico: o modelo.
Esse é o ponto a partir do qual as comparações serão feitas e discutidas com base na
literatura científica. As comparações não são realizadas em relação à “natureza”; pelo
contrário, há um processo de construção do que é “real” para a ciência e para os seus
“objetos35” de estudo. Assim,
Os objetos de investigação científica são construídos e estabilizados
através dos instrumentos, num processo que acaba por disciplinar a
natureza, [...] uma vez que os ‘objetos naturais’, ou seja, aqueles
objetos aos quais atribuímos um valor natural, são coisas que
construímos sob condições instrumentais (LENOIR, 1993 apud
AMARAL, 1997, p. 119).
Entendo que a ciência – cientistas, práticas científicas, instrumentos e regras –
constrõe uma determinada “realidade”, validada por esta rede com a finalidade de que
ocorra a construção das “verdades” e dos “enunciados” científicos e, também, de
atender a determinadas problematizações de interesse político, econômico e social em
35 Entendo o termo objeto a partir do princípio de que não há uma “natureza” à espera de alguém que a
desvele ou descubra (SILVA, 2013).

108
cada momento histórico. Desde os séculos XVII e XVIII, as práticas ditas científicas vêm
se colocando numa posição afastada da “natureza”, a fim de poder conhecê-la,
dominá-la e explorá-la; produzindo “fatos científicos” que a representarão como ela é,
ou seja, que “descobrirão” e “revelarão” o que é a “natureza”, o que está nela e como
poderemos utilizar a mesma em nosso próprio benefício. Nesta perspectiva, Latour
(2001a) abastece-nos com outro pertinente exemplo para pensarmos sobre a
construção dos “fatos científicos”: os micróbios de Pasteur. Ele deparou-se com “uma
substância36 vaga, nebulosa e cinzenta pousada humildemente nas paredes de seus
frascos e transformou-a no fermento esplêndido, bem-definido e articulado a voltear
magnificamente pelos salões da Academia” (idem, p. 169). O autor compreende que,
de certo modo, os micróbios “autorizaram” Pasteur a sustentar a ideia da fermentação
viva e “permitiram” ser controlados e cultivados nos limites artificiais e disciplinados
dos laboratórios. Além disso, para Latour, a “descoberta” também resultou do
trabalho de Pasteur em explorar, negociar, tentar descobrir o que tem a ver com o
quê, o que tem a ver com quem, quem tem a ver com o quê e quem tem a ver com
quem. De acordo com Latour, não existe outra maneira de obter a “realidade”. Nesta
direção, o autor considera que devemos atribuir historicidade não só aos humanos que
“descobriram” os microorganismos, mas também aos microorganismos. Assim, o autor
diz que “não apenas os micróbios-para-nós-humanos, como também os micróbios-
para-si-mesmos mudaram desde os anos 1850. Seu encontro com Pasteur mudou-os
igualmente. Pasteur, digamos, ‘aconteceu’ para eles” (idem, p. 170). Esta noção
tornar-se-á mais clara com o parágrafo abaixo:
[...] Um fermento de ácido láctico, crescido numa cultura no
laboratório de Pasteur em Lille, no ano de 1858, não é a mesma coisa
que um resíduo de fermentação alcoólica no laboratório de Liebig em
Munique, no ano de 1852. Por que não a mesma coisa? Porque não é
feito dos mesmos artigos, dos mesmos membros, dos mesmos
atores, dos mesmos implementos, das mesmas proposições. As duas
sentenças não se repetem uma à outra. Elas articulam algo diferente.
A própria coisa, porém, onde está? Aqui, na lista mais longa ou mais
curta dos elementos que a constituem. Pasteur não é Liebig. Lille não
é Munique. O ano de 1852 não é o de 1858. Aparecer num meio de
cultura não é o mesmo que ser o resíduo de um processo químico
36 Bruno Latour (2001a) compreende o termo substância como um tipo de fio que mantém unidas as
pérolas de um colar e não como um alicerce imutável. A substância refere-se à estabilidade de um
determinado conjunto.

109
etc. [...] se a referência é aquilo que circula pela série inteira, toda
mudança em qualquer elemento da série provocará outra na
referência. Será coisa bem diversa estar em Lille e em Munique, ser
cultivado com lêvedo ou sem lêvedo, ser visto ao microscópio ou
através de óculos, e por aí além (LATOUR, 2001a, p. 175).
Neste trecho, podemos notar a compreensão que Latour apresenta sobre as
“redes” exemplificada. Para ele não pode haver uma mesma “realidade” em tempos,
espaços e culturas diferentes, ou seja, a “realidade” não é única e, portanto, existe de
modos distintos para cada sujeito. Assim, para pensarmos sobre a produção dos “fatos
científicos” precisamos levar em conta o contexto histórico (ou, para Latour, a
historicidade) dos mesmos. Por exemplo, a maneira com os países europeus tiveram
que reinterpretar a história da cultura alemã após a Segunda Guerra Mundial teve de
ser modificada, ou o modo como Pasteur mudou o passado com a sua microbiologia –
“o ano de 1864, elaborado depois de 1864, não tinha os mesmos componentes,
texturas e associações produzidos pelo ano de 1864 em 1864” (idem, p. 197). Haverá,
ainda, um ano de 1864 “de 1998”, “de 2016”, e assim por diante, ao qual foram
acrescentados diversos traços, dentre eles, a disputa entre Pasteur e Pouchet. Este
processo de sedimentação da historicidade nunca cessa...
Para continuarmos pensando acerca da constituição das redes, Latour;
Woolgar (1997) apontam-nos outra questão importante: elas são diferentes entre si
conforme os espaços e os tempos. Podemos observar isto dirigindo os nossos olhares
para os modos como se falou sobre o conceito e as noções de “natureza” no passado
(vide a segunda seção deste Capítulo – Um Olhar Histórico para a “Natureza”), e como
se fala sobre a mesma hoje na cultura ocidental; atentando para as distinções nos
discursos filosóficos, econômicos, industriais, sociais, ambientalistas, dentre outros,
que a constituíram e que a constituem com determinados significados e sentidos para
certos grupos de pessoas. Nesta direção, penso que a rede científica funciona por meio
de: aliados, recursos, verbas, forças de trabalho, instrumentos, resultados,
argumentos, conhecimentos, etc., que permitem o crescimento dos laboratórios. Para
Latour (2000, p. 267): “as pessoas que estão realmente fazendo ciência não estão
todas no laboratório; ao contrário, há pessoas no laboratório porque muitas mais
estão fazendo ciência em outros lugares”. Knorr-Cetina (1997) menciona que o
trabalho científico nos laboratórios é atravessado e sustentado por inúmeras relações

110
e atividades que transcendem continuamente o lugar de investigação (o laboratório) e
que são, simultaneamente, contextuais e contingentes. Latour (1995) entende que os
laboratórios são importantes fontes de poder, sobretudo, de um poder político, visto
que por política entende-se ser porta-voz de forças que conformam e configuram a
sociedade e das quais se é a única autoridade confiável e legítima. Além das
características mencionadas até o momento, tramadas na constituição de uma rede,
Latour; Woolgar (1997) mencionam haver, ainda, tecituras entre diferentes redes:
O buraco de ozônio é por demais social e por demais narrado para
ser realmente natural; as estratégias das firmas e dos chefes de
Estado, demasiado cheias de reações químicas para serem reduzidas
ao poder e ao interesse; o discurso da ecosfera, por demais real e
social para ser reduzido a efeitos de sentido. Será nossa culpa se as
redes são ao mesmo tempo reais como a natureza, narradas como o
discurso, coletivas como a sociedade? (LATOUR, 1994, p. 12).
A noção de “rede” apresentada por Bruno Latour e aqui discutida para
pensarmos o funcionamento das práticas científicas e a produção das “verdades” é
bastante complexa como podemos perceber. Ela envolve todos os fatores e atores
mencionados anteriormente e, talvez, outros que nem mesmo Latour aborde ao longo
de sua vasta obra, visto que a dinâmica contemporânea renova-se velozmente e, a
meu ver, é de difícil apreensão. Conforme a análise de Latour (1994) acerca das
tecituras entre as redes, não podemos precisar onde uma rede começa e a outra
termina, mas podemos ver o seu funcionamento entrelaçado em ação. Em relação ao
buraco de ozônio e ao discurso da ecosfera, o autor cita dois “fatos” construídos, ao
mesmo tempo, pelas redes científicas, midiáticas, sociais, empresariais e políticas;
exemplificando o quão fortemente tramadas são estas diferentes redes. Assim,
entendo que estes termos resultem de um processo de produção discursiva, elaborada
por determinados sujeitos, culturas, tempos e espaços, adquirindo significados e
sentidos distintos conforme o contexto no qual estão inseridos e são interpretados. Em
suma, aprendi que uma rede é tecida em meio a: discursos e enunciados; significados
e sentidos; “verdades” e “fatos”; espaços e tempos; interesses sociais, econômicos,
políticos, científicos, midiáticos, e, ainda, outras redes imbricadas. A partir destes
entedimentos sobre o conceito de “redes”, podemos prosseguir a discussão sobre a
“natureza” como efeito de tecituras culturais.

111
Neste momento, proponho que pensemos acerca das relações entre “natureza”
e política. Bruno Latour (2004, pp. 58-59) argumenta que, na tradição ocidental,
“Jamais, desde as primeiras discussões dos Gregos sobre a excelência da vida pública,
se falou de política sem falar de natureza; ou, além disso, jamais se fez apelo à
natureza, senão para dar uma lição de política”. Aqui, podemos relembrar as questões
sócio-históricas discutidas até o momento: a produção do conceito de “natureza”; as
(re)significações pelas quais a palavra passa desde a Antiguidade Grega, e todas as
implicações políticas envolvidas nestas mudanças discursivas – dentre elas:
entendimentos religiosos (o homem não faz parte da “natureza”, pois é a imagem e
semelhança de Deus); científicos (o homem afasta-se da “natureza” para poder
conhecê-la e dominá-la); artísticos (o homem apresenta as proporções perfeitas da
“natureza”); industriais (o homem utiliza os recursos “naturais” a favor de sua
Revolução Industrial), e ambientalistas (o homem passa a ter “novas sensibilidades”
em relação à “natureza”, vista como algo estética, ética e moralmente benéfico). Neste
sentido, para Latour:
Pode-se, certamente, inverter o sentido da lição e servir-se tanto da
ordem natural para criticar a ordem social, tanto da ordem humana
para criticar a ordem natural; pode-se até mesmo querer pôr fim à
ligação dos dois; mas não se pode pretender, em qualquer caso, que
se trataria aí de duas preocupações distintas, que teriam sempre
evoluído em paralelo, para se cruzarem somente há trinta ou
quarenta anos. Concepções da política e concepções da natureza
sempre formaram uma dupla tão rigidamente unida como os dois
lados de uma gangorra, em que um se abaixa quando o outro se
eleva e inversamente. Jamais houve outra política senão a da
natureza e outra natureza senão a da política (LATOUR, 2004, p. 59).
Em relação a esta indissociável relação entre “natureza” e política, podemos
exemplificar as discussões de Latour com a atual situação de extrema poluição
atmosférica na China; resultante de uma frenética produção industrial (abastecida, em
grande parte, por queima de carvão), que visa competir internacionalmente por
“desenvolvimento” econômico a qualquer custo – inclusive, fazendo uso de uma
expressiva mão-de-obra escrava. A capital chinesa, Pequim, em dezembro de 2015,
entrou em alerta vermelho por atingir um altíssimo índice de poluição do ar (uma
mistura de fumaça com poeira). Estima-se haver 42 milhões de pessoas (o equivalente
a quase toda a população do estado de São Paulo) com doenças respiratórias
agravadas pela poluição, e que esta péssima condição do ar cause em torno de 500 mil
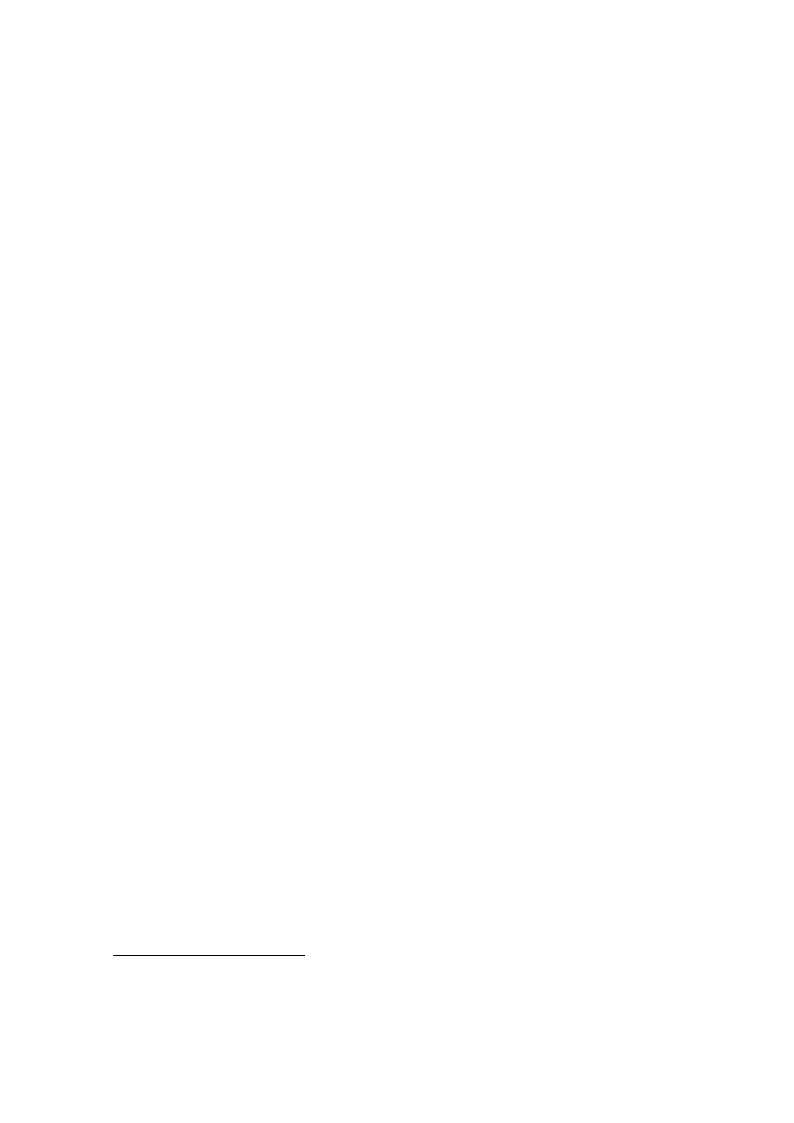
112
mortes prematuras por ano na China. Além disso, um relatório do ministério chinês,
em 2011, mencionou que cerca de 40% das 113 maiores cidades do país sofrem com
altos níveis de contaminação. Dentre as partículas de poluentes encontradas na China,
as que apresentam diâmetro inferior a 2,5 micrômetros, ao serem inaladas podem
alojar-se nos pulmões e, também, entrar na corrente sanguínea, ocasionado graves
problemas de saúde (como câncer de pulmão), podendo levar a morte. Tal cenário
criou condições para que algumas políticas de governo fossem criadas, visando
proteger a população contra os poluentes através de iniciativas como: suspensão de
atividades ao ar livre em dias em que as condições de poluição atmosférica alcançam
níveis muito elevados; construção de cúpulas para conservar certa qualidade do ar em
quadras esportivas de escolas, e enviar alertas para que as pessoas evitem sair de casa.
Os sujeitos também tentam fazer opções em prol de sua segurança, por exemplo:
instalando filtros de ar e mantendo todas as janelas fechadas nas residências, e, em
minha opinião, a atitude mais impactante – comprando “ar puro” comprido! Tal
condição, além de afetar a “natureza” e a saúde humana e não-humana, tem sido vista
como uma oportunidade de negócio lucrativo para alguns sujeitos... No ano de 2012,
uma celebridade chinesa vendeu latas de ar oriundo de Qinhai, Yunnan e Tibete
(províncias e regiões chinesas com pouca poluição). Em 2015, a empresa Vitality Air
vendeu aproximadamente 500 recipientes de “ar fresco”, coletado nas montanhas
rochosas de Banff, no Canadá, em apenas duas semanas. A empresa diz que a
demanda pelo “produto” vem crescendo e que a próxima encomenda pode ser de até
1.000 unidades – cada uma com custo entre US$ 14 e 20, conforme o tamanho do
recipiente. Podemos observar, aqui, a estratégica criação de uma demanda de
mercado, em um processo semelhante (guardadas as devidas proporções) ao que
ocorreu com a ideia da venda de água engarrafada37... Neste sentido, entendo que as
políticas chinesas em prol de um sistema econômico feroz e cruel acarretam inúmeros
problemas para a “natureza”, a sociedade e a vida como um todo; e que esta grave
situação cria condições para que outras políticas emerjam – ambientalistas,
econômicas, legislativas, etc. –, infelizmente, não necessariamente para a melhoria da
37 Para conhecer o cenário em que foram criadas as condições para o início da venda da água
engarrafada, recomendo que o/a leitor/a assista ao vídeo “A História da Água Engarrafada”, disponível
na Internet, no sítio do YouTube pelo link: <https://www.youtube.com/watch?v=P-wRcf4Swms>; acesso
em 20 de dez. de 2015.

113
qualidade do ar, mas sim para satisfazer os interesses dos indivíduos com o poder das
tomadas de decisão no país (FORBES, 2015; REPÓRTER CBN, 2015; EXAME.COM, 2015;
JORNAL DA GLOBO, 2015).
Latour (1994), ao discutir acerca das bases filosóficas do dualismo
natureza/sociedade, afirma que em um lado estaria Thomas Hobbes (fundador da
Ciência Política e das Ciências Sociais) e, em outro, Robert Boyle (expoente das
Ciências Naturais e das Ciências Exatas). De acordo com Latour, Hobbes e Boyle foram:
[...] dois pais fundadores, agindo em conjunto para promover uma
única e mesma inovação na teoria política: cabe à ciência a
representação dos não-humanos, mas lhe é proibida qualquer
possibilidade de apelo à política; cabe à política a representação dos
cidadãos, mas lhe é proibida qualquer relação com os não-humanos
produzidos e mobilizados pela ciência e pela tecnologia. Hobbes e
Boyle brigam para definir os dois recursos que até hoje utilizamos
sem pensar no assunto, e a intensidade de sua dupla batalha revela
claramente a estranheza daquilo que inventam (LATOUR, 1994, pp.
33-34).
Podemos notar que a criação e a manutenção dos dualismos implicam relações
de poder, e disputas pelas “verdades” e pelos campos disciplinares de onde são
enunciados. Embora, hoje, o dualismo natureza/sociedade não faça sentido para
alguns, talvez, tal entendimento ainda predomine, visto que as noções de “natureza” e
de “sociedade” são construções discursivas, produzidas conforme determinadas
compreensões dos sujeitos, ao longo dos tempos, dos espaços e das culturas que os
interpelam. Prosseguindo as discussões de Latour (2001b) acerca de “natureza” e de
política, ele enfatiza as contradições do movimento ecológico; algo que, inicialmente,
parecia levar a “natureza” a sério na vida política. A ecologia apresentou-se como uma
nova preocupação para o conjunto das preocupações políticas – inclusive, vindo a
destacar a “natureza” em discursos partidários e, até mesmo, como questão central da
luta de alguns partidos políticos “verdes”. Aqui, trago dois exemplos de partidos
brasileiros “verdes” com expressão e representação nacional: o Partido Verde (PV) de
Eduardo Jorge e a Rede Sustentabilidade de Marina Silva. Ambos trazem no próprio
nome a relavância que as questões ambientais apresentam como estratégia de
diferenciação político-partidária na dinâmica contemporânea e apostam nesta
“bandeira política” para embasar seus argumentos em prol de um desenvolvimento

114
econômico “sustentável”38... Para Latour, a “natureza” deixou de ser mais um dos
objetos das decisões políticas, e nós passamos a conviver com a noção de “risco”
atrelado às questões “naturais”39. Entendo que quando falamos em um objeto novo,
esse se apresenta sob o aspecto do risco e não sob o controle da razão e, segundo
Latour, “isso quer dizer que a crise ecológica não está associada a uma categoria
particular de objetos, mas a uma dúvida e uma incerteza no que se refere à fabricação
do conjunto dos objetos” (idem, p. 35). Duvida-se do controle sobre os objetos e não
dos objetos. Tal questão torna-se mais nítida com alguns exemplos atuais no Brasil: a
crise hídrica, como foco de importantes disputas políticas durante as eleições para o
governo do estado de São Paulo e do Brasil em 2014, e o desastre socioambiental40 por
derramamento de rejeitos de minério, em Mariana/MG, em 2015, considerado o
maior ocorrido no Brasil até hoje, e que vem sendo alvo de interesses político-
partidários, industriais e econômicos. Não duvidamos da existência de uma crise da
água, em decorrência da falta de chuva e/ou do mau uso deste recurso “natural”, em
vários estados brasileiros ou de um grave desastre ambiental e social, consequente de
falhas técnicas, administrativas e fiscalizadoras; mas sim do controle que os
governantes e os empresários exercem sobre as estratégias de prevenção e sobre as
possíveis soluções destas situações para a população – sobretudo, para os sujeitos de
baixa renda, frequentemente mais vulneráveis às decisões e aos poderes político-
econômicos.
38 A respeito dos meus entendimentos sobre “sustentabilidade”, leia o próximo tópico deste Capítulo.
39 Bauman (2008a, p. 14) aponta-nos alguns questionamentos para pensarmos sobre o risco ou o medo
associado às questões ambientais: “Quantas pessoas você conhece que foram vítimas dos ácaros do
tapete? Quantos amigos seus morreram da doença da vaca louca? Quantos conhecidos ficaram doentes
ou inválidos por causa de alimentos geneticamente modificados?”.
40 Bauman (2008a, pp. 24-25) cita o caso do furacão Katrina que arrasou as prais norte-americanas, para
explanar sobre a importância de acreditarmos na possibilidade de existência de uma catástrofe –
acreditar que o impossível é possível. “Nenhum perigo é tão sinistro, nenhuma catástrofe fere tanto
quanto as que são vistas como uma probabilidade irrelevante. Considerá-las improváveis ou nem
mesmo pensar nelas é a desculpa para não fazer nada contra elas antes que atinjam o ponto em que o
improvável vira realidade e subitamente é tarde demais para aliviar seu impacto, que dirá impedir sua
chegada. E, no entanto, é exatamente isso que estamos fazendo (ou melhor, não fazendo) – diariamente
sem pensar”.
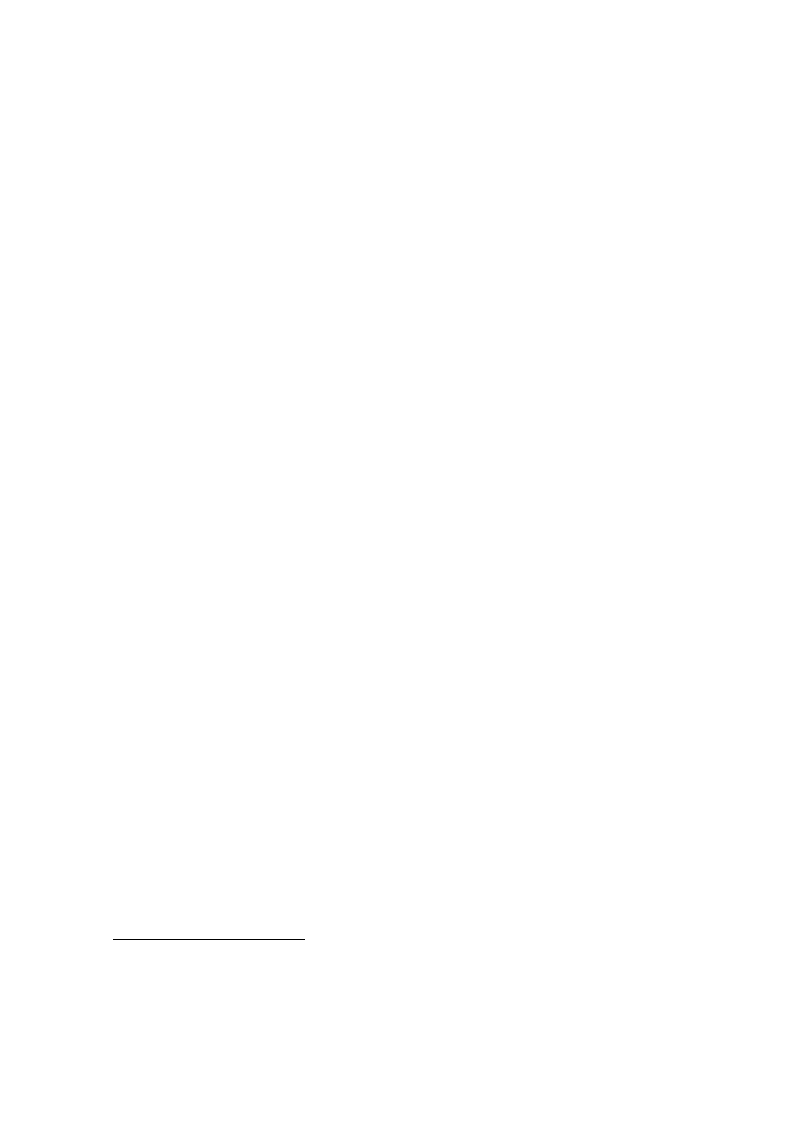
115
Latour (2001b) comenta que Philippe Descola escreveu um livro41 no qual
mostra que “nenhuma cultura, nenhuma civilização jamais utilizou a natureza como
categoria, exceto a nossa. Nós não devemos imaginar que os índios da Amazônia estão
em ‘sintonia’, em ‘harmonia’ com a natureza, eles ignoram totalmente a noção de
natureza” (idem, p. 36). Neste sentido, para Latour, nós nos importamos com a
“natureza” e os índios da Amazônia não. Assim, não faz sentido dizer que os índios
unem-se à “natureza” e que nós distanciamo-nos dela; mas somos nós que
imaginamos que eles unem, quando, na realiadade, eles não unem nada, pois não tem
a noção do conceito de “natureza”, não fazem esta separação na sua visão de mundo.
Continuando suas comparações acerca dos diferentes entendimentos sobre a vida
entre os índios e os brancos, Latour menciona o artigo de Viveiros de Castro42, no qual
relata os primeiros contatos entre os “conquistadores” espanhóis e os índios. Os
espanhóis queriam testar se os índios tinham uma alma e os índios, por sua vez,
queriam descobrir se os espanhóis tinham um corpo; denotando que os índios eram
mais próximos das Ciências Exatas e os espanhóis, das Ciências Humanas. Isto se torna
mais claro neste trecho de Latour:
Viveiros de Castro nos explica o estranho constraste entre estes dois
processos que tentam verificar, respectivamente, se uns têm uma
alma e os outros, um corpo. É que, para os índios, é totalmente
evidente que todos os animais, seres, árvores, estrelas têm uma
cultura, todos eles são subjetividades de tipo humano. O problema
para eles está na diferença que existe entre os corpos, quer dizer que
nós e os animais não temos os mesmos corpos. É esse o verdadeiro
problema. [...] quando o espanhol chega até o índio, ele estabelece
uma relação de unidade que está baseada no corpo. O corpo, para
nós, é algo comum que não causa dificuldade específica. Na época,
mesmo ainda não sendo formados por genes e DNA, éramos todos
formados pelos mesmos elementos e pela mesma matéria e
extraídos por Deus do mesmo barro. [...]. Em contrapartida,
distinguimo-nos completamente deles no que diz respeito às nossas
representações subjetivas, isto quer dizer que as características
secundárias como odores, paladares, etc. são diferentes. Mas não as
qualidades primárias. Ora, ocorre o inverso com os índios da
Amazônia. É claro que para eles as qualidades primárias são a vida
humana, a sociedade humana. [...]. Em outras palavras, no que diz
respeito aos espanhóis, há uma natureza e várias subjetividades,
41 DESCOLA, P. La Nature Doméstique. Symbolique et Praxis dans L’écologie des Achuars. Éditions de la
Maison des Sciences de l’Homme, 1986.
42 VIVEIROS DE CASTRO, E. Les Pronoms Cosmologiques et le Perspectivisme Amérindien. In: DELEUZE,
G. Une Vie Philosophique. Le Plessis-Robinson: Institut Synthélabo, 1998, pp. 429-462.

116
várias culturas. Mononaturalismo e pluriculturalismo. Já para os
índios a situação é inversa, há apenas uma cultura e várias naturezas.
Monoculturalismo e plurinaturalismo. Isso quer dizer que não
podemos unificar o mundo dos índios sob a marca do corpo, mas,
estranhamente, pode-se fazê-lo sobre o modo da subjetividade
(LATOUR, 2001b, p. 37).
Nesta perspectiva, Latour (2004) convida-nos a pensar sobre a emergência da
construção discursiva do que denomina como “ecologia política” – um campo
privilegiado ou um “novo” conhecimento que poderia romper, ou mesmo fundir, as
duas câmaras separadas: “natureza” e sociedade. Anos antes, Latour (2001b, p. 33)
criticou a ecologia (uma ciência que estuda a “natureza”, ou seja, uma lógica que
“racionaliza” a “natureza”) e o problema geral das questões sobre a “natureza”,
interrogando: “Quem conta? Quem é importante? Como organizar estes seres? Como
atribuir a eles propriedades que permitam compreender quem é o mais importante
para poder organizá-los e saber qual deles deve ser considerado?”. Latour prossegue
em sua crítica incisiva, afirmando que:
[...] os temas que nos interessam nas questões da natureza não
dizem respeito a um objeto particular exterior ao mundo humano ou
social, mas introduzem na nossa existência quotidiana uma incerteza
quanto à importância dos seres. Quem é que se interessaria, então,
antes do problema da vaca louca invadir nossas telas, pelos prions,
esses pequenos organismos, essas proteínas não convencionais? [...].
Eis aí um pequeno ser, o prion, que surge no meio de inúmeras
outras preocupações que devem levar em consideração desde o gado
da região de Bourbonnais, o gado da Escócia, os açougueiros e seu
processo de corte da carne até as farinhas e os consumidores, etc.
Será que isso é a natureza? (LATOUR, 2001b, p. 34).
Pensando sobre o seu próprio questionamento, Latour (2001b) diz que isto não
é a “natureza”, se entendermos que “natureza” seja algo exterior ao mundo social.
Mas, simultaneamente, o autor considera não se tratar de política pura; não ser algo
apenas restrito ao domínio humano. Latour entende que, quando estes seres (a
minhoca, a vaca, os prions, etc.) e, também, os problemas climáticos e de saúde
pública começaram a multiplicar-se, nós percebemos que eles referem-se não só ao
aspecto social, mas à uma nova mistura... “Eles introduzem nestas questões, ligações e
concatenações, uma incerteza sobre os membros importantes e sobre os membros
pouco importantes da cadeia. Não estamos diante da natureza, mas, sim, [...] de
proposta” (idem, pp. 34-35). Propostas diversas em relação à minhoca e seus

117
associados, à vaca louca e seus associados, em que estamos imersos num trabalho de
triagem, de pesagem e de medição destas propostas. O que teve alterações não foi o
surgimento das questões “naturais” na política; pelo contrário, foi o fim da “natureza”
em seu papel político. Para o autor, quando falamos em uma “crise da objetividade”,
perdemos a unidade da “natureza”; passamos a conceber o termo “naturezas” e
introduzimos os não-humanos na política: as minhocas, as baleias e todos os outros
seres que habitam o universo. Latour (2004) menciona que a conjunção dos termos
“ecologia” e “política” evidencia a mistura de entidades, vozes e atores que seriam
impossíveis de tratar apenas com ecologia ou somente com política. Assim, “natureza”
e sociedade requerem uma explicação conjunta e simétrica entre humanos e não-
humanos. De acordo com o autor, precisamos retornar à casa (ao oikos) para
podermos habitar a morada comum. Entendo que Latour refira-se às redes
indissociáveis que ligam “natureza” e sociedade, e ecologia e política. Hoje, os seres
humanos e não-humanos são resultantes de tantas misturas – “naturais”, artificiais,
sociais, políticas, econômicas, científicas, discursivas, etc. – que, talvez, como em
nenhum outro momento da história, saibamos o que somos, a que âmbito
pertencemos e com o que estamos lidando e relacionando-nos. Neste sentido,
considero esta uma questão central para que possamos (re)pensar sobre os nossos
modos de ser, estar e agir no mundo. Swyngedouw (2011) fornece-nos outras pistas:
Não há segurança na Natureza – a Natureza é imprevisível, errática,
se move de forma cega e espasmódica. Não há nenhuma garantia
final na Natureza na qual possamos basear nossa política ou nossa
concepção do social, na qual possamos refletir nossos sonhos,
esperanças ou aspirações. Para dizê-lo sem rodeios, reduzir (ou não
fazê-lo, como é o caso) as emissões de CO2 afeta o clima global e
conforma padrões sócio-ecológicos de diferentes modos (que, claro,
merecem tanto uma exploração científica como uma preocupação
ética), mas tal processo, ainda que tivesse êxito, não produziria em si
mesmo uma sociedade “boa” em um ambiente “bom”
(SWYNGEDOUW, 2011, p. 46, minha tradução livre do espanhol para
o português).
Swyngedouw (2011) critica a relação que temos com a “natureza” ao
posicionarmo-nos como “controladores” da mesma – ao utilizarmos os seus recursos
“naturais” e ao “preservarmos” o valor de sua “biodiversidade” para as gerações
futuras. Será que podemos destruir ou salvar o planeta? Isto está em nossas mãos?
Não sabemos... Não podemos prever “racional” e “objetivamente” o que teremos

118
como resultado de nossas ações. Latour (2004) provoca-nos a pensarmos sobre esta
imprevisibilidade da “natureza”. “Não se saberá jamais, por exemplo, se as previsões
apocalípticas, com as quais os militantes ecológicos nos ameaçam, têm o poder dos
sábios sobre os políticos, ou a dominação dos políticos sobre os pobres sábios” (idem,
p. 16). Enquanto isso, as diversas redes (científicas, ambientalistas, empresariais,
midiáticas, etc.), nas quais a “natureza” está inserida, utilizam-se dos recursos
“naturais” e da “biodiversidade” como estratégias políticas para alavancar o
desenvolvimento econômico “sustentável” das nações...
Recentemente, após o maior ataque terrorista da história da Europa até hoje,
ocorrido em Paris, na França, em 13 de novembro de 2015, o mesmo local sediou o 6º
Fórum Anual de Sustentabilidade e Inovação (SIF15), com destaque para a Conferência
das Partes (COP), número 21. O evento, realizado entre 07 e 08 de dezembro de 2015,
reuniu 43 países para discutir sobre as Mudanças Climáticas Globais. Como resultado
da reunião, foi aprovado o Acordo do Clima, estabelecendo as condições para que as
mudanças aconteçam; porém, sem metas e prazos definidos. As propostas
apresentadas voluntariamente pelas nações serão reavaliadas a cada cinco anos; no
entanto, isso não evita a possibilidade de que a temperatura média global eleve-se
mais de 2ºC ao longo dos próximos anos. Se por um lado, dois dos maiores emissores
mundiais de dióxido de carbono (CO2) – Estados Unidos da América e China –
assinaram o acordo, por outro, a questão de quem pagará a conta pela desaceleração
do “desenvolvimento” econômico, em prol da redução de CO2, permanece em
aberto... Serão as grandes potências ou os países em desenvolvimento, como o Brasil?
O conflito entre os hemisférios norte e sul ou ambos? Deste questionamento, surgem
os sujeitos que apontam para o caminho do desenvolvimento “sustentável” com uso
de fontes de energias renováveis (solar, eólica, hidrelétrica, geotérmica, maremotriz,
biomassa e hidrogênio) como solução para o problema. Será que apenas esta mudança
nas fontes de energia oriundas de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás) para as
provenientes de fontes renováveis cessaria o aumento das emissões de CO2 na
atmosfera e, assim, o aquecimento global? Será viável, hoje, que os países abandonem
os combustíveis fósseis, correspondentes a 75% das fontes energéticas do planeta? Se
pensarmos sobre o caso específico do Brasil, cuja maior fonte de energia é hidrelétrica
(mais de 70%), podemos responder negativamente a estes questionamentos. Aqui, os
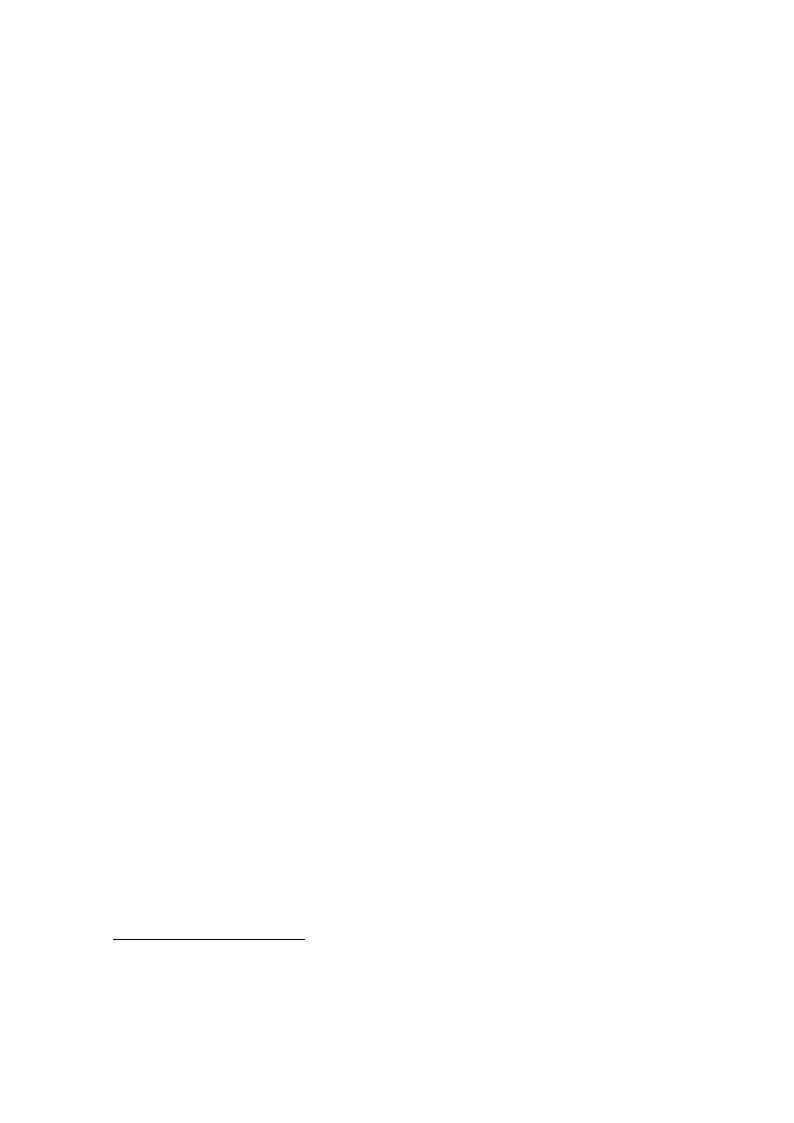
119
problemas são outros: o desmatamento ilegal da Floresta Amazônica; a
sobreexploração dos biomas; o uso crescente de automóveis nas grandes cidades e a
degradação de hábitats para a criação de gado –, para citar as ações brasileiras com
maiores índices de emissão de CO2 e de outros gases poluentes, como o metano (CH4)
(G1 MUNDO SUSTENTÁVEL, 2015; COP 21, 2015). Penso que todo este debate sobre o
rumo das políticas da “natureza”, perpassando por estética, ética, moral, saúde e
qualidade de vida, emerge na dinâmica contemporânea como nunca antes; sobretudo,
tendo em vista o aumento da população humana mundial nas próximas décadas e,
provavelmente, dos impactos ambientais que causaremos. Assim, considero que tal
questão seja um elemento-chave a ser desenvolvido nas escolas, nas Universidades e
em outros espaços de ensino, visando debater outros modos de inserirmo-nos na
“natureza” e na política. Nesta perspectiva, proponho que façamos uma discussão
sobre o que Bruno Latour (2001a) denomina como “não-humanos”, a fim de levarmos
as considerações feitas adiante. Faz-se necessário dizer que este conceito só poder ser
entendido quando tramado com outros: “humanos e não-humanos”, visando
abandonar a dicotomia “sujeitos e objetos”, para podermos deixar de pensar em uma
“sociedade” e compreendermos a noção de “coletivo”43 – “um intercâmbio de
propriedades humanas e não-humanas no seio de uma corporação” (idem, p. 222). Ao
longo da história, as fronteiras entre “objetividade” e “subjetividade” foram tornando-
se cada vez mais borradas. O tempo entrelaça, em maior grau de intimidade e em
escala mais ampla, humanos e não-humanos. Se existe algo certo como a morte, “é
que viveremos amanhã metidos em confusões de ciência, técnicas e sociedade ainda
mais estreitamente associadas que as do passado – como o episódio da ‘vaca louca’
bem demonstrou aos comedores de bifes europeus” (idem, p. 229). Os não-humanos
não são nem objetos conhecidos por um sujeito, nem objetos manipulados por um
dono e, também, não são donos de si mesmos. Neste sentido, os não-humanos
constituem uma noção importante para podermos avançar nas questões sobre as
políticas da “natureza”. Nas palavras do autor:
43 Segundo o dicionário de termos empregados por Bruno Latour (2001a), coletivo designa: “ao contrário
de sociedade, que é um artefato imposto pelo acordo modernista, esse termo se refere às associações
de humanos e não-humanos. Se a divisão entre natureza e sociedade torna visível o processo político
pelo qual o cosmo é coletado num todo habitável, a palavra ‘coletivo’ torna esse processo crucial. Seu
slogan poderia ser: ‘Nenhuma realidade sem representação’” (idem, p. 346).

120
[...] Advogados, ativistas, ecologistas, empresários e filósofos
políticos sugerem seriamente agora, no contexto de nossa crise
ecológica, que se concedam a não-humanos alguns direitos e mesmo
uma condição jurídica. Não faz muito tempo, contemplar o céu
significava refletir sobre a matéria ou a natureza. Hoje, vemo-nos em
presença de uma confusão sociopolítica, pois o esgotamento da
camada de ozônio provoca uma controvérsia científica, uma disputa
política entre Norte e Sul, bem como importantes mudanças
estratégicas na indústria. A representação política de não-humanos
parece atualmente não apenas plausível como necessária, embora
fosse considerada há poucos anos ridícula ou indecente.
Costumávamos zombar dos povos primitivos por acreditarem que
uma desordem na sociedade, uma poluição, ameaçaria a ordem
natural. Já não nos rimos com tanto gosto, pois deixamos de usar
aerossóis com medo de que o céu desabe sobre nossas cabeças.
Como os “primitivos”, tememos a poluição causada por nossa
negligência [...] Tal qual sucede a todas as permutações, todas as
trocas, esta mistura elementos de ambos os lados, políticos e
científicos ou técnicos, mas não um arranjo novo e aleatório. As
tecnologias nos ensinaram a controlar vastos conjuntos de não-
humanos; nosso híbrido sociotécnico mais novo traz-nos o que
costumávamos atribuir ao sistema político. O novo híbrido
permanece não-humano, mas não apenas perdeu seu caráter
material e objetivo como adquiriu furos de cidadania. Ele tem, por
exemplo, o direito de não ser escravizado. [...] Literalmente, e não
simbolicamente como antes, temos de administrar o planeta que
habitamos (LATOUR, 2001a, p. 232).
A meu ver, a proposta de Latour (2001a) para pensarmos sobre os não-
humanos em relação às políticas da “natureza” é fundamental para discutirmos o valor
da “biodiversidade”. A partir de onde, de que, de quem e como concebemos as
questões jurídicas sobre os não-humanos? Até onde vão os limites éticos e morais
sobre: os alimentos que modificamos geneticamente; as patentes de organismos; a
clonagem; a reprodução humana em laboratório; os seres vivos que enjaulamos em
zoológicos; os vegetais que cultivamos com uso de agrotóxicos; os animais que
confinamos e torturamos para o nosso consumo; os animais silvestres que
engaiolamos para divertir-nos; o cruzamento e a venda de animais domésticos “de
raça”? Nesta direção, Latour alerta-nos: “procure não-humanos quando o surgimento
de um traço social for inexplicável; procure o estado das relações sociais quando um
novo e inexplicável tipo de objeto entrar no coletivo” (idem, p. 239). Acredito que um
bom exemplo para esta observação seja o buraco na camada de ozônio, que não
surgiu discursivamente sem antes existirem alguns elementos não-humanos (como o
CO2 e o CH4), e que, também, pode ser concebido como um objeto que entrou no

121
coletivo, a partir de determinadas condições sociais, espaço-temporais e culturais que
possibilitaram a sua produção discursiva. Neste sentido, Latour entende que: “os não-
humanos estabilizam as negociações sociais. Os não-humanos são, ao mesmo tempo,
flexíveis e duráveis; podem ser moldados rapidamente, mas depois disso duram mais
que as interações que os fabricaram” (idem, p. 240).
Além disso, considero produtivo pensarmos sobre os entrelaçamentos entre
humanos e não-humanos, a partir do exemplo que Latour apresenta-nos: “Olá, eu sou
o coordenador do cromossomo 11 do fermento” (idem, p. 233). Aqui, o autor volta à
questão do fermento biológico, e cumprimenta um ser híbrido: uma pessoa, “eu”; uma
entidade jurídica, “o coordenador”; e um fenômeno “natural”, o genoma, a sequência
do DNA do fermento. Assim, para Latour, se colocarmos o aspecto social de um lado e
o DNA do fermento em outro, deixaremos as palavras do interlocutor escaparem, bem
como a oportunidade de percebermos como um genoma torna-se conhecido para uma
determinada Organização e, ainda, como uma Organização “naturaliza-se” numa
sequência de DNA em um disco rígido. Nesta perspectiva, Fausto-Sterling (2000)
considera que a dicotomia natureza/cultura passa a não fazer sentido. Para a autora, o
desenvolvimento humano ocorre através da interação entre biologia e cultura, de
modo que estas duas esferas mostram-se inseparáveis. As nossas experiências são
incorporadas aos nossos corpos, pois o organismo desenvolve-se e constitui-se na
interação com o ambiente sociocultural, da mesma maneira que o ambiente
sociocultural desenvolve-se e constitui-se na interação com os seres vivos. Cultura e
“natureza” são entendidas como instâncias que compõem um sistema complexo e em
constante transformação.
Dorothy Nelkin; Susan Lindee (1995), por sua vez, olham com outras lentes para
o recorrente apelo genético divulgado pela mídia, denominando-o como “DNA
sagrado”. Para elas, em grande parte, a visão da ciência está baseada na crença de
uma ordem implícita da “natureza” e, assim, muitos cientistas procuram (amparados
por suas convicções religiosas) pelo princípio último e unificado, a mais fundamental
(ou “natural”) das leis. Nelkin e Lindee apontam que o DNA prestaria-se bem para este
fim, visto que tem assumido, na cultura midiática, um significado semelhante à alma
do cristianismo, a alma bíblica. Neste sentido, o DNA tal como a alma é invisível e
parece ser, segundo divulgações dos meios de comunicação de massa, de extrema

122
relevância para a constituição da moralidade, da personalidade e do caráter do
homem. Nesta direção, Ripoll (2001) aponta que, nos anos 1990, os geneticistas
descreveram o genoma como sendo um tipo de “bíblia”, um “livro do homem” e um
“sagrado graal”, trazendo uma imagem desta estrutura molecular não apenas como
entidade biológica, mas também como “texto sagrado” que poderia explicar a ordem
“natural” e moral das coisas. Não vou aprodundar-me em discussões dos âmbitos da
ciência e da religião, pois não são o foco deste estudo; entretanto, tais considerações
acerca do “DNA sagrado”, tão proclamado ainda hoje pela ciência e pela mídia, podem
dar-nos algumas pistas para as posteriores análises dos vídeos de Natura Ekos que
abordam a “natureza” como a “essência” dos seres vivos.
Nas considerações apresentadas neste tópico do capítulo, pretendi argumentar
(sobretudo, alinhada à obra de Bruno Latour) sobre as condições da dinâmica
contemporânea nas quais a “natureza” é (re)construída; mostrar o quão fortemente
tramadas são as redes hoje, articulando inúmeros e diversos atores e fatores,
naturezas e culturas, humanos e não-humanos, bem como os efeitos que tais
entrelaçamentos causam na produção da “natureza”; e pensar sobre o contexto social,
espaço-temporal e cultural nos quais as “verdades”, as “realidades” e os “fatos
científicos” sobre a “natureza” são constituídos. Além disso, tentei tecer um
embasamento teórico sucinto, mas relativamente sólido, acerca da complexidade das
representações de “natureza” que encontramos na ordem do dia – tanto em nossas
contraditórias ações quanto nos anúncios publicitários, e nas páginas dos jornais, das
revistas e da Internet. Por fim, procurei argumentar sobre os entendimentos que
temos acerca das políticas da “natureza” ou “ecologia política” e a emergência desta
discussão no âmbito da educação e do ensino em Escolas, Universidades e outros
espaços; para que, assim, possamos pensar de outros modos sobre como relacionamo-
nos com a “natureza” e conferimos valor à “biodiversidade”.

123
8.2.1 Biodiversidade e Sustentabilidade: construções discursivas recentes
de produção da “natureza”
Neste estudo, os modos como vemos e como relacionamo-nos com a
“natureza” são entendidos como culturalmente construídos, conforme os distintos
pensamentos em diferentes épocas. A fim de pensarmos acerca dos elementos
discursivos que integram a produção contemporânea do sentido de “natureza”, dirijo o
meu olhar para as recentes noções de biodiversidade – particularmente, a
biodiversidade brasileira, tão proclamada pelos discursos da ciência e da mídia –, e de
sustentabilidade, palavra presente em inúmeras instâncias e práticas culturais;
políticas; produtos e serviços com os quais entramos em contato na ordem do dia.
O termo “biodiversidade” foi cunhado em 1986 e, posteriormente, definido
como o conceito que abrange a totalidade da variação hereditária das formas de vida
em todos os níveis de organização biológica. Assim, uma fatia de biodiversidade seria a
variedade de cromossomos e de genes no âmbito de uma espécie ou de todas as
espécies de um determinado ecossistema, e ainda todas as formas de vida contidas em
cada um dos ecossistemas estudados a seu turno (GODOY, 2008). A empresa Natura
Cosméticos, por sua vez, faz uso da palavra “sociobiodiversidade”, desde 2011,
referindo-se a uma evolução no conceito de “biodiversidade”, que melhor traduziria a
sua atuação com as comunidades fornecedoras. A expressão designa não só a relação
entre bens e serviços oriundos de recursos “naturais”, mas também “o valor do
conhecimento das populações tradicionais e do desenvolvimento local das cadeias
produtivas estruturadas a partir do uso do patrimônio genético” (NATURA
COSMÉTICOS, 2015d, p. 83). Conforme Escobar (1998), apesar do conceito de
biodiversidade apresentar referentes biofísicos concretos, nós não podemos nos
esquecer de que o mesmo é uma construção discursiva recente e com efeitos
consideráveis. Em outras palavras, o discurso da biodiversidade foi sendo estabelecido
por diversos aparatos, nos quais “novas verdades” foram sendo construídas por e em
inúmeras instâncias sociais, compondo uma das redes de produção da “natureza” mais
importantes do final do século XX. Nas palavras do autor:
O aparato para a produção da biodiversidade inclui uma série de
atores diferentes – desde as ONGs do Norte, organizações

124
internacionais, jardins botânicos, universidades e corporações, [...]
comunidades e ativistas locais – cada um com o seu próprio marco
interpretativo sobre o que é a biodiversidade, o que deveria ser, e o
que poderia chegar a ser. Estes marcos são mediados por todo tipo
de máquinas: desde a lupa do botânico até os dados satélites
processados por computador e introduzidos em programas de
sistemas de informação geográfica (ESCOBAR, 1998, p. 216).
Nesta direção, Sampaio (2012) afirma que o conceito de biodiversidade
apresenta um caráter estratégico, pois alia aspectos que interessam a diferentes
sujeitos: ativistas, políticos, populações locais, empresários e cientistas, para
mencionar alguns dos mais diretamente implicados. Sendo assim, este conceito
articula, de maneira eficaz, ambientalismo, ciência e economia. Para a autora, a
biodiversidade confere valor à “natureza” – particularmente, à Floresta Amazônica,
objeto de estudo de sua pesquisa, e, também, a principal representação da “natureza”
anunciada, veiculada e vendida pelos vídeos publicitários da linha Natura Ekos aqui
analisados. “Valor”, neste caso, “pode remeter tanto à importância ambiental da
floresta quanto ao seu significado em termos financeiros” (idem, p. 66). Assim, de
acordo com Sampaio, a “natureza” está inserida em uma rede tecnocientífica e
econômica, permeada por discursos ambientalistas. Para Escobar (1999), as
instituições dominantes envolvidas neste debate consideram que a chave para
conservar a biodiversidade estaria em encontrar formas de utilizar os recursos das
florestas tropicais de modo a garantir a sua continuidade a longo prazo, baseada na
ideia de “conhecer-usar-salvar”. A pesquisa científica, segundo Sampaio (2012),
desempenha um papel ativo desde a prospecção (conhecer), por meio de estudos e de
levantamentos faunísticos e florísticos, até as demais fases (usar e salvar), para
estabelecer maneiras de uso e de manejo destes recursos que assegurassem a sua
sobrevivência. Neste entendimento, a autora menciona que a necessidade de um
avanço rápido do conhecimento científico acerca da biodiversidade (eu complemento:
para usos medicinais e industriais, sobretudo) corresponde à velocidade de sua
degradação. Nesta direção, Sampaio alerta-nos para um aspecto interessante e
contraditório dos discursos sobre a biodiversidade: a constituição da mesma como
recurso, como propriedade, que necessita ser “guardada” com cuidado para as
gerações futuras. Conforme a autora, a biodiversidade,

125
Seria algo como uma relíquia, um bem inalienável,
incontestavelmente importante, uma vez que estaria implicada a
sobrevivência dos seres humanos. [...] Só que, por outro lado, há
inumeras tentativas de se atribuir um valor material e palpável à
biodiversidade, transformando-a em um produto como tantos outros
(SAMPAIO, 2012, p. 69).
A partir destas considerações, Sampaio (2012) afirma que a “descoberta” da
biodiversidade constitui-se como um importante marcador das invenções mais
recentes sobre a Amazônia – configurada como o lugar mais biodiverso do mundo. De
maneira sucinta, a autora aponta-nos dois lados da conservação da biodiversidade: um
viés ambientalista, que busca conservar as espécies; e outro, capitalista, que pretende
converter a “natureza” em uma reserva de valor financeiro. Neste sentido, Leff (2013)
aponta a inexistência de “um instrumento econômico, ecológico ou tecnológico capaz
de calcular o ‘valor real’ da natureza na economia” (idem, p. 65). Para o autor, não há
como traduzir os custos de conservação e de restauração da “natureza”, bem como os
seus potencias ecológicos em uma medida de valor econômico, coerente com os
preços do mercado. A valorização da “natureza” como recurso “natural” envolve
temporalidades ecológicas de regeneração e de produtividade que não são
correspondentes aos ciclos da economia; do mesmo modo, “os valores e interesses
sociais que definem o significado cultural, as formas de acesso e os ritmos de extração
e transformação dos recursos naturais constituem processos simbólicos e sociais de
caráter extraeconômico” (idem, p. 65); assim, não podendo ser traduzidos e reduzidos
aos preços de mercado. Desta maneira, a internalização dos custos ecológicos e das
condições ambientais de produção necessitam de uma caracterização dos processos
sociais que determinam qual é o valor da “natureza”. A este respeito, o autor
menciona que:
Portanto, o conflito ambiental se apresenta num campo estratégico e
político heterogêneo, onde se mesclam interesses sociais,
significados culturais e processos materiais que configuram
diferentes racionalidades, onde o “ecológico” pode continuar
subordinado (por razões estratégicas, táticas e históricas) a
reivindicações de autonomia cultural e democrática política, como
exemplificam diferentes movimentos camponeses e indígenas no
México e na América Latina (LEFF, 2013, pp. 72-73).
Hoje, é possível ver os efeitos das reduções do valor da “natureza” aos valores
da economia. Não há como existirem preços “ecologicamente corretos”, mas sim

126
preços “ecologicamente corrigidos” por indicadores e normas ecológicos (MARTÍNEZ
ALIER, 1997). Conforme Leff (2013), “as influências culturais, sociais e institucionais na
valorização das externalidades não coincidem com nenhum balanço contábil de custo-
benefício, nem é possível atribuir taxas de desconto para atualizar preferências e
valorizações futuras” (idem, p. 70). Isto nos leva a alguns questionamentos... “De quem
é a natureza? Quem outorga os direitos para povoar o planeta, explorar a terra e os
recursos naturais, para contaminar o ambiente?” (idem, p. 78). Neste sentido,
podemos (re)pensar outras questões: Como apropriamo-nos da “natureza”, de seus
recursos e produtos “naturais” (vírus, bactérias, fungos, sementes, frutos, flores,
árvores, peixes, répteis, aves, mamíferos, etc.) para transformá-los em mercadorias a
serem precificadas, vendidas e consumidas? E, ainda, com que direito apropriamo-nos
dos saberes tradicionais dos povos locais sobre a “natureza” (particularmente, sobre a
Floresta Amazônica) para produzirmos e vendermos produtos – medicamentos e
cosméticos, por exemplo?
Fonseca; Silva (2005) apontam que o futuro da biodiversidade amazônica é
muito dependente da capacidade das comunidades indígenas de conseguirem manter
a sua cultura, fortemente ligada à conservação e ao uso sustentado dos recursos
“naturais”. Na mesma direção, Diegues (2000) menciona que a construção de uma
nova relação entre homem e “natureza” deve basear-se na importância das
comunidades tradicionais tanto indígenas quanto não-indígenas para conservar os
ambientes que habitam. Posey (2001) afirma que as sociedades indígenas seriam as
únicas com suficiente conhecimento, sabedoria e tradição para prosperar na Floresta
Amazônica e que elas conhecem as interrelações dos ambientes amazônicos melhor
do que os ecologistas modernos. Cabe salientar que, de acordo com Sampaio (2012),
não estou tomando os povos da floresta como um grupo de indivíduos mais “puros”
ou mais “autênticos” do que as culturas urbanas por estarem mais intimamente
ligados à “natureza”, mas destacando que os saberes tradicionais44 destes povos sobre
a Floresta Amazônica estão sendo reconfigurados pelos efeitos da globalização –
expressos fortemente pelos apelos do consumo e pelos sistemas de produção
44 Segundo Diegues (2000, p. 30), o conhecimento tradicional designa “o saber e o saber-fazer, a
respeito do mundo natural e sobrenatural, gerados no âmbito da sociedade não urbano/industrial e
trasmitidos oralmente de geração em geração”.

127
industrial em grande escala –, que, por vezes, para Dayrell de Lima (2005) apud
Sampaio (2012), transformam a cultura destes povos em commodity, em mercadoria.
Conforme Sampaio (2012, p. 77), a denominação “povo da floresta”45
“demarca um pertencimento dessas populações à floresta, potencializando a
construção discursiva deste laço entre ‘povos’ e ‘floresta’ e, ao mesmo tempo, o seu
caráter restritivo: a que tipo de pessoa é autorizado participar desta categoria?”.
D’Antona (2003) apud Sampaio (2012, p. 77), por sua vez, diz que tal identidade é
atribuída “àqueles que conhecem a mata e sabem manejá-la [...] marca a diferença
entre os habitantes que dependem dos recursos florestais para a sua sobrevivência
daqueles que vêem a floresta como uma fonte de recursos a serem explorados em um
curto prazo”. Nesta direção, Escobar (1999, pp. 88-89) indica que “a biologia moderna
começa a se dar conta que os chamados ‘conhecimentos tradicionais’ podem ser um
complemento bem útil à conquista científica da biodiversidade”. Eu complemento:
parece que a economia e a mídia também estão atentas a estes conhecimentos e às
oportunidades que os mesmos oferecem. Pretendi, aqui, olhar com outras lentes para
alguns dos sujeitos e para algumas das instâncias sociais envolvidas neste processo de
produção da “natureza”/da “biodiversidade” em diversos e em diferentes níveis. Esta
rede de atores e de fatores é tecida por e em inúmeras relações de poder e saber,
englobando, dentre outros, a ciência, que requer uma análise destacada. Neste
momento, proponho que pensemos de outro modo acerca da produção discursiva da
“natureza”/da “biodiversidade” construída pelos cientistas, seus objetos, seus
instrumentos, suas práticas, seus “fatos” e suas “verdades”. Para tanto, retomarei
algumas considerações feitas anteriormente.
A noção de “natureza” como algo externo, criado pela ciência dos séculos XVII e
XVIII (apresentando, também, raízes ideológicas da doutrina religiosa Cristã)
possibilitou que os fênomenos “naturais” fossem entendidos conforme um sistema de
leis. Tal conhecimento, mais tarde, veio servir como base para os valores da economia
capitalista, em relação ao uso humano do mundo “natural” (CORNETTA, 2009).
Segundo Merleau-Ponty (2006, p. 10), “não foram as descobertas científicas que
45 Para uma leitura aprofundada sobre noções e compreensões acerca do termo populações
tradicionais, recomendo a leitura da instigante Tese de Doutorado da Profa. Dra. Shaula Maíra Vicentini
de Sampaio (SAMPAIO, 2012).

128
provocaram a mudança da ideia de Natureza, mas a mudança da ideia de Natureza que
permitiu essas descobertas”. Pensando sobre este afastamento do homem em relação
à “natureza” para poder dominá-la e conhecê-la, Latour (1994) traz-nos importantes
contribuições, ao alertar para a relatividade da ciência, que é construída por e em
determinados contextos econômicos, religiosos, políticos, culturais, etc. Os fenômenos
“naturais”, por sua vez, são produzidos artificialmente em locais fechados e
protegidos, os laboratórios, através de intermediários: instrumentos, aparelhos,
máquinas. Posteriormente, os fatos científicos são representados em textos admitidos
e autorizados por uma comunidade científica, e mesmo que artificiais, caros, difíceis de
reproduzir, estes fatos representam a “natureza” como ela é. Além de relativa, a
ciência é parcial, permeada por interesses políticos, sociais e financeiros; havendo uma
coautoria entre o conhecimento científico e o interesse social. Assim, a ciência é a
política por outros meios. Segundo Souza (2001), as práticas científicas são sociais e
estão implicadas em relações de poder, ao produzirem determinados tipos de saberes,
sujeitos, habilidades, instrumentalidades, etc. Desta maneira, a autora afirma que a
ciência pode ser pensada como um mecanismo de dominação e de marginalização de
indivíduos que estão “fora” de suas redes de códigos, símbolos, saberes, regras e
critérios46.
Outra instância social com destacado papel acerca da produção da “natureza” é
a mídia. Os meios de comunicação de massa, ao também integrarem esta rede
tecnocientífica de construção e de divulgação da “natureza”, sobretudo, através da
publicidade, utilizam-se de uma série de elementos discursivos (sons, imagens,
movimentos, enunciados, discursos) para ensinar “verdades” sobre a biodiversidade,
enfatizando a mesma e utilizando a legitimação científica para valorar e vender seus
produtos. A mídia vem ocupando um lugar central na (in)formação dos sujeitos,
configurando-se como uma das instâncias culturais com posição mais importante no
46 Para um exemplo da “exclusão” dos sujeitos que desconhecem as redes de produções, informações e
saberes científicos, leia, neste Capítulo, as considerações de Bruno Latour sobre a substância “TRF” ou
“TRH”.
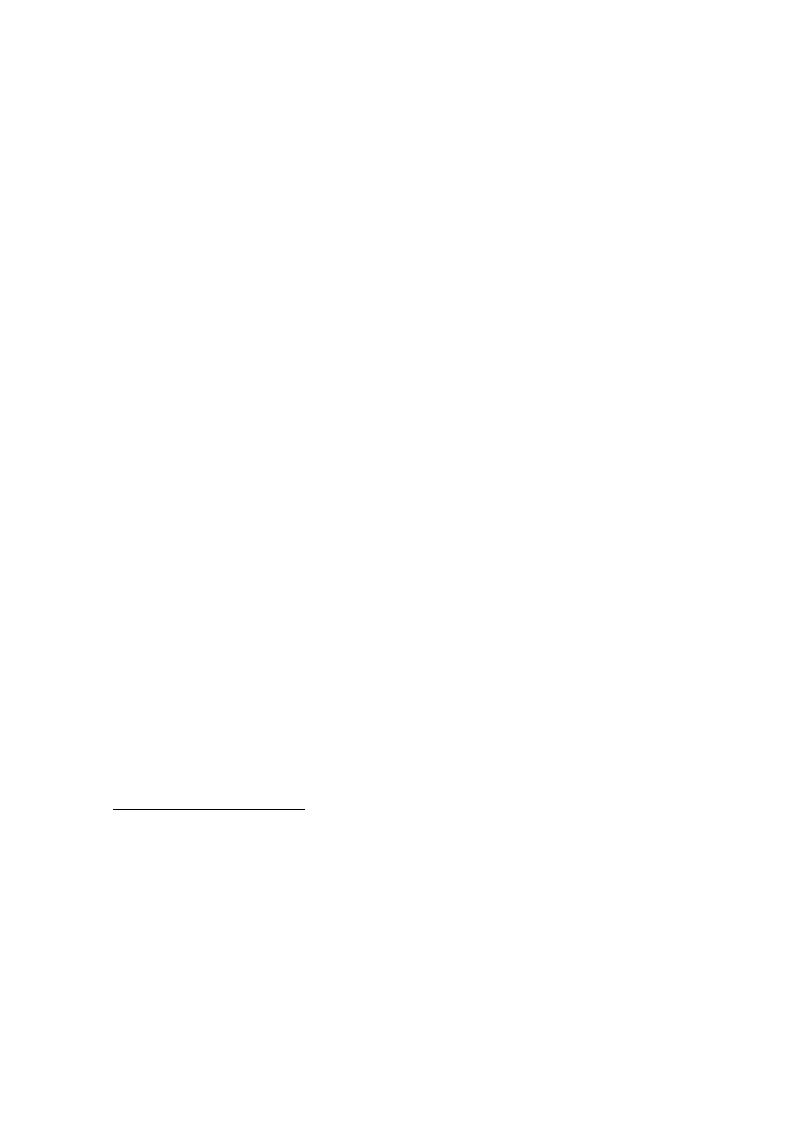
129
ordenamento social e na constituição dos modos de ser, estar, pensar e agir no
mundo; o que torna necessário um olhar crítico para as “verdades” que veicula47.
Além da “biodiversidade”, a “sustentabilidade” é outra noção discursiva
inventada recentemente associada à “natureza”. Segundo Swyngedouw (2011), em um
sentido ainda mais “flutuante” e escorregadio do que o conceito de “natureza”, a
“sustentabilidade” é o significante vazio por excelência, visto que se refere a tudo e a
nada simultaneamente. Suas qualidades profiláticas somente podem ser sugeridas por
meio de metáforas. Daí a proliferação de termos como: cidades “sustentáveis”,
desenvolvimento “sustentável”, transporte “sustentável”, uso “sustentável” de
recursos, crescimento “sustentável”, políticas “sustentáveis” (eu complemento:
consumo “sustentável”), dentre diversos outros. Neste sentido, Sampaio (2012)
aponta-nos para o que denomina como “dispositivo da sustentabilidade”48 –
dispositivo este que tem mostrado-se muito ativo hoje, interpelando-nos, a partir de
inúmeras e diversas instâncias sociais; constituindo determinados domínios de saber e,
assim, subjetivando-nos e produzindo-nos em meio às linhas de força de sua rede.
Assim, conforme a autora, o dispositivo da sustentabilidade atinge-nos através de suas
múltiplas táticas, insitando-nos a “falar sua língua, a moldar nossas atitudes em
conformidade com seus discursos” (idem, p. 97). Lima (2003, p. 99) menciona que “em
pouco tempo, sustentabilidade tornou-se palavra mágica, pronunciada
indistintamente por diferentes sujeitos, nos mais diversos contextos sociais e
assumindo múltiplos sentidos”. E mais, mesmo os críticos deste conceito reconhecem
que a sustentabilidade tem o mérito de ter iniciado as preocupações com o ambiente
em inúmeros fóruns político-econômicos tanto a nível nacional quanto internacional,
obtendo um espaço inédito na história do ambientalismo. Cito alguns eventos
47 Leia uma discussão sobre o papel que a mídia apresenta hoje na (in)formação dos sujeitos no tópico
seguinte deste Capítulo.
48 Para uma leitura sucinta, mas consistente sobre o conceito, as noções e as compreensões de
“sustentabilidade” (e do que Sampaio denomina como “dispositivo da sustentabilidade”) ao longo da
história e de diferentes contextos sócio-culturais, recomendo a leitura de Sampaio (2012). Ressalto,
aqui, que o termo dispositivo empregado pela autora alinha-se ao que concebe o filósofo Michel
Foucault (1998a) – o dispositivo é constituído por elementos ditos e não ditos, consistindo em uma rede
heterogênea, que engloba discursos; instituições; organizações; decisões regulamentares; leis; medidas
administrativas; enunciados científicos; proposições filosóficas, morais e filantrópicas. Além disso,
Foucault considera que o dispositivo é um tipo de formação histórica, que tem como função responder a
alguma urgência social (para Sampaio (2012), às preocupações ambientais) e, portanto, tem uma função
estratégica dominante.

130
internacionais relevantes para as discussões sobre a relação entre o homem e a
“natureza”, ocorridos após a criação e a circulação do termo “sustentabilidade”: Rio-
92; Rio-97; COP-21.
Cabe, aqui, um questionamento: a que(m) se deve o sucesso das noções de
sustentabilidade em distintas esferas sócio-culturais? De acordo com Sampaio (2012),
muitos autores apontam que a característica “conciliadora” (e, ao mesmo tempo,
“contraditória”) da sustentabilidade é o que assegura a sua ampla aceitação em
diferentes instâncias sociais. Conforme Lima (2003, p. 104), “[...] esse campo comum e
genérico da sustentabilidade permitiu aproximar capitalistas e socialistas,
conservacionistas e ecologistas, antropocêntricos e biocêntricos, empresários e
ambientalistas, ONGs, movimentos sociais e agências governamentais”. Neste sentido,
para Ribeiro (1992), a sustentabilidade, com suas conciliações e contradições,
propiciou a possibilidade de se pensar em um modelo alternativo de desenvolvimento
menos radical. Desta maneira, pode-se enfatizar menos alterações nas formas de
produção da economia (como, por exemplo, a redução do consumo dos países
industrializados), e mais na busca por opções técnico-científicas, que permitissem a
manutenção do modelo vigente, porém, com menos impactos ambientais. O foco,
então, voltou-se para a promoção das chamadas “tecnologias limpas” ou “tecnologias
verdes”. Neste momento, segundo Sampaio (2012), destacou-se a dimensão
estratégica da sustentabilidade, em resposta a uma urgência histórica, tendo em vista
tratar-se de uma “operação político-normativa e diplomática, empenhada em sanar
um conjunto de contradições expostas e não respondidas pelos modelos anteriores de
desenvolvimento” (LIMA, 2003, p. 103 apud SAMPAIO, 2012, p. 100). Assim, para
Guerra et al. (2007), a sustentabilidade e o “desenvolvimento sustentável” permitiram
ao capitalismo atualizar-se e fortalecer-se, “aliando” a conservação ambiental ao
crescimento econômico; por meio de expressões sustentáveis, tais como: custos
“sustentáveis”, capital “natural”, produção “sustentável” – alinhadas ao vocabulário
econômico usual. Nesta direção, Smith (1996) alerta-nos: a “natureza” tornou-se uma
das mais poderosas armas do discurso ocidental e, com isso, o acolhimento do
desenvolvimento sustentável promove uma nova, limpa e socialmente aceitável
maneira de imperialismo global.

131
Nesta perspectiva, podemos pensar que as piscadelas da “sustentabilidade”
garantem por si só que o assunto da “natureza” e do ambiente são levados a sério, que
os cargos públicos consideram os nossos medos, que a “segurança da nação” está em
boas mãos. A sustentabilidade é um vazio de sentido, capturado por diversas e
proliferantes fantasias, histórias e imaginações que tratam de rechear o vazio
constitutivo das indeterminações das naturezas. Ao mesmo tempo, existe uma
associação da sustentabilidade à uma ideia de retorno a um ambiente sem desastres
ecológicos, como secas, furacões, inundações, etc.; e, por outro lado, ao desejo de
algum tipo de vida socioecologicamente harmônica e equitativa – o que, ao fim e ao
cabo, não existe (SWYNGEDOUW, 2011). Neste sentido,
De fato, uma política da sustentabilidade, afirmada sobre uma visão
radicalmente conservadora e reacionaria de uma Natureza singular,
ontologicamente estável e harmônica, é necessariamente uma
política que erradica ou evacua “o político” do debate em torno do
que se fazer com as naturezas realmente existentes. A pergunta
política chave é a que se centra na questão do tipo de naturezas que
desejamos habitar, que tipo de naturezas desejamos preservar,
construir ou, se for necessário, apagar da superfície do planeta (como
por exemplo o HIV), e como chegar a essa nova situação. A fantasia
da “sustentabilidade” imagina a possibilidade de uma Natureza
originária e fundamentalmente harmônica, uma Natureza que se
desajustou, mas a qual podemos e devemos voltar se for gerida por
meio de uma série de soluções tecnológicas, gerenciais e
organizativas (SWYNGEDOUW, 2011, p. 60, minha tradução livre do
espanhol para o português).
Nesta direção, Swyngedouw (2011) afirma que “natureza” e “sustentabilidade”
não existem para além das cadeias metonímicas que lhes proporcionam determinados
sentidos; no entanto, há, sem dúvidas, acoplamentos de relações sócio-naturais. Todas
as relações socioecológicas, efetivamente, são construídas ao longo da circulação, do
metabolismo e da codificação dos processos sociais, culturais, físicos, químicos e
biológicos, e seu caráter é diverso, múltiplo, caprichoso, contingente e,
frequentemente, imprevisível e arriscado. Bruno Latour propõe que descartemos o
conceito de “natureza”, pois não existe a “natureza” em si mesma e para si mesma,
bem como não existe a “sociedade” ou a “cultura” (LATOUR, 1994). O conjunto das
coisas (as humanas e as não-humanas) que estão no mundo, são formadas por
híbridos de “natureza” e de cultura, que se multiplicam constantemente. As coisas são,
simultaneamente, “naturais” e culturais e, também, nenhum dos dois; e, apesar de

132
tudo, são socioecologicamente significativas e politicamente performativas (LATOUR,
2012). Assim, tais tecituras formam as sócio-naturezas que definem, coreografam e
sustentam a vida e as práticas cotidianas (SWYNGEDOUW, 1996).
Swyngedouw (2011) afirma que não há uma “natureza” singular, nem nenhum
“estado natural” transcendental das coisas de caráter trans-histórico e/ou trans-
geográfico, mas, pelo contrário, um abandono de diferentes naturezas históricas,
relacionais e ambientais, sujeitas a constantes mudanças e transformações, por vezes,
dramáticas ou catastróficas, e, raramente, previsíveis. Portanto, é necessário evitar
expressões como é a “natureza” das coisas para explicar determinados
comportamentos ou condições ecológicas/humanas. Para o autor, “tanto os indivíduos
como seus entornos são co-produzidos e co-evoluem em formas historicamente
contingentes, altamente diversificadas, localmente específicas e frequentemente
impossíveis de apreender em sua totalidade” (idem, p. 46). Portanto, “[...] é difícil, se
não, impossível, definir exatamente o que é a Natureza. Cada tentativa de apreender
ou fixar seu sentido parece em vão no melhor dos casos e, no pior, politicamente
problemática” (idem, p. 47, minha tradução livre do espanhol para o português).
Assim, conforme Swyngedouw, a “natureza” é um significante “flutuante” ou “vazio”,
pois quanto mais extensa é a lista de significantes que devem ser entrelaçados com o
conceito de “natureza” para conferir-lhe um determinado sentido (por exemplo, os
significantes: chuva, terremoto e evolução), mais discutível, indeterminado e
incompleto é este conceito. A “natureza” é vista como um “revestimento”, uma
“montagem de sentido”. De acordo com o autor, na linguagem ambiental atual, a
biodiversidade, as eco-cidades, os contaminantes, o CO2 podem ser pensandos como
“pontos de ancoragem”, mediante os quais se fixam certas matrizes de sentidos de
“natureza”. No entanto, estes pontos de ancoragem são mais do que pontos de
fixação, referem-se a certo prazer estruturado no plano da fantasia – neste caso, uma
ordem ambiental sadia e socialmente harmônica. Em suma,
[...] a modernização produziu uma cacofonia de listas metonímicas
associadas com a Natureza, nenhuma das quais esgotou os caprichos,
idiossincrasias e operações heterogêneas das diferentes e
alternantes formas de natureza que comporiam o mundo. E mais,
estas formas proliferaram conforme o número de elementos sócio-
naturais – os híbridos do humano e do natural que Bruno Latour
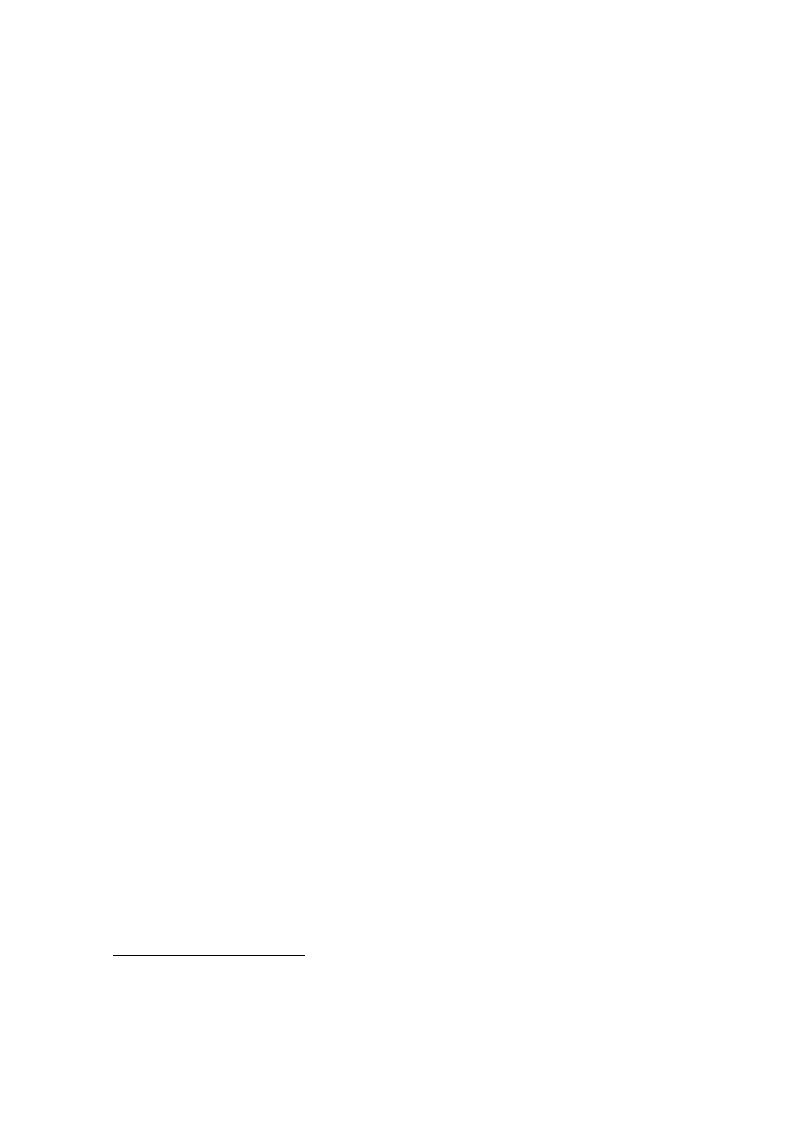
133
chama de quase-objetos (Latour, 199349) e Donna Haraway cyborgs
(Haraway, 199150) – multiplicávam-se com os acoplamentos cada vez
mais intensos de processos humanos e não-humanos (como por
exemplo na energia nuclear, [...] a manipulação genética, construções
tecno-naturais como os sistemas hidrológicos, linhas de eletricidade,
megacidades e outros deste estilo). Cada vez mais coisas mundanas
escaparam de uma simples classificação binária na esfera do natural
ou na esfera do social; os limites fizeram-se difusos ou foram
completamente transgredidos. A natureza tornou-se cada vez mais
algo produzido a partir de heterogêneas tramas sócio-naturais
(SWYNGEDOUW, 2011, p. 48, minha tradução livre do espanhol para
o português).
Nas considerações feitas neste tópico do capítulo, abordei outras maneiras de
produção discursiva da “natureza” – as invenções das palavras “biodiversidade”
(particularmente, a brasileira da Floresta Amazônica) e “sustentabilidade” – tecidas em
e por inúmeras redes de interesses distintos, dentre eles: científicos, econômicos,
industriais, midiáticos, ambientalistas e políticos. Discuti o contraditório “valor” da
“natureza”, sobretudo, em um viés ambientalista, que preza pela conservação das
espécies e, em um capitalista, que concebe a biodiversidade como propriedade, fonte
de recursos “naturais” e de produtos a serem consumidos; porém, com os devidos
cuidados para que esta “natureza” possa ser “guardada” e “preservada” para o uso das
futuras gerações humanas. Problematizei a valoração da “natureza”, entendendo-a
como algo qualitativo, entrelaçado por inúmeros aspectos sociais, históricos e
culturais; e não como algo quantitativo, que possa ser reduzido aos e traduzido em
valores econômicos. Debati a importância estratégica dos saberes tradicionais dos
povos locais da Floresta Amazônica para a Indústria, a economia, a ciência e a mídia,
visando a “apropriação” de determinados conhecimentos para poderem produzir e
vender certas mercadorias “sustentáveis”. Argumentei sobre a ciência e a mídia como
instânciais culturais centrais nas redes de produção da “natureza” e que, por isso,
precisam ser analisadas atentamente, de modo a pensarmos de outros modos sobre as
“verdades” que (in)formam. Questionei o sucesso do termo “sustentabilidade”, cada
vez mais circulante dentre as diversas instâncias e práticas culturais do ocidente; bem
como as condições sociais e econômicas nas quais o conceito emergiu e foi
49 LATOUR, B. We Have Never Been Modern. Cambridge: Harvard University Press, 1993.
50 HARAWAY, D. Simians, Cyborgs and Women: the reinvention of nature. London: Free Association
Books, 1991.

134
amplamente aceito pelos mais diferentes sujeitos – conservacionistas e ecologistas;
antropocêntricos e biocêntricos, empresários e ambientalistas, ONGs, agências
governamentais e partidos políticos. Por fim, entendi que a “natureza” utilizada de
maneira estratégica (noções de “biodiversidade” e de “sustentabilidade”) constitui
uma das mais poderosas armas do discurso ocidental, promovendo um novo, limpo e
socialmente aceito imperialismo global... Nesta perspectiva, talvez, possamos ter
criado condições para não mais apresentarmos um olhar para a relação homem versus
“natureza” ou homem e “natureza”, mas sim concebermos as relações entre os
diversos seres vivos e deles com os inúmeros ambientes “naturais” e culturais com os
quais se relacionam. Em meio a esta teia de múltiplos atores e fatores que se enredam,
imbricam e tecem constantemente, mantendo as condições propícias à vida, é que
situo naturezas-homens-culturas.
Nos tópicos seguintes, descrevo, analiso e discuto os quatro vídeos
selecionados da campanha publicitária “Somos Produto da Natureza” da linha de
produtos Natura Ekos; estabelecendo relações entre o que é ensinado por este
material audiovisual e o que pesquisei e aprendi sobre a complexidade das
compreensões sobre “natureza”.

135
CAPÍTULO 3
“Somos Produto da Natureza”:
o que os vídeos publicitários ensinam?
A Natura, por seu comportamento empresarial, pela qualidade das
relações que estabelece e por seus produtos e serviços, será uma
marca de expressão mundial, identificada com a comunidade das
pessoas que se comprometem com a construção de um mundo
melhor através da melhor relação consigo mesmas, com o outro, com
a natureza da qual fazem parte, com o todo (NATURA COSMÉTICOS,
2015c).
Interessada pelos discursos, pelos enunciados, pelos significados e pelos
sentidos sobre a “natureza” postos em circulação pela mídia publicitária para atingir e
formar sujeitos consumidores socioambientalmente “corretos”, optei por analisar e
discutir os ensinamentos sobre a “natureza” que estão sendo (in)formados pela linha
de produtos de higiene e cosmética Natura Ekos da empresa Natura Cosméticos.
Assim, dentre os diversos meios dos quais a Natura lança mão para interpelar
consumidores – revistas (digital e impressa); outdoors; busdoors; anúncios em jornais,
em revistas e em páginas da Internet; relatórios anuais com suas atividades; visão de
sustentabilidade para o ano de 2050; sítio da empresa; páginas em redes sociais;
embalagens de seus produtos com links de acesso para mais informações sobre o
processo produtivo da corporação –, elegi vídeos publicitários da campanha “Somos
Produto da Natureza” como objeto de análise. Considerei estes anúncios como
pedagogias culturais, visto que são artefatos culturais implicados em relações de
poder, que nos interpelam e nos ensinam – ao articular determinados elementos
discursivos e não-discursivos: cores, sons, imagens, movimentos, falas – o que é a
“natureza” e como devemos ser, estar, sentir, agir e posicionarmo-nos em relação à
mesma; subjetivando-nos e constituindo nossas identidades.

136
9.1 “Somos Produto da Natureza51”?
Figura 1 - Sequência de cenas selecionados do vídeo “Natura Ekos - Somos Produto da Natureza”
Fonte: Sítio YouTube (2015)
Inicialmente, vemos um plano de fundo em tons terrosos com o símbolo da
Natura e o slogan “bem estar bem”. Simultaneamente, começamos a ouvir o som de
batimentos cardíacos, enquanto o logotipo da empresa desaparece, num movimento
fluido, semelhante ao da água. Um plano preto aparece e, em seguida, no ritmo do
coração, uma vegetação é revelada, lembrando uma floresta. Depois, aparecem um rio
ao pôr-do-sol, uma arara-vermelha olhando para nós e um rapaz indígena com “olhos
de jabuticaba” em destaque. A ordem das imagens e os enquadramentos com cada vez
mais zoom causam-nos a sensação de proximidade – colocando o ser humano em meio
à “natureza”, como parte integrante da mesma. Após, o enquadramento é ampliado,
revelando a imagem de relâmpagos enquanto ouvimos o seu som característico.
51 Descrição, análise e discussão do vídeo “Natura Ekos - Somos Produto da Natureza” exposta, aqui, em
uma versão aprofundada. Publicada, previamente, em dois artigos científicos que constam no E-book do
XIV Congresso Internacional Ibero-Americano de Comunicação (IBERCOM), USP, 2015 (MARTINS;
SOUZA, 2015a), e nas Atas Eletrônicas do 6º Seminário Brasileiro e 3º Seminário Internacional de
Estudos Culturais e Educação (SBECE/SIECE), ULBRA Canoas, 2015 (MARTINS; SOUZA, 2015b). Além
disso, este estudo foi submetido à publicação como artigo científico na Revista Ambiente & Educação da
FURG durante o primeiro semestre de 2016.

137
Uma nova aproximação é feita para que possamos ver as folhas de uma
palmeira balançando com fortes rajadas de vento, que são ouvidas ao mesmo tempo
em que surge na tela a palavra você. Em seguida, um canto de pássaros é escutado
juntamente com o vento, enquanto aparece a imagem do interior de um organismo
(fluidos e células) com a palavra é fruto. Depois, o canto da ave é repetido e a mesma
surge, pousada num galho de uma árvore e olhando para nós. A seguir, o som do vento
é acompanhado por tambores. Concomitantemente, aparece uma moça branca e
jovem, olhando pela janela de algum veículo em movimento, como que contemplando
a paisagem verde ao fundo – surge a palavra você. A próxima imagem é acompanhada
de uma rajada de vento, enquanto as folhas de um arbusto balançam ao vento
juntamente com uma libélula em tons de roxo e azul. Surge a palavra é vento,
desaparecendo concomitantemente com o voo da libélula.
Nos quadros seguintes, ouvimos três sons simultâneos: o vento, o pássaro e os
tambores, enquanto somos dirigidos ao interior da floresta pelo movimento de
homens que carregam cestos com frutos. Há o foco nas mãos de um trabalhador que
junta as castanhas colhidas da floresta enquanto aparece a palavra você. Em seguida,
uma célula transitando por um organismo é mostrada, ao mesmo tempo em que
aparece a palavra é semente. Neste momento, o som dos tambores é substituído por
uma música orquestrada – enquanto o canto do pássaro e da rajada de vento
permanecem. Posteriormente, um pôr-do-sol, na posição inversa à imagem anterior,
aparece numa floresta. A cena seguinte revela um homem remando em uma canoa,
em enquadramento amplo – mostrando a conexão do ser humano com a “natureza”,
ao mesmo tempo em que nos passa a ideia de como o humano é pequeno em
comparação com o meio “natural”; simultaneamente, aparece a palavra você. Depois,
o enquadramento é novamente fechado, com a imagem de folhas que pingam água da
chuva, concomitantemente, aparece o termo é rio junto com o pingo d’água que cai na
imagem seguinte, onde um rio “dilui” a palavra. A seguir, mãos de um índio
adolescente recolhem o fruto açaí, com o enquadramento seguinte pondo o açaí e os
olhos pretos do rapaz em evidência – parecendo mostrar a semelhança entre eles.
Imediatamente, a imagem traz o zoom dos olhos de uma belíssima onça-pintada com a
palavra você. Posteriormente, somos direcionados à cidade, com arranha-céus que
refletem o sol, onde surge a palavra é bicho.

138
A seguir, as imagens levam-nos novamente à floresta, escalando uma palmeira
junto com um homem trabalhador. Agora, a câmera “sobe” por uma árvore mais alta e
com o tronco mais espesso, mas sem o homem. Somos transportados à noite urbana,
onde estrelas revelam você. Depois, somos apresentados a um conjunto de pessoas
que utilizam roupas coloridas e aparentam dançar alguma canção tradicional de
aldeias indígenas, surgindo o termo é raiz. A seguir, as imagens retornam ao rio, onde
temos a impressão de estarmos dentro de uma canoa, guiados por um homem, ao pôr-
do-sol em tons de laranja, rosa e roxo – aqui, a música orquestrada dá lugar ao retorno
dos tambores. Continuamos navegando, agora, por vasos sanguíneos de algum animal
e pelas nervuras de uma planta. Retornamos ao rio.
Neste momento, aparecem duas mulheres com fisionomias semelhantes,
sugerindo serem mãe e filha, e uma nova palavra: somos. Ao fundo, vemos uma casa
simples, feita de madeira, com a pintura da bandeira do Brasil. Depois, com um fundo
preto, vamos ao interior de um organismo vegetal, onde células verdes em destaque
relacionam-se com a palavra produto. Neste momento, a transição das cenas volta a
acompanhar o movimento do coração, pulsando, ao som de batimentos cardíacos e de
rajadas de vento. Em seguida, regressamos ao pôr-do-sol no rio, apresentado no início
do vídeo, mas, agora, em movimento inverso – estamos “entrando” na “natureza” –
surge a expressão da natureza. A seguir, vemos, em um fundo com tons terrosos, os
produtos da linha Natura Ekos, em destaque, sob luzes, ao centro da imagem – no
primeiro quadro, os cremes; no segundo, os xampús e os óleos e, no terceiro, os
sabonetes. Ao fim, somos redirecionados à imagem da floresta – a mesma do início do
vídeo, mas em movimento oposto – onde surgem raios de sol por entre as árvores e,
no canto esquerdo da imagem, o logotipo “Natura Ekos”.
Como pode-se notar na descrição do vídeo, a campanha “Somos Produto da
Natureza” é extremamente sofisticada em termos de produção e de edição de imagens
(cores, luzes, focos, lentes, movimentos), áudios e conteúdos – revelando-se um
anúncio complexo para analisar, visto que articula diversos elementos discursivos e
não-discursivos para interpelar o consumidor. Assim, em meio a enquadramentos
amplos e fechados, à alternância de imagens do meio urbano e do meio “natural”, a
cenas “macro” (a floresta exuberante e densa; a imensidão do rio; a riqueza e a
diversidade da fauna; a “essência” dos seres humanos ao (re)estabelecerem o contato

139
com a “sua ‘natureza’”) e “micro” (o interior de vasos sanguíneos, células e fluidos de
organismos vegetais e animais) da “natureza”, e a diferentes quadros que se sucedem,
Natura Ekos objetiva, do início ao fim do vídeo, nos (re)conectar à “natureza”. Esta nos
é apresentada como algo bom, belo, íntegro, restaurador – a “essência” que
precisamos resgatar em meio aos prédios e às luzes das cidades, através da
identificação com os e da compra dos produtos da linha Ekos. Nesta perspectiva,
“Somos Produto da Natureza” parece articular uma rede de sentidos, configurando
noções de “natureza” postas em circulação na mídia. Tais compreensões parecem
trazer traços de entendimentos presentes nas sociedades ocidentais ao longo da
história.
A meu ver, a empresa Natura Cosméticos utiliza-se de compreensões sobre a
“natureza” vigentes desde a Antiguidade Grega (sobretudo, na Época Clássica), de que
a “natureza” (physis) seria a essência, o princípio de cada ser. Esta “essência”, buscada
por inúmeros filósofos – na água, no ar; na geometria, nos números e na matemática;
na alma (phyche), e na razão (nous), – parece ser empregada pela Natura Ekos como
sinônimo da busca do homem por “sua ‘natureza’”, sua (re)conexão com os demais
seres vivos. Isso embasaria a tentativa da linha de produtos, neste vídeo, de associar
imagens macro e microscópicas de diferentes seres vivos, evidenciando semelhanças
entre os mesmos, tais como: os olhos do menino indígena com os da arara-vermelha e
com os da onça-pintada, e, ainda, com as jabuticabas amazônicas (pretas e redondas);
os vasos sanguíneos animais e as nervuras vegetais, e as células e os fluidos animais e
vegetais. Podemos imaginar, também, que a empresa procura mostrar que as
similitudes entre diferentes seres vivos (ou a “essência” dos mesmos) vai além do que
é apreendido pelo visível, estaria no “DNA sagrado”, como indicam Nelkin; Lindee
(1995) e Ripoll (2001), – algo equivalente à crença na Bíblia Sagrada ou no Santo Graal
para a religião, mas, neste caso, para a ciência. Assim, a “essência”, o princípio de cada
ser, seria o DNA, a principal unidade dos organismos, o texto sagrado, a mais
fundamental das leis “naturais”. Outra possibilidade que elenco é que Ekos lance mão
do termo “essência” referindo-se à “natureza” como sinônimo de algo puro, íntegro,
restaurador – ao encontro do que Thomas (1989), Grün (1995) e Carvalho (2010; 2012)
apontam ao explanarem sobre o contexto social, econômico e ambiental da
emergência das novas sensibilidades, durante o período da Revolução Industrial, e,

140
posteriormente, aprofundadas pelo advento do Romantismo. Tais sensibilidades
idealizavam a “natureza” enquanto uma reserva do bem, da beleza e da “verdade”, um
ideal estético, ético e moral; gerando discussões sobre o que seria “viver bem”. Neste
sentido, para a Natura Ekos, a “essência” seria a “natureza” que não foi alterada, nem
degradada pelo homem (não indígena) – visto como um ser afastado desta “natureza”
(“essência”, “pureza”, “bondade”, “integridade”), e que precisa recuperá-la para viver
melhor consigo e com o planeta. Além destas explanações, penso que a palavra
“essência” para a Natura refira-se, ainda, à sua “Razão de Ser” empresarial, segundo os
dados do sítio da Natura Cosméticos no item “Sobre a Natura: Essência” (2015c): sua
Razão de Ser é: “criar e comercializar produtos e serviços que promovam o bem-
estar/estar-bem”. Faz-se importante mencionar, aqui, que a Natura Cosméticos
entende a expressão “bem estar” como “a relação harmoniosa, agradável, do
indivíduo consigo mesmo, com seu corpo”, e que o “estar bem” significa “a relação
empática, bem-sucedida, prazerosa, do indivíduo com o outro, com a natureza da qual
faz parte, com o todo”. Seguindo esta direção, posso argumentar que a “essência” da
Natura alude à “natureza” harmônica (sem desequilíbrios ecológicos); aos cuidados do
indivíduo consigo mesmo (particularmente, com o seu corpo, em termos de saúde,
higiene e cosmética), e à capacidade de alteridade, empatia e respeito com a
“natureza” e com os demais seres vivos. Em relação a estas questões, considero
importante observarmos que expressões como é a “natureza” das coisas não fazem
sentido, pois podem ter inúmeros significados, dependendo onde, quando, em que
cultura e por quem são interpretadas. Assim, entendo que os significados, ao encontro
do que argumenta Wortmann (2005), não correspondem a uma qualidade ou a uma
“essência” dos objetos a ser desvelada, visto que a própria “essência” das coisas é uma
invenção cultural, uma construção sócio-histórica. Levins; Lewontin (1985) também
mencionam não haver uma “natureza” singular ou um estado trascendental das coisas
com um caráter trans-histórico e/ou trans-geográfico, muito pelo contrário, afirmam
existir diferentes naturezas históricas, relacionais e ambientais, sujeitas a
transformações contínuas.
Natura Ekos parece veicular, também, uma ideia de ser humano que está
afastado da “natureza” (no meio urbano, devido ao processo civilizatório) e que
precisa reaproximar-se dela (representada como a floresta, sobretudo, a Floresta

141
Amazônica). No entanto, este homem afastado da “natureza” e que deve (re)conectar-
se à mesma necessita fazê-lo por meio do consumo e do uso dos produtos Ekos –
oriundos de uma “apropriação” humana da “natureza” (água, celulose, sementes,
frutos, saberes de outros humanos...). Por outro lado, Natura Ekos apresenta,
simultaneamente, uma noção de “natureza” que vai ao encontro de algumas
compreensões circulantes desde o século XIX, após a aceitação da Teoria da Evolução
das Espécies de Charles Darwin. Neste período, conforme Kesselring (2000), o homem
perdeu a sua posição privilegiada perante às outras espécies, sendo entendido não
mais como um ser à imagem e semelhança de Deus, com um posicionamento divino,
superior e central no Universo; mas em posição semelhante a todos os outros seres
vivos: como parte integrante da “natureza”, posicionado dentro da mesma e
conectado a ela, ou seja, como um produto da “natureza”. Tal expressão é tão
importante para a ideia que Natura Ekos pretende vender que o próprio nome da
campanha publicitária que analiso é “Somos Produto da Natureza”. A campanha
publicitária utiliza o discurso do homem como um produto da “natureza” como
estratégia de marketing para direcionar-se ao nicho de mercado dos produtos
“sustentáveis”, criando e atingindo os seus possíveis consumidores
socioambientalmente “corretos”. Ao mesmo tempo em que a empresa transmite a
noção de que cuida e conserva a “natureza”, a toma como propriedade, bem, recurso
e produto “natural” a ser consumido por homens que também são produto da
“natureza”... Sampaio (2012), ao discutir noções de “biodiversidade” associadas à
produção cultural da “natureza”, diz que:
Seria algo como uma relíquia, um bem inalienável,
incontestavelmente importante, uma vez que estaria implicada a
sobrevivência dos seres humanos. [...] Só que, por outro lado, há
inumeras tentativas de se atribuir um valor material e palpável à
biodiversidade, transformando-a em um produto como tantos outros
(SAMPAIO, 2012, p. 69).
Além das questões levantadas e discutidas até o momento, Natura Ekos faz uso
de outros entendimentos da “natureza”. De acordo com Kindel (2007) e Junqueira;
Kindel (2009), apresentamos, concomitantemente, uma visão de busca por um retorno

142
à “natureza” e uma visão cartesiana de “natureza”52. Na primeira noção, a “natureza”
é vista como um “paraíso perdido” ao qual precisamos regressar, ao identificarmos
nesta “natureza” as características primitivas, originais e “verdadeiras” da “essência”
animal e animal-humana. Na segunda noção, esta “natureza” que deve ser buscada é
tida como uma fonte de bens e de recursos “naturais” que podem ser explorados
conforme as necessidades humanas; evidenciando a visão antropocêntrico-utilitarista
que temos sobre a “natureza”. Ekos parece estar muito alinhada a estas
considerações, ao passo em que o vídeo analisado veicula o ser humano que procura a
sua “natureza”, “essência” e a “(re)conexão” consigo mesmo e com os demais seres
vivos. Assim, a campanha ensina-nos a sermos parte integrante desta “natureza”
equilibrada, íntegra e restauradora; a estarmos na “natureza” cuidando da mesma e
conservando-a, sentindo as suas sensações (o seu valor intrínseco) – suas cores, suas
formas, seus movimentos, suas dinâmicas; colocando-nos em uma posição de respeito
frente à sua grandeza e riqueza. Além disso, podemos perceber que a Floresta
Amazônica é retratada como o lugar selvagem, puro e equilibrado do qual os recursos
“naturais” e as “essências” da “biodiversidade” são extraídos para a produção dos
produtos da “natureza” – a serem precificados e vendidos, em meio a um sistema
econômico capitalista “sustentável”. Ao relacionar o homem trabalhador das
comunidades locais da Floresta Amazônica à colheita dos frutos, e o consumidor da
linha Natura Ekos ao uso “sustentável” da “natureza”, a Natura veicula um potente
discurso em prol de uma postura ética de consumo (o socioambientalmente “correto”)
– veiculado como um importante diferencial institucional da Natura. Ao encontro
destas considerações, Amaral; Conceição (2013) afirmam que:
Temos algo novo e contundente neste filme publicitário. A Natura, de
certo modo inverte o que temos falado sobre a naturalização do
produto [...]. Aqui, o que ela faz é naturalizar os sujeitos e não o
produto. O produto não precisa ser reconhecido como natural, ele já
é entendido como tal. Somos nós quem precisamos nos aproximar da
natureza. O que essa peça faz é nos provocar no sentido de “ensinar”
um “novo” lugar no mundo, onde nossas opções de consumo, nossos
cuidados com os demais seres do planeta testemunham o nosso
novo pertencimento (AMARAL; CONCEIÇÃO, 2013, p. 13).
52 Conforme Veiga-Neto (1994), julgar que a “natureza” seja virtuosa, harmoniosa e equilibrada é uma
construção cultural, situada em um determinado tempo, tanto quanto considerá-la competitiva,
defeituosa e imoral.

143
Outra palavra que considero merecer destaque na construção discursiva da
“natureza” presente neste material audiovisual é a “(re)conexão”. A partir do que o
vídeo traz, podemos pensar este (re)conectar-se de diversos modos. Os enunciados, ao
afirmarem: você é fruto, você é vento, você é semente, você é rio, você é bicho, você é
raiz – tecem vínculos entre o ser humano e o não-humano e, também, entre o homem
urbano e o homem integrante dos povos locais da Floresta Amazônica. Assim,
sugerindo que nós (moradores das grandes cidades) devemos buscar reestabelecer a
ligação que tínhamos no passado com os demais seres vivos (aludindo à relação
indissociável que os indígenas têm com a “natureza”); com as nossas tradições (no
vídeo, o que parece ser uma dança típica amazônica), e com a pureza e a integridade
da “natureza” bela, harmônica, equilibrada e biodiversa da Floresta Amazônica. Tal
ensinamento justifica-se para a Natura Ekos, porque nós somos produto da natureza,
tanto quanto as rajadas de vento, os relâmpagos, as castanhas-do-brasil, os açaís, as
araras, as onças, os indígenas, as árvores, as gotas de chuva, os rios, as nuvens, as
estrelas, as nervuras das folhas, os vasos sanguíneos dos animais e as células. Nesta
direção, podemos pensar que a (re)conexão proposta pela Natura refira-se à visão da
busca por um retorno à “natureza”, “[...] vista como espaço de inocência, como um
lugar não corrompido, que segue leis próprias, que é regido pelas forças do universo”
(JUNQUEIRA; KINDEL, 2009, p. 151). Designando, então, a procura por uma “natureza”
intocada e idealizada, um retorno ao lugar onde a vida é pura e afastada do caos
urbano, mas que pode ser acessada através do consumo dos produtos Ekos.
Em suma, o vídeo analisado ensina-nos certos modos de pensarmos, estarmos
e de agirmos em relação à “natureza”, articulando determinados elementos
discursivos e não-discursivos produtores de sentido. O anúncio tem a finalidade de
educar os sujeitos consumidores socioambientalmente “corretos”, construindo o
entendimento de que os mesmos são produto da “natureza”, de que os produtos Ekos
também são esta “natureza” e de que, portanto, adquirir e consumir os produtos
Natura Ekos é pertencer à esta “natureza” veiculada. Neste sentido, Ekos comercializa
uma visão de “natureza” como sinônimo de “essência” e de “(re)conexão” consigo e
com o planeta; uma “natureza” estética, ética e moralmente benéfica, que deve ser
buscada, preservada e cuidada ao se consumir os seus produtos produzidos com os
bens e os recursos “naturais” da Floresta Amazônica.

144
9.2 A (Re)conexão entre Homem e “Natureza”53
Figura 2 - Sequência de cenas selecionadas do vídeo “Making Of - Natura Ekos & Emma Hack”
Fonte: Sítio YouTube (2015)
Inicialmente, observamos a imagem de uma floresta, em um movimento de
“entrar” na mesma. Raios de sol por entre as árvores revelam o logotipo “Natura bem
estar bem”, enquanto ouvimos uma música instrumental tranquila e envolvente. O
logotipo desaparece. A câmera dirige-nos pela mata até vermos um grupo de homens
trabalhadores locais da Floresta Amazônica, que carregam cestos com frutos nos
ombros. Neste momento, surge o enunciado: “Natura Ekos traduz a conexão entre
homem e natureza”.
Agora, estamos em um outro lugar, onde o rosto de uma mulher jovem, branca,
loira com olhos claros aparece em primeiro plano. Simultaneamente, o enunciado
apresenta-nos à moça: “Para retratar esse pensamento, convidamos a artista
australiana Emma Hack”. A cena é ampliada: vemos a artista da cintura para cima
(enquadramento 3:4), rindo descontraída, enquanto opera uma câmera fotográfica
sofisticada e segura um pincel. O enquadramento, então, possibilita que enxerguemos
um estúdio fotográfico branco, organizado, saneado, com cinco holofotes, dois
53 Descrição, análise e discussão do vídeo “Making Of - Natura Ekos & Emma Hack”, exposta, aqui, em
uma versão aprofundada. Publicada, previamente, em um artigo científico que consta nos Anais do VII
Encontro Regional Sul de Ensino de Biologia (EREBIO SUL), UNESC, 2015 (MARTINS; SOUZA, 2015c).

145
homens de meia-idade operando um computador com atenção, e Emma regulando e
ajustando a sua máquina fotográfica para trabalhar com precisão.
Somos direcionados até um conjunto de pincéis, e concomitantemente é
revelado o enunciado: “Suas impressionantes obras de pintura corporal mimetizam o
homem à natureza e revelam essa conexão com arte e perfeição”. O enunciado torna-
se menos nítido, enquanto o fundo desfocado movimenta-se para mostrar Hack
estabelecendo a conexão descrita, por meio da pintura. Em seguida, a artista aparece
explicando o seu trabalho em inglês (nas legendas do vídeo, em português): Esta aqui
se chama Eu Sou Floresta, enquanto mostra a tela, temos macacos e araras. Aqui,
Emma está em ação: pinta “a floresta” no antebraço de uma modelo jovem e branca.
As cenas mudam, revelando outras partes do corpo nú da moça: o ventre, o busto e o
pescoço. Após, Hack aponta para a outra tela e diz: Essa é baseada no Rio Amazonas e
em um tipo específico de peixe.
A câmera posiciona-nos atrás da máquina fotográfica, que registra o trabalho
da artista. Vemos o visor, os botões e as inúmeras opções de ajuste da câmera de
Emma Hack. Ela explica: Eu posiciono a câmera a quatro ou cinco metros de distância –
vemos a artista com a tela do Rio Amazonas – do meu tema e do fundo. Aqui, temos
uma experiência nova: a impressão visual de dirigirmos a câmera e olharmos através
de seu visor a modelo pintada “mimetizada” com o fundo do rio, do mesmo modo que
Hack faz. Enquanto a artista descreve a sua ação, vemos a precisão de sua arte, por
meio da pintura do rio em delicados traços na modelo: Vou até a câmera e depois
volto e pinto uma linha na modelo – a artista executa o que fala – e volto novamente
para a câmera e vejo se está tudo alinhado.
A máquina filmadora dirige-nos novamete até a tela da floresta. O foco está no
rosto da modelo, enquanto o rosto da pintora fica desfocado. Neste momento, o
enquandramento parece revelar uma outra conexão estabelecida: a artista e sua obra
de arte, a criadora e sua criatura. Emma fala sobre esta interação: A modelo foi muito
gentil. Ficou sem se mexer por muito tempo – vemos a artista operando a máquina e
dirigindo a modelo – isso foi ótimo. Levou umas oito ou nove horas para pintar. Aqui,
vemos Hack e os dois homens fazendo ajustes no material. O trio parece bastante
concentrado, olhando e apontando para o computador.

146
A câmera desliza pelos pincéis, pelos homens e retorna para a pintura da
floresta com Hack comentando sobre a sua motivação para este trabalho: O meio
ambiente é muito importante – vemos os ajustes finais na modelo-rio – e é por isso que
eu o coloco nas minhas obras. Observamos a modelo-floresta recebendo camadas de
máscara para cílios e o olhar da modelo-rio. A seguir, somos transportados para
navegar num rio ao pôr-do-sol em tons de laranja e lilás. Fiquei feliz ao saber que a
Natura faz isso, que oferece apoio às comunidades – vemos as mãos de uma
trabalhadora local da Floresta Amazônica manuseando frutos de andiroba – e usa o
que a floresta produz de mais belo sem esquecer do cuidado com a natureza. Agora, a
imagem passa a sensação visual de que “escalamos” uma árvore.
Retornamos aos ajustes finais de Hack para a fusão visual entre a modelo e a
tela da floresta. Isso é muito importante, sobretudo num momento como este. Vemos
os últimos retoques para o “mimetismo” entre a moça e a pintura do rio. Voltamos a
olhar a obra da floresta, desta vez, apenas com a tela e a modelo, sem a artista. A
Amazônia é um bem natural magnífico e precioso. Em seguida, o que foi relatado
anteriormente acontece na obra do rio. Temos que apreciar esse bem e cuidar dele.
Hack aponta para o computador, mostrando o que deve ser feito para os homens do
estúdio. A modelo-floresta surge atrás deles e sorri para Emma, que corresponde ao
gesto e afirma: Acho que me saí bem. Ficou muito bonito. Agora, a artista, os homens e
a modelo-rio aparecem ao redor do computador, olhando para o trabalho realizado
com satisfação, em um momento descontraído.
Vemos a última etapa do trabalho: o estúdio fotográfico com os utensílios
(pincéis, copos d’água, tintas, etc.) utilizados por Emma; a pintura da tela sobre o rio; a
modelo-rio milimetricamente alinhada com o fundo, dando a impressão de sair da
pintura em uma imagem em três dimensões (3D), e Hack operando a máquina
fotográfica para registrar o resultado, enquanto leva as mãos à boca, como se não
acreditasse na “perfeição” que vê e que fez. Observamos o resultado final da obra: as
peças publicitárias impressas de Natura Ekos – a modelo e a tela fundem-se em uma
imagem única à esquerda e, à direita é apresentada a imagem “real” do Rio Amazonas,
em uma fotografia. No centro das imagens, o enunciado: “você é rio”. Depois, vemos,
no canto superior direito, os produtos Natura Ekos: óleos e hidratantes corporais. Na
mesma posição, abaixo, surge o slogan da campanha: “Somos Produto da Natureza” e

147
o logotipo “Natura Ekos”. Em seguida, vemos o mesmo padrão de layout na outra
peça: “você é mata”, atrelada ao padrão estético da Floresta Amazônica, desta vez. Ao
final, vemos raios de sol por entre árvores de uma floresta e temos a impressão visual
de “sairmos” da mesma. Surge, ao centro, o enunciado: “Somos Produto da Natureza”
e o logotipo, à direita da imagem, “Natura Ekos”.
Em um primeiro momento, o vídeo anuncia o que irá abordar: “Natura Ekos
traduz a conexão entre homem e natureza”. Desde então, torna-se oportuno
pensarmos sobre este discurso veiculado, atentando para os sentidos e os
ensinamentos sobre a “natureza” que estão sendo construídos pelo anúncio. Esse faz
uso de artefatos culturais materiais e simbólicos – o estúdio fotográfico, os
equipamentos, as técnicas e as estéticas da pintura e da fotografia, os enunciados da
linha Ekos e os depoimentos da artista Emma Hack – com o intuito de criar a noção de
(re)conexão entre o homem e a “natureza” (aqui, entendida como sinônimo da
Floresta Amazônica e do Rio Amazonas), com a finalidade de constituir e de reforçar a
identificação entre os consumidores socioambientalmente “corretos” e os valores
“sustentáveis” da Natura Ekos. Considero importante atentarmos para a palavra
“traduz” que a Natura emprega neste primeiro enunciado. A meu ver, a “tradução”
referida pela empresa denota uma explicação ou uma representação sobre o que a
linha de produtos Ekos concebe ser a conexão entre o homem e a “natureza” –
configurando-se como um termo central para entendermos o que significa esta
propaganda para a campanha publicitária analisada neste estudo: “Somos Produto da
Natureza”.
Outra palavra-chave para discutirmos neste anúncio é “conexão”. Podemos
conceber este termo sob diversos aspectos, entendendo que o mesmo apresenta
diferentes significados ao longo do vídeo. Inicialmente, penso que a Natura veicula
uma ideia de conexão semelhante a do primeiro vídeo analisado nesta Dissertação
(vide tópico anterior – Somos Produto da Natureza?), considerando o homem como
um ser distante da “natureza” e que precisa reaproximar-se da mesma. Ekos parece
estabelecer tecituras entre o humano e o não-humano e entre a “natureza” ou a
“essência” presente em todos os seres. Neste sentido, sugerindo que nós devemos
buscar reestabelecer a ligação que tínhamos no passado com os demais seres vivos, e
com a pureza e a integridade da “natureza” bela, harmônica, equilibrada e biodiversa
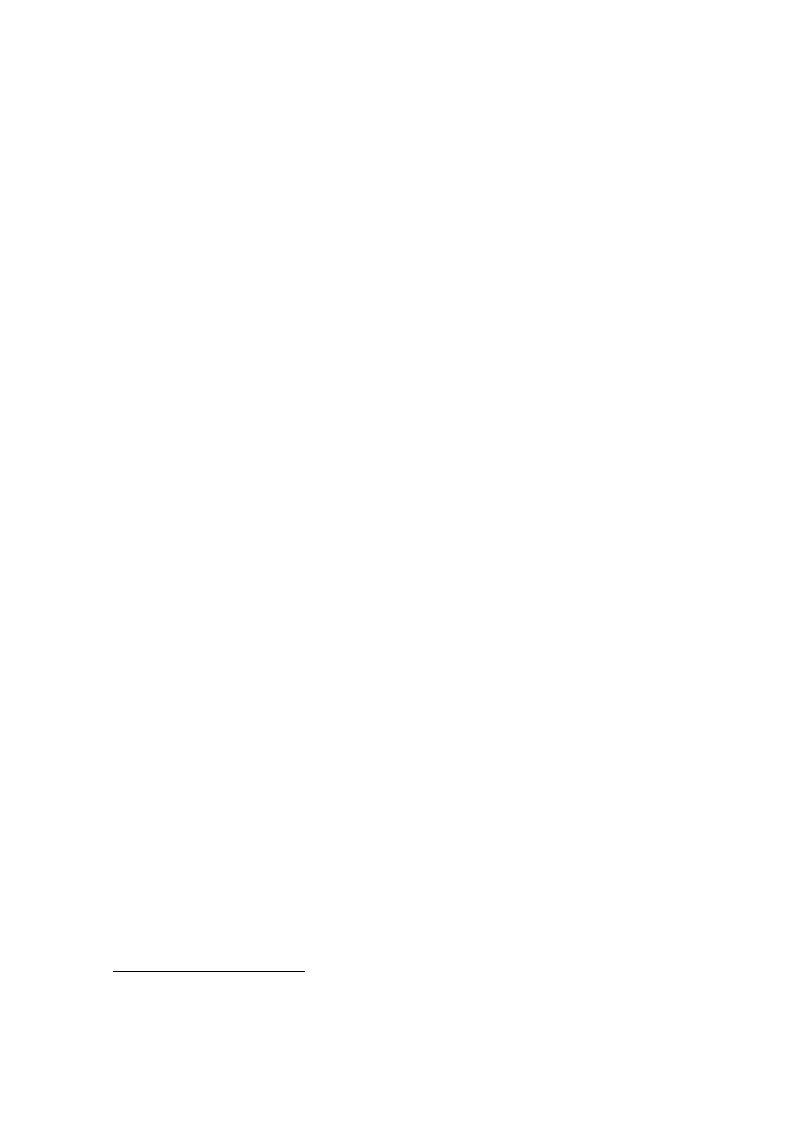
148
da Amazônia. Compreendo que a conexão proclamada pela Natura possa referir-se,
ainda, a uma visão holística da vida, cuja expressão mais extremada é a “Hipótese de
Gaia”. Essa, segundo Capra (1982; 1996), considera a Terra viva e os seus componentes
conectados, interligados e interdependentes entre si, não havendo partes dissociadas.
Assim, os organismos vivos seriam sistemas totalmente integrados, cujas propriedades
não podem ser reduzidas a unidades menores. Tal noção é apresentada pelas imagens,
pelos sons e pelos enunciados do vídeo, ao retratarem um lugar (a Amazônia) que
funciona de maneira adequada e estável, sem a interferência das ações do homem
urbano, e que se mantém de modo auto-organizado e “natural”. Conforme Steil et al.
(2010), na visão holística de “natureza”, determinados lugares (no caso de sua
pesquisa, o Rincão Gaia54) constituem – através de discursos, “verdades”, noções de
“natureza”, paisagens, trilhas interpretativas, oficinas sobre ervas medicinais, etc. –
acessos privilegiados para o reforço de determinadas crenças ecológicas e, também,
respostas ao “mal-estar civilizacional” dos sujeitos, que encontram na idealização de
uma vida “natural” um caminho de fuga ao status quo. Grün (2003), no entanto,
menciona que “nem todas as substituições da visão Cartesiana fragmentada,
reducionista, mecanicista e antropocêntrica por posturas holistas estão isentas de
problemas éticos, políticos e epistemológicos” (idem, p. 6); convidando-nos a pensar
criticamente sobre a ampla aceitação que a visão holística da “natureza” tem hoje.
Autores como Sylvan (1985), Dobson (1990) e Palmer (1998) apud Grün (2003) têm
criticado as posturas holistas, pois entendem que estas estão ligadas ao
antropocentrismo que tanto criticam, ao, em última análise, “humanizarem” a
“natureza” e, inclusive, o Universo; de modo que a “natureza” perde a sua alteridade.
Versões do holismo como as de Whitehead (1978), Fox (1995), Naess (1995) e Capra
(1982; 2000) apud Grün (2003), de certo modo, desconsideram o respeito às
diferenças e eliminam as distinções entre “natureza” e cultura ao tomarem a
experiência humana como um modelo para o Universo.
Podemos supor, ainda, que Ekos utiliza-se de uma noção de (re)conexão com a
“natureza” em um sentido de busca religiosa (religare (em latim) ou religar (em
54 O Rincão Gaia é uma Organização Não-Governamental (ONG), localizada no estado do Rio Grande do
Sul, Brasil, fundada, em 1987, pelo mundialmente (re)conhecido ambientalista José Lutzemberger (STEIL
et al., 2010).

149
português) os seres humanos a Deus), designando que devemos procurar
reestabelecer o contato com o que é “sagrado”, puro, intocado e “essencial”, e,
portanto, não corrompido pelos interesses humanos. Além disso, é possível imaginar
que esta conotação espiritual da (re)conexão possa relacionar-se a um tipo de
restauração do caos cotidiano que vivenciamos nas grandes cidades, que teria a
capacidade de resgatar os elementos “essenciais” da nossa “natureza” individual,
através da nossa religação com a “natureza” (Amazônica). Esta “cura” seria alcançada,
para a Natura, através do uso dos produtos Ekos, que têm efeitos não só para a pele,
as unhas, os cabelos, as mãos e os pés, mas para o nosso bem-estar, estar bem como
um todo – sensações de frio e de calor, de refrescância, de relaxamento e de
hidratação; diferentes tipos de texturas; perfumes e cores energizantes e calmantes,
etc. – trazendo benefícios para muito além do corpo: para a mente e o cérebro
também, conduzindo-nos a diversas e revigorantes experiências sensoriais. Nesta
perspectiva, considero que a Natura Ekos valha-se de uma noção de (re)conexão ao
encontro do que José Lutzemberger escreveu e que se encontra inscrito em sua lápide
no Rincão Gaia:
A verdadeira, a mais profunda Espiritualidade, consiste em sentir-nos
parte integrante desse maravilhoso e misterioso processo que
caracteriza Gaia, nosso planeta vivo, a fantástica sinfonia da evolução
orgânica que nos deu origem junto com milhões de outras espécies; é
sentir-nos responsáveis por sua continuação e desdobramento
(LUTZENBERGER apud STEIL et al., 2010, p. 60).
Neste momento, proponho que enfatizemos o segundo enunciado do vídeo:
“Para retratar esse pensamento, convidamos a artista australiana Emma Hack” – a fim
de conhecermos um pouco sobre a pintora convidada e seu distinto trabalho. Em
2012, a empresa Natura Cosméticos convidou a artista Emma Hack para retratar a sua
proposta de (re)conexão entre homem e “natureza” para a campanha publicitária
“Somos Produto da Natureza”. Conforme informações disponíveis no sítio de Hack, ela
é australiana e amplamente reconhecida em seu país desde 1999, quando passou a
alcançar destaque internacional. A pintora tem recebido grande aclamação por suas
refinadas técnicas de Arte Corporal (Body Art), através das quais apresenta uma
“camuflagem” visual, combinando pinturas sobre tela, corpos humanos e fotografias
em estúdio, evocando uma rica variedade de narrativas visuais e do que denomina
como “realismo mágico”. O trabalho de Emma é feito para inúmeras coleções privadas
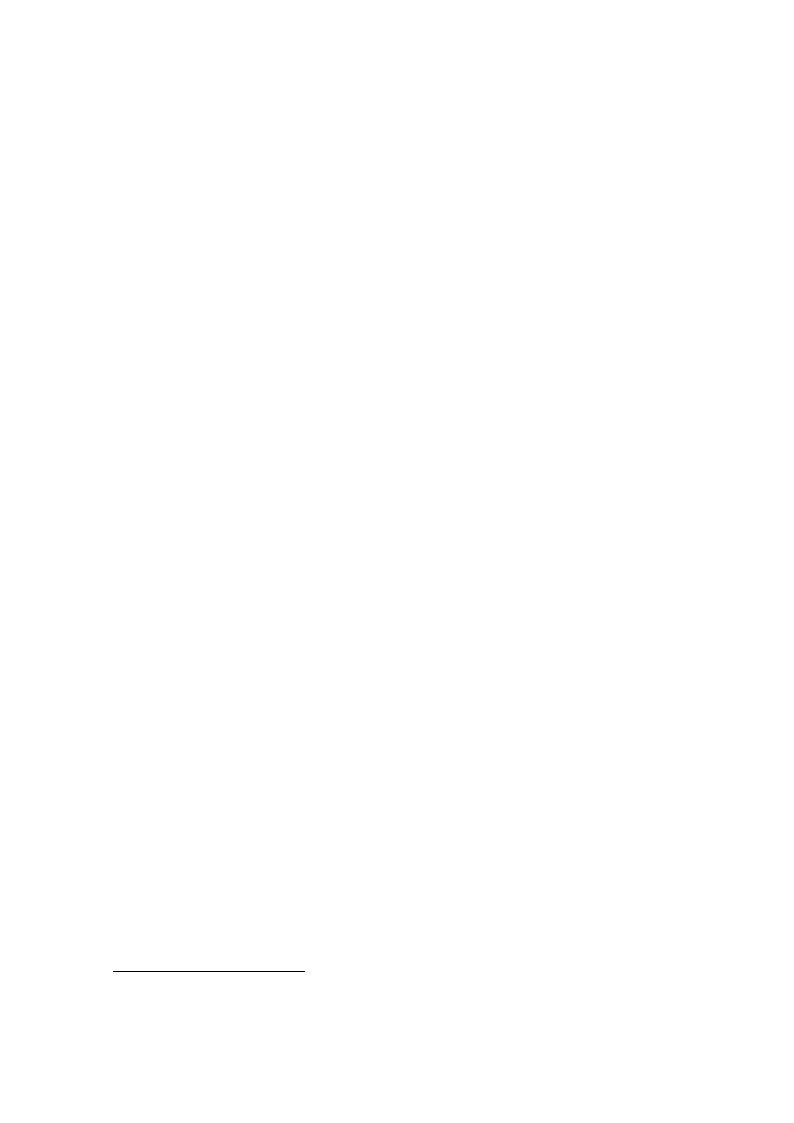
150
e corporativas globalmente, dentre elas: Tiffany & Co, Mont Blanc, Mac, Natura, Sony,
Philips, Nokia, Art Gallery of New South Wales, Art Gallery of South Australia, Museum
of South Australia, e National Geographic. As pinturas em tela e em corpos criadas por
Hack atendem aos mais diferentes pedidos de seus clientes, portanto, ela não se
restringe ao estabelecimento estético da relação entre homem e “natureza”.
Trabalhos que retratam o corpo humano como uma extensão do movimento de
esportes; a sensualidade feminina; diferentes culturas (como a japonesa); pinturas
corporais imitando roupas de festas e roupas íntimas, macacões de fórmula um (F1),
latarias de robôs, latas de refrigerantes, trajes egípcios e calçados anatômicos figuram
entre as possibilidades temáticas de Emma. Os bastidores da arte de Emma Hack são
constantemente registrados em filmagens, funcionando como mais um artíficio de
valorização dos produtos e serviços vendidos pelas empresas e, também, como uma
estratégia de Hack para divulgar o seu trabalho diferenciado (EMMA HACK ARTIST,
2015a; 2015b; 2015c; 2015d; 2015e; 2015f).
Atentemos para o seguinte enunciado: “Suas impressionantes obras de pintura
corporal mimetizam o homem à natureza e revelam essa conexão com arte e
perfeição”. Aqui, primeiramente, provoca-me o emprego do termo “mimetismo55”,
utilizado de maneira equivocada pela Natura Cosméticos. Mimetismo refere-se à uma
das possíveis estratégias de adaptação das presas contra seus predadores, em que
uma ou mais espécies não-tóxicas apresentam uma aparência semelhante a da espécie
tóxica para afugentar possíveis predadores. Neste sentido, seria mais adequado que o
anúncio de Natura Ekos lançasse mão do conceito biológico de “camuflagem”, que
designa a adaptação de um determinado animal para apresentar cores, formas e
texturas tão semelhantes com o ambiente que habita, que passa a impressão visual de
fundir-se com o mesmo, em uma imagem única (SADAVA, et al., 2009). Em seguida,
podemos dar ênfase à conexão entre o homem e a “natureza”, ressaltada por Ekos
neste enunciado e ao longo de todo o anúncio. A Natura Cosméticos utiliza-se da
noção da chamada “biomimética”, que “[...] busca inspiração no mundo natural para
resolver problemas da sociedade humana. Consiste em olhar para a natureza como
55 O termo mimetismo utilizado pela empresa Natura Cosméticos neste vídeo está equivocado e não
pode passar despercebido por mim, Bióloga, apesar desta Dissertação não fazer uso metodológico da
Análise de Conteúdo.
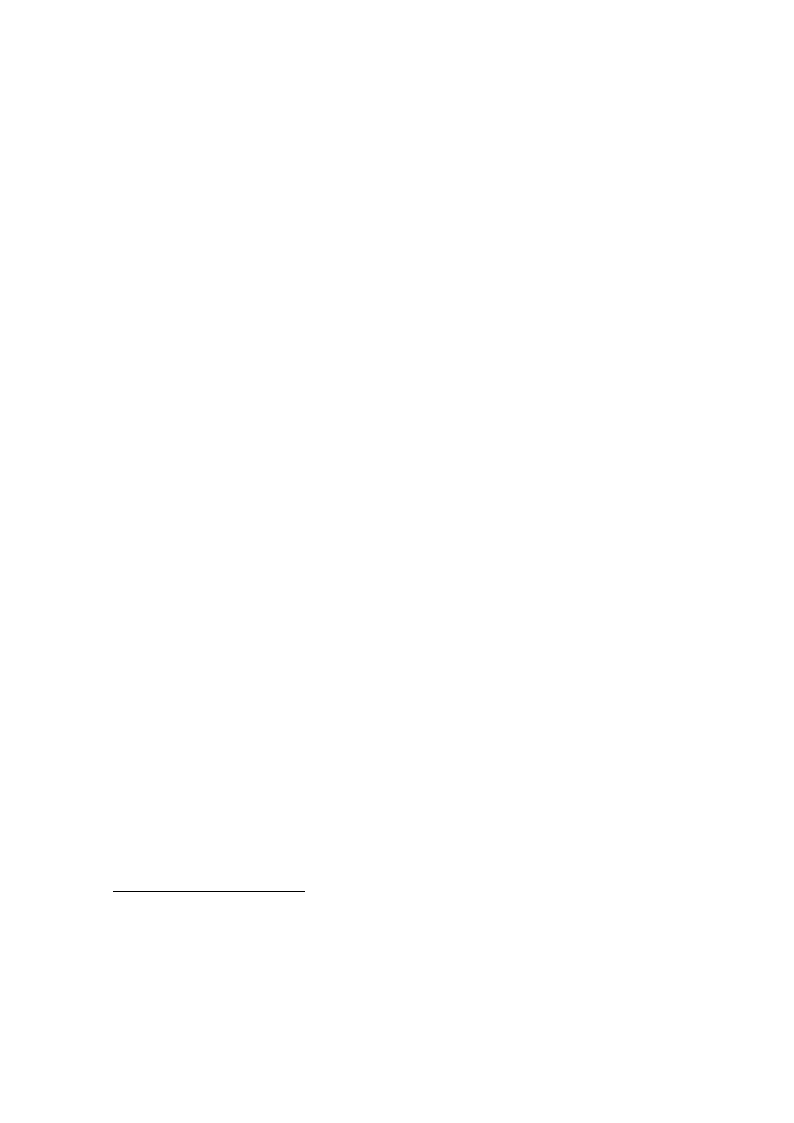
151
fonte de conhecimento, não somente de recursos” (NATURA COSMÉTICOS, 2015d, p.
83). Assim, a empresa segue a ideia de inspirar-se na “natureza” para inúmeras de suas
iniciativas “sustentáveis” – como suporte para a confecção e o ecodesign56 de seus
produtos, de suas embalagens e de suas linhas, embasando-se no princípio da
ecoeficiência57 como justificativa para “um consumo mais inteligente [...], buscando
reduzir ao máximo o uso de materiais e recursos para gerar o mínimo impacto
ambiental” (idem, p. 27). Segundo a Natura,
[...] A escolha das matérias-primas, utilizadas no desenvolvimento
tanto das fórmulas quanto das embalagens, deverá considerar, além
de sua funcionalidade e segurança no uso, as respectivas pegadas
sociais e ambientais, assim como sua capacidade de retornar à
biosfera de forma segura. A origem destas matérias-primas será
proveniente de cadeias de abastecimento que atendam a um
rigoroso processo de rastreabilidade e verificação socioambiental.
Estimularemos a utilização de ingredientes de origem renovável e
investiremos no desenvolvimento de matérias-primas a partir da
sociobiodiversidade ou em tecnologias inspiradas na natureza. Para a
produção industrial destes insumos, investiremos em processos mais
limpos e de alto rendimento. Os resíduos gerados deverão ser
reutilizados em seu próprio processo produtivo ou tornarem-se
insumo de alta qualidade por outro ciclo industrial ou natural
(NATURA COSMÉTICOS, 2015d, p. 28, grifos meus).
Além disto, a Natura Cosméticos pretende que suas formulações sejam
desenvolvidas de modo otimizado e concentrado, fazendo uso da menor quantidade
possível de ingredientes e da combinação “ideal” entre eles. As formulações “deverão
promover benefícios funcionais e experiência sensorial (tátil, olfativa, visual)
diferenciada para o consumidor, assim como são referêcia em segurança no uso e para
o meio ambiente” (NATURA COSMÉTICOS, 2015d, p. 29). Neste sentido, Ekos parece
ter ulilizado-se da biomimética, também, para a produção deste anúncio publicitário –
a fim de representar o seu entendimento de conexão entre o homem e a “natureza”
de modo tão indissociável que é difícil estabelecer visualmente uma separação entre o
que faz parte da pintura corporal e o que se refere à pintura em tela; ocorre uma fusão
56 A empresa Natura concebe o termo ecodesign como “uma abordagem de desenvolvimento de
produtos, que tem como objetivo minimizar os impactos ambientais gerados ao longo do seu ciclo de
vida” (NATURA COSMÉTICOS, 2015d, p. 83).
57 Para a Natura, a ecoeficiência é alcançada “por meio de produtos e serviços competitivos que
satisfaçam as necessidades humanas e promovam a qualidade de vida, enquanto reduzem
progressivamente os impactos ambientais negativos e a intensidade de uso dos recursos durante todo o
ciclo de vida” (NATURA COSMÉTICOS, 2015d, p. 83).

152
estética bastante bonita, revelando que o humano está e é parte integrante da
“natureza” (Amazônica).
Enfatizo, agora, o discurso de Emma Hack sobre o seu trabalho no estúdio
fotográfico: Vou até a câmera e depois volto e pinto uma linha na modelo e volto
novamente para a câmera e vejo se está tudo alinhado. Nesta fala, podemos notar o
cuidado e o detalhismo de Hack ao produzir sua obra, algo semelhante ao trabalho
minucioso dos cientistas nos laboratórios. A partir destas informações, das que são
apresentadas pelo vídeo e das que pesquisei no sítio de Hack, considero que Emma é
uma artista que, de certo modo, constrói “verdades” ou “fatos científicos” – no caso,
uma “natureza” tão entrelaçada (ou conectada) ao ser humano que é difícil delimitar
quando um começa e o outro termina. No entanto, para chegar ao resultado final de
estabilização da produção deste “fato” (as duas peças publicitárias que são reveladas
ao final do anúncio: você é rio e você é mata), Emma Hack e Natura Ekos necessitam
ocultar a história de sua constituição; a equipe envolvida no processo; os instrumentos
que permitem a sua perfeição; a manutenção dos aparelhos utilizados; as disputas
artísticas, técnicas, científicas, ambientais, financeiras, midiáticas e empresariais
envolvidas; dentre outros elementos. Para Latour (1994), os “fatos científicos” são
construídos em textos admitidos e autorizados por um grupo de pessoas (uma
comunidade científica), e mesmo que artificiais, caros, difíceis de reproduzir, estes
fatos representam a natureza como ela é. Tal compreensão poderia ser aplicada com
pequenas alterações à produção midiática apresentada por Ekos; então, teríamos o
seguinte entendimento: “fatos científicos” são construídos em anúncios publicitários
admitidos e autorizados por um grupo de pessoas (artistas, técnicos, cientistas,
publicitários, empresários, etc.), e mesmo que artificiais, caros, difíceis de reproduzir,
estes fatos representam a natureza como ela é. A meu ver, o pensamento de Bruno
Latour sobre a produção dos fatos científicos vai bastante ao encontro do que concebo
sobre o trabalho de Hack para a Natura, pois o vídeo veicula a representação da
“natureza” como ela é (para a linha Ekos), de modo a interpelar os sujeitos
consumidores (através da arte e da perfeição), ensinando-os como devem identificar-
se com a “natureza” (Amazônica dos produtos Ekos) e comportar-se (ter atitudes de
consumo) em relação à mesma. Além disso, parece-me que o estúdio fotográfico
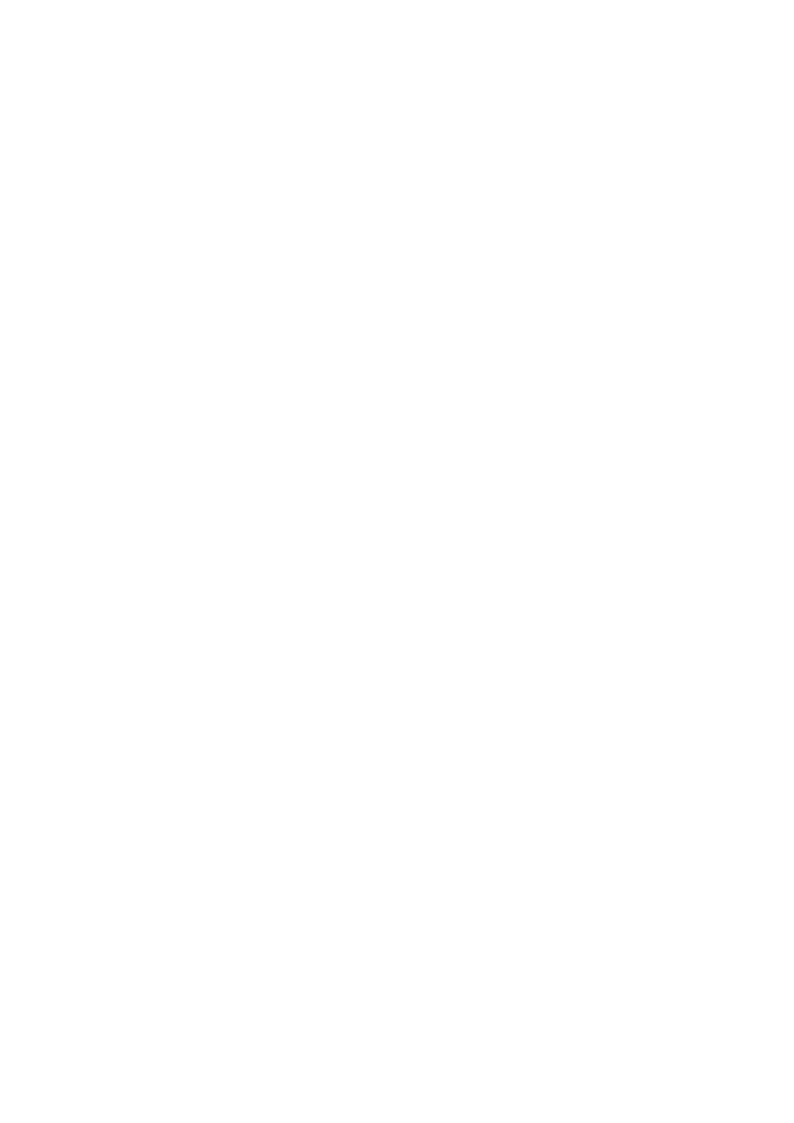
153
opera no vídeo com um propósito muito semelhante ao do laboratório de pesquisa
apresentado no terceiro anúncio analisado desta campanha (vide próximo tópico deste
Capítulo – A Ciência como Instância Legitimadora da “Natureza”). Ambos são
retratados como lugares afastados de possíveis intervenções da “natureza”, tais como:
insetos, plantas, fungos e outros seres indesejados nestes ambientes. O estúdio e o
laboratório são veiculados como locais brancos, saneados, organizados e disciplinados,
nos quais os sujeitos seguem determinadas regras, técnicas e funções, utilizando os
seus respectivos instrumentos de trabalho (lentes, focos, botões de ajuste, luzes,
computadores) com precisão. Nesta perspectiva, Lenoir (1993) oferece-nos outras
contribuições importantes para pensarmos acerca dos aspectos correspondentes entre
o estúdio fotográfico e o laboratório de pesquisa de Ekos – o ato de disciplinar a
“natureza”:
Os objetos de investigação científica são construídos e estabilizados
através dos instrumentos, num processo que acaba por disciplinar a
natureza, [...] uma vez que os ‘objetos naturais’, ou seja, aqueles
objetos aos quais atribuímos um valor natural, são coisas que
construímos sob condições instrumentais (LENOIR, 1993 apud
AMARAL, 1997b, p. 119).
Ao encontro de Lenoir (1993), compreendo que tanto o estúdio quanto o
laboratório desenvolvam práticas, técnicas e métodos que visam disciplinar a
“natureza”, para poder retratá-la e representá-la como ela é; no entanto, em
condições físicas, químicas e biológicas “controladas” para poder alcançar resultados
“objetivos” e “perfeitos”. Neste sentido, tanto a arte quanto a ciência parecem
inspirar-se em visões sobre a “natureza” circulantes desde o período da Renascença –
a organiscista e a mecanicista. De acordo com Souza (1996), a primeira concebeu o
conhecimento como o resultado das experiências sensoriais e/ou intuitivas da
“realidade”; e a segunda, compreendeu o conhecimento como o resultado das
experiências mensurativas. No entanto, em ambas estava inclusa a exclusividade da
experiência por meio de métodos, entendida como o único modo possível para o
conhecimento da “natureza”; a busca pelo domínio técnico da “realidade natural”; e,
ainda, a grande importância dos símbolos, para conferirem uma expressão científica às
experiências. Assim, entendo que tanto Emma Hack quanto Natura Ekos lancem mão

154
de técnicas e de métodos para apreenderem e retratarem a noção de “natureza” que
pretendem vender.
Ao pensarmos acerca da História Natural, veremos que sua história não foi
nada “natural”, mas marcada por práticas de colonização – especialmente, dos
territórios, das espécies e das culturas estrangeiras –, que, desde as expedições
marítimas ou por terra, abrangeram coletas, catalogações, exposições, desenhos,
pinturas, dentre outras técnicas, com a finalidade de ir à “natureza” e “reproduzi-la”
para os mais diversos fins e consumos. E hoje? Utilizamos “novas” tecnologias para
criar a “natureza” que procuramos vender e consumir. Haraway (1989) faz um estudo
sobre o Museu Americano de História Natural de Nova Iorque, construído em 1868. A
autora destaca que o prédio deste museu, junto ao Central Park, apresenta muitas
faces – templo grego, banco, instituição de pesquisa, museu popular e teatro
neoclássico – sendo, concomitantemente, “um espaço que sacraliza a democracia, o
cristianismo protestante, a aventura, a ciência e o comércio” (idem, p. 27). O principal
edifício do museu é o Memorial Theodore Roosevelt, cuja fachada é sustentada por
quatro colunas, nas quais há estátuas de grandes exploradores. No topo do prédio está
escrito Verdade, Conhecimento e Visão, e uma dedicatória a Roosevelt: “um grande
líder da juventude da América, [...], em defesa dos direitos do povo, no amor e na
preservação da natureza e do melhor que há na vida humana” (idem, p. 27). No atrium
do edifício existe uma reprodução monumental do Jardim do Éden, onde o homem
está começando o seu primeiro dia de vida neste santuário da “natureza”. Além disso,
o museu possui um Hall Africano, que permite aos visitantes ingressarem “em um
espaço e tempo privilegiados: a idade dos mamíferos no coração da África, local onde
essa cena [o surgimento dos mamíferos] se originou” (idem, p. 22). Este espaço
africano também proporciona aos visitantes momentos de comunicação com a
“natureza” – representações do momento da interface da Idade dos Mamíferos com a
Idade do Homem (animais taxidermizados), e dioramas de vários grupos de mamíferos
africanos (bufálo, rinoceronte, leão, zebra, okapi). Haraway também analisa o processo
de montagem das exposições científicas, da arquitetura e das cenas apresentadas no
Museu Americano de História Natural – esculturas, dioramas, animais taxidermizados,
fotografias, desenhos –, observando como foram agrupados, dispostos, ordenados e

155
hierarquizados em diferentes grupos. A autora ressalta como o museu direciona-se à
restauração das origens (da história “natural”) e ao preenchimento de um propósito
científico de conservar, preservar e produzir permanências. De acordo com Haraway,
muitos animais acabam não sendo expostos nos dioramas por serem muito pequenos
e/ou pouco coloridos. Para que o ambiente representado seja o mais “natural” e belo
possível, animais com aparência pouco saudável, envelhecida ou mal taxidermizados
são descartados. Desta maneira, comumente, os animais são dispostos em pequenos
grupos – um macho vigilante e forte, uma ou duas fêmeas, e um filhote – e, outras
vezes, o grupo constitui-se por machos jovens. Os grupos de animais representam a
“essência” de determinada espécie, assim, não há necessidade de aumentar o número
de indivíduos representados: cada grupo forma uma comunidade estruturada em uma
divisão “natural” de funções e, portanto, o conjunto animal, no grupo, acaba por
compôr a “natureza” verdadeira. Lenoir (1997), por sua vez, realiza um estudo
histórico acerca das exposições realizadas entre o século XIX e o início do século XX,
atentando, sobretudo, para a oganização do Museu Britânico de História Natural de
Londres, e do Museu Americano de História Natural de Nova Iorque. Este período foi
eleito, principalmente, porque nessa época, talvez mais do que em qualquer outra,
diversas teorias competiram para explicar a origem das espécies. O autor ressalta o
papel que as exposições museográficas exercem na representação da “natureza”, visto
que nelas é utilizada uma retórica extremamente persuasiva, reunindo elementos da
“própria vida” – selecionados por interesses humanos e, também, organizados e
marcados58 a partir destes interesses. Para Lenoir, tais práticas dos museus produzem
a “natureza” e não somente a apresentam. Assim, “o museu, embora seja um
fragmento, evoca a experiência do significado e variedade da natureza de maneira
mais completa do que a própria natureza” (idem, p. 57). Hoje, os museus ainda
apresentam inúmeros ambientes “naturais”, que podem ser vistos em um mesmo dia
e em um mesmo local. Apesar de nos museus haver apenas “fragmentos” da
“natureza”, neles podemos ter a experiência do significado e da variedade da mesma
de modo mais completo do que em qualquer “porção” particular da própria
58 De acordo com Lenoir (1997), os marcadores designam as placas, as legendas, os souvenirs, os
catálogos, os guias, os cartões postais presentes nas exposições museográficas e, também, em
atividades relacionadas ao turismo.

156
“natureza”. As exposições museográficas utilizam-se de marcadores semióticos para
poderem afirmar a autenticidade da “natureza” que está sendo representada ali;
autenticidade que é garantida por processos históricos que a “naturalizam”. Neste
sentido, para o autor, há a necessidade de empreendermos descontruções59, a fim de
entendermos como tal “naturalização” da história da produção do meio “natural”
envolve questões políticas e econômicas, por exemplo.
Irei salientar, agora, o discurso que Hack profere sobre o seu trabalho atrelado
às questões ambientais para a Natura Cosméticos: O meio ambiente é muito
importante e é por isso que eu o coloco nas minhas obras. Fiquei feliz ao saber que a
Natura faz isso, que oferece apoio às comunidades e usa o que a floresta produz de
mais belo sem esquecer do cuidado com a natureza. Isso é muito importante,
sobretudo num momento como este. A Amazônia é um bem natural magnífico e
precioso. Temos que apreciar esse bem e cuidar dele. Nesta fala da artista, percebemos
“pinceladas” das noções de sustentabilidade que Emma apresenta – destacando os
aspectos ambientais, sociais e econômicos (o tripé de componentes da
sustentabilidade) nas atividades exercidas pela empresa Natura, e utilizando-se destes
motivos para justificar o seu interesse em trabalhar com a linha Ekos. No trecho:
oferece apoio às comunidades, penso que Hack tenha visto a relação da Natura Ekos
com as comunidades de uma forma restrita, como se apenas a empresa beneficiasse
as comunidades locais da Floresta Amazônica e não como uma troca mútua (ou, talvez,
até mais vantajosa para a Natura do que para as comunidades) de saberes, de técnicas
e de recursos “naturais” e tecnológicos. Posteriormente, na parte: usa o que a floresta
produz de mais belo sem esquecer do cuidado com a natureza – Emma Hack demonstra
uma visão predominantemente antropocêntrico-utilitarista de “natureza”. Ela parece
entender que a empresa deve usar o que a “natureza” (a floresta) produz de mais raro,
de mais sofisticado (de mais belo) sem descuidar da conservação “sustentável” desta
“natureza” (sem esquecer do cuidado com a natureza); denotando uma preocupação
que a empresa tem (no entendimento da artista) com esta “natureza” ao pensar no
futuro (futuras gerações e futuras demandas por recursos “naturais”). Emma refere-se
59 O termo desconstrução é aqui empregado por Lenoir (1997) no mesmo sentido que é atribuído por
Derrida. Ele refere-se a uma estratégia filosófica para lidar com oposições, implicando numa inversão
das hierarquias axiológicas e lógicas.

157
à Amazônia como: [...] um bem natural magnífico e precioso. Aqui, a pintora apresenta
um termo repetidamente discutido ao longo desta Dissertação, a noção de bem
“natural”. Esse é empregado para referir-se à Amazônia, considerada o lugar mais
biodiverso do mundo. Considero este entendimento da artista bastante limitado,
pensando na importância que a Floresta Amazônica tem, seja simbólica, ecológica,
ambiental, espiritual, econômica, empresarial, industrial, política, midiática ou
cientificamente. Reduzir o valor da biodiversidade amazônica à um viés atrelado ao
uso do capital “natural” é um problema; segundo Latour (2004), da ordem da ecologia
política. Assim, precisamos pensar de outros modos sobre a centralidade das palavras
que utilizamos para constituir as coisas no mundo, neste caso, ao referirmo-nos à
“natureza”. Prosseguindo a nossa análise, Hack finaliza as suas considerações sobre a
Floresta Amazônica dizendo que: Temos que apreciar esse bem e cuidar dele. Agora,
notamos um claro posicionamento da pintora em prol do sistema econômico
capitalista “sustentável”; denotando o olhar contemporâneo da artista para as
questões ambientais. A sustentabilidade emergiu em meio a condições sociais, espaço-
temporais e culturais que prociaram a sua construção, bem como a sua ampla
aceitação dentre as mais diversas instâncias e instituições da sociedade. Para Ribeiro
(1992), a sustentabilidade propiciou a possibilidade de se pensar em um modelo
alternativo de desenvolvimento menos radical. Desta maneira, pode-se enfatizar
menos alterações nas formas de produção da economia (como, por exemplo, a
redução do consumo dos países industrializados), e mais na busca por opções técnico-
científicas, que permitissem a manutenção do modelo vigente, porém, com menos
impactos ambientais. O foco, então, voltou-se para a promoção das chamadas
“tecnologias limpas” ou “tecnologias verdes”. Nesta perspectiva, podemos reparar que
a fala de Emma Hack condiz com a proposta “sustentável” da Natura Cosméticos,
rementendo, inclusive, às condições nas quais a empresa foi criada em 1969, após uma
pesquisa com seus/suas consumidores/as –, quando foi constatada a necessidade de
valorizar a riqueza dos recursos “naturais” da flora brasileira. Para atender a esta
demanda de consumo, a empresa adotou a consciência de que a “natureza” é a
inspiração para os seus relacionamentos (NATURA COSMÉTICOS, 2015b) – eu
complemento: e para as suas vendas. A Natura Cosméticos foi gradativamente
alinhando-se com os rumos deste novo caminho econômico, passando a adotar

158
medidas “sustentáveis” (sobretudo, a partir dos anos 1990 e 2000) como estratégia de
diferenciação empresarial em seu nicho de mercado (higiene pessoal, perfumaria e
cosméticos); diferencial este atrelado ao aspecto da “inovação”. Assim, a Natura foi
sendo constituída:
Há 45 anos, eram muito pequenas as probabilidades de que a Natura
pudesse ter um futuro que ultrapassasse os limites da lojinha em que
começou sua aventura, sua busca de um “lugar ao sol”. No entanto,
não será exagero ou pretensão afirmar o quanto o espírito da época
impregnava seu DNA, com ímpeto para rupturas, inovações e novas
visões que marcaram os anos 1970. [...]. Ao longo do tempo, nossos
produtos, inspirados em fórmulas e embalagens inovadores, têm
disseminado princípios e valores que estimulam reflexões, desde seu
processo de desenvolvimento até chegar à intimidade do amplo
público, formando a imagem de uma marca solidária, responsável
social e ambientalmente. Foi desta forma que pudemos contribuir
para a emergência de novos comportamentos para um mundo
sustentável (NATURA COSMÉTICOS, 2015d, p. 13).
Nesta citação, podemos observar um claro posicionamento da Natura em prol
das mudanças nos modos de pensar e de agir emergentes nos anos 1970 – sobretudo,
as preocupações com as questões ambientais –; passando a desenvolver e a adotar,
gradativamente, medidas “sustentáveis” empresariais. Tais ações foram alinhando-se
aos pensamentos de um determinado tipo de consumidores, os socioambientalmente
“corretos”, e, simultaneamente, foram ensinando outros tipos de consumidores a
agirem de maneira mais sustentável. Dando continuidade à nossa análise, proponho
que discutamos o resultado final das peças publicitárias produzidas durante este vídeo
para compôr a campanha publicitária “Somos Produto da Natureza”: você é rio (Fig. 3)
e você é mata (Fig. 4).
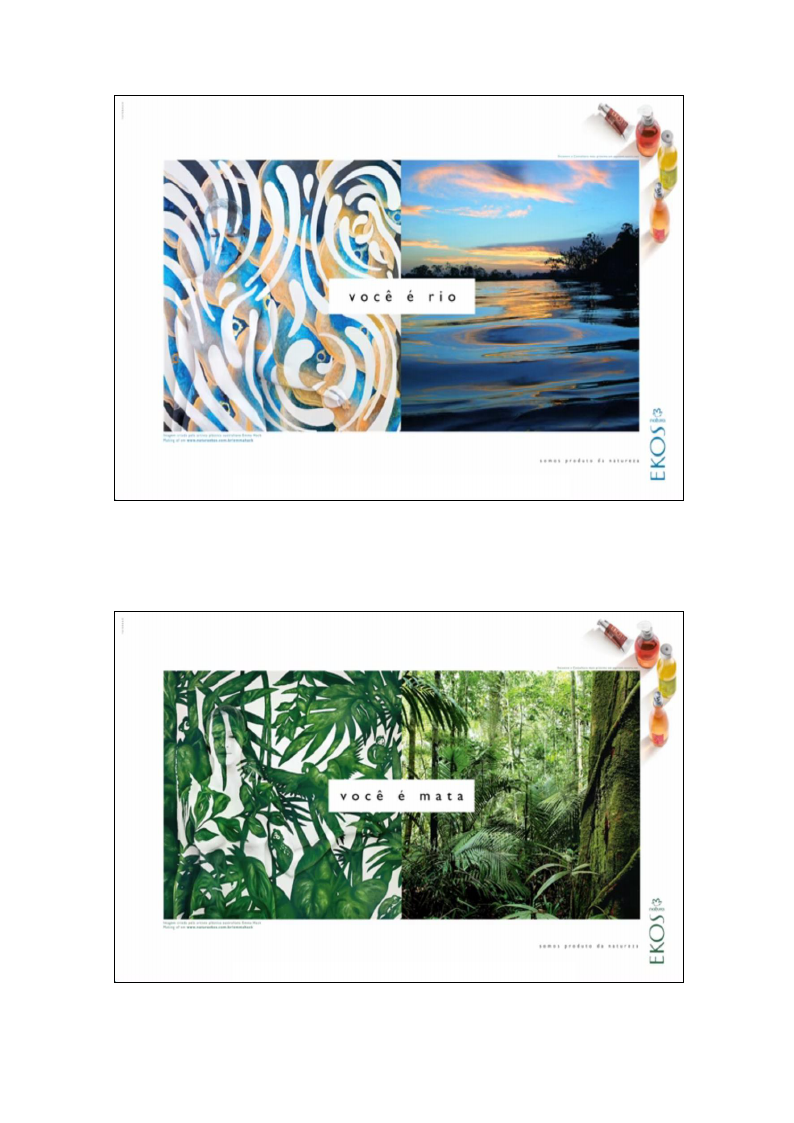
159
Figura 3 - Peça “você é rio” apresentada no vídeo “Making Of-Natura Ekos & Emma Hack”
Fonte: Sítio YouTube (2015)
Figura 4 - Peça “você é mata” apresentada no vídeo “Making Of-Natura Ekos & Emma Hack”
Fonte: Sítio YouTube (2015)

160
A partir destas peças publicitárias, resultados finais da obra de Emma Hack no
vídeo da Natura Ekos, sugiro que pensemos acerca das artes/técnicas da fotografia e
da pintura aqui apresentadas. Entendo que tanto a fotografia quanto a pintura são
manifestações artísticas, elaboradas por meio de técnicas específicas e que ambas
constrõem os sujeitos e os objetos que retratam, a partir do olhar de seu(s) autor(es).
Sendo assim, penso que cada artista vê as coisas de determinado modo e produz as
suas próprias realidades; não existindo, portanto, um único ponto de vista sobre os
acontecimentos, os atores e os lugares pintados e/ou fotografados. No entanto, para
Flores (2011), a fotografia identifica-se com o mecânico e com o documental,
enquanto que a pintura corresponde ao humano e ao expressivo. Podemos verificar
que o anúncio analisado apoia-se neste sentido de leitura das imagens. Vemos a arte
de Hack em peças impressas, divididas ao meio – de um lado as pinturas na tela e no
corpo feminino, e de outro, a fotografia do ambiente “real”: a Floresta Amazônica e o
Rio Amazonas –, trazendo a ideia da pintura como arte e da fotografia como um
retrato da realidade como ela é. Além disso, o trabalho de Hack é registrado por uma
câmera filmadora, oferecendo mais um elemento para discutirmos. Considero que a
filmagem do trabalho da artista consiste em uma tentativa de dar movimento e som às
peças publicitárias finais (planas e impressas em papel). Assim, penso que, neste vídeo,
articulam-se diferentes tecnologias com a finalidade de configurar e veicular uma
determinada “natureza”.
Nesta direção, entendo que o vídeo analisado utiliza-se de imagens criadas da
“natureza”, imagens que não são a “natureza” em si, mas sim noções de “natureza”
que Ekos pretende veicular (a Floresta Amazônica e o Rio Amazonas); visto que a
própria “natureza” é uma invenção social, histórica e cultural e, portanto, não pode ser
representada tal como ela é. Assim, considero que a pintura plana, a pintura corporal,
a fotografia e a filmagem (cada qual com suas características artísticas, técnicas e
estéticas) – interpelam os consumidores de diferentes modos, oferecendo
experiências e aprendizados sensoriais: visão, audição, movimentos sobre a
“natureza”.
Rocha; Castro (2009), ao pensarem acerca da estetização do cotidiano e do
imperativo da visibilidade circulantes na ordem do dia, estabelecem associações entre
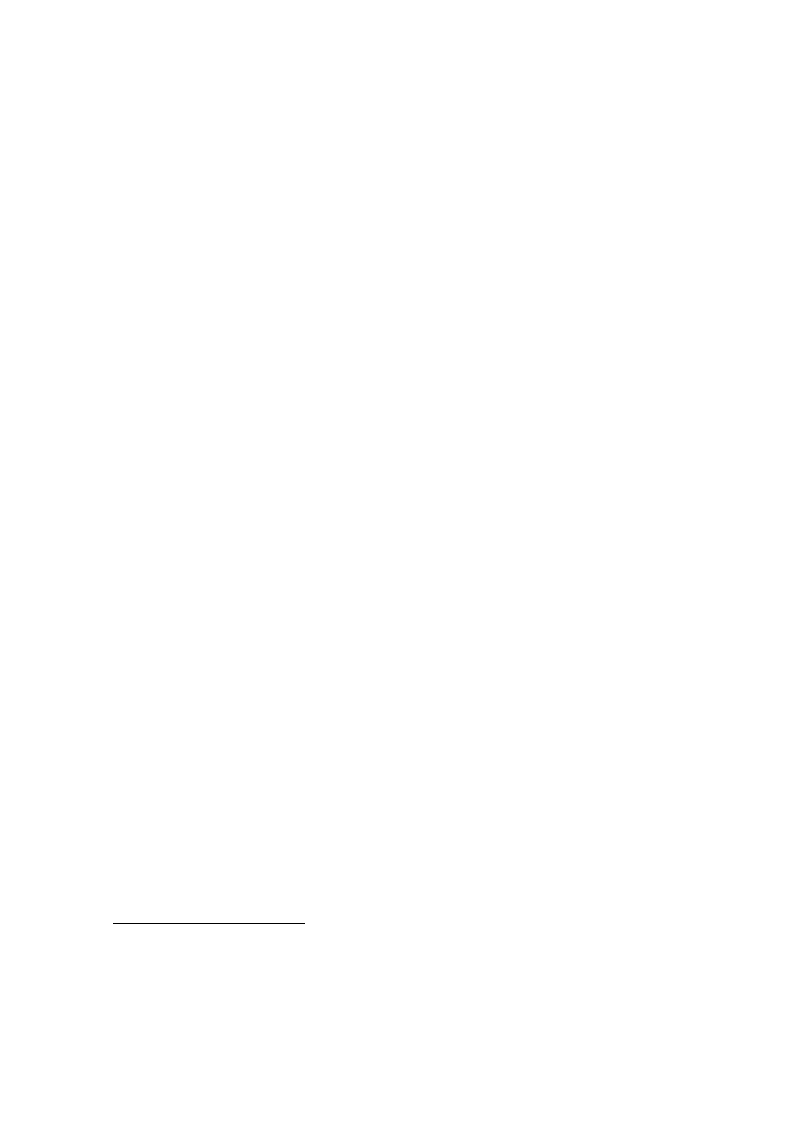
161
a cultura do espetáculo60 e a educação dos nossos sentidos. Para as autoras,
transformamos tudo e todos em imagens visíveis e tecnologicamente mediadas,
contribuindo para que percamos a aferição das imagens por meio dos nossos sentidos.
Rocha e Castro indicam que a percepção que temos sobre o mundo e sobre nós foi
sendo radicalmente transformada,
[...] em grande medida pela multiplicação e pela centralidade que
vêm sendo assumida por nossas “máquinas de visão”, das tevês às
telas dos celulares e players portáteis, dos aparelhos médicos de
diagnóstico visual às câmeras digitais, do circuito interno aos satélites
voltados à captura imagética (ROCHA; CASTRO, 2009, pp. 52-53).
Neste sentido, indivíduos, acontecimentos e paisagens estão sendo
transformados e capturados pelas fotografias, pelos vídeos, pelos infográficos, etc.,
espalhando-se rapidamente pelo mundo, ultrapassando as fronteiras geográficas,
movimentando-se velozmente e propagando-se incessantemente. Hoje, os fatos
ganham legitimidade e existência social ao serem transformados em imagens com
materialidade e externalidade visual. Para as autoras, não é por acaso que
desenvolvemos relações afetivas com os nossos aparelhos de enunciação imagética e
sonora (ROCHA; CASTRO, 2009):
[...] alguns preferem cumprimentar suas tevês, outros escolhem se
emocionar com imagens capturadas por câmeras digitais, outros
ainda não dispensam nos tocadores portáteis a trilha sonora
individual que permeia diferentes momentos do dia-a-dia. [...] cria-se
uma relação de dependência com as máquinas, das quais se
necessitaria tanto para olhar aquilo que nos é externo quanto para o
nosso próprio interior61 (ROCHA; CASTRO, 2009, pp. 55-56).
Darsie; Zago (2014) pensam sobre a educação dos nossos sentidos. As peças
publicitárias articulam imagens e textos de maneira poderosa, uma estratégia que tem
como centro articulador o corpo que está sendo exibido. Assim, ao analisarem as
mudanças culturais ocorridas no Ocidente em relação ao fumo de cigarros e ao garoto
propaganda da marca Marlboro, os autores indicam que os corpos dos homens que
apareciam nas propagandas eram densos, fortes e viris – virilidade esta sugerida pelas
posições em que os corpos eram fotografados (homens montando, domando,
60 Para entender o sentido em que o termo espetáculo está sendo empregado nesta Dissertação, leia o
próximo tópico deste Capítulo.
61 Ao encontro destas considerações, Susin; Santos (2014, p. 10) afirmam que hoje, “mudaram as noções
de espaço, de tempo, de realidade, de modos de viver, de entender o presente e o futuro, de entender
e de intervir no corpo”.

162
conduzindo cavalos, carregando um cigarro aceso entre os lábios e, literalmente,
tendo as rédeas em suas mãos). Os textos das imagens evocavam o sabor do cigarro,
mas, também, o sabor do homem de Marlboro: um sabor de cigarro que permanecia
em sua boca e que, em última análise, é o próprio sabor daquela masculinidade
representada nos anúncios.
Nesta perspectiva, podemos inferir que a mensagem do anúncio analisado seja:
Natura Ekos é a (re)conexão entre o homem e a “natureza” – vendendo a ideia de que
seus produtos são “naturais” e “sustentáveis” e de que adquirir os mesmos é (re)ligar-
se à sua “natureza”, à sua “essência” (você é rio; você é mata; Somos Produto da
Natureza). Neste sentido, o vídeo lança mão de estratégias publicitárias dinâmicas
(sons, imagens, enunciados, discursos, movimentos) para construir aquilo que quer
mostrar para o espectador: a indissociável relação entre o homem e a “natureza”.
Além disso, o anúncio apresenta uma artista para criar, pintar, fotografar e filmar a
“verdade científica” que a Natura vende: a “natureza” imbricada com o humano.
Assim, Ekos ensina os sujeitos consumidores que é a conexão entre o homem e a
“natureza”, constituindo a ideia de que adquirir os seus produtos é (re)ligar-se à sua
“natureza”, à sua “essência”. Neste sentido, Natura Ekos (re)conecta o homem (seus
consumidores) à “natureza” (seus produtos), comercializando uma imagem “verde”,
que articula diferentes noções e interesses sobre a “natureza”.

163
9.3 A Ciência como Instância Legitimadora da “Natureza”62
Figura 5 - Sequência de cenas selecionadas do vídeo “Conheça a Nova Linha Natura Ekos Corpo”
Fonte: Sítio YouTube (2015)
Em um primeiro momento, ouvimos uma música ritmada por tambores e
vemos a imagem de uma mesa de madeira com vários produtos da nova linha de
Natura Ekos para o corpo, em meio a frutos (maracujá, buriti, cacau e andiroba) e
outros materiais “naturais” (folhas, palhas e cestos de madeira), em uma vegetação
como plano de fundo. Surge, ao centro, o logotipo “Natura Ekos” em branco e,
posteriormente, o enunciado “Apresenta sua nova linha para o corpo”. Após, é feito
um movimento de “virar de página”, semelhante ao proposto pela revista digital da
Natura. Ao som de uma música ambiente relaxante, o locutor diz: Cada vez mais a pele
precisa de cuidados específicos..., enquanto é mostrada uma mulher branca de meia-
idade passando o hidratande Natura Ekos em seu ombro. O homem continua: ...por
isso, Natura Ekos traz a nova linha de hidratantes corporais... Enquanto isso, a câmera
desliza pela mesa do início, apresentando a nova linha de produtos. ...já que hidratar
62 Descrição, análise e discussão do vídeo “Conheça a Nova Linha Natura Ekos Corpo”, exposta, aqui, em
uma versão aprofundada. Publicada, previamente, em um artigo científico que consta nos Anais do X
Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), ABRAPEC, 2015 (MARTINS; SOUZA,
2015d).

164
apenas não é o suficiente. O zoom é deslocado para as mãos da mulher, que passa o
creme. Ao mesmo tempo, vemos as palavras “mais do que cuidados básicos”, na cor
branca, em posição vertical, à esquerda, desaparecendo lentamente até surgir a
próxima imagem: mais um passeio pelos produtos da mesa.
O narrador pronuncia um novo enunciado: Os novos produtos refletem o uso
tradicional de cada ingrediente em texturas únicas... Neste momento, somos
transportados para um laboratório de pesquisas, onde vemos um copo de Becker
contendo um líquido esbranquiçado. Esse é misturado por um equipamento
sofisticado e, também, por uma cientista mulher, que utiliza óculos de proteção, luvas,
touca, máscara e jaleco, manuseando a substância com cuidado e atenção. Agora,
vemos o laboratório em evidência, revelando bancadas, microscópios, copos, tubos e
outro/a cientista trabalhando ao fundo. Simultaneamente, o locutor instrui-nos: ...com
entregas de resultados (é revelado o seguinte enunciado à esquerda da tela: “ciência
comprova a tradição”) comprovadas através da ciência (aqui, o zoom desliza de um
microscópio óptico para a mulher cientista que o manuseia com seriedade) e da
tecnologia verde (concomitantemente, somos dirigidos à uma plantação de cacau,
onde ocorre a colheita dos frutos). O homem conclui a afirmação: ...de cada um dos
ativos da biodiversidade brasileira, ao passo em que somos apresentados a um
trabalhador local, que colhe maracujás.
Novamente, observamos a mesa do início, onde folhas de maracujá emolduram
a cena, revelando um fruto aberto e os produtos Ekos maracujá sobre uma cesta de
madeira, com o plano de fundo de uma vegetação. O narrador caracteriza a imagem:
Da refrescância do fruto, foram desenvolvidos os produtos de maracujá... Neste
instante, vemos as mãos de uma mulher passando o hidratante maracujá (com
destaque para a embalagem do produto) com as pontas dos dedos, mostrando a
leveza do creme. O locutor continua: ...com textura leve e refrescante, proporcionam
uma hidratação imediata, de rápida absorção, ideal para as épocas de calor, enquanto
observamos o enunciado: “hidratação de rápida absorção por até 30 horas”. Somos
direcionados à imagem de árvores e, em seguida, à mesa inicial, onde buritis aparecem
em um pequeno cesto de madeira e outros ficam ao lado da embalagem Ekos buriti. O
homem orienta-nos sobre o fruto: O buriti, produto do cerrado, tem propriedades
antioxidantes..., enquanto uma mulher passa o creme de buriti em seu ombro,

165
evidenciando a cremosidade do produto. Depois, a câmera desliza sobre a embalagem
do produto, revelando as palavras “hidratação e proteção por até 30 horas” e,
simultaneamente, aprendemos com o narrador: ...com uma textura leve, os produtos
desta linha formam um filme protetor natural para o corpo todo. A câmera desliza e
foca nos produtos Ekos cacau, rodeados por cacaus abertos e uma caixa de madeira
com cacaus fechados e palhas. Ao lado direito, vemos folhas de uma planta e, ao
fundo, um quadro-negro, onde está escrita a palavra “EKOS”. Posteriormente, uma
mulher pega a manteiga de cacau com as pontas dos dedos, mostrando a hidratação
do produto. Enquanto isso, escutamos: Poderoso hidratante natural, o cacau tem uma
manteiga densa e envolvente. O enquadramento dirige-se aos produtos Ekos cacau e
ao quadro-negro com o termo “EKOS”, onde surge: “hidratação prolongada por até 36
horas”. O locutor procede: a linha Ekos de cacau, prolonga a hidratação da pele por
até 36 horas. Ao som de uma música ambiente mais agitada e da descrição do
narrador: Tradicionalmente conhecida como o remédio da floresta, a andiroba possui
um rico óleo, que nos produtos da linha tem o poder de restaurar e proteger a pele,
somos conduzidos até andirobas dentro de um cesto de palha. Frutos espalhados pela
mesa rodeiam a embalagem do hidratante Ekos andiroba. A mulher, então, passa o
creme andiroba em suas mãos e ombros, mostrando a suavidade do produto,
enquanto vemos o enunciado: “hidratação restauradora por até 30 horas”. O narrador
procede: com uma textura envolvente, revigora naturalmente, devolvendo a
elasticidade e a firmeza da pele. A câmera reconduz-nos à mesa do início, em direção
oposta, revisitando toda a nova linha Ekos corpo. Aqui, o homem ensina a mensagem
principal do vídeo: Natura Ekos é a ciência comprovando a tradição (surge o logotipo
Natura Ekos, em branco, destacado ao centro da imagem) dos ativos. Ao final, vemos
apenas um fundo preto e o logotipo Natura Ekos em branco.
A partir do meu olhar sobre o vídeo “Conheça a Nova Linha Natura Ekos
Corpo”, considero que o anúncio produz, através de elementos discursivos e não-
discursivos, determinados modos pelos quais devemos ser, estar, sentir, pensar, agir e
posicionarmo-nos em relação à “natureza”. Essa nos é apresentada por meio da
“biodiversidade” brasileira da Floresta Amazônica e do seu valor; dos cuidados que
devemos ter com o nosso corpo e com a nossa “natureza”; das “verdades” científicas e
dos saberes tradicionais dos povos locais da Floresta Amazônica sobre a “natureza”, e

166
das estratégias políticas, econômicas, ambientalistas e midiáticas nas quais a
“natureza” é produzida e comercializada.
No início do vídeo, podemos perceber que a Natura Cosméticos vale-se,
implicitamente, de sua noção empresarial de bem-estar/estar bem (como discutido
anteriormente, no tópico “Somos Produto da Natureza?” desta Dissertação) –
veiculando os cuidados que devemos ter conosco, com o nosso corpo e com os demais
seres vivos do planeta, a fim de sentirmo-nos bem, em (re)conexão com a “natureza”.
Assim, Ekos divulga uma noção de corpo que deve ser submetido a constantes
intervenções de saúde, higiene e cosmética – como podemos notar no discurso
proferido pelo narrador: Cada vez mais a pele precisa de cuidados específicos, por isso,
Natura Ekos traz a nova linha de hidratantes corporais, já que hidratar apenas não é o
suficiente; e no enunciado projetado na tela: “mais do que cuidados básicos”. Neste
sentido, para Ekos, devemos buscar, constantemente, melhoriais para aperfeiçoar a
aparência do nosso corpo (aqui, especificamente, o da mulher), à disposição de
algumas manipulações, tais como: cuidados para manter a pele jovem, firme, lisa,
macia, nutrida, hidratada e revigorada através, no caso desta campanha, do uso de
cremes e de manteigas corporais. Nesta direção, podemos pensar que, hoje, conforme
Souza (2001), o corpo está implicado em uma economia política de estratégias
tecnocientíficas que o constituem e o regulam de diversos modos, conforme normas
de beleza, saúde, lazer, prazer, felicidade, consumo, dentre outras; e que algumas
consequências destas estratégias surgem nas escolhas dos produtos que ingerimos e
utilizamos, os quais passam a integrar a nossa constituição orgânica e os nossos
hábitos. Para Louro (1999):
Os corpos são, afinal, significados pela cultura e são, continuamente,
por ela alterados. [...] Eles são históricos e inconstantes, suas
necessidades e desejos mudam. Eles se alteram com a passagem do
tempo, com a doença, com mudanças nos hábitos alimentares e de
vida, com possibilidades distintas de prazer ou com novas formas de
intervenção médica e tecnológica [...], com novos rituais, códigos,
linguagens (LOURO, 1999, p. 14).
Seguindo esta linha de raciocínio, Santos (1999) concebe o corpo como uma
fronteira a ser desbravada, enquanto superfície externa de inscrições (marcas e
adereços que o enfeitam, reinventam e (re)significam), e superfície interna de
decodificações (sangue (sistema ABO); doenças que vêm de fora e doenças que estão

167
dentro; técnicas e aparelhos de observação e de leitura; mapeamento genético);
tratamentos médicos; remédios (drogas); cirurgias; pesquisas científicas; ficção
científica/“realidade”. Muitas são as formas de ver e de constituir o corpo e, cada vez
mais, de comprá-lo. O corpo passa de dado pela “natureza” para uma “massa
moldável”, aos mais distintos projetos de constituição e de intervenção “vendidos”
pelas representações corporais que circulam nos mais diversos discursos apresentados
para a constituição de nossas identidades. Em síntese, “o corpo está sempre e
diretamente imerso num campo político, de tal modo que as relações de poder se
dirigem prioritariamente a ele, marcando-o das mais diferentes formas” (FISCHER,
1996, p. 100). Nesta perspectiva, entendo que, no vídeo da Natura, as associações
entre as características “naturais” dos “ativos” ou das “essências” dos frutos
amazônicos e os produtos Ekos têm a finalidade de convencer os consumidores acerca
da eficácia (cosmética e medicamentosa) que estas intervenções (o uso dos cremes e
das manteigas) terão em seus corpos. Assim, a combinação de slogans, áudios,
imagens e movimentos reforça o ensinamento de que os ativos dos produtos Ekos
cacau, andiroba, maracujá e buriti têm a “natureza” em suas propriedades, e mais: são
“naturais”; comprovando suas funcionalidades e seus efeitos no corpo de uma bela
mulher – maracujá-refrescante; buriti-antioxidante; cacau-hidratante; andiroba-
restauradora, protetora, revigorante (o remédio da floresta).
Podemos pensar, ainda, sobre o discurso medicalizante vigente hoje, do qual a
Natura parece utilizar-se, na medida em que enfatiza as “verdades” científicas como
comprovações incontestáveis da eficiência dos ativos da biodiversidade amazônica
presentes em seus produtos “naturais” – Os novos produtos refletem o uso tradicional
de cada ingrediente em texturas únicas com entregas de resultados comprovadas
através da ciência e da tecnologia verde de cada um dos ativos da biodiversidade
brasileira. Segundo Susin; Santos (2014), a cultura somática63 ganhou centralidade e a
individualidade emergiu em um mundo carente do social, no qual processos de
molecularização produzidos pela expansão do conhecimento biológico,
63 Segundo Costa (2004), a cultura do corpo ou cultura somática “chama a atenção para o fato de o
corpo ter-se tornado um referente privilegiado para a construção de identidades pessoais. Referir o
sentimento de identidade ao corpo significa definir o que somos e devemos ser a partir de nossos
atributos físicos” (idem, p. 202, grifos do autor). Para o autor, hoje, a cultura somática não se caracteriza
por mais tempo dispendido ao corpo, mas sim pela “particularidade da relação entre a vida psicológico-
moral e a vida física” (idem, p. 204).

168
principalmente, genético, ganharam espaço. Os autores enfatizam que estamos
vivenciando a passagem de um corpo molar para um molecular, na qual não foi o
corpo físico que sofreu mudanças, mas o nível em que passamos a vê-lo e a entendê-
lo. Para Rose (2007), hoje, estamos deixando o modelo corporal que foi o foco da
medicina clínica a partir do século XIX em diante, o molar – com massa e dimensões
detectáveis pelos olhos humanos: órgãos; fluxo sanguíneo; hormônios, etc. – sobre o
qual atuamos e investimos, procurando aperfeiçoá-lo por meio de dietas, exercícios
físicos, tatuagens e cirurgias estéticas. Ao passo em que estamos adotando o modelo
corporal molecular – com propriedades funcionais das proteínas; topografias
moleculares, e formação de elementos intracelulares particulares (canais iônicos,
atividades enzimáticas, genes, potenciais de membrana); dimensões indetectáveis
pelos olhos humanos, que requerem um outro nível de vizualização da medicina: o
molecular. Neste sentido, considero que a Natura Ekos lança mão de uma construção
discursiva científica, pautada pela noção de corpo molecular, para poder ressaltar e
vender as propriedades “naturais” dos ativos da biodiversidade brasileira como algo
tão “essencial”, que só pode ser “visto” pelos olhos de cientistas devidamente
treinados para tanto.
Em seguida, o anúncio publicitário utiliza-se de artefatos culturais materiais e
simbólicos: o laboratório de pesquisa; os equipamentos de proteção individual (EPIs);
os instrumentos de “precisão”; as práticas e as “verdades” científicas – com o intuito
de atribuir veracidade ao discurso que está sendo vendido: Os novos produtos refletem
o uso tradicional de cada ingrediente em texturas únicas com entregas de resultados
comprovadas através da ciência e da tecnologia verde de cada um dos ativos da
biodiversidade brasileira. Assim, o laboratório representado pelo vídeo é o lugar
propício para a produção dos “fatos científicos”, bem como para a criação e a
instituição dos discursos científicos sobre estes fatos. O laboratório, os equipamentos
e a cientista são mostrados como entidades saneadas, purificadas, disciplinadas,
controladas, livres de interferências da “natureza”. Nesta direção, de acordo com
Lewontin (2002) e Souza (2001), no laboratório, as vidas vegetais extraídas da
“natureza” são reduzidas a formas fragmentadas de pensamento, em relação às suas
constituições, aos seus funcionamentos e aos processos que nelas ocorrem,
desvinculadas, também, de suas inter-relações entre genes, ambiente, espécies iguais

169
e diferentes e, ainda, dos processos aleatórios com os quais se relacionam; tornando-
se, então, objetos de produção de saberes, de procedimentos científicos e de
consumo, configuradas em um lugar des-contextualizado, a-temporal e universal, sem
relação com os acontecimentos que as configuram e posicionam no mundo. Ao
encontro disto, Barreto Filho (1997, p. 10) menciona que é “como se a natureza fosse
a-humana, in-humana e extra-humana; como se o ‘nosso’ conhecimento científico da
natureza permanecesse objetivo, exterior e repousasse totalmente fora das redes,
malhas e nós sócio-culturais; como se ‘nós’ mobilizássemos a natureza tal como ela é”.
Pensando sobre esta relatividade e parcialidade da ciência, a partir de Latour; Woolgar
(1997) e Latour (2001a; 2004), entendo que a mesma funciona por meio de uma rede,
tecida em meio a: discursos e enunciados; significados e sentidos; “verdades” e
“fatos”; espaços e tempos; interesses sociais, econômicos, políticos, científicos,
midiáticos, e, ainda, outras redes imbricadas. A ciência – seus cientistas, suas práticas,
seus instrumentos, seus interesses, seus recursos e suas regras – constrõe uma
determinada “realidade”, aceita por esta rede para que ocorra o processo de produção
das “verdades” e dos “enunciados” científicos. Além disso, compreendo que a ciência
coloca-se em um lugar afastado da “natureza”, a fim de poder conhecê-la, dominá-la e
explorá-la; constituindo os seus “fatos científicos”, que a representarão como ela é, ou
seja, que “descobrirão” e “revelarão” o que é a “natureza”, o que está nela e como
poderemos utilizar a mesma em nosso próprio benefício. Neste sentido, Souza (2001)
considera o conhecimento científico uma prática cultural que (re)significa o “real”,
sendo um produtor de “verdades” histórica e socialmente contingentes. A ciência
legitima as suas ações e o seu discurso científico por meio de um regime de
normalizações, no qual relações de poder e saber presentes constituem quais saberes
serão válidos ou “verdadeiros” – seus “regimes de verdade”.
Outras compreensões de “natureza” em que Natura Ekos parece apoiar-se
neste vídeo aludem à Idade Moderna, quando o homem (à imagem e semelhança de
Deus) elevou-se como o dono da “natureza”, manipulando-a conforme a sua razão e a
sua ciência. A “natureza”, então, foi vista e entendida como um objeto do homem, que
pensou que não poderia fazer parte da “natureza” para poder conhecê-la e dominá-la
(KESSELRING, 2000; GRÜN, 2006; JUNQUEIRA; KINDEL, 2009). Para Grün (2011), o
processo civilizatório vigente durante este período caracterizou-se como um

170
permanente distanciamento e esquecimento da “natureza”, pois os seres humanos
tinham e têm receio de voltar à sua “condição original”: a barbárie, sinônimo de uma
“natureza” que representa o primitivo e o horror. Braun (1999) retrata esta noção de
“natureza” em uma região do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, com grande número
de descendentes de alemães – ao valorizarem os jardins e os cultivos semelhantes aos
presentes na “bela e organizada Europa”, inclusive, introduzindo espécies exóticas às
paisagens nativas; em detrimento da desordem da vegetação “natural”. Nesta direção,
podemos imaginar que Ekos apresenta um homem distante da “natureza” que, por um
lado, investiga-a para poder conhecê-la, dominá-la e apropriar-se da mesma e de seus
ativos “naturais”; e por outro, adquire e consome os seus produtos “naturais” para
poder aproximar-se desta (sua) “natureza” e (re)conectar-se com a mesma...
As compreensões que apresentamos sobre a “natureza”, ora antropocêntrico-
utilitaristas ora biocêntrico-românticas, requerem que pensemos sobre o modelo
econômico vigente que permite esta coexistência de modo relativamente harmônico:
o sistema capitalista “sustentável”. Conforme Guerra et al. (2007), a “sustentabilidade”
e o “desenvolvimento sustentável” permitiram ao capitalismo atualizar-se e fortalecer-
se, “aliando” a conservação ambiental ao crescimento econômico; vindo a conciliar
(até certo ponto) os interesses de economistas, empresários, ecologistas,
ambientalistas, ONGs, políticos, cientistas, dentre outros agentes sociais. Cabe aqui um
questionamento: com que interesse este sistema econômico foi sendo constituído e
para o benefício de quem? Não pretendo responder ao mesmo, mas sim pensar sobre
a questão. De acordo com Sampaio (2012), o que denomina como “dispositivo da
sustentabilidade” atua na constituição dos sujeitos “esverdeando-os”, pois “demanda
a produção de um tipo de sujeito afinado com as discursividades ambientalistas, bem
como disposto a mudar seus hábitos de vida, além de ser sensível aos apelos ligados à
promoção da sustentabilidade” (idem, p. 101). Entendo que a Natura Ekos atue com
este propósito “sustentável” não só nos vídeos publicitários, mas nas revistas digital e
impressa; nas peças publicitárias em revistas, jornais, outdoors e busdoors; nas
escolhas dos nomes dos produtos, das campanhas, dos materiais, das embalagens e
dos rótulos, e em todo layout e conteúdo da sua página na Internet. Assim, torna-se
bastante oportuno discutirmos o que é um sujeito “sustentável” ou, dito de outro
modo, “verde”. Para a autora, este indivíduo “é acessado por uma profusão de

171
imagens que conformam a necessidade de um mundo mais ‘verde’, mais sustentável –
tanto aquelas imagens mais catastróficas [...], quanto as imagens mais “positivas”, das
experiências sustentáveis bem-sucedidas” (idem, p. 102). Este sujeito é, também,
interpelado pelos mais diversos discursos “sustentáveis”: legal, institucional,
governamental, escolar e midiático. Esse, particularmente interessante para o nosso
debate sobre a Natura Ekos. Guido (2005) analisa o programa televisivo sobre
questões ambientais “Repórter Eco”, produzido e veiculado pelo canal aberto TV
Cultura. A autora observa que nas reportagens sobre sustentabilidade há uma
tendência a abordar o tema como forma de valorizar o mercado de produtos e de
serviços sustentáveis, buscando ensinar os consumidores a optarem por este tipo de
mercadorias e, assim, a constituírem-se como sujeitos consumidores conscientes64.
Nesta direção, Guimarães (s/d) atenta que sermos “verdes” é sinônimo de estarmos
“ligados” ao nosso tempo,
[...] Entretanto, mais do que a produção de uma subjetividade
“verde” dotada de valores amigáveis com relação ao planeta, o que
também está em jogo é a conexão indelével, arrebatadora, desse
humano às prerrogativas de um mercado que está se revitalizando,
se renovando, se expandindo, lucrativamente, como “verde”
(GUIMARÃES, s/d, p. 9).
Penso que Ekos execute uma pedagogia bastante semelhante ao programa
“Repórter Eco”, ao veicular vídeos publicitários que nos ensinam o que é
sustentabilidade (e como este nicho de mercado é melhor do que outros); como
podemos pensar de maneira sustentável e, ainda, como tornarmo-nos consumidores
“sustentáveis”. Segundo o documento “Visão de Sustentabilidade 2050” da empresa
Natura Cosméticos, dentre as prioridades para o ano de 2020 da mesma está “tornar
os produtos da marca Natura veículos de comunicação, educação e engajamento por
meio da transparência no fornecimento de informações, que auxiliem o consumidor
em sua escolha consciente e sustentável” (NATURA COSMÉTICOS, 2015d, p. 27). Ainda
de acordo com o relatório, a Natura afirma que a linha SOU preza pelo consumo
consciente, enquanto que a Ekos enfatiza a valorização do que a empresa denomina
64 Guido (2005) utiliza-se do termo consumidores conscientes; no entanto, eu, particularmente, prefiro a
expressão consumidores socioambientalmente “corretos”, pois entendo que esta expressão apresenta
significados mais alinhados com as questões aqui discutidas.

172
como “sociobiodiversidade”. Esse termo é empregado pela Natura Cosméticos desde
2011, designando:
[...] uma evolução no conceito da biodiversidade que melhor traduz a
nossa atuação com as comunidades fornecedoras (extrativistas ou
pequenos produtores rurais familiares de quem adquirimos os ativos
naturais da biodiversidade brasileira utilizados em nossos produtos).
A expressão envolve não apenas a relação entre bens e serviços
criados a partir de recursos naturais, como também o valor do
conhecimento das populações tradicionais e do desenvolvimento
local das cadeias produtivas estruturadas a partir do uso do
patrimônio genético (NATURA COSMÉTICOS, 2015d, p. 83).
Neste sentido, a “sociobiodiversidade” é estabelecida como o principal
diferencial da linha Ekos: “promoveremos o desenvolvimento e a gestão das cadeias da
sociobiodiversidade, fomentando as boas práticas socioambientais em toda a nossa
cadeia produtiva. Nossa aspiração é auxiliar na conservação e na regeneração da
biodiversidade [...]” (NATURA COSMÉTICOS, 2015d, p. 40). Assim, a Natura veicula um
discurso “inovador”, “tecnológico” e “sustentável” sobre a concepção da linha (ou
submarca) Natura Ekos:
Em 2000, lançamos Ekos, uma linha pioneira na implementação de
um modelo de negócio que inclui comunidades agroextrativistas e
reparte benefícios por acesso ao patrimômio genético e
conhecimento tradicional associado. Desta forma, a submarca
[Natura Ekos] busca fomentar uma nova economia baseada na
conservação da biodiversidade, a partir de seus produtos e serviços e
valorização das populações locais (NATURA COSMÉTICOS, 2015d, p.
27, grifos meus).
Nesta perspectiva, precisamos pensar sobre o “valor” da “biodiversidade” que
está sendo construído e ensinado pelo vídeo publicitário analisado. Entendo que a
biodiversidade brasileira da Floresta Amazônica é vista pela Natura como uma fonte de
bens e de recursos “naturais” a serem comercializados e consumidos; e,
simultaneamente, é retratada como uma reserva do bem, do belo, do puro, do íntegro
e do restaurador, um lugar estética, ecológica, ética e moralmente benéfico para nós e
para o planeta, que deve ser cuidado e preservado para as gerações futuras. Santos
(1994) menciona que com a finalidade de convencer sobre a importância da
biodiversidade, especialistas passaram a explicar que, além dos valores científicos,
estéticos e éticos da biodiversidade, sua perda influenciaria diretamente no bem-estar
material dos indivíduos. Estas explicações tinham a finalidade de destacar a
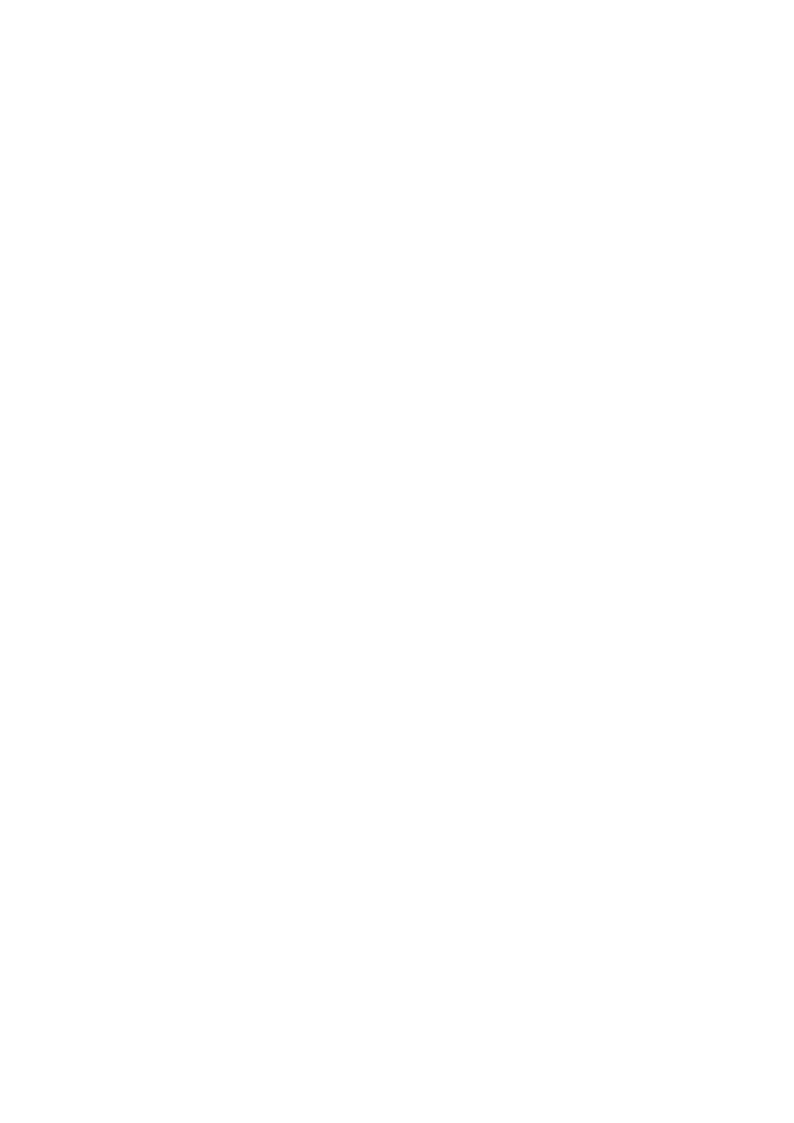
173
necessidade da economia de considerar o capital natural – uma ideia de difícil
apreensão para a lógica de mercado capitalista que, hoje, predomina na sociedade
ocidental. Neste sentido, para o autor, “falar em ‘capital natural’ pressupõe, portanto,
uma operação que converte algo que tem valor qualitativo – e como tal é único e
incomensurável – em algo cujo valor é quantitativo” (idem, p. 138). Considero esta
questão bastante complexa, pois, ao mesmo tempo em que compreendo que a
valoração/precificação da biodiversidade opera como uma estratégia de conservação
de algumas espécies (como no caso dos laudos técnicos de licenciamento ambiental,
segundo critérios previstos pela Lesgislação Ambiental Brasileira); entendo, também,
que este valor financeiro da biodiversidade funciona como uma forma de
“apropriação” e de “exploração” da “natureza”, que é extraída e utilizada pelo homem
para satisfazer os seus interesses e não os das inúmeras outras espécies de seres vivos
existentes... Sampaio (2012) menciona que a “descoberta” da biodiversidade constitui-
se como um importante marcador das invenções mais recentes sobre a Amazônia; e
aponta-nos para dois lados distintos da conservação da biodiversidade: um viés
ambientalista, que busca conservar as espécies; e outro, capitalista, que pretende
converter a “natureza” em uma reserva de valor financeiro. Para Leff (2013), inexiste
“um instrumento econômico, ecológico ou tecnológico capaz de calcular o ‘valor real’
da natureza na economia” (idem, p. 65). O autor considera que não há como traduzir
os custos de conservação e de restauração da “natureza”, bem como os seus
potenciais ecológicos em uma medida de valor econômico, coerente com os preços do
mercado. A valorização da “natureza” como recurso “natural” envolve temporalidades
ecológicas de regeneração e de produtividade que não são correspondentes aos ciclos
da economia; do mesmo modo, “os valores e interesses sociais que definem o
significado cultural, as formas de acesso e os ritmos de extração e transformação dos
recursos naturais constituem processos simbólicos e sociais de caráter
extraeconômico” (idem, p. 65); assim, não podendo ser traduzidos e reduzidos aos
preços de mercado. Então, cabe a nós pensarmos sobre os modos pelos quais a
“natureza” está sendo convertida em uma fonte de recursos e de bens “naturais” a
serem transformados em produtos, que serão precificados e vendidos, em
conformidade com a lógica de mercado capitalista “sustentável”...

174
Para levarmos esta discussão adiante, faz-se importante atentarmos para a
importância dos conhecimentos tradicionais dos povos da Floresta Amazônica para a
empresa e para o seu vídeo publicitário. Escobar (1999, pp. 88-89) enfatiza que “a
biologia moderna começa a se dar conta que os chamados ‘conhecimentos
tradicionais’ podem ser um complemento bem útil à conquista científica da
biodiversidade”. Eu complemento: parece que a economia também começa a dar-se
conta disto... Podemos notar que a mídia publicitária está atenta a possibilidade de
fazer menção aos conhecimentos e às populações tradicionais como mais uma
estratégia para a venda de sua imagem e de seus produtos “naturais” (no caso, os
frutos amazônicos). Nesta direção, penso que a linha de produtos Natura Ekos utiliza-
se de uma rede de fatores e de atores científicos como estratégia publicitária para
(com)provar a validade e a “verdade” dos saberes tradicionais das populações locais da
Amazônia e dos ativos ou das “essências” “naturais” dos recursos que originam os seus
produtos, conferindo, assim, credibilidade e legitimidade aos conhecimentos não-
científicos.
Hoje, há a tendência econômica de apostar na biotecnologia (ou na tecnologia
verde, como pronunciado no vídeo) como estratégia para a exploração da
biodiversidade. Segundo Santos (1994), a biotecnologia vem demonstrando-se uma
forma perversa e sofisticada de submissão da biodiversidade ao mercado. Para ele, “a
biotecnologia é o dispositivo através do qual a própria vida é extraída das diversas
formas de vida [...] e incorporada como matéria-prima num processo industrial que
está criando o mais promissor dos mercados: o biomercado” (idem, p. 140). Esse tipo
de estratégia mercantil atua pesquisando, identificando, classificando e apropriando-
se das mais diversas formas de vida – vírus, bactérias, algas, fungos, ervas, sementes,
frutos e animais... Nesta direção, Latour (2001b, p. 33) propõe que pensemos de outro
modo sobre as questões que nos cercam e com as quais estamos efetivamente
envolvidos: “Quem conta? Quem é importante? Como organizar estes seres? Como
atribuir a eles propriedades que permitam compreender quem é o mais importante
para poder organizá-los e saber qual deles deve ser considerado?”. Latour (2004)
convida-nos a discutir sobre a emergência da ecologia política – um campo privilegiado
ou um “novo” conhecimento que poderia romper, ou mesmo fundir, as duas câmaras
separadas: “natureza” e sociedade. Assim, ele sugere que deixemos para atrás as

175
noções de “sujeito” e de “objeto” e que passemos a considerar a existência de
“humanos” e de “não-humanos”. Compreendo que a proposta de Latour (2001a) para
pensarmos sobre os não-humanos em relação às políticas da “natureza” seja
fundamental, pois de que outro modo poderemos discutir o valor da “biodiversidade”?
A partir de onde, de que, de quem, e como concebemos as questões jurídicas sobre os
não-humanos? Até onde vão os limites éticos e morais sobre: os alimentos que
modificamos geneticamente; as patentes de organismos; a clonagem; a reprodução
humana em laboratório; os seres vivos que enjaulamos em zoológicos; os vegetais que
cultivamos com uso de agrotóxicos; os animais que confinamos e torturamos para o
nosso consumo; os animais silvestres que engaiolamos para divertir-nos; o cruzamento
e a venda de animais domésticos “de raça”? Nesta linha de raciocínio, entendo que a
Natura consista em uma empresa alinhada ao biomercado, na medida em que
apropria-se dos ativos da biodiversidade (os frutos maracujá, cacau, buriti e andiroba,
neste vídeo), visando a comercialização em âmbito nacional e internacional desta
“natureza”.
Nesta perspectiva, a campanha analisada vale-se de elementos discursivos e
não-discursivos sobre a biodiversidade como artifício para promover as suas vendas,
ensinando “verdades” acerca da “natureza” ao enfatizar e legitimar cientificamente o
“valor” da biodiversidade amazônica e de seus ativos ou de suas “essências”
“naturais”. Natura Ekos veicula significados que ensinam aos sujeitos que a linha tem
autoridade, é a ciência, (com)provando a validade e a “verdade” dos saberes
tradicionais dos povos locais da Floresta Amazônica e dos ativos “naturais” dos
recursos que originam os seus produtos, conferindo credibilidade e legitimidade aos
conhecimentos não-científicos – Natura Ekos é a ciência comprovando a tradição dos
ativos. Assim, adquirir os produtos de Natura Ekos é comprar a “natureza”
“autorizada” pelas relações de saber/poder e pelos regimes de verdade da ciência.
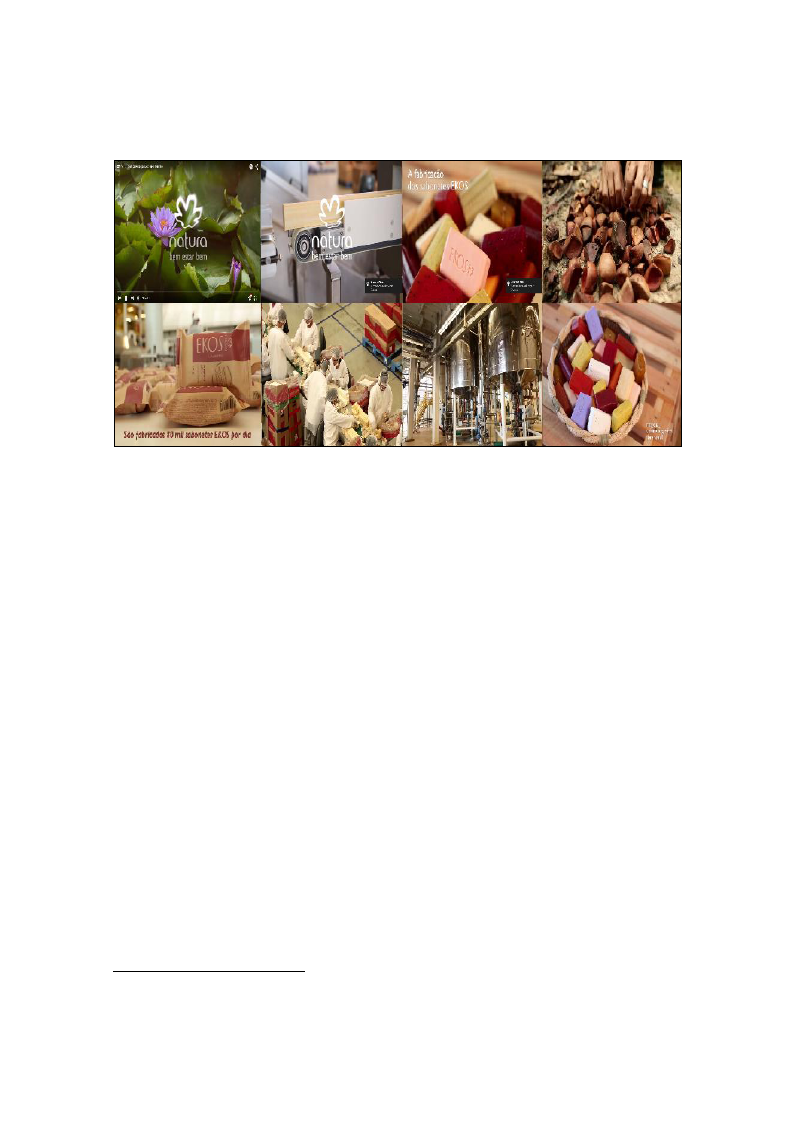
176
9.4 O Processo Produtivo de Construção da “Natureza”65
Figura 6 - Sequência de cenas selecionadas do vídeo “Da Floresta para o seu Banho”
Fonte: Sítio YouTube (2015)
Inicialmente, ouvimos uma música ritmada, enquanto vemos o logotipo da
Natura e o slogan bem estar bem em branco, sobre um fundo de vitórias-régias e,
depois, um lago onde elas estão. Rapidamente, somos direcionados à uma fábrica,
onde sabonetes em barra estão sendo produzidos. Observamos a fabricação dos
sabonetes, os trabalhadores envolvidos neste serviço e, em seguida, os sabonetes
prontos, devidamente embalados com o logotipo EKOS. A câmera desloca-se para fora
da fábrica. Enxergamos um extenso gramado, um jardim florido e a fábrica vista deste
pátio. Agora, há um zoom em uma cesta de palha com os sabonetes EKOS e o
surgimento do enunciado: “A fabricação dos sabonetes EKOS”. Aparece um fundo
preto e a música muda: escutamos um som suave; enquanto a filmadora passa,
novamente, pelo jardim de flores e pelo lado externo da fábrica.
Surge uma mulher jovem, com o enunciado: “Priscilla Higasi – Gerente de
Manufatura da Unidade Natura Ecoparque”. Ela explica: Nós estamos no ecoparque de
65 Descrição, análise e discussão do vídeo “Da Floresta para o Seu Banho”. Este estudo será adaptado ao
formato de um artigo científico e submetido à publicação em uma Revista da área de Educação durante
o ano de 2016, a fim de aumentar a divulgação científica desta pesquisa.

177
fabricação de sabonetes da Natura, que fica no Pará, na cidade de Benevides, há 30Km
mais ou menos de Belém. Novamente, a câmera passa pelo lado externo da fábrica.
Priscilla continua, sentada em um caixote feito de paletes de madeira: Aqui é fabricado
o sabonete EKOS [...]. Vemos a produção dos sabonetes na fábrica. Alguns dos artigos
utilizados na produção do sabonete EKOS são: castanha (fruto que vemos sendo
recolhido pelas mãos de um homem trabalhador), pitanga, andiroba, cupuaçú, buriti,
mate-verde, entre outros. Vemos os sabonetes EKOS sendo colocados manual e
cuidadosamente em suas respectivas caixas, a partir de uma esteira de produção, por
homens e mulheres que utilizam roupas brancas, toucas, luvas, óculos e máscaras de
proteção. Podemos ver, também, caixas de papelão maiores ao lado da esteira, que,
posteriormente, são fechadas, etiquetadas e envoltas por plásticos para serem
transportadas.
Ouvimos um homem falar: O grande diferencial nosso é que incorporamos óleos
da biodiversidade na formulação desse nosso sabonete. Observamos a imagem do
homem e o enunciado: “Fábio Braga – Coordenador da fábrica de Noodle da Unidade
Natura Ecoparque”. Ele continua: Ou seja, é um óleo proveniente de lá da comunidade
fornecedora (vemos a pequena e precária Cooperativa de Fruticultores de Abatetuba
(COFRUTA DO BRASIL)), que é trabalhado na comunidade (vemos a extração do óleo da
castanha), que é prensado, produzido lá, trazido para cá, pra nossa unidade e esse
material (vemos o óleo da castanha na fábrica, sendo manipulado com cuidado), esse
novo ativo, ele vai ser incorporado na nossa formulação. Eu consigo fabricar um
sabonete diferenciado, que contém esse óleo, um óleo amazônico, um óleo exótico.
Somos direcionados à Cooperativa COFRUTA DO BRASIL, onde escutamos outro
homem: Então, nós estamos aqui na COFRUTA, recebemos os ativos que são oriundos
das comunidades fornecedoras (vemos, novamente, a castanha sendo coletada), e,
aqui, nós processamos este produto e encaminhamos ele para a Natura (vemos as
castanhas colhidas em grandes sacos vermelhos dentro de um caminhão), e a partir do
que a Natura faz com esse produto nós achamos que um pedacinho da nossa história
tá indo junto com esse produto. Observamos o enunciado: “Raimundo Braga – Diretor
Financeiro da Cofruta Brasil”. Raimundo continua: Então, isso é muito legal para nós, é
muito gratificante para a Cooperativa. Vemos o óleo na fábrica novamente. Isso faz ter
uma riqueza tanto pro agricultor quanto pro planeta. O planeta tá precisando disso.

178
Enxergamos as castanhas mais uma vez. A partir do que a gente começa a trabalhar
com esses ativos, o pessoal para de cortar as árvores, eliminar elas, então, eles passam
a preservar. Vemos a imagem de árvores na floresta. Isso é muito interessante dentro
desse contexto social que nós vivemos hoje aqui. Principalmente, na Amazônia. A
música volta a ser ritmada e animada. Observamos a imagem das castanhas na
Floresta.
Somos reconduzidos à fabrica da Natura e ao processo industrial de produção
dos sabonetes. Ouvimos Priscilla Higasi novamente: Então, a partir do momento que
nós recebemos os óleos da biodiversidade, nós começamos a primeira etapa do
processo: a fabricação do ludo. Vemos a imagem desta substância, em um cesto de
palha, sendo misturada pelas mãos de uma mulher. O noodle é a base do sabonete.
Então, a gente utiliza: um blend de oleína, os óleos da biodiversidade, soda
(enxergamos enormes reservatórios metálicos sendo operados com inúmeros
equipamentos de proteção individual (EPIs)), e, aí, fazemos o processo de
saponificação e, depois, um processo de secagem, onde ele se transforma no noodle
(observamos a imagem correspondente à descrição de Priscilla). Com o noodle feito,
nós começamos a segunda etapa: a produção do sabonete em si. Então, nós
misturamos o noodle, aproximadamente 85%, adicionamos a fragrância (vemos um
homem operando uma máquina e colocando alguma substância líquida na mesma,
utilizando muitos EPIs), os corantes e outras coisas que existem na fórmula do
sabonete. Então, ele mistura, vira a massa do sabonete com o cheiro característico,
cor, odor, enfim, tudo, e aí ele passa por um processo do sabão mesmo: um processo
de calandra, onde se homogeiniza a massa. Aí, você passa por um processo de
extrusão, onde se sai as barras do sabonete, onde ele fica com a carinha mesmo
retangular. Daí, passa um processo de montagem e, então, a gente tem um sabonete
pronto pra comercialização. Em seguida, vemos os sabonetes EKOS castanha em
embalagens com o logotipo da Natura Ekos e com um desenho que lembra um “selo
de qualidade”, escrito: “Óleos vegetais da AMAZÔNIA saboaria Natura”; passando por
esteiras de produção, nas quais surge o enunciado: “São fabricados 80 mil sabonetes
EKOS por dia”.
Priscilla Higasi reaparece, sentada nos caixotes de paletes de madeira, fazendo
considerações sobre o sistema de produção da Natura, ao lado de uma cesta de palha

179
com sabonetes EKOS: Então, aqui, na fábrica, a gente tem os entes colaboradores, né,
que são da região. Então, você desenvolvendo essas pessoas, você acaba
desenvolvendo, também, o entorno. O sabonete EKOS (observamos homens e
mulheres com EPIs trabalhando nas esteiras de produção dos sabonetes, na etapa das
embalagens) como ele traz a cadeia inteira, desde a comunidade, a gente tem a
possibilidade de ajudar muita gente, fazendo essa produção, que é muito importante
pra Natura e pra mim principalmente. A câmera mostra, novamente, os sabonetes
EKOS embalados, passando pelas esteiras de produção. Agora, escutamos Fábio Braga:
É justamente esse contato (Fábio reaparece no vídeo, sentado em um banco de
madeira, em meio a samambaias e palmeiras) que nós temos entre comunidades
(vemos os sabonetes na esteira de novo, bem como os/as trabalhadores/as), entre
pessoas, isso é o que mais me motiva (observamos a imagem de castanhas) é saber
que a Natura realmente preza e cultiva um bem estar bem dentro da fábrica e,
principalmente, fora da fábrica. Neste momento, somos redirecionados à Cooperativa
COFRUTA DO BRASIL, onde Raimundo Braga dá o seu depoimento, embaixo de uma
árvore: O que mais me motiva nesse trabalho é você ter a certeza de que dá pra
continuar lá no campo trabalhando, preservando o meio ambiente (vemos um curso
d’água, areia, folhas e castanhas), tirando o seu sustento dali, daquele trabalho e as
famílias continuando lá trabalhando, preservando, cuidando das coisa que tem que
cuidar e ela poder tirar dali o seu sustento do dia-a-dia. Isso me motiva muito.
Em seguida, a música fica mais alta; a filmadora, novamente, apresenta os
sabonetes EKOS na cesta de palha sobre o caixote de paletes de madeira, e os créditos
do vídeo começam a surgir no canto inferior direito da imagem. Depois, vemos o pôr-
do-sol por entre um quiosque no jardim da fábrica da Natura e uma mulher jovem
sentada em um banco apreciando a paisagem. Por fim, surge o logotipo Natura Ekos,
em cor bordô, no centro da imagem.
A partir do que o vídeo apresenta-nos, proponho que pensemos sobre os
elementos discursivos e não-discursivos e os modos de relacionarmo-nos com a
“natureza” que estão sendo veiculados por este anúncio publicitário. Em um primeiro
momento, tenho a impressão de que a Natura pretende mostrar a organização e a
beleza de sua fábrica, tanto por dentro (os equipamentos e os processos industriais, a
ordem das esteiras de produção e de seus/suas funcionários/as, as sequências dos

180
procedimentos técnicos e o atendimento às normas de segurança – visível com o uso
de EPIs), quanto por fora (o belo jardim de flores e o lago de vitórias-régias que
circundam o estabelecimento industrial, os recantos de “bem estar” para os/as
funcionários/as e a enorme área de gramado no pátio). Aqui, podemos reparar que a
Natura está muito perto da “natureza” na qual se inspira para produzir os seus
produtos “naturais”; tão próxima que o próprio pátio da fábrica apresenta alguns
destes elementos “naturais”: árvores, gramíneas, flores, frutos, etc. Em seguida,
Priscilla Higasi apresenta-nos onde estamos (fábrica da Natura em Benevides/PA), o
que é fabricado neste lugar (os sabonetes EKOS) e quais são os artigos utilizados na
produção destes produtos (castanha, pitanga, andiroba, cupuaçú, buriti, mate-verde,
entre outros). Vemos, também, o processo coordenado e cuidadoso de passagem dos
sabonetes EKOS pelas esteiras de produção e pelas etapas de embalagem. Penso que
esta apresentação do funcionamento da fábrica da Natura é uma estratégia
semelhante a dos outros vídeos que analisei até aqui – o estúdio fotográfico (do vídeo
2, tópico: A (Re)Conexão entre Homem e “Natureza”) e o laboratório de pesquisa (do
vídeo 3, tópico: A Ciência como Instância Legitimadora da “Natureza”) –, visto que
ambos conferem “segurança”, “seriedade”, “responsabilidade” e “credibilidade” à
empresa e ao seu ciclo produtivo (extração dos recursos “naturais”, manipulação dos
mesmos, adição de produtos químicos, embalagem, venda, consumo e descarte);
(com)provando que os produtos Ekos são “naturais” e que passam por um rigoroso
controle de qualidade.
Em um segundo momento, assistimos a explicações acerca do processo
produtivo da Natura Ekos, com ênfase nos recursos “naturais” da biodiversidade
Amazônica – apresentados como os diferenciais dos sabonetes da linha Ekos. Fábio
Braga comenta sobre os óleos da biodiversidade dos quais a Natura usufrui para
produzir os seus diferenciados sabonetes EKOS: O grande diferencial nosso é que
incorporamos óleos da biodiversidade na formulação desse nosso sabonete. Ou seja, é
um óleo proveniente de lá da comunidade fornecedora que é trabalhado na
comunidade, que é prensado, produzido lá, trazido para cá, pra nossa unidade e esse
material, esse novo ativo, ele vai ser incorporado na nossa formulação. Eu consigo
fabricar um sabonete diferenciado, que contém esse óleo, um óleo amazônico, um óleo
exótico. Nesta fala, percebemos a noção de “biodiversidade” sendo utilizada – para
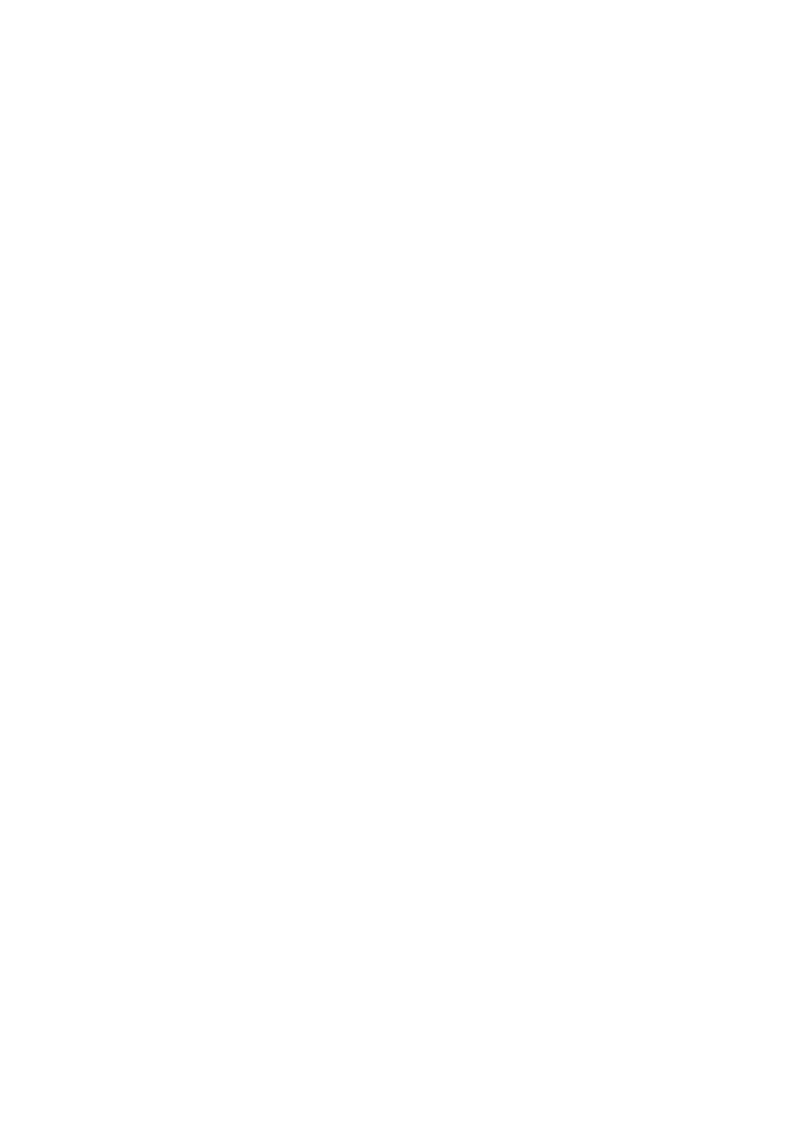
181
atribuir propriedades estéticas e medicinais ao produto, conferindo-lhe “valor” –, ao
invés do termo “natureza”. Faz-se importante atentarmos a esta escolha, pois, de
acordo com Sampaio (2012), denota uma opção por uma palavra que apresenta
significados e interesses diferentes, estando mais alinhada com o “valor” da
“natureza”, em dois sentidos: um ecologista, que preza pela conservação das espécies
e outro econômico, que confere valor financeiro ao que denomina como recursos
“naturais”. Conforme Escobar (1998), embora o conceito de biodiversidade apresente
referentes biofísicos concretos, não podemos nos esquecer de que o mesmo é uma
construção discursiva recente e com efeitos consideráveis. O discurso da
biodiversidade foi sendo estabelecido por diversos aparatos nos quais “novas
verdades” foram sendo construídas por e em inúmeras instâncias sociais (ciência,
mídia, economia, política, etc.), compondo uma das redes de produção da “natureza”
mais importantes do final do século XX. Outro aspecto interessante deste discurso é
que Fábio não faz uso do termo “sociobiodiversidade”, adotado pela Natura desde
2011 para referir-se à uma evolução no conceito de “biodiversidade”, que melhor
traduziria a sua atuação com as comunidades fornecedoras. A expressão designa não
só a relação entre bens e serviços oriundos de recursos “naturais”, mas também “o
valor do conhecimento das populações tradicionais e do desenvolvimento local das
cadeias produtivas estruturadas a partir do uso do patrimônio genético” (NATURA
COSMÉTICOS, 2015b, p. 83). Apesar disto, Fábio Braga faz alusão ao fundamental
trabalho das populações locais da Amazônia para o processo produtivo diferenciado da
empresa, ao passo em que utiliza os óleos da biodiversidade oriundos de uma
comunidade fornecedora e de uma comunidade que os trabalha, antes de serem
encaminhados para a Natura. Além disso, Fábio refere-se aos óleos da biodiversidade
amazônica como materiais exóticos, que se tornarão produtos (os sabonetes EKOS)
diferenciados. Aqui, podemos pensar que estes óleos da biodiversidade da Floresta
Amazônica são vistos como bens “naturais” preciosos – fala semelhante a da artista
Emma Hack no vídeo 2 –, que teriam mais “valor” ecológico e econômico do que
outros recursos “naturais” oriundos dos demais biomas brasileiros, que não são
mostrados em nenhum dos quatro vídeos analisados; havendo, neste vídeo, apenas
uma menção a plantas que não são nativas da Floresta Amazônica, como, por
exemplo, o mate-verde da Mata Atlântica.

182
Enfatizemos, agora, a fala de Raimundo Braga, representante da Cooperativa
de Fruticultores de Abatetuba (COFRUTA DO BRASIL): Então, nós estamos aqui na
COFRUTA, recebemos os ativos que são oriundos das comunidades fornecedoras e,
aqui, nós processamos este produto e encaminhamos ele para a Natura e, a partir do
que a Natura faz com esse produto, nós achamos que um pedacinho da nossa história
tá indo junto com esse produto. Através do depoimento de Raimundo e das imagens
da COFRUTA, podemos perceber a simplicidade deste trabalhador e da Cooperativa
por ele representada. Para ele, a possibilidade de ter uma fonte de renda e de
contribuir para a fabricação de produtos de uma grande empresa é motivo de orgulho.
No entanto, entendo que quem mais beneficia-se desta relação de trabalho é a
Natura, visto que tem pouco custo com os trabalhadores das comunidades; recebe os
óleos da biodiversidade extraídos e prontos para serem processados industrialmente;
“apropria-se” de determinados saberes dos povos locais da Amazônia e, ainda, adquire
uma imagem de empresa “sustentável”, ao “desenvolver” o entorno de sua fábrica na
região amazônica. D’Antona (2003) apud Sampaio (2012, p. 77) considera que a
denominação “povo da floresta” designa “àqueles que conhecem a mata e sabem
manejá-la [...] marca a diferença entre os habitantes que dependem dos recursos
florestais para a sua sobrevivência daqueles que vêem a floresta como uma fonte de
recursos a serem explorados em um curto prazo”. Nesta direção, Escobar (1999, pp.
88-89) indica que “a biologia moderna começa a se dar conta que os chamados
‘conhecimentos tradicionais’ podem ser um complemento bem útil à conquista
científica da biodiversidade”. Compreendo que a Indústria, a economia e a mídia
também estão atentas a estes conhecimentos e às oportunidades financeiras que os
mesmos oferecem. Além disso, aponto alguns questionamentos sobre este processo
de industrialização na Amazônia... Será que a coleta realizada pelos povos locais da
Floresta Amazônica seria diferente, caso não existissem as exigências de produção da
empresa Natura Cosméticos? De que modo a ciclagem de nutrientes e o equilíbrio
ecológico da floresta, que ocorria com a queda “natural” dos frutos e das sementes, é
afetado por este processo de coleta em grande escala industrial?
Analisemos o comentário de Priscilla Higasi acerca de sua motivação para
trabalhar na Natura: Então, aqui, na fábrica, a gente tem os entes colaboradores, né,
que são da região. Então, você desenvolvendo essas pessoas, você acaba

183
desenvolvendo, também, o entorno. O sabonete EKOS como ele traz a cadeia inteira,
desde a comunidade, a gente tem a possibilidade de ajudar muita gente, fazendo essa
produção, que é muito importante pra Natura e pra mim principalmente. Aqui,
podemos notar a valorização que Priscilla confere não só a trabalhar em uma empresa
de grande porte como a Natura, mas também às relações que a mesma desenvolve
com o seu entorno e com as comunidades; construindo um sistema produtivo
“sustentável”. Este discurso vai ao encontro do que a Natura visa tornar “real” no ano
de 2050: a noção de “impacto positivo” – a Natura “deve ajudar a tornar o meio
ambiente e a sociedade melhores. Isso significa que devemos promover o bem social,
ambiental, econômico e cultural, indo além de reduzir e neutralizar os impactos
negativos gerados por nossas atividades” (NATURA COSMÉTICOS, 2015d, p. 19). Em
outras palavras, a Natura entende que a economia, a sociedade, o ambiente e a
cultura são os pilares para a promoção do seu sistema ecomômico capitalista
“sustentável”. Além disso, dentre as diretrizes 2050 da Natura está a da
sociobiodiversidade:
Promoveremos o desenvolvimento e a gestão de cadeias da
sociobiodiversidade, fomentando as boas práticas socioambientais
em toda a nossa cadeia produtiva. Nossa aspiração é auxiliar na
conservação e regeneração da biodiversidade, por meio do fomento
a uma economia baseada no uso sustentável de seus produtos e
serviços (NATURA COSMÉTICOS, 2015d, p. 40).
Nesta citação, há um claro direcionamento empresarial em prol do
desenvolvimento local das regiões em que a Natura atua, tanto social quanto
ambientalmente e, mais uma vez, uma referência ao uso dos “produtos” e “serviços”
“naturais” de modo “sustentável”... Será mesmo possível ampliar a capacidade
produtiva de uma empresa “sustentavelmente”, mantendo-se condizente com o
sistema econômico capitalista? Será mesmo viável aumentar os lucros financeiros e
expandir os negócios de uma empresa de maneira que o ambiente suporte? Segundo
os Sócios-Fundadores da Natura,
Temos [...] consciência de que a ambição de crescer, ampliar lucros,
gerar valor para os acionistas, é inerente à natureza do regime
capitalista, mas que pode e deve ser exercida de maneira virtuosa,
criando riqueza também para a sociedade como um todo. Neste
aspecto, temos uma pretensão ainda maior: queremos crescer, sim,
mas de forma sustentável, gerando impacto positivo tanto
econômico, quanto social e ambiental. Pretendemos ir bem além da
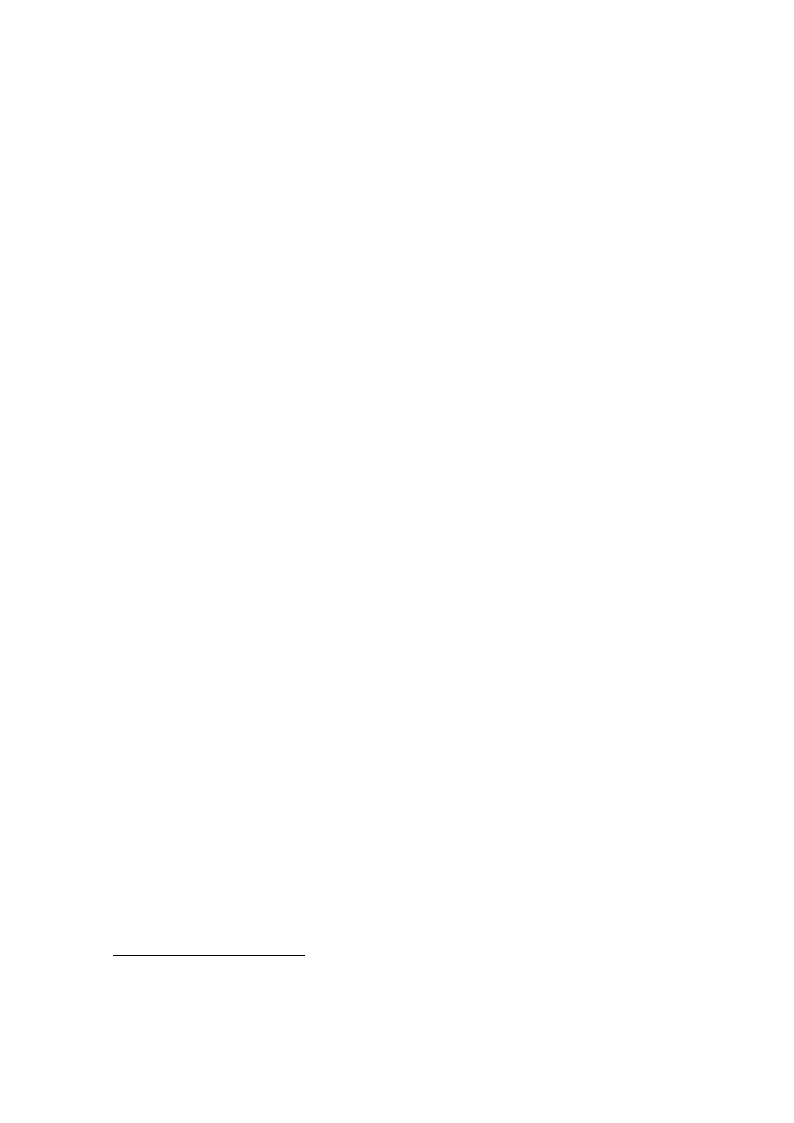
184
redução ou neutralização dos efeitos negativos de nossas atividades
(NATURA COSMÉTICOS, 2015d, p. 14).
Nesta visão de futuro, a Natura adota um evidente posicionamento de que
acredita estar no caminho “certo” para continuar crescendo e reduzindo os seus
impactos ambientais negativos66. Será que estas metas não são muito audaciosas?
Sigamos nossa discussão focalizando, agora, no processo de finalização dos sabonetes
EKOS: a etapa de embalagem. Na parte final do vídeo publicitário, vemos os sabonetes
EKOS castanha em embalagens com o logotipo da Natura Ekos e com um desenho que
lembra um “selo de qualidade”, escrito: “Óleos vegetais da AMAZÔNIA saboaria
Natura”; passando por esteiras de produção. Aqui, podemos reparar, novamente, uma
exaltação dos ativos ou dos recursos “naturais” amazônicos, como estratégia de
diferenciação dos sabonetes EKOS. Tal apelo figura como uma forma de atribuir mais
valor (ecológico e financeiro) aos produtos da linha Ekos e o “selo de qualidade”
parece conferir algum tipo de veracidade e de (com)provação ao produto “natural”
que será posto à venda. Além da embalagem de EKOS, podemos pensar sobre o
enunciado: “São fabricados 80 mil sabonetes EKOS por dia”. Essa informação é
bastante impactante, pois a Natura Cosméticos tem inúmeras outras linhas de
produtos além da Ekos e diversos outros produtos além dos sabonetes, ou seja, o
processo produtivo da Natura é intenso e, sem dúvidas, visa ao lucro financeiro.
Atentemos, agora, para a fala de Raimundo Braga: A partir do que a gente
começa a trabalhar com esses ativos, o pessoal para de cortar as árvores, eliminar elas,
então, eles passam a preservar. Isso é muito interessante dentro desse contexto social
que nós vivemos hoje aqui. Principalmente, na Amazônia. O que mais me motiva nesse
trabalho é você ter a certeza de que dá pra continuar lá no campo trabalhando,
preservando o meio ambiente. Neste depoimento, Raimundo enfatiza e agradece a
oportunidade de, hoje, trabalhar com os ativos “naturais” da Amazônia para a Natura,
ao invés de desmatar as árvores da região amazônica, em decorrência da suposta falta
de opções de emprego que os/as trabalhadores/as da Cooperativa tinham. Parece-me
que Raimundo Braga, em nome da COFRUTA, valoriza o fato de trabalhar para uma
66 Para saber mais sobre a maneira pela qual a Natura Cosméticos relaciona-se com as comunidades
fornecedoras, repartindo os benefícios pelo acesso ao patrimônio genético e/ou conhecimento
tradicional associado; recomendo a leitura da Política Sustentável de Produtos e Serviços da
Sociobiodiversidade, criada em 2009 pela empresa (NATURA COSMÉTICOS, 2015d, p. 42).

185
empresa que diz preservar os recursos “naturais” para as gerações futuras e não mais
derrubar trechos da Floresta Amazônica diariamente. Assim, temos aqui um forte
discurso em prol da conservação da “natureza” (da floresta), atrelado à manutenção,
ao longo dos anos, do trabalho da Cooperativa para a Natura Cosméticos. Fábio Braga
também comenta sobre a sua motivação para trabalhar na Natura: É justamente esse
contato que nós temos entre comunidades, entre pessoas, isso é o que mais me motiva
é saber que a Natura realmente preza e cultiva um bem estar bem dentro da fábrica e,
principalmente, fora da fábrica. Aqui, podemos notar que as motivações de Priscilla, de
Raimundo e de Fábio para trabalharem na Natura são semelhantes, pois ambas
passam pelas questões da “sustentabilidade” e do “bem estar bem” (na empresa e
com as atitudes da mesma). Fábio Braga ressalta a importância das relações da Natura
com os indivíduos dos quais a mesma depende: as comunidades que fornecem os
recursos “naturais” da biodiversidade e os seus funcionários que operam dentro da
fábrica. Além disso, ele enfatiza o cultivo do “bem estar bem” o slogan e a Razão de
Ser empresarial da Natura, segundo a Natura Cosméticos (2015c) – “bem estar”:
relação harmônica e agradável do indivíduo consigo mesmo e com o seu corpo; “estar
bem”: relação empática e prazerosa do indivíduo com o outro, com a natureza da qual
faz parte e com o todo. Neste entendimento, a Natura crê que é um organismo vivo e,
portanto, um dinâmico conjunto de relações. Seu valor e sua longevidade estão ligados
à sua capacidade de contribuir para a evolução da sociedade e para o desenvolvimento
sustentável. A meu ver, esta “essência” da Natura Cosméticos vai bastante ao
encontro da proposta da linha de produtos Natura Ekos e foi introjetada por Fábio
Braga como uma explicação do por que trabalhar na Natura é algo diferenciado. Fábio
ressalta este “bem estar bem” fora da fábrica assim como Priscilla, valorizando o
trabalho social que a empresa exerce, ao contribuir para o desenvolvimento local da
região amazônica.
A partir desta discussão, considero que o vídeo analisado lança mão de
elementos discursivos e não-discursivos sobre a “natureza” e sobre a “biodiversidade”
da Floresta Amazônica como estratégia para promover as suas vendas e, também, para
reforçar a identificação dos consumidores socioambientalmente “corretos” com a
Natura. Assim, este anúncio publicitário ensina como devemos agir em relação à
“natureza”, valorizando o trabalho e os saberes das comunidades extrativistas da

186
Amazônia, bem como o sistema econômico pelo qual devemos optar ao consumirmos
– o capitalista “sustentável”. Natura Ekos veicula imagens, sons, movimentos e
enunciados que aproximam o industrial do “natural”; que demonstram as relações
respeitosas que a Natura tem com as comunidades do entorno de sua fábrica, e que
prezam por uma cultura de “bem estar bem” desde as comunidades amazônicas até os
consumidores da linha Ekos nas grandes cidades. Nesta direção, consumir os
sabonetes EKOS equivale a comprar a “natureza” (amazônica), respeitada, preservada
e “bem cuidada” pela Natura Cosméticos.

187
Considerações Finais
As representações de natureza que circulam nos diferentes textos a
que temos acesso podem ser vistas como construídas no jogo por
imposição de significados. Dessa forma, elas precisam ser vistas como
instituídas em determinadas circunstâncias e em um processo
histórico que não se esgota na contemporaneidade. Em muitas
instâncias tem sido reiteradamente marcada a necessidade de
repensar-se as relações que os humanos têm estabelecido com a
natureza (FENSTERSEIFER, 2007, p. 213).
Como Fensterseifer (2007) menciona na citação acima, considero ser de
extrema importância atentarmos para as representações e os significados sobre a
“natureza” postos em circulação no nosso cotidiano, interpelando-nos, subjetivando-
nos e ensinando-nos; para que possamos criar condições para, talvez, pensarmos de
outro(s) modo(s) sobre as relações que temos desenvolvido com a “natureza” e com os
demais seres. Nesta direção, retomarei os principais tópicos discutidos ao longo deste
caminho, a fim de que possamos colher algumas ideias e plantar outras...
Esta Dissertação de Mestrado emergiu da percepção de que os discursos sobre
a “natureza” foram ingressando na ordem do dia nas mais diversas instâncias e
práticas sociais, vindo a atuar como potentes diferenciais para a venda de produtos
pela mídia, particularmente, pela publicidade. Assim, novos nichos de mercado, novas
categorias de produtos e novos valores empresariais foram sendo construídos,
constituindo um novo perfil de sujeitos consumidores: os “sustentáveis” ou
socioambientalmente “corretos”. Nesta direção, atentei para o que se diz e como se
fala sobre a “natureza” em anúncios publicitários, utilizando-me de ferramentas
teórico-metodológicas do campo dos Estudos Culturais da Ciência e da Educação, em
suas vertentes pós-estruturalistas; pretendendo tecer uma articulação entre diferentes

188
campos – “natureza”, cultura, política, publicidade, ciência e consumo –, a partir de
saberes oriundos das áreas da Educação, da Filosofia, da Sociologia e da Comunicação.
Nesta perspectiva, problematizei a complexa produção da “natureza”,
compreendendo esta palavra como uma construção discursiva que se modificou e que
se modifica conforme determinadas conjunturas sociais, históricas, espaciais e
culturais nas quais é entendida. O termo “natureza” designa uma invenção, criada
numa rede de sentidos – saberes, noções, valores, imagens –, cujos discursos orientam
os nossos modos de ser, estar, sentir, pensar, agir e consumir; e que é, assim,
profundamente marcado por certos entendimentos morais, éticos e estéticos, que nos
permitem estabelecer o que ver, o que admirar, o que conservar e o que proteger no
mundo dito “natural”.
A “natureza” foi e é falada, narrada, pintada e apresentada pelas culturas desde
as representações pré-históricas da arte rupestre e, sobretudo, na concepção atual do
mundo, que “naturaliza” a “natureza”, concebendo-a como algo que está dado como
sinônimo de propriedades, bens e recursos “naturais” dos quais podemos usufruir;
rompendo as suas inter-relações e ignorando a sua complexidade. Desde as primeiras
tentativas do homem de observar e de conhecer a “natureza”, podemos notar um
afastamento do “cultural” em relação ao “natural”, de maneira que a “natureza” foi
sendo objetificada pela razão humana e sua “objetividade”, promovendo uma
“limpeza” e uma “purificação” do objeto, em uma ideia mecanicista de estudo da
“natureza”. Tal afastamento possibilitou que a “natureza” pudesse ser possuída e
dominada pelo homem, influenciando fortemente a educação e o consumo
contemporâneos.
Os modos de pensar sobre a existência da “natureza” não se sucederam no
tempo, mas foram transformando-se, articulando elementos discursivos e não-
discursivos que geraram (des)continuidades nos pensamentos em diferentes épocas.
Neste sentido, não podemos imaginar que as novas sensibilidades – surgidas durante a
Revolução Industrial – erradicaram o olhar antropocêntrico sobre a “natureza”. Além
de certas conjunturas e de certos tempos históricos que originaram discursos distintos,
ambas as interpretações conservam-se; expressando-se, hoje, em uma luta de forças

189
que marca, em variações de ênfase e de intensidade, o terreno no qual surge o debate
ambiental atual. Neste sentido, as visões de “natureza” – domada ou antropocêntrica
e contemplativa ou biocêntrica – parecem demarcar algumas das atuais disputas
discursivas acerca do meio “natural”.
A fim de ter um olhar histórico, social e multifacetado (ainda que limitado por
questões temporais inerentes a uma Dissertação de Mestrado) para as questões
imbricadas com a “natureza”, abordei as tecituras entre a “natureza”, os corpos, as
ciências e as linguagens, de modo a relativizar os discursos, as relações de
saber/poder, e os regimes de verdade que constituem as coisas com determinados
sentidos em determinados contextos. Nesta direção, problematizei as marcações
sofridas nos corpos desde que nascemos (ou mesmo antes disto), cada vez mais em
busca de respostas ao nível mais “micro” possível, almejando encontrar a “natureza”
(a “essência”) do nosso ser; as imagens que nos circundam, interpelam e educam pelos
póros – com suas cores, seus sons, seus movimentos –; e as artes – particularmente, a
pintura, a fotografia e a filmagem –, que, hoje, configuram-se como estratégias
estéticas para reforçar determinados discursos científicos sobre, por exemplo, a
compreensão da “natureza” como essência, e a (re)conexão entre o homem e a
“natureza”.
Dirigi o olhar para as condições da dinâmica contemporânea nas quais a
“natureza” é construída, observando o quão fortemente tramadas são as redes hoje,
ao articular diversos atores e fatores, culturas e naturezas, humanos e não-humanos,
bem como os efeitos que tais entrelaçamentos causaram e causam na produção da
“natureza”. Os contextos sociais, espaço-temporais, políticos e culturais nos quais as
“verdades”, as “realidades” e os “fatos científicos” sobre a “natureza” são constituídos
revelaram-se importantes tópicos a serem analisados, a fim de entendermos a
relatividade e a parcialidade dos discursos da ciência – por exemplo, ao falarem sobre
o valor da “biodiversidade”. Tentei tecer um embasamento teórico sucinto, mas
relativamente sólido, acerca da complexidade das representações de “natureza” que
encontramos na ordem do dia – tanto em nossas ações quanto nas páginas dos jornais,
das revistas e da Internet, e nos anúncios publicitários. Procurei discutir os

190
entendimentos que temos acerca das políticas da “natureza” – e, para Latour (2004),
da ecologia política –, e a emergência deste debate no âmbito da educação e do
ensino em Escolas, em Universidades e em outros espaços; para que, assim, possamos
pensar de outros modos sobre como relacionamo-nos com a “natureza” e conferimos
valor à mesma.
Dentre as inúmeras maneiras de produção discursiva da “natureza”, atentei
para as invenções das palavras biodiversidade (particularmente, a brasileira da Floresta
Amazônica) e sustentabilidade – tecidas em e por inúmeras redes de interesses, dentre
elas: científicas, econômicas, industriais, midiáticas, ambientalistas e políticas. Discuti a
ambivalência do “valor” da “natureza”, sobretudo, sob o viés ambientalista, que preza
pela conservação das espécies e, o capitalista, que concebe a biodiversidade como
uma propriedade, uma fonte de recursos “naturais” e de produtos a serem
consumidos; porém, com os devidos cuidados para que esta “natureza” possa ser
“guardada” e “preservada” para o uso das futuras gerações. Problematizei a valoração
da “natureza”, entendendo-a como algo qualitativo, entrelaçado por inúmeros
aspectos sociais, históricos e culturais; e não como algo quantitativo, que possa ser
reduzido aos e traduzido em valores econômicos. Debati a importância estratégica dos
saberes tradicionais dos povos locais da Floresta Amazônica para a Indústria, a
economia, a ciência e a mídia, visando a “apropriação” de determinados saberes para
poderem-se produzir e vender certas mercadorias “biodiversas” e “sustentáveis”.
Argumentei sobre a ciência e a mídia como instânciais culturais centrais nas redes de
produção da “natureza” e que, por isso, precisam ser analisadas criticamente, a fim de
podermos pensar de outros modos sobre as “verdades” que (in)formam. Questionei o
sucesso do termo “sustentabilidade”, cada vez mais circulante dentre as diversas
instâncias e práticas culturais do ocidente; bem como as condições sociais e
econômicas nas quais o conceito emergiu e foi amplamente aceito pelos mais
diferentes sujeitos – conservacionistas e ecologistas; antropocêntricos e biocêntricos,
empresários e ambientalistas; ONGs e agências governamentais, etc. Por fim, entendi
que a “natureza” utilizada de maneira estratégica (sobretudo, nas noções de
“biodiversidade” e de “sustentabilidade”) constitui uma das mais poderosas armas do

191
discurso ocidental, promovendo um novo, limpo e socialmente aceito modo de
imperialismo global...
Nesta linha de raciocínio, compreendi que a mídia – sobretudo, a publicitária –,
exerce uma pedagogia, ao ter como finalidade educar os indivíduos sobre o que eles
precisam e devem desejar, pensar e fazer para serem felizes e, também, para estarem
bem consigo e com os demais seres do planeta. Notei que aprendemos muito sobre as
prioridades de uma cultura observando os valores comunicados por suas propagandas
– fortemente implicadas na constituição do nosso imaginário social. Entendi que
estamos vivendo imersos num “oceano de imagens” ou num “mundo imagético”,
suportado pela televisão, pelas revistas, pelos jornais, pelos cinemas e pelos anúncios
publicitários, que atuam como algumas das principais forças implicadas na constituição
dos sentimentos, comportamentos, pensamentos e estilos de vida com os quais
passamos a identificarmo-nos. Assim, penso que emerge a necessidade de que a
educação preste atenção a estas novas práticas culturais, visando pôr em ação
pedagogias críticas atentas à leitura das imagens.
Tais entendimentos moveram-me a analisar o que se diz e como se fala sobre a
“natureza” em quatro vídeos publicitários da campanha midiática “Somos Produto da
Natureza”, pertencente à linha de produtos de higiene e de cosmética Natura Ekos da
empresa Natura Cosméticos. Tal corporação foi eleita devido a seus fortes discursos
em prol da “natureza” (em latim, natura), e por vir sendo apontada (por inúmeros
rankings empresariais e econômicos no mundo) como a empresa mais sustentável do
Brasil, e como umas das 100 mais sustentáveis do mundo pelo sétimo ano consecutivo.
Dentre as linhas da Natura, a Ekos é o exemplo mais característico do apelo em prol da
“natureza”, pois desde a sua criação objetiva (re)conectar o homem à (sua) “natureza”.
A meu ver, os anúncios publicitários analisados e discutidos ensinam-nos certos
modos de sentirmos, estarmos, pensarmos e agirmos em relação à “natureza”,
articulando determinados elementos discursivos e não-discursivos, significados e
sentidos. Os vídeos têm a finalidade de educar os sujeitos consumidores
socioambientalmente “corretos” construindo o entendimento de que os mesmos são
produto da “natureza”, de que os produtos Ekos também são esta “natureza” e de

192
que, portanto, adquirir e consumir os produtos Natura Ekos é pertencer a esta
“natureza” veiculada. A campanha lança mão de estratégias publicitárias dinâmicas
(sons, imagens, cores, movimentos, enunciados, discursos) para construir aquilo que
quer mostrar para o espectador: a indissociável relação entre o homem e a “natureza”.
Natura Ekos vale-se de discursos sobre a biodiversidade como artifício para promover
as suas vendas, ensinando “verdades” acerca da “natureza” ao enfatizar e legitimar
cientificamente o “valor” da biodiversidade amazônica e de seus ativos ou de suas
“essências” “naturais”. A linha veicula significados que ensinam aos sujeitos que a
mesma tem autoridade, é a ciência, (com)provando a validade e a “verdade” dos
saberes tradicionais dos povos locais da Floresta Amazônica e dos ativos “naturais” dos
recursos que originam os seus produtos, conferindo credibilidade e legitimidade aos
conhecimentos não-científicos. Assim, adquirir os produtos de Natura Ekos é comprar
a “natureza” autorizada pelas relações de saber/poder e pelos regimes de verdade da
ciência. Além disso, os anúncios ensinam que devemos valorizar o trabalho e os
saberes das comunidades extrativistas da Floresta Amazônica, bem como o sistema
econômico pelo qual devemos optar ao consumirmos – o capitalista “sustentável” –;
aproximando o industrial do “natural”, demonstrando as relações respeitosas que a
Natura tem com as comunidades do entorno de sua fábrica, e a cultura do “bem estar
bem” desde as comunidades amazônicas até os consumidores da linha Ekos nas
grandes cidades. Neste sentido, Ekos comercializa uma visão de “natureza” como
sinônimo de “essência” e de “(re)conexão” consigo e com o planeta; uma “natureza”
estética, ética e moralmente benéfica, que deve ser buscada, preservada e cuidada ao
se consumir os seus produtos produzidos com os bens e os recursos “naturais” da
Amazônia; comercializando uma imagem “verde”, que articula diferentes noções e
interesses sobre a “natureza”.
Larrosa (1994) ensina-nos a desconfiar das evidências, visto que são o que todo
mundo vê, o que não coloca o olhar em dúvida, o que temos que aceitar apenas pela
autoridade de existirem. Assim, algo é evidente quando impõe a sua presença ao olhar
com tal claridade que duvidar é “impossível”. Porém, o autor, inspirado pela obra do
filósofo Michel Foucault (assim como eu), entende que o que todo mundo vê nem
sempre foi visto da mesma maneira. O que é evidente é o resultado de uma
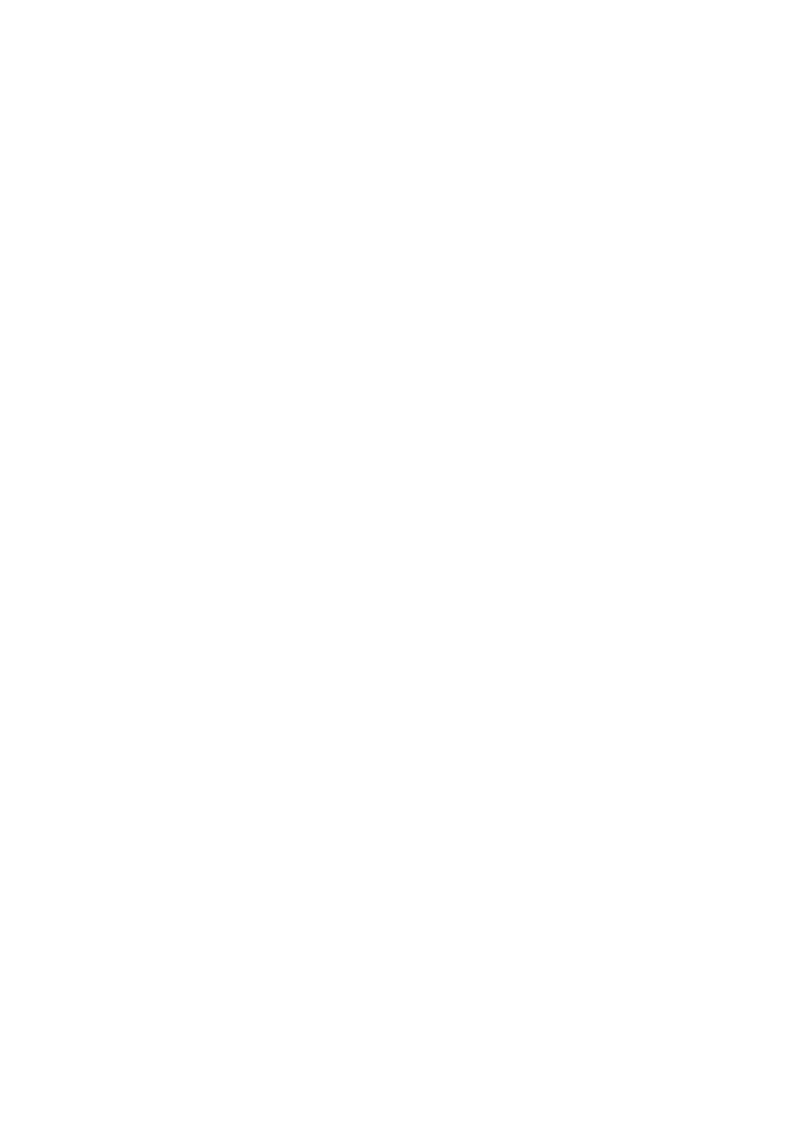
193
determinada disposição do espaço, de certa ex-posição das coisas e de uma particular
constituição do lugar do olhar. Sendo assim, o nosso olhar é muito menos livre do que
pensamos; está constituído por aparatos que nos fazem ver de um determinado modo.
No entanto, o que determina o nosso olhar tem uma origem, depende de particulares
condições históricas e práticas de possibilidades e, logo, está submetido à
possibilidade de mudança e de transformação. Assim, talvez, o poder das evidências
não seja absoluto e seja possível ver de outro(s) modo(s). Nesta perspectiva, após as
análises dos vídeos publicitários da Natura Ekos, entendi que não há a “natureza” das
coisas, visto que não existe uma “natureza” a-temporal, a-histórica, a-cultural e
antissocial a ser desvelada contendo a “essência” ou “a alma/o princípio original” dos
humanos e dos não-humanos. Considero que o termo “natureza” corresponde às
compreensões que cada um apresenta em relação à mesma, pois cada sujeito é
interpelado e constituído por diferentes instâncias, práticas e agentes de socialização.
Neste sentido, trago contribuições do campo dos Estudos Culturais da Ciência e da
Educação, em suas vertentes pós-estruturalistas, sob inspiração da obra do sociólogo
Bruno Latour para pensarmos sobre as questões ambientais – algo possivelmente
inédito no Brasil –, para que, talvez, possamos conceber que a “natureza”,
constantemente apresentada pelo dualismo natureza/cultura, não deveria ser
separada das condições sociais, espaço-temporais e culturais em que é construída.
Nesta linha de raciocínio, considero que um grande desafio educacional –
sobretudo, para a Educação Ambiental e para a Educação em Ciências – consiste em
(re)pensar a separação homem/“natureza”, humano/não-humano, cultural/“natural”,
e propor novos olhares e novas compreensões para o mundo e para o funcionamento
de suas redes. Neste entendimento, talvez, possamos ter criado condições para não
mais apresentarmos um olhar para a relação homem versus “natureza” ou homem e
“natureza”, mas sim concebermos as relações entre os diversos seres vivos e deles
com os inúmeros ambientes “naturais” e culturais com os quais se relacionam. Em
meio a esta teia de múltiplos atores e fatores que se enredam, imbricam e tecem
constantemente, mantendo as condições propícias à vida, é que situo naturezas-
homens-culturas.

194
Nesta direção, oriento as contribuições/perspectivas futuras deste estudo para
a emergência da Educação Ambiental como possível ferramenta para uma visão crítica
dos sujeitos acerca das questões ambientais e de sua interligação com uma rede
complexa de elementos sociais – ao encontro do que Leff (2013) denomina como
saber ambiental:
“[...] o conceito da complexidade emergente onde se reencontram o
pensamento e o mundo, a sociedade e a natureza, a biologia e a
tecnologia, a vida e a linguagem. Ponto de inflexão da história que
induz uma reflexão sobre o mundo atual, do qual emergem as luzes e
sombras de um novo saber. De um saber atravessado por estratégias
de poder em torno da reapropriação (filosófica, epistemológica,
econômica, tecnológica e cultural) da natureza” (LEFF, 2013, p. 10).
Segundo Leff (2013), o saber ambiental emerge de uma reflexão sobre a
construção social do mundo atual, em que, hoje, convergem e se precipitam os tempos
históricos. Desta maneira, “vivemos hoje um mundo de complexidade, no qual se
amalgamam a natureza, a tecnologia e a textualidade, onde sobrevivem e tomam
novos significados reflexões filosóficas e identidades culturais” (idem, p. 9).
Ao encerrar as Considerações Finais desta Dissertação, não posso deixar de
falar sobre as mudanças que o Mestrado provocou em mim. Esta caminhada de dois
anos, com dedicação exclusiva, foi intensa e desconcertante... Nunca antes revi tanto
os meus (pré-)conceitos, os meus valores e as minhas “verdades” sobre o mundo.
Nunca antes fiquei tão “sem chão”, porque aprendi que a “realidade” e os “fatos” não
existem. No entanto, ao final deste percurso, pude olhar com outros olhos, pensar de
outros modos e traçar novos rumos de pesquisa sobre a produção cultural da
“natureza” e da constituição dos sujeitos consumidores socioambientalmente
“corretos” – questões pelas quais me interessei ainda mais, ao descobrir inúmeras
possibilidades de investigação em aberto. Além disso, pude perceber o quanto os
Estudos Culturais da Ciência e da Educação, em suas vertentes pós-estruturalistas, têm
a contribuir com a sociedade, ao possibilitarem uma tecitura analítica entre diferentes
campos do saber – como dificilmente as pesquisas acadêmicas em seus
enquadramentos “engessados” permitem-nos –, e ao constituírem estudos riquíssimos
e, possivelmente, interdisciplinares para serem aplicados em Escolas, em
Universidades e em outros espaços.

195
Encerro este estudo com as palavras de Larrosa (1994), na esperança de ter
conseguido aproximar-me minimamente da proposta do autor: Teoria como um
gênero de pensamento e de escrita que pretende questionar e reorientar as formas
dominantes de pensar e de escrever em um campo determinado. Teoria como o
reorganizar de uma biblioteca, colocando alguns textos junto a outros, com os quais
não tem aparentamente nada a ver e produzir, assim, um novo efeito de sentido.
Pensar de outro modo, explorar novos sentidos, ensaiar novas metáforas...

196
Referências
ALBUQUERQUE JÚNIOR, D. M. História: a arte de inventar o passado. Bauru: EDUSC,
2007.
AMARAL, M. B. O Olhar Estrangeiro e a Construção da Paisagem do Rio Grande do Sul.
In: WORTMANN, M. L. C. et al. (Orgs.). Ensaios em Estudos Culturais, Educação e
Ciência – A Produção Cultural do Corpo, da Natureza, da Ciência e da Tecnologia:
instâncias e práticas contemporâneas. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 2007,
pp.247-259.
___________. Histórias de Viagens e a Produção Cultural da Natureza: a paisagem do
Rio Grande do Sul segundo os viajantes estrangeiros do século XIX. Tese [Doutorado
em Educação]. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 2003.
___________. Natureza e Representação na Pedagogia da Publicidade. In: COSTA, M.
C. V. (Org.). Estudos Culturais em Educação. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS,
2000, pp.143-171.
___________. Representações de Natureza na Educação pela Mídia. Dissertação
[Mestrado em Educação]. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 1997(a).
___________. (Tele)natureza e a Construção do Natural: um olhar sobre imagens de
natureza na publicidade. In: OLIVEIRA, D. L. (Org.). Ciências nas Salas de Aula. Porto
Alegre: Mediação, 1997(b).
___________.; CONCEIÇÃO, N. E. C. Mídia e Educação: representações de natureza na
publicidade. VII Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental (EPEA). Rio Claro: 2013.
[Internet].
Disponível
em:
<http://www.epea.tmp.br/epea2013_anais/pdfs/plenary/0226-1.pdf>. Acesso em: 31
de mai. de 2015.
BARRETO FILHO, H. T. Da Nação ao Planeta através da Natureza: uma tentativa de
abordagem antropológica das unidades de conservação na Amazônia. Série
Antropologia, n.222. Brasília: Departamento de Antropologia/UnB, 1997.
BAUMAN, Z. Medo Líquido. MEDEIROS, C. A. (Trad.). Rio de Janeiro: Zahar, 2008a,
239p.
___________. Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria.
MEDEIROS, C. A. (Trad.). Rio de Janeiro: Zahar, 2008b, 199p.
___________. Modernidade e Ambivalência. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.

197
BICCA, A. D. N. Publicidade, Teconologia e Identidades Culturais. In: WORTMANN, M. L.
C., et al. (Orgs.). Ensaios em Estudos Culturais, Educação e Ciência – A Produção
Cultural do Corpo, da Natureza, da Ciência e da Tecnologia: instâncias e práticas
contemporâneas. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 2007, pp.331-341.
BOWKER, G. C.; STAR, S. L. Sorting Things Out. Classification and its Consequences.
MIT Press, 1999.
BRAUN, M. C. Do Vale das Matas Nativas ao Vale do Progresso: um estudo sobre as
representações de ambiente em comunidade de imigrantes alemães. Dissertação.
[Mestrado em Educação]. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 1999.
CAPRA, F. A Teia da Vida. São Paulo: Cultrix, 1996.
___________. O Ponto de Mutação. São Paulo: Cultrix, 1982.
CARSON, R. Primavera Silenciosa. São Paulo: Gaia, 2010.
CARTA DE BELGRADO. 1975. [Internet]. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/deds/pdfs/crt_belgrado.pdf> Acesso em: 05 de
mar. de 2016.
CARVALHO, I. C. M. A Questão Ambiental e a Emergência de um Campo de Ação
Político-Pedagógica. In: LOUREIRO, C. F. B.; LAYRARGUES, P. P.; CASTRO, R. S. (Orgs.).
Sociedade e Meio Ambiente: a educação ambiental em debate. 7ed. São Paulo:
Cortez, 2012.
___________. Os Sentidos de “Ambiental”: a contribuição da hermenêutica à
pedagogia da complexidade. In: LEFF, H. (Org.). A Complexidade Ambiental. São Paulo:
Cortez, 2010.
___________. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo:
Cortez, 2004.
COP 21. Sustainable Innovation Forum 2015. [Internet]. Disponível em:
<http://www.cop21paris.org/> Acesso em: 22 de dez. de 2015.
CORNETTA, A. s/t. Rev. Agrária. São Paulo, n.10/11, 2009, pp.131-135.
CORPORATE KNIGHTS. 2015 Global 100 results. jan 2015. [Internet]. Disponível em:
<http://www.corporateknights.com/reports/global-100/2015-global-100-results/>
Acesso em: 26 de jan. de 2015.
___________. 2016 Global 100 results. jan 2016. [Internet]. Disponível em:
<http://www.corporateknights.com/reports/global-100/2016-global-100-results-
14533333/> Acesso em: 01 de mar. de 2016.

198
COSTA, J. F. O Vestígio e a Aura: corpo e consumismo na moral do espetáculo. Rio de
Janeiro: Garamond, 2004.
COSTA, M. V. Ensinando a Dividir o Mundo: as perversas lições de um programa de TV.
Rev. Bras. de Educ. Rio de Janeiro, n.20, abr./mai./jun. 2002.
___________.; SILVEIRA, R. H.; SOMMER, L. H. Estudos Culturais, Educação e
Pedagogia. Rev. Bras. de Educ., n.23, 2003, pp.36-61.
DARSIE, C.; ZAGO, L. F. Onde Andará o Homem de Marlboro? Corpo-currículo, gênero e
saúde em imagens de fumantes. In: SANTOS, L. H. S. et al. (Orgs.). Formação de
Professores/as em um Mundo em Transformação. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2014,
248p.
DAZZI, M. D. B. Estratégias para Endereçar – Por uma Política de Representação do
HIV/AIDS: legitimando modos de ser adolescente em “tempos de AIDS”. In:
WORTMANN, M. L. C., et al. (Orgs.). Ensaios em Estudos Culturais, Educação e Ciência
– A Produção Cultural do Corpo, da Natureza, da Ciência e da Tecnologia: instâncias e
práticas contemporâneas. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 2007, pp.147-
169.
DELEUZE, G. Conversações. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992.
DIDI-HUBERMAN, G. Quando as Imagens Tocam o Real. Pós: Belo Horizonte, v.2, n.4,
2012, pp.204-219.
DIEGUES, A. C. Etnoconservação da Natureza: enfoques alternativos. In: DIEGUES, A. C.
(Org.). Etnoconservação: novos rumos para a conservação da natureza. São Paulo:
Hucitec, Nupaub-USP; Annablume, 2000.
DULAC, E. B. F. Lições de Beleza e Feminilidade nos Anúncios Publicitários de
Cosméticos. In: WORTMANN, M. L. C., et al. (Orgs.). Ensaios em Estudos Culturais,
Educação e Ciência – A Produção Cultural do Corpo, da Natureza, da Ciência e da
Tecnologia: instâncias e práticas contemporâneas. Porto Alegre: Ed. da
Universidade/UFRGS, 2007, pp.77-92.
EMMA HACK ARTIST. The Artist. 2015(a). [Internet]. Disponível em:
<http://www.emmahackartist.com.au/emma_art/the_artist.html#.VexeOX9Viko>
Acesso em: 06 de set. de 2015.
___________. Body Art Editorial. 2015(b). [Internet]. Disponível em:
<http://www.emmahackartist.com.au/emma_commercial/emma_body_editorial.html
#.Vexhg39Viko> Acesso em: 06 de set. de 2015.
___________. Body Art Installations. 2015(c). [Internet]. Disponível em:
<http://www.emmahackartist.com.au/emma_commercial/emma_installation.html#.V
exiMH9Viko> Acesso em: 06 de set. de 2015.

199
___________. Client List. 2015(d). [Internet]. Disponível em:
<http://www.emmahackartist.com.au/emma_commercial/emma_clients.html#.Vexi2
n9Viko> Acesso em: 06 de set. de 2015.
___________. Body Art Advertising. 2015(e). [Internet]. Disponível em:
<http://www.emmahackartist.com.au/emma_commercial/emma_body_advertising.ht
ml#.VexgxH9Viko> Acesso em: 06 de set. de 2015.
___________.
Video.
2015(f).
[Internet].
Disponível
em:
<http://www.emmahackartist.com.au/emma_video/gallery_video.html> Acesso em:
06 de set. de 2015.
ESCOBAR, A. El Final del Selvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología
contemporánea. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología; CEREC, 1999.
___________. Whose Knowledge, Whose Nature? Biodiversity, Conservation and
Political Ecology of Social Movements. Journal of Political Ecology, vol.5, pp.53-82,
1998.
EXAME.COM. Milionário chinês vende ar enlatado para combater poluição. 2012.
[Internet]. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/topicos/meio-ambiente>.
Acesso em: 19 de dez. de 2015.
FAUSTO-STERLING, A. Sexing the Body: gender politics and the construction of
sexuality. Nova Iorque: Basic Books, 2000.
FEATHERSTONE, M. Cultura do Consumo e Pós-Modernismo. São Paulo: Studio Nobel,
1995.
FENSTERSEIFER, C. Lições de Natureza e Muitas Outras no Sítio do Picapau Amarelo. In:
WORTMANN, M. L. C., et al. (Orgs.). Ensaios em Estudos Culturais, Educação e Ciência
– A Produção Cultural do Corpo, da Natureza, da Ciência e da Tecnologia: instâncias e
práticas contemporâneas. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 2007, pp.205-
222.
FERREIRA, M. Problematizando as Ações Educativas de uma Empresa Estatal. In:
WORTMANN, M. L. C., et al. (Orgs.). Ensaios em Estudos Culturais, Educação e Ciência
– A Produção Cultural do Corpo, da Natureza, da Ciência e da Tecnologia: instâncias e
práticas contemporâneas. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 2007, pp.297-
311.
FISCHER, R. M. B. Mídia, Juventude e Disciplina: sobre a produção de modos de ser e
estar na cultura. In: XAVIER, M. L. M. (Org.). Disciplina na Escola: enfrentamentos e
reflexões. Porto Alegre: Mediação, 2002.
___________. O Estatuto Pedagógico da Mídia: questões de análise. Porto Alegre:
Educação & Realidade. v.22, n.2, 1997, pp.59-78.

200
___________. Adolescência em Discurso: mídia e produção de subjetividade. Tese
[Doutorado em Educação]. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 1996.
FLORES, L. G. Fotografia e Pintura: dois meios diferentes? São Paulo: Martins Fontes,
2011.
FONSECA, G. A. B.; SILVA, J. M. C. Megadiversidade Amazônica – desafios para a sua
conservação. Ciência & Ambiente. Santa Maria, n.31, jul/dez 2005, pp.13-23.
FORBES. Chineses compram garrafas de ar de startup canadense. 2015. [Internet].
Disponível em: <http://www.forbes.com.br/colunas/>. Acesso em: 19 de dez. de 2015.
FORQUIN, J. C. Escola e Cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento
escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.
FOUCAULT, M. História da Sexualidade II: o uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Graal,
2001.
___________. Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 1999.
___________. Microfísica do Poder. MACHADO, R. (Org. e Trad.), Rio de Janeiro: Graal,
1998(a), 295p.
___________. A Ordem do Discurso. São Paulo: Loyola, 1998(b). [Aula inaugural no
Collège de France, pronunciada em 02 de dezembro de 1970].
___________. A Arqueologia do Saber. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997(a).
___________. História da Sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal,
1997(b).
___________. O Sujeito e o Poder. In: DREYFUS, H. L.; RABINOW, P. Michel Foucault:
uma trajetória filosófica – para além do estruturalismo e da hermenêutica. CARRERO,
V. P. (Trad.). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995, pp.231-249.
G1 MUNDO SUSTENTÁVEL. COP-21 já foi. E agora, o que virá? 2015. [Internet].
Disponível em: <http://g1.globo.com/natureza/blog/mundo-sustentavel/1.html>
Acesso em: 22 de dez. de 2015.
GIROUX, H. A. Praticando Estudos Culturais nas Faculdades de Educação. In: SILVA, T.
T. (Org.). Alienígenas na Sala de Aula: uma introdução aos estudos culturais em
educação. Petrópolis: Vozes, 1995a.
___________. Memória e Pedagogia no Maravilhoso Mundo da Disney. In: SILVA, T. T.
(Org.). Alienígenas na Sala de Aula: uma introdução aos estudos culturais em
educação. Petrópolis: Vozes, 1995b.

201
___________.; MCLAREN, P. Por uma pedagogia crítica da representação. In: SILVA, T.
T.; MOREIRA, A. F. (Orgs.). Territórios Contestados: o currículo e os novos mapas
políticos e culturais. Petrópolis: Vozes, 1995, pp. 144-158.
GODOY, A. A Menor das Ecologias. São Paulo: Editora da USP, 2008.
GRÜN, M. Ética e Educação Ambiental: a conexão necessária. Campinas: Papirus
Editora, 2011, 120p.
___________. Descartes, Historicidade e Educação Ambiental. In: CARVALHO, I. C. M.;
GRÜN, M.; TRAJBER, R. (Orgs.). Pensar o Ambiente: bases filosóficas para a Educação
Ambiental. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria da Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade, UNESCO, 2006, pp.63-78.
___________. O Conceito de Holismo em Ética Ambiental e Educação Ambiental. II
Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental: abordagens epistemológicas e
metodológicas. [Internet]. São Carlos: UFSCar, 2003. Disponível em:
<http://www.epea.tmp.br/epea2003_anais/pdfs/plenary/15.pdf>. Acesso em: 31 de
mai. de 2016.
___________. Questionando os Pressupostos Epistemológicos da Educação
Ambiental: a caminho de uma ética. Dissertação [Mestrado em Educação]. Porto
Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 1995.
___________. Uma Discussão sobre os Valores Éticos em Educação Ambiental.
Educação & Realidade. Porto Alegre, v.1, n.1, 1994, pp.171-195.
GUERRA, L.; RAMALHO, D. S.; SILVA, J. B.; VASCONCELOS, C. R. P. Ecologia Política da
Construção da Crise Ambiental Global e do Modelo de Desenvolvimento Sustentável.
Interações – Rev. Internacional de Desenvolvimento Local, v.8, n.1, mar. 2007, pp.09-
25.
GUIMARÃES, L. B. A Importância da História e da Cultura nas Leituras da Natureza.
Inter-Ação: Rev. Fac. Educ. UFG, v.33, n.1, pp. 87-101, jan./jun. 2008.
___________. Pesquisas em Educação Ambiental: olhares atentos à cultura. In:
WORTMANN, M. L. C. et al. (Orgs.). Ensaios em Estudos Culturais, Educação e Ciência
– A Produção Cultural do Corpo, da Natureza, da Ciência e da Tecnologia: instâncias e
práticas contemporâneas. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 2007, pp.237-
246.
___________. A Natureza na Arena Cultural. A Página da Educação. Portugal, ano 15,
n.155, abr. 2006.
___________. Notas Sobre o Dispositivo da Sustentabilidade e a Formação de
Sujeitos “Verdes”. (mimeo). s/d.

202
___________.; SAMPAIO, S. M. V.; ZANCO, J. Fundamentos de Educação Ambiental. In:
REIGOTA, M. (Org.). Educação Ambiental e Práticas Pedagógicas Cotidianas. São
Paulo: Intermeios, 2015, 144p.
___________.; SILVA, B. L. Planejamentos de Ensino Entremeando Biologia e Cultura.
Ensino em Re-Vista. Uberlândia, v.16, n.1, pp.33-45, jan./dez. 2009.
GUIDO, L. F. E. Educação, Televisão e Natureza, uma Análise do Repórter Eco. Tese
[Doutorado em Educação]. São Paulo: UNICAMP, 2005.
HALL, S. A Centralidade da Cultura: notas sobre as revoluções culturais do nosso
tempo. Educação & Realidade. Porto Alegre: FACED/UFRGS, v.22, n.2, 1997(a).
___________. The Work of Representation. In: ___________. Representation: cultural
representations and signifying practices. London: Sage/The Open University, 1997(b).
___________. Race, Culture and Communications: looking backward and forward at
cultural studies. In: STOREY, J. (Ed.). What is Cultural Studies? London: Arnold, 1997(c).
___________. On Postmodernism and Articulation: an interview with Stuart Hall.
Journal of Communication Inquiry, 10, 1986, pp. 51-77.
___________. Cultural Studies: two paradigms. Media, Culture and Society, 2, 1980,
pp. 57-72.
HARAWAY, D. Teddy Bear Patriarchy: taxidermy in the Graden of Eden, New York City,
1908-1936. In: ___________. Primate Visions: gender, race and nature in the world of
modern science. New York: Routledge, 1989, pp.26-58.
HESS, D. Science Studies: an advanced introduction. New York/London: New York
University Press, 1997.
HOEFFEL, J. L.; FADINI, A. A. B. Percepção Ambiental. In: MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE (MMA) (Org.). Encontros e Caminhos: formação de educadoras(es)
ambientais e coletivos educadores. v.2. Brasília: MMA, 2007, pp.253-262.
JORNAL DA GLOBO. Poluição no norte da China prejudica cerca de 150 milhões de
pessoas. Reportagem Especial – série sobre poluição na China. 2014. [Internet].
Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2014/07/poluicao-no-
norte-da-china-afeta-cerca-de-150-milhoes-de-pessoas.html> Acesso em: 19 de dez.
de 2015.
JUNQUEIRA, H.; KINDEL, E. A. I. Leitura e Escrita no Ensino de Ciências e Biologia: a
visão antropocêntrica. Cadernos do Aplicação. Porto Alegre: UFRGS, vol.22, n.1, 2009,
pp.145-161. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/25484>. Acesso em: 30 de
out. de 2015.

203
KELLNER, D. Cultura da Mídia e Triunfo do Espetáculo. In: MORAES, D. (Org.).
Sociedade Midiatizada. Rio de Janeiro: Mauad, 2006.
___________. A Cultura da Mídia – Estudos Culturais: identidade e política entre o
moderno e o pós-moderno. BENEDETTI, I. C. (Trad.). Bauru: EDUSC, 2001(a).
___________. Beavis e Butt-Head: sem futuro para a juventude pós-moderna. In:
STEINBERG, S. (Org.). Cultura Infantil: a construção corporativa da infância. BRICIO, G.
E. (Trad.). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001(b).
___________. Lendo Imagens Criticamente: em direção a uma pedagogia pós-
moderna. In: SILVA, T. T. (Org.). Alienígenas na Sala de Aula: uma introdução aos
estudos culturais em educação. Petrópolis: Vozes, 1995, pp.104-131.
KESSELRING, T. O Conceito de “Natureza” na História do Pensamento Ocidental.
Episteme. v.11, 2000, pp.53-172.
KINDEL, E. A. I. A natureza no desenho animado ensinando sobre homem, mulher,
raça, etnia e outras coisas mais. In: WORTMANN, M. L. C. et al. (Orgs.). Ensaios em
Estudos Culturais, Educação e Ciência – A Produção Cultural do Corpo, da Natureza, da
Ciência e da Tecnologia: instâncias e práticas contemporâneas. Porto Alegre: Ed. da
Universidade/UFRGS, 2007, pp.223-236.
___________. A Disney Produzindo a Natureza nos Filmes Infantis onde a Natureza é
o Cenário. Programa e Caderno de Resumos. IV Jornadas Latino-Americanas de
Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia. Campinas: UNICAMP, 2001.
KNORR-CETINA, K. ¿Comunidades Científicas o Arenas Transepistémicas de
Investigación? Una crítica de los modelos cuasi-económicos de la ciencia. REDES:
Revista de Estudios Sociales de la Ciencia. Buenos Aires, v.3, n.7, 1997.
LARROSA, J. Notas sobre a Experiência e o Saber de Experiência. Rev. Bras. de Educ.
2002, n.19, pp. 20-169.
___________. Tecnologias do Eu e Educação. In: SILVA, T. T. O Sujeito da Educação.
Petrópolis: Vozes, 1994, pp.35-86.
LATOUR, B. Políticas da Natureza: como fazer ciência na democracia. SOUZA, C. A. M.
(Trad.). Bauru: EDUSC, 2004, 412p.
___________. A Esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade dos estudos
científicos. Bauru: EDUSC, 2001(a).
___________. A Ecologia Política sem a Natureza? SAMPAIO, M. T. (Trad.). Proj.
História. São Paulo, n.23, 2001(b).
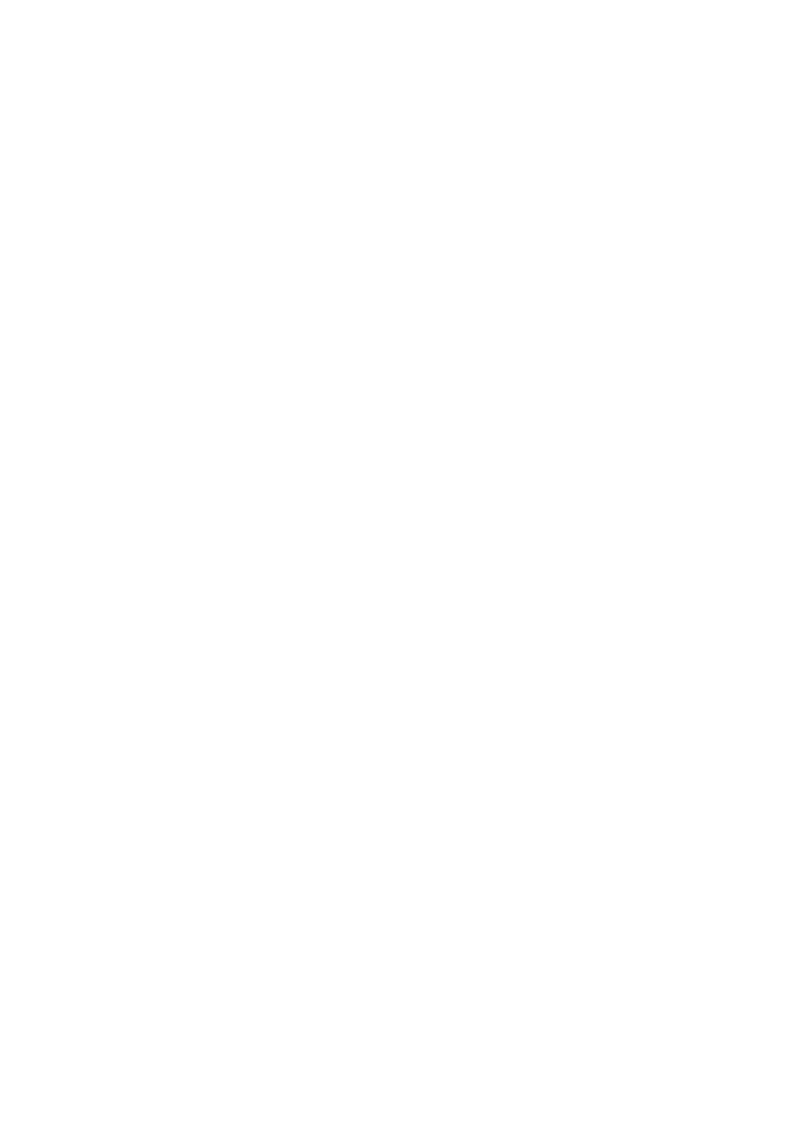
204
___________. Ciência em Ação: como seguir engenheiros e cientistas sociedade afora.
São Paulo: UNESP, 2000.
___________. Dádme un Laboratorio y Moveré el Mundo. In: IRANZO, J. M. et al.
(Org.). Sociología de la Ciencia y la Tecnología. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1995, pp.237-257.
___________. Jamais Fomos Modernos: ensaio de antropologia simétrica. Rio de
Janeiro: Ed. 34, 1994.
___________.; WOOLGAR, S. A Vida de Laboratório: a produção dos fatos científicos.
Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1997, 310p.
LEFF, E. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder.
Petrópolis: Vozes, 2013.
___________. Pensar a Complexidade Ambiental. In: LEFF, E. (Coord.); WOLFF, E.
(Trad.). A Complexidade Ambiental. 2ed. São Paulo: Cortez, 2010, 342p.
LENOBLE, R. História da Ideia de Natureza. Lisboa: Edições 70, 1990.
LENOIR, T. A Ciência Produzindo a Natureza: o museu de história naturalizada.
Episteme: Filosofia e História das Ciências em Revista. Porto Alegre, v.2, n.4, 1997,
pp.55-72.
LEVINS, R.; LEWONTIN, R. The Dialectical Biologist. Cambridge: Harvard University
Press, 1985.
LEWONTIN, R. A Tripla Hélice: gene, organismo, ambiente. São Paulo: Companhia das
Letras, 2002.
LIMA, G. C. O Discurso da Sustentabilidade e suas Implicações para a Educação.
Ambiente & Sociedade, v.VI, n.2, jul./dez. 2003, pp.99-119.
LOURO, G. L. Gênero: questões para educação. In: BRUSCHINI, C.; UNBEHAUM, S.
(Orgs.). Gênero, Democracia e Sociedade Brasileira. São Paulo: Fundação Carlos
Chagas/Editora 34, 2002.
___________. (Org.). O Corpo Educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte:
Autêntica, 1999.
MANGUEL, A. Lendo Imagens: uma história de amor e ódio. São Paulo: Companhia das
Letras, 2001.
MARÍN-DÍAZ, D. L. Infância: discussões contemporâneas, saber pedagógico,
governamentalidade. Dissertação [Mestrado em Educação]. Porto Alegre: Ed. da
Universidade/UFRGS, 2009.

205
MARTÍNEZ ALIER, J. Conflictos de Distribuición Ecológica. Revista Andina, v.29, ano 15,
n.1, 1997, pp. 41-66.
MARTINS, T. P.; SOSTER, A. R. M. Como se fala sobre o Arroio Dilúvio? Uma análise de
enunciados veiculados em reportagens de um jornal impresso. Trabalho de Conclusão
de Curso de Pós-Graduação. Curso de Especialização lato sensu em Gestão da
Qualidade para o Meio Ambiente da PUCRS. Porto Alegre, RS: Biblioteca Central Irmão
José Otão/PUCRS, 2014.
___________.; SOUZA, N. G. S. “Somos Produto da Natureza”: a natureza apresentada
em vídeos publicitários dos produtos da linha Natura Ekos. E-book do XIV Congresso
Internacional Ibero-Americano de Comunicação (IBERCOM). São Paulo: USP, 2015(a).
___________.; SOUZA, N. G. S. “Somos Produto da Natureza”: a natureza apresentada
em vídeos publicitários dos produtos da linha Natura Ekos. Anais eletrônicos do 6º
Seminário Brasileiro/3º Seminário Internacional de Estudos Culturais e Educação
(SBECE/SIECE). Canoas: ULBRA, 2015(b).
___________.; SOUZA, N. G. S. A (Re)Conexão entre Homem e “Natureza”: Natura
Ekos constituindo sujeitos consumidores. Anais do VII Encontro Regional Sul de Ensino
de Biologia (EREBIO SUL). Criciúma: UNESC, 2015(c).
___________.; SOUZA, N. G. S. A Ciência como Instância Legitimadora da “Natureza”:
análise de um vídeo publicitário dos produtos Natura Ekos. Anais do X Encontro
Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC). Águas de Lindóia: ABRAPEC,
2015(d).
MEADOWS, D. H.; MEADOWS, D. L.; RANDERS, J.; BEHRENS III; WILLIAM, W. Limites do
Crescimento. São Paulo: Editora Perspectiva AS, 1973.
MENSER, M.; ARONOWITZ, S. Sobre los Estudios Culturales, la Ciencia y la Tecnología.
In: ARONOWITZ, S. et al. (Comp.). Tecnología y Cibercultura: la interrelación entre
cultura, tecnología y ciencia. Barcelona: Paidós, 1998, pp.21-53.
MERLEAU-PONTY, M. A Natureza. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Documentos de Referência. 2016. [Internet].
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/deds/htms/docsrefs.htm>
Acesso em: 05 de mar. de 2016.
MUSEU DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA PUCRS. Acontece no Museu. 2016. [Internet].
Disponível em: <http://www.pucrs.br/mct/> Acesso em: 05 de mar. de 2016.
NATURA COSMÉTICOS. Natura Ekos - Somos Produto da Natureza. 2014(a). [Vídeo
Publicitário]. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=nzDdYZBOWlI&list=PL4IniJi8hWH984sS6zNkbz-
ebFK0fXil6>. Acesso em: 01 de jul. de 2014.

206
___________. Making of - Natura Ekos & Emma Hack. 2014(b). [Vídeo Publicitário].
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FqnTbyW5Bg0>. Acesso em: 01
de jul. de 2014.
___________. Conheça a Nova Linha Natura Ekos Corpo. 2014(c). [Vídeo Publicitário].
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VOt1kYP2wPM>. Acesso em: 01
de jul. de 2014.
___________. Da Floresta para o seu Banho. 2014(d). [Vídeo Publicitário]. Disponível
em: <https://www.youtube.com/watch?v=XeJG5nPediw>. Acesso em: 01 de jul. de
2014.
___________. Resultados 3T14. 2015(a). [Internet]. Disponível em:
<http://natu.infoinvest.com.br/ptb/5048/CDPortIngles.pdf>. Acesso em: 20 de mar. de
2015.
___________. O Portal Natura Ekos. 2015(b). [Internet]. Disponível em:
<http://naturaekos.com.br/editorial/portal-natura-ekos/>. Acesso em: 20 de mar. de
2015.
___________. Essência: visão. 2015(c). [Internet]. Disponível em:
<http://www.natura.com.br/www/a-natura/sobre-a-natura/essencia/>. Acesso em: 03
de ago. de 2015.
___________. Pense Impacto Positivo: visão de sustentabilidade 2050. 2015(d).
[Internet]. Disponível em:
<http://www.natura.com.br/static/sustentabilidade%20natura/visao%20sustentabilid
ade_2050_resultados%202014.pdf?utm_source=site_cf&utm_medium=widget&utm_c
ampaign=sustentabilidade> Acesso em: 13 de set. de 2015.
___________. Natura está pela 7ª vez entre as empresas mais sustentáveis do
mundo. 2016(a). [Internet]. Disponível em: <http://www.natura.com.br/e/natura-
esta-pela-7a-vez-entre-as-empresas-mais-sustentaveis-do-mundo> Acesso em: 01 de
mar. de 2016.
___________. Revista Natura. 2016(b). [Internet]. Disponível em:
<http://www.revistanatura.com.br/revista/2016/4> Acesso em: 01 de mar. de 2016.
___________. “Chame Que Vem”. 2016(c). [Internet]. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=fEtMA5GxC3k> Acesso em: 01 de mar. de 2016.
___________. A Natura: uma das 10 empresas mais inovadoras do mundo. 2016(d).
[Internet]. Disponível em: <http://www.natura.com.br/a-natura/sobre-a-natura>
Acesso em: 01 de mar. de 2016.

207
NELKIN, D. Perspectivas sobre la Evolución de los Estudios de la Ciencia. In:
ARONOWITZ, S.; MARTINSONS, B.; MENSER, M. (Orgs.). Tecnología y Cibercultura – La
Interrelación entre Cultura, Tecnología y Ciencia. Barcelona: Paidós, 1998.
___________.; LINDEE, M. S. The DNA Mystique: the gene as a cultural icon. New
York: W. H. Freeman and Company, 1995.
OLIVEIRA, W. J. F. Gênese e Redefinições do Militantismo Ambientalista no Brasil.
Dados Rev. de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, RJ: 2008(a), vol. 51, n. 3, pp. 751-777.
___________. Manifestações, protestos e defesa das causas ambientais no Rio
Grande do Sul. XXVI Reunião Brasileira de Antropologia: desigualdade na diversidade.
GT 10: Antropologia, Engajamento Militante e Participação Política. 01-04 de jun. de
2008(b).
PIRES, S. O Gênero na Escola: representações imagéticas nos livros didáticos. In:
SILVEIRA, R. M. H. (Org.). Estudos Culturais para Professor@s. Canoas: Ed. da
Universidade/ULBRA, 2008.
PORTILHO, F. Sustentabilidade Ambiental, Consumo e Cidadania. 2 ed. São Paulo:
Cortez, 2010.
POSEY, D. A. Interpretando e Utilizando a “Realidade” dos Conceitos Indígenas: o que é
preciso aprender dos nativos? In: DIEGUES, A. C.; MOREIRA, A. C. C. (Orgs.). Espaços e
Recursos Naturais de Uso Comum. São Paulo: Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre
Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras, USP, 2001.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Política Nacional de Educação Ambiental. Lei No 9.795,
de 27 de abril de 1999. [Internet]. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9795.htm> Acesso em: 05 de mar. de
2016.
REPÓRTER CBN. Pequim entra em alerta vermelho por causa do alto indíce de
poluição.
2015.
[Internet].
Disponível
em:
<cbn.globoradio.globo.com/editoriais/reporter-cbn/2015...> Acesso em: 19 de dez. de
2015.
RIBEIRO, G. L. Ambientalismo e Desenvolvimento Sustentado. Nova Ideologia/Utopia
do Desenvolvimento. Série Antropologia, n.123. Departamento de Antropologia/UnB,
1992.
RIPOLL, D. Nossos Alunos Estão Vendo Muita TV? A formação de professores de
ciências e a “bioforia” midiática das células-tronco. Currículo sem Fronteiras. v.12,
pp.423-436, mai./ago. 2012.

208
___________. A Classificação dos Seres Vivos e os Estudos Culturais: uma articulação
possível na sala de aula. In: SILVEIRA, R. M. H. (Org.). Estudos Culturais para
Professor@s. Canoas: Ed. da Universidade/ULBRA, 2008.
___________. Corpo, Genética e Poder: notas sobre o filme Gattaca. In: WORTMANN,
M. L. C. et al. (Orgs.). Ensaios em Estudos Culturais, Educação e Ciência – A Produção
Cultural do Corpo, da Natureza, da Ciência e da Tecnologia: instâncias e práticas
contemporâneas. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 2007, pp.115-130.
___________. “Não é Ficção Científica, é Ciência”: a genética e a biotecnologia em
revista. Dissertação [Mestrado em Educação]. Porto Alegre: Ed. da
Universidade/UFRGS, 2001.
ROCHA, R. M.; CASTRO, G. G. S. Cultura da Mídia, Cultura do Consumo: imagem e
espetáculo no discurso pós-moderno. LOGOS 30. Rio de Janeiro, ano 16, n.30, 2009,
pp.48-59.
ROSE, G. Visual Methodologies: an introduction to the interpretation of visual
materials. London and New York: Sage, 2007.
ROSE, N. The Politics of Life Itself: biomedicine, power, subjectivity in the twenty-first
century. Princeton: Princeton University Press, 2007.
SADAVA, D. et al. Vida: a ciência da biologia. BONAN, C. D., et al. (Trad.). v2. 8ed. Porto
Alegre: Artmed, 2009.
SAMPAIO, S. M. V. “Uma Floresta Tocada apenas por Homens Puros” – Do que
aprendemos com os discursos contemporâneos sobre a Amazônia. Tese [Doutorado
em Educação]. Porto Alegre, RS: Faculdade de Educação/UFRGS, 2012.
SANTOS, L. G. A Encruzilhada da Política Ambiental Brasileira. In: D’INCAO, M. A.;
SILVEIRA, I. M. (Orgs.). A Amazônia e a Crise da Modernização. Belém: Museu
Paraense Emilio Goeldi, 1994.
SANTOS, L. H. S. Pedagogias do Corpo: representação, identidade em instâncias de
produção. In: SILVA, L. H. (Org.). Século XXI: Qual conhecimento? Qual currículo?
Petrópolis: Vozes, 1999, pp.194-212.
___________. Um Olhar Caleidoscópico sobre as Representações de Corpo.
Dissertação (Mestrado em Educação). Porto Alegre: Ed. Da Universidade/UFRGS, 1998.
SARAIVA, K. A Fabricação dos Corpos nos Chats. In: WORTMANN, M. L. C. et al. (Orgs.).
Ensaios em Estudos Culturais, Educação e Ciência – A Produção Cultural do Corpo, da
Natureza, da Ciência e da Tecnologia: instâncias e práticas contemporâneas. Porto
Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 2007, pp.53-76.

209
SCHWANTES, L. Interatividade: uma “melhor” estratégia para ensinar nos museus de
ciências? In: WORTMANN, M. L. C. et al. (Orgs.). Ensaios em Estudos Culturais,
Educação e Ciência – A Produção Cultural do Corpo, da Natureza, da Ciência e da
Tecnologia: instâncias e práticas contemporâneas. Porto Alegre: Ed. da Universidade /
UFRGS, 2007, pp.313-329.
SENADO FEDERAL. Conferência Rio-92 sobre o Meio Ambiente do Planeta:
desenvolvimento sustentável dos países. 2016. [Internet]. Disponível em:
<http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/conferencia-
rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-
paises.aspx> Acesso em: 10 de mar. de 2016.
SCOTTO, G.; CARVALHO, I. C. M.; GUIMARÃES, L. B. Desenvolvimento Sustentável.
Petrópolis: Vozes, 2007.
SERRES, M. O Contrato Natural. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991.
SILVA, C. O.; SUSIN, L. Discursos Científicos e Midiáticos em Funcionamento na Sala de
Aula. In: SANTOS, L. H. S. et al. (Orgs.). Formação de Professores/as em um Mundo em
Transformação. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2014, 248p.
SILVA, T. T. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo. 3ed.
Belo Horizonte: Autêntica, 2013, 156p.
___________. O Currículo como Fetiche: a poética e a política do texto curricular. 1ed.
4reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2010, 120p.
SMITH, N. The Production of Nature. In: ROBERTSON, G.; MASH, M.; TICKNER, L.; BIRD,
J.; CURTIS, B.; PUTNAM, T. (Eds.). Nature, Science, Culture. London/New York:
Routledge, 1996.
SMITH, P. The Political Responsability of the Teaching of Literatures. In: MYRSIADES, K.;
MYRSIADES, L. S. (Eds.). Margins in the Classroom. Minneapolis, University of
Minnesota Press, 1994, pp. 64-73.
SOLOMON, M. R. O Comportamento do Consumidor: comprando, possuindo e sendo.
FARIA, L. C. Q. (Trad.). FARIAS, S. (Rev. Téc.). 9ed. Porto Alegre: Bookman, 2011, 680p.
SOUSA SANTOS, B. Um Discurso sobre as Ciências. 8ed. Porto: Edições Afrontamento,
1996.
___________. Introdução a uma Ciência Pós-Moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1989.
SOUZA, N. G. S. “Fases da Vida”: discursos biológicos, religiosos, midiáticos. In:
WORTMANN, M. L. C., et al. (Orgs.). Ensaios em Estudos Culturais, Educação e Ciência
– A Produção Cultural do Corpo, da Natureza, da Ciência e da Tecnologia: instâncias e
práticas contemporâneas. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 2007, pp.19-33.

210
___________. Que Corpo é esse? O corpo na família, mídia, escola, saúde... Tese
[Doutorado em Bioquímica]. Porto Alegre: Instituto de Ciências Básicas da
Saúde/UFRGS, 2001.
___________. Concepções sobre o Processo Digestivo Humano: uma avaliação das
diferentes compreensões percebidas em alunos do Segundo Grau e Cursos de Ciências
Biológicas, a partir de uma revisão histórica. Dissertação [Mestrado em Bioquímica].
Porto Alegre: Instituto de Ciências Básicas da Saúde/UFRGS, 1996.
STEIL, C. A.; CARVALHO, I. C. M.; PASTORI, E. O. Educação Ambiental no Rincão Gaia:
pelas trilhas da saúde e da religiosidade numa paisagem ecológica. Educação. Porto
Alegre, v.33, n.1, 2010, pp.54-64.
STEINBERG, S. Kindercultura: a construção da infância pelas grandes corporações. In:
SILVA, L. H. (Org.). Identidade Social e a Construção do Conhecimento. Porto Alegre:
Secretaria Municipal de Porto Alegre, 1997, pp.98-145.
SUSIN, L.; SANTOS, L. H. S. Apresentação. In: SANTOS, L. H. S. et al. (Orgs.). Formação
de Professores/as em um Mundo em Transformação. Santa Cruz do Sul: EDUNISC,
2014, 248p.
SWYNGEDOUW, E. ¡La Naturaleza no Existe! La sostenibilidad como síntoma de una
planificación despolitizada. Urban, 2011, pp.41-66.
___________. The City as a Hibrid – on nature, society and cyborg urbanization.
Capitalism, Nature, Socialism, n.7, v.25, 1996, pp.65-80.
THOMAS, K. O Homem e o Mundo Natural: mudanças de atitude em relação às
plantas e aos animais. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
TRIP ADVISOR. O que fazer em Porto Alegre, RS. 2016. [Internet]. Disponível em:
<https://www.tripadvisor.com.br/Attractions-g303546-Activities-
Porto_Alegre_State_of_Rio_Grande_do_Sul.html> Acesso em: 05 de mar. de 2016.
UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. Declaration of the United Nations
Conference on the Human Environment. 1972. [Internet]. Disponível em:
<http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleI
D=1503&l=en> Acesso em: 05 de mar. de 2016.
VEIGA-NETO, A. Michel Foucault e os Estudos Culturais. In: COSTA, M. V. (Org.).
Estudos Culturais em Educação: mídia, arquitetura, brinquedo, biologia, literatura,
cinema... Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 2000(b).
___________. Michel Foucault e a Educação: há algo de novo sob o sol? In: Crítica Pós-
Estruturalista e Educação. VEIGA-NETO, A. (Org.). Porto Alegre: Sulina, 1995.

211
___________. Ciência, Ética e Educação Ambiental em um Cenário Pós-Moderno.
Educação & Realidade. Porto Alegre, v.19, n.2, jul/dez 1994, pp.141-169.
VIVEIROS DE CASTRO, E. Eduardo Viveiros de Castro. SZTUTMAN, R. (Org.). Coleção
Encontros. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2007.
WILLIAMS, R. Keywords. Londres: Fontana, 1988.
WILLIS, S. Cotidiano: para começo de conversa. Rio de Janeiro: Graal, 1997.
WOODWARD, K. Identity and Difference. London: Sage and Open University, 1997.
WORTMANN, M. L. C. A Natureza e a Literatura Infanto-Juvenil. In: WORTMANN, M. L.
C. et al. (Orgs). Ensaios em Estudos Culturais, Educação e Ciência – A Produção
Cultural do Corpo, da Natureza, da Ciência e da Tecnologia: instâncias e práticas
contemporâneas. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 2007, pp.187-204.
___________. Algumas considerações sobre a articulação entre estudos culturais e
educação (e sobre algumas outras mais). In: SILVEIRA, R. M. H. (Org.). Cultura, Poder e
Educação: um debate sobre estudos culturais em educação. Canoas: Ed. da
Universidade/ULBRA, 2005.
___________. Investigação e Educação Ambiental: uma abordagem centrada nos
processos de construção cultural da natureza. Educação: Teoria e Prática, v.9, n. 16 e
17, pp.36-42, jan/jun e jul/dez, 2001a, pp.36-42.
___________., et al. Apresentação. In: WORTMANN, M. L. C., et al. (Orgs.). Ensaios em
Estudos Culturais, Educação e Ciência – A Produção Cultural do Corpo, da Natureza, da
Ciência e da Tecnologia: instâncias e práticas contemporâneas. Porto Alegre: Ed. da
Universidade/UFRGS, 2007, pp.7-18.
___________.; VEIGA-NETO, A. Estudos Culturais da Ciência & Educação. Belo
Horizonte: Autêntica, 2001, 136p.
ZAMBONI, L. M. S. Cientistas, Jornalistas e a Divulgação Científica: subjetividade e
heterogeneidade no discurso da divulgação científica. Campinas: Autores Associados,
2001.
