
GILBERTO FIALHO MOREIRA
ASSOCIAÇÃO ENTRE FLORESTA URBANA E INDICADORES DA SAÚDE
HUMANA
Tese apresentada à Universidade Federal de
Viçosa, como parte das exigências do Programa de
Pós-Graduação em Ciência Florestal, para
obtenção do título de Doctor Scientiae.
VIÇOSA
MINAS GERAIS – BRASIL
2018
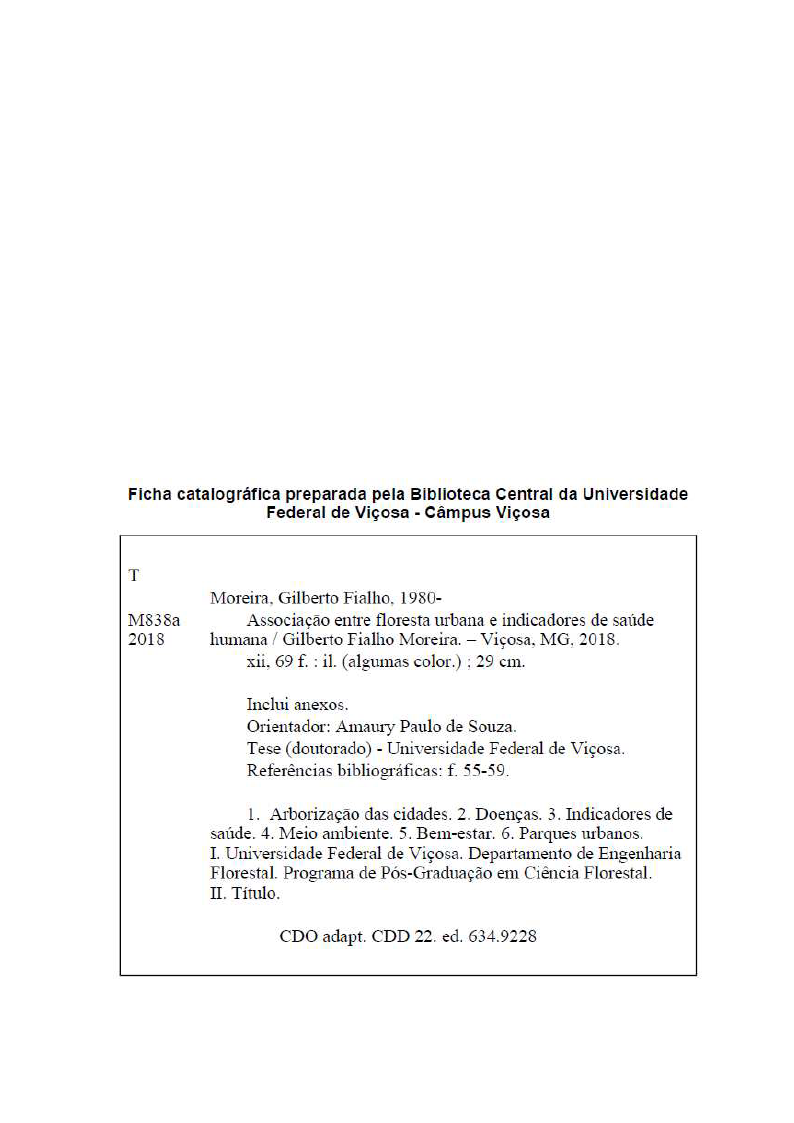
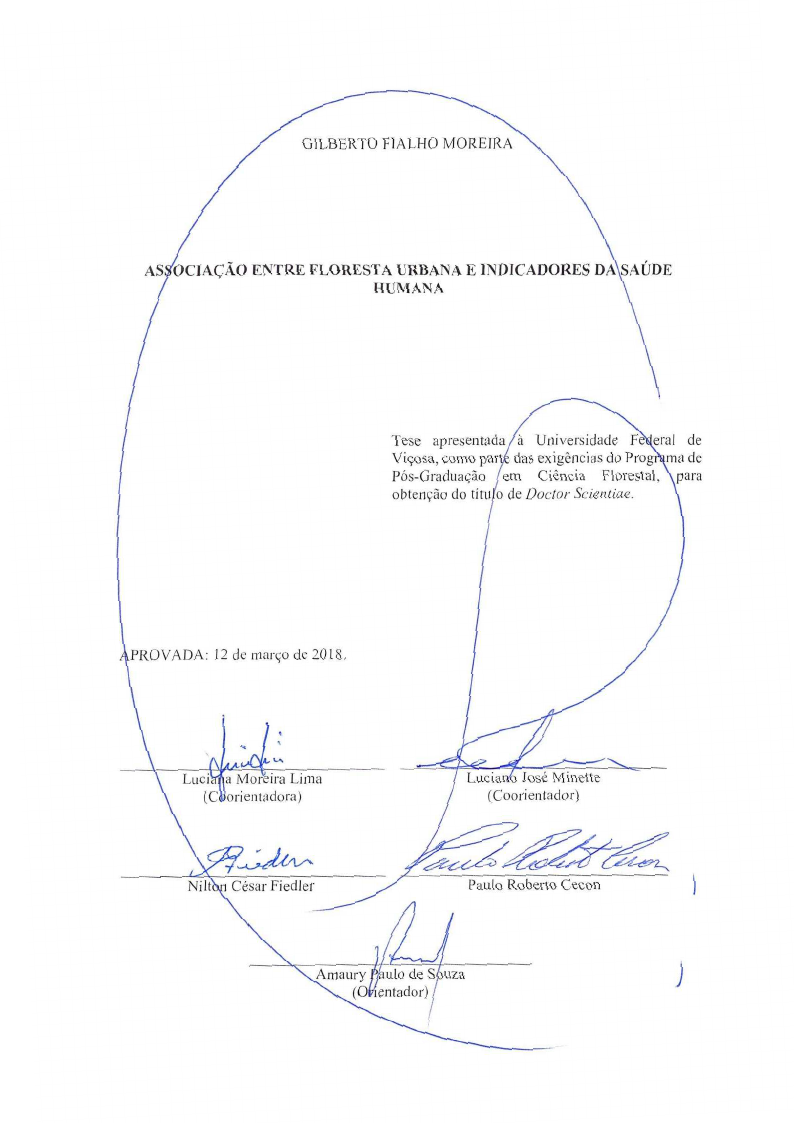

Dedico esta tese e o processo de doutoramento
a todos que, como eu, conciliam trabalho e
estudos e sabem como é árdua esta caminhada.
Àqueles que, por vezes, pensam em desistir ou
pensam que não darão conta em meio a tantas
barreiras e intempéries. A estes, que não se
dão ao luxo de desistirem e conseguem sentir
o doce sabor da vitória.
ii

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original”
[Albert Einstein]
iii

AGRADECIMENTOS
Agradeço primeiramente a Deus, pela vida, e por ter enviado um ser iluminado
para me guiar e me orientar nas horas difíceis e de dúvidas.
Agradecimentos ao meu orientador, professor Amaury Paulo de Souza,
juntamente com sua equipe, professor Luciano José Minette e Márcia Martins de
Oliveira, pela acolhida, confiança e credibilidade. À professora Luciana Moreira Lima,
pela motivação para o desenvolvimento da pesquisa e pelas suas contribuições e
sugestões valiosas, essenciais para o êxito deste trabalho. Aos convidados da banca de
defesa, Professor Paulo Roberto Cecon e Professor Nilton Cesar Fiedler, pelas
contribuições.
Agradeço ao Centro de Estudos e Desenvolvimento Florestal, à Universidade
Federal de Viçosa e o Departamento de Engenharia Florestal pela vivência e
aprendizado; à Assessoria de Comunicação do Sistema Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos e da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, pela
cooperação no processo de implementação da pesquisa; ao Instituto Estadual de
Florestas, principalmente à Diretoria Geral, à Diretoria de Conservação e Recuperação
de Ecossistemas e à Regional Mata, pelo apoio ao longo do processo de doutoramento;
à Gerência de Cadastros Tributários da Secretaria Municipal de Finanças de Belo
Horizonte, pelo fornecimento das ortofotos aerofotogramétricas e à Secretaria Municipal
de Meio Ambiente de Belo Horizonte, pela disponibilização de dados espaciais. Aos
funcionários da Cidade Administrativa de Minas Gerais, que disponibilizaram um pouco
do seu tempo para responder ao questionário desta pesquisa.
Enfim, agradecer a todos que conviveram comigo neste período e que, de certa
maneira, fizeram parte desta história e onde o convívio me fez crescer. Àqueles que me
ajudaram nesta caminhada, me orientando, me auxiliando e colaborando para o
desenvolvimento deste trabalho, o meu muito obrigado pelo tempo dispensado, pelo
incentivo e carinho.
iv

BIOGRAFIA
GILBERTO FIALHO MOREIRA, filho de Iraci Maria Moreira e Sebastião Pinto
Moreira (in memoriam), nasceu em Viçosa/MG, em 04 de fevereiro de 1980, mas viveu
até os seus 15 anos na zona rural de Pedra do Anta/MG, passando posteriormente a morar
em Viçosa, onde reside desde então.
Em 2001 iniciou sua graduação em Geografia pela Universidade Federal de
Viçosa (UFV), concluindo a Licenciatura e Bacharelado em 2005. Logo em seguida
(2006), iniciou o mestrado no Departamento de Solos desta mesma instituição. Antes
mesmo de terminar o seu primeiro período do mestrado, foi chamado no concurso que
tinha feito antes de se formar, para o Cargo de Analista Ambiental do Instituto Estadual
de Florestas de Minas Gerais (IEF), onde foi designado para trabalhar no Centro de
Estudos e Desenvolvimento Florestal (CEDEF), setor pertencente a esta instituição em
parceria com a UFV, e onde veio a se tornar coordenador em 2009, permanecendo até
os dias atuais.
Em 2014, ingressou no Programa de Pós-Graduação, em nível de Doutorado, em
Ciência Florestal, com área de concentração em Meio Ambiente e Conservação da
Natureza, oferecido pelo Departamento de Engenharia Florestal (DEF) da UFV em
Viçosa/MG, submetendo-se à defesa da sua tese em março de 2018 para obtenção do
título de Doctor Scientiae.
v

SUMÁRIO
LISTA DE FIGURAS...................................................................................................... vii
LISTA DE TABELAS..................................................................................................... viii
LISTA DE TERMOS, SÍMBOLOS, NOMENCLATURAS E ABREVIAÇÕES............ ix
RESUMO......................................................................................................................... xi
ABSTRACT..................................................................................................................... xii
1. INTRODUÇÃO........................................................................................................ 1
2. OBJETIVOS.............................................................................................................. 3
2.1. Objetivo geral................................................................................................ 3
2.2. Objetivos específicos.................................................................................... 3
3. REVISÃO DE LITERATURA.................................................................................. 4
3.1. Floresta urbana: conceitos e funções.............................................................. 4
3.2. Floresta urbana e saúde humana..................................................................... 9
4. MATERIAIS E MÉTODOS...................................................................................... 15
4.1. Ética.............................................................................................................. 15
4.2. Área de estudo............................................................................................... 15
4.3. Levantamento dos dados gerais, hábitos de vida e indicadores de saúde....... 17
4.4. Levantamento dos dados ambientais............................................................. 18
4.4.1. Mapeamento da floresta urbana no entorno da residência dos participantes.. 18
4.4.2. Levantamento do número de árvores no entorno da residência dos
participantes.................................................................................................. 21
4.4.3. Obtenção da distância entre a residência dos participantes a um parque
urbano mais próximo aberto à visitação........................................................ 22
4.5. Preparação e processamento dos dados para análise...................................... 22
4.6. Análise estatística.......................................................................................... 23
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES............................................................................. 25
5.1. Caracterização dos indivíduos estudados, dos dados ambientais e dos
indicadores de saúde..................................................................................... 25
5.2. Manifestações sensoriais e sentimentais frente aos diferentes ambientes...... 28
5.3. Análise da correlação entre os dados ambientais e os indicadores de saúde... 30
5.3.1. Análise da correlação entre a floresta urbana encontrada no entorno da
residência dos participantes e os indicadores de saúde.................................. 31
5.3.2. Análise da correlação entre o número de árvores encontradas no entorno
da residência dos participantes e os indicadores de saúde............................. 42
5.3.3. Análise da correlação entre a distância da residência dos participantes a um
parque urbano mais próximo aberto à visitação e os indicadores de saúde.... 47
6. CONCLUSÕES......................................................................................................... 54
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................. 55
ANEXOS......................................................................................................................... 60
vi

LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Localização da área de estudo...................................................................... 16
Figura 2.
Vista parcial da superfície de Belo Horizonte sob as imagens aéreas
utilizadas para o mapeamento da floresta urbana no entorno da residência
de um participante do Bairro Pampulha (A) e outro do Bairro Centro (B).... 20
Figura 3.
Floresta urbana mapeada no entorno da residência de um participante do
Bairro Pampulha (A) e outro do Bairro Centro (B), a partir das imagens
aéreas mostradas nas Figuras 1A e 1B, respectivamente.............................. 20
Figura 4. Sensações e sentimentos expressados pelos participantes para ambientes
florestados................................................................................................... 29
Figura 5. Sensações e sentimentos espressados pelos participantes para os demais
ambientes..................................................................................................... 29
Figura 6.
Frequência relativa da ocorrência de diagnóstico de ansiedade em relação
à área de floresta urbana encontrada na área circular com raio de 0,5 km
(A) e de 1 km (B), no entorno da residência dos participantes...................... 37
Figura 7.
Frequência relativa da ocorrência de diagnóstico de depressão em relação
à área de floresta urbana encontrada na área circular com raio de 0,5 km
(A) e de 1 km (B), no entorno da residência dos participantes...................... 37
Figura 8.
Frequência relativa da ocorrência de diagnóstico de enxaqueca em relação
à área de floresta urbana encontrada na área circular com raio de 0,5 km
(A) e de 1 km (B), no entorno da residência dos participantes...................... 38
Figura 9.
Frequência relativa da ocorrência de diagnóstico de hipertensão em
relação à área de floresta urbana encontrada na área circular com raio de
0,5 km (A) e de 1 km (B), no entorno da residência dos participantes.......... 38
Figura 10. Frequência relativa da ocorrência de diagnóstico de obesidade em relação
à área de floresta urbana encontrada na área circular com raio de 0,5 km
(A) e de 1 km (B), no entorno da residência dos participantes...................... 38
Figura 11. Frequência relativa da ocorrência de ansiedade (A) e de hipertensão (B)
em relação ao número de árvores encontradas na área circular com raio de
1 km no entorno da residência dos participantes.......................................... 46
Figura 12. Frequência relativa da ocorrência de diagnóstico de depressão em relação
à distância da residência dos participantes a um parque urbano mais
próximo aberto à visitação........................................................................... 50
vii

LISTA DE TABELAS
Tabela 1. Caracterização dos indivíduos estudados.................................................... 25
Tabela 2.
Número de indivíduos estudados nas correlações entre os dados
ambientais e os indicadores de saúde obtidos por exames clínicos
laboratoriais................................................................................................ 28
Tabela 3.
Estimativas dos coeficientes de Correlação de Pearson e dos coeficientes
de Correlação de Spearman entre a floresta urbana encontrada na área
circular com raio de meio quilômetro (0,5 km) no entorno da residência
dos participantes e os indicadores de saúde................................................. 33
Tabela 4.
Estimativas dos coeficientes de Correlação de Pearson e dos coeficientes
de Correlação de Spearman entre a floresta urbana encontrada na área
circular com raio de um quilômetro (1 km) no entorno da residência dos
participantes e os indicadores de saúde....................................................... 34
Tabela 5.
Número de indivíduos e Frequência Relativa das ocorrências de doenças
em relação à área de floresta urbana encontrada na área circular com raio
de meio quilômetro (0,5 km) no entorno da residência dos
participantes............................................................................................... 35
Tabela 6.
Número de indivíduos e Frequência Relativa das ocorrências de doenças
em relação à área de floresta urbana encontrada na área circular com raio
de um quilômetro (1 km) no entorno da residência dos
participantes............................................................................................... 36
Tabela 7.
Estimativas dos coeficientes de Correlação de Pearson e dos coeficientes
de Correlação de Spearman entre o número de árvores encontradas na
área circular com raio de meio quilômetro no entorno da residência dos
participantes e os indicadores de saúde....................................................... 43
Tabela 8.
Número de indivíduos e Frequência Relativa das ocorrências de doenças
em relação ao número de árvores encontradas na área circular com raio
de um quilômetro (1 km) no entorno da residência dos
participantes............................................................................................... 45
Tabela 9.
Estimativas dos coeficientes de Correlação de Pearson e dos coeficientes
de Correlação de Spearman entre a distância da residência dos
participantes a um parque urbano mais próximo aberto à visitação e os
indicadores
de
saúde........................................................................................................... 48
Tabela 10. Número de indivíduos e Frequência Relativa das ocorrências de doenças
em relação à distância da residência dos participantes a um parque urbano
mais próximo aberto à visitação.................................................................. 49
viii

LISTA DE TERMOS, SÍMBOLOS, NOMENCLATURAS E ABREVIAÇÕES
%...........................
µ gdL-1.......................
A priori.....................
ArcGis.......................
AVC.........................
BH............................
Buffer........................
CAMG......................
CEDEF..................
CEP...........................
CEP/UFV..................
dBA...........................
DEF..........................
DPOC.......................
Drive.....................
Excel.........................
fr...............................
Google Earth............
Google Forms...........
Google......................
hab.km-2....................
HDL.........................
IAV...........................
IEF...........................
Imagem Aérea..........
IMC..........................
Índice Kappa............
Kgm-2.......................
km............................
km2...........................
kml...........................
Porcentagem – uma fração de 100
Micrograma por decilitro
Que resulta de raciocínio cujas definições foram dadas inicialmente
Nome de Software de Sistema de Informações Geográficas
utilizados para geoprocessamentos de licença paga
Acidente Vascular Cerebral
Belo Horizonte
Zona ou área definida e destinada para algum fim
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais
Centro de Estudos e Desenvolvimento Florestal
Código de Endereçamento Postal
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Viçosa
Decibéis – expressão da intensidade relativa dos sons no ar
Departamento de Engenharia Florestal
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
Unidade ou local de armazenamento de dados digitais
Nome pelo qual é conhecido o software desenvolvido pela empresa
Microsoft usado para realização de operações financeiras e
contabilísticas por meio de planilhas eletrônicas
Frequência relativa
Aplicativo de computador desenvolvido pela empresa Google com
função de apresentar mapas e imagens tridimensionais
Serviço Oferecido pela empresa Google a usuários para facilitar a
criação de formulários e questionários eletrônicos diversos
Empresa multinacional americana de serviços online e software
Habitantes por quilômetro quadrado
High Density Lipoproteins (Lipoproteínas de Alta Densidade)
Índices de Áreas Verdes
Instituto estadual de Florestas
Imagem da superfície terrestre registrada por meio de uma câmera
fotográfica a bordo de aeronaves ou outro objeto que plaina ou voa
Índice de Massa Corpórea
Coeficiente gerado através de um método estatístico para avaliar o
nível de concordância entre dois conjuntos de dados
Quilograma por metro quadrado
Quilômetro
Quilômetro quadrado
Formato de extensão de arquivos espaciais do Google Earth
ix

Login........................
m2hab.-1....................
Matriz Confusão....
MAXVER................
MG............................
mgdL-1......................
MMA........................
mmHg.......................
n................................
Outline......................
Pixels........................
PLAMBEL..............
pr................................
Pressão Alta...............
QGIS..........................
r..................................
SAEG.........................
SBAU.........................
Shape.........................
Shinrin-yoku..............
SIG............................
Software....................
SUS...........................
TCLE.........................
Teste Qui-quadrado...
UNESCO..................
Upload......................
ρ................................
Termo em inglês usado no âmbito da informática com o significado
de ter acesso a algum serviço fornecido por um sistema informático
Metros quadrados por habitante
Ferramenta padrão para avaliação de modelos estatísticos
Algoritmo de Máxima Verossimilhança
Minas Gerais
Miligrama por decilitro
Ministério do Meio Ambiente
Milímetros de mercúrio – Unidade de medida convencional para
medir pressão
Número de indivíduos
Palavra em inglês que significa esboço, delineamento, a linha limite
Palavra oriunda da junção das palavras inglesas Picture e elemento
para designar o menor elemento de imagem em um dispositivo de
exibição
Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte
Nível Crítico ou p-valor
Hipertensão arterial sistêmica
Nome de Software de Sistema de Informações Geográficas
utilizados para geoprocessamentos de licença gratuita
Coeficiente de correlação de Pearson
Sistema para Análises Estatísticas
Sociedade Brasileira de Arborização Urbana
Formato de extensão de arquivos espaciais nativos de softwares de
Sistema de Informações Geográficas utilizados para
geoprocessamentos
Termo definido como contato com a atmosfera da floresta e
conhecida também como “banho de floresta”
Sistemas de Informações Geográficas
Programas de computador
Sistema Único de Saúde
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Teste de hipóteses que se destina a encontrar um valor da dispersão
para duas variáveis nominais, avaliando a associação existente entre
variáveis qualitativas
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura
Termo da língua inglesa com significativo referente a ação de
enviar dados de um computador ou servidor remoto para outro
Coeficiente de Correlação de Spearman
x

RESUMO
MOREIRA, Gilberto Fialho, D.Sc., Universidade Federal de Viçosa, março de 2018.
Associação entre floresta urbana e indicadores da saúde humana. Orientador: Amaury
Paulo de Souza. Coorientadores: Luciana Moreira Lima e Luciano José Minette.
A vida agitada e o estresse das cidades contemporâneas são as principais causas das chamadas
“doenças modernas”. Em contrapartida, viver em ambientes naturais, onde se pode ter um
conforto térmico devido ao sombreamento das árvores, somado à beleza cênica do local e outros
benefícios oferecidos pela natureza, proporciona ao ser humano bem-estar e saúde. Neste
sentido, este trabalho investigou a relação entre os indicadores de saúde das pessoas e a floresta
urbana do entorno de onde estas vivem. Foi utilizada uma metodologia diferenciada em relação
a outros estudos similares (pois foram estudados 26 indicadores de saúde), dividida em
diagnósticos e resultados de exames laboratoriais, muito dos quais geralmente não são
contemplados nesses estudos. Além disso, as informações fornecidas pelos participantes
fizeram parte da realidade de suas vidas e não apenas observações realizadas
momentaneamente. Nesse sentido, foi aplicado um formulário eletrônico para os funcionários
da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves. Logo, considerou-se apenas a área
urbana de Belo Horizonte para realização das análises. Os dados foram analisados por meio da
Estatística Descritiva e correlações, a partir da estimativa do coeficiente de Correlação de
Pearson, Correlação de Spearman e Frequência Relativa. Os indicadores de saúde que
apresentaram maiores associações e consequente diminuição da sua incidência em relação ao
aumento da floresta urbana, principalmente aquela encontrada mais próxima à residência dos
participantes, foram: ansiedade, depressão, enxaqueca e hipertensão. Os respectivos
Coeficientes de correlação linear simples foram de -0,0457, -0,0428, -0,0137 e -0,0963 em
relação à floresta encontrada na área circular de raio de 1 km e de -0,0214, -0,0654, -0,0989 e
-0,0735 para raio de 0,5 km. Ansiedade e hipertensão também obtiveram comportamento
similar em relação ao número de árvores. Em contrapartida, os casos de asma e alergias
aumentaram concomitantemente em relação ao número de árvores e à área de floresta urbana,
bem como os diagnósticos de depressão à medida que as pessoas moravam mais perto de um
parque urbano aberto à visitação. A floresta urbana, a qual inclui todos os tipos de vegetação
das cidades, foi o dado ambiental que mais apresentou correlação com os indicadores de saúde
estudados, contribuindo principalmente na diminuição da ocorrência de doenças categorizados
como doenças psicológicas ou originadas por processos psicológicos ou distúrbios mentais.
xi

ABSTRACT
MOREIRA, Gilberto Fialho, D.Sc., Universidade Federal de Viçosa, March, 2018. Association
between urban forest and human health indicators. Advisor: Amaury Paulo de Souza. Co-
advisors: Luciana Moreira Lima and Luciano José Minette.
The hectic life and stress of contemporary cities are the main causes of so-called "modern
diseases". In contrast, living in natural environments, where you can have thermal comfort due
to the shade of the trees, added to the scenic beauty of the place and other benefits offered by
nature provides the human well-being and health. In this regard, this work investigated the
relationship between people's health indicators and the urban forest surrounded the environment
where they live. A differentiated methodology was used in relation to other similar studies
(since 26 health indicators were studied), divided into diagnoses and results of laboratory tests,
many of which are generally not covered in these studies. In addition, the information provided
by the participants was part of the reality of their lives and not just observations made
momentarily. In this sense, an electronic form was applied to the employees in the
Administrative City President Tancredo Neves. Therefore, only the urban area of Belo
Horizonte was considered for carrying out the analyzes. The data were analyzed through
Descriptive Statistics and correlations, based on the Pearson Correlation coefficient, Spearman
Correlation and Relative Frequency. The health indicators that presented the greatest
associations and consequent decrease in their incidence in relation to the urban forest increase,
especially the ones found closer to the residence of the participants, were: anxiety, depression,
migraine and hypertension. The respective coefficients of simple linear correlation were -
0.0457, -0.0428, -0.0137 and -0.0963 in relation to the forest found in the circular area of 1 km
radius, and -0.0214, -0, 0654, -0.0989 and -0.0735 for a 0.5 km radius. Anxiety and
hypertension also obtained similar behavior in relation to the number of trees. In contrast, cases
of asthma and allergies increased concomitantly with regard to the number of trees and the area
of urban forest, as well as the diagnoses of depression as people lived closer to an urban park
open to visitation. The urban forest, which includes all types of vegetation in cities, was the
environmental data that most correlated with the health indicators studied, contributing mainly
to the reduction of the diseases occurrence categorized as psychological diseases or caused by
psychological processes or mental disorders.
xii

1. INTRODUÇÃO
Toda relação homem-natureza, desde os primórdios, está intrinsicamente ligada como
um sistema único, onde é necessária a busca constante por equilíbrio. Não é de hoje que as
inter-relações entre população, recursos naturais e desenvolvimento têm sido objeto de
preocupação social e estudos científicos. Nesta linha, a exploração da interface entre saúde e
ambiente compreende a instituição de uma política que expresse a multiplicidade de forças
interativas geradas em torno da promoção do bem-estar e da saúde humana.
Cada vez mais a população que vive principalmente em cidades e grandes centros
urbanos vêm se apresentando com maiores índices de ocorrências das chamadas “doenças
modernas”. Síndrome do pânico, depressão, ansiedade, estresse, doenças pulmonares e
auditivas, são algumas destas doenças, que podem afetar qualquer faixa etária, raça ou classe
social. Pode-se dizer que o aumento da urbanização nos últimos anos tem desencadeado maiores
problemas ambientais, como poluição do ar e da água e a diminuição das áreas verdes, por
exemplo. Estes problemas, por sua vez, tendem a se intensificar já que o estilo da vida urbana
está cada vez mais prevalecendo nas sociedades atuais.
Em contrapartida, viver em ambientes naturais, onde se pode ter um conforto térmico
devido ao sombreamento das árvores, sentir cheiros e ouvir sons típicos destes ambientes,
somado à beleza cênica do local e outros benefícios oferecidos pela natureza, proporciona um
ambiente saudável ao homem, lhe atribuindo bem-estar, qualidade de vida e de saúde. Nesse
sentido, investimentos em conservação, recuperação, implantação de áreas protegidas e
arborização urbana podem diminuir consideravelmente os gastos com doenças e com a saúde
pública, principalmente com as doenças oportunistas.
Deve-se salientar que mediante as grandes injustiças ambientais que podem ser
encontradas dentro das cidades, sem contar que as questões ambientais estão cada vez mais em
pauta, principalmente no que se refere ao planejamento urbano, não há nada mais pertinente
que alçar, especificamente, os estudos da relação e importância da floresta urbana sobre a saúde
humana, em meio às diversidades de situações que as condições urbanas se apresentam no
espaço. Para tanto, foi utilizada uma metodologia diferenciada em relação a outros estudos
similares, pois foram estudados 26 indicadores de saúde, divididos em diagnósticos e resultados
de exames laboratoriais, muito dos quais não foram abordados pelos estudos anteriores. Além
disso, as informações fornecidas pelos participantes fizeram parte da realidade de suas vidas e
não apenas observações realizadas momentaneamente.
1

Espera-se, com este trabalho, mostrar a importância das florestas urbanas e,
consequentemente, as áreas naturais para a saúde das pessoas, principalmente as que vivem nas
cidades e grandes centros urbanos. Também, este estudo almeja justificar, mesmo que
parcialmente, os investimentos na criação e manutenção dessas áreas e, consequentemente,
diminuir os gastos e investimentos com a saúde desta população. Além disso, acredita-se em
contribuições para o desenvolvimento do campo da ciência dedicada à medicina natural
associada à floresta, o que pode ser utilizado como uma estratégia para a medicina preventiva,
pois parece certo que qualquer dano causado ao meio ambiente causa, consequentemente,
prejuízos à saúde pública.
2

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo geral
Investigar a relação entre indicadores de saúde das pessoas e a floresta urbana do
entorno de onde estas vivem.
2.2. Objetivos específicos
a) Avaliar e verificar a associação entre a área de floresta urbana encontrada no entorno da
residência dos participantes com os indicadores de saúde;
b) Avaliar e verificar a associação entre o número de árvores encontradas no entorno da
residência dos participantes com os indicadores de saúde;
c) Avaliar e verificar a associação entre a distância da residência dos participantes a um
parque urbano com os indicadores de saúde;
3

3. REVISÃO DE LITERATURA
3.1. Floresta urbana: conceitos e funções
Floresta Urbana, termo considerado por Biondi (2015) e adotado neste trabalho, refere-
se à vegetação existente nas cidades, a qual podem se apresentar em diferentes formas, tais
como: árvores, arbustos, trepadeiras, herbáceas, plantas de forração, plantas aquáticas, dentre
outras. Segundo Crise e colaboradores (2016), o termo mais utilizado pela comunidade
internacional para designar a cobertura de vegetação nas cidades é urban forest, termo criado
por Eric Jorgensen no Canadá em 1970, que, em português, significa floresta urbana. No
entanto, Ostoić et al. (2018) afirmam que, em geral, o conceito de floresta urbana surgiu na
Europa no início dos anos 80, primeiro no Reino Unido, seguida pela Irlanda e Holanda, e mais
tarde pelos países nórdicos, mas que levou até o início dos anos 90 antes que o conceito
encontrasse aceitação mais ampla. É possível notar divergências conceituais entre aqueles que
estudam o tema, onde aparecem termos como áreas verdes, arborização urbana, espaços livres
e áreas de lazer sendo utilizados indistintamente como sinônimos para referência à presença de
áreas verdes, quando na realidade não são necessariamente (BARGOS e MATIAS, 2011). Estes
autores afirmam que o termo áreas verdes é o mais utilizado e concluem que o conceito deste
termo deva ser considerado como espaço livre urbano composta por vegetação arbórea e
arbustiva, com solo sem edificações ou coberturas impermeabilizantes em pelo menos 70% da
área, de acesso público ou não, e que exerçam minimamente as suas funções ecológicas,
estéticas e de lazer.
Segundo Colding et al. (2013), o surgimento de espaços verdes urbanos parece
intimamente ligado ao tratamento de crises sociais e à reorganização de cidades. No entanto,
eles desempenham um papel fundamental na transformação das cidades em direção a ambientes
socialmente e ecologicamente mais benignos. Diversos benefícios podem ser associados aos
espaços verdes urbanos, como a redução de custos no manejo de ecossistemas e implantação
de projetos para reconectar habitantes da cidade ao meio ambiente, conforme os autores. No
entanto, a manutenção das florestas urbanas sempre foi justificada pelo seu potencial em
propiciar qualidade ambiental à população e beleza cênica (paisagismo), embora a mesma
apresente variadas funções no meio urbano, tais como: propiciar sombra, purificar o ar, atrair
aves, diminuir a poluição sonora, constituir fator estético e paisagístico; diminuir o impacto das
chuvas; contribuir para o balanço hídrico; valorizar a qualidade de vida local e economicamente
as propriedades ao entorno, além de ser um fator educacional (Bargos, Matias, 2011). Bargos e
4

Matias (2011) afirmam que muitos autores citam vários benefícios que as florestas urbanas
podem trazer ao convívio nas cidades, tais como: controle da poluição do ar e acústica, aumento
do conforto ambiental, estabilização de superfícies por meio da fixação do solo pelas raízes das
plantas, interceptação das águas da chuva no subsolo reduzindo o escoamento superficial,
abrigo à fauna, equilíbrio do índice de umidade no ar, proteção das nascentes e dos mananciais,
organização e composição de espaços no desenvolvimento das atividades humanas, valorização
visual e ornamental do ambiente, recreação e diversificação da paisagem construída.
Os principais aspectos negativos que influenciam a gestão dos espaços verdes urbanos,
segundo Dorigo et al. (2015), estão relacionados à falta de segurança, limpeza e conservação
dos equipamentos e à estrutura.
Segundo Londe et al. (2014), várias cidades brasileiras vêm apresentando, nas últimas
décadas, um crescimento elevado da sua população urbana e isso demanda muitos
investimentos com a infraestrutura urbana para atender essa população. No entanto, os autores
afirmam que os serviços de saúde, segurança, educação e saneamento se tornam prioridade,
ficando, portanto, a qualidade ambiental relegada ao segundo plano. Londe et al. (2014)
enfatizam a importância de melhorar a qualidade ambiental do espaço urbano para benefícios
na saúde e bem-estar da população, visto que as cidades é o local onde ocorre a produção da
vida e onde são estabelecidas as relações sociais. Eles afirmam, ainda, que a aproximação da
população com a natureza leva ao questionamento de valores e atitudes em relação ao meio
ambiente, mudando as percepções das pessoas, o que pode levá-las a práticas cada vez mais
sustentáveis cotidianamente. Mas, de acordo com Momm-Schult et al. (2013), a implementação
de áreas protegidas nas cidades que contemplem o uso urbano e a preservação de serviços
ecossistêmicos é um tema atual e com grandes desafios, especialmente considerando a
precariedade das regiões metropolitanas brasileiras e o caráter predatório da urbanização,
agravado por um cenário de variabilidade climática com a piora nas condições de
sustentabilidade dos sistemas naturais e das condições de riscos as quais as populações são
expostas.
Segundo Martini et al. (2013), com o crescimento dos centros urbanos há, cada vez
menos, espaços para a criação de áreas verdes. Os autores atribuem isso a competição com os
equipamentos urbanos, que ocupam as áreas outrora verdes ou áreas que teriam potencial para
criação destas áreas. Martini et al. (2014) afirmam ainda que as árvores exercem um papel vital
para o bem-estar e qualidade de vida das comunidades urbanas devido a sua capacidade única
de controlar muitos dos efeitos adversos do meio urbano. Porém, conforme Silva (2009), citado
por Martini et al. (2014), os espaços vegetados das cidades estão atualmente concentrados nas
5

Unidades de Conservação (UC) urbanas. No entanto, Matias et al. (2014) afirmam que alguns
parques da cidade de Belo Horizonte se encontram em condições precárias e em situação de
alta depredação. Uma realidade que, somada a ações que impossibilitam o engajamento do
sujeito no espaço, que desconsidera o lazer como uma ação de desejo e construída pelos sujeitos
ativos, dificultará a criação de identidade e com isso a valorização do lugar. Os autores afirmam
ainda que “a exacerbação da vigilância e da tentativa no enquadramento dos sujeitos nas
políticas e, consequentemente, nas práticas do cotidiano, tem-se mostrado ineficaz enquanto
técnica de controle” (Ibidem, p. 31). Além disso, as desigualdades econômicas também se
fizeram presente quanto à visitação, visto que muitos dos parques de BH são menos
privilegiados, contendo menor índice de segurança, estrutura e suporte, afirmam os autores
supracitados.
Em seus estudos na Espanha, Lópes-Mosquera e colaboradores (2011) investigaram se
o uso da terra em questões relacionadas aos espaços verdes periurbanas modificou a
importância dos valores associadas a ela. Eles concluíram que, quanto maiores os valores
ambientais percebidos e, consequente valoração do espaço, maior será a probabilidade de
implantação de políticas de proteção e conservação ambiental serem mais eficazes. Os autores
apontaram ainda que os usuários do espaço verde refletem seus próprios valores pessoais
através dos benefícios e atributos que percebem nesse tipo de bem. Pois nas áreas que
oportunizam as atividades esportivas e recreativas a melhoria do bem-estar físico e mental e o
aproveitamento da beleza paisagística geram um gozo pessoal e qualidade de vida. Esses
aspectos, afirmam os autores, poderão valer a pena se considerados na gestão do uso da terra
quando pautados na análise de custo-benefício ambiental e na valoração de algumas áreas.
O’Brien et al. (2017) identificaram em seu artigo a importância da infraestrutura urbana
e periurbana para o bem-estar das pessoas em diferentes países europeus que utilizam uma
estrutura cultural de serviços ecossistêmicos desenvolvida em um projeto de Avaliação
Nacional de Ecossistemas do Reino Unido. Os autores afirmam que as infraestruturas verdes
proporcionam benefícios amplos, diversos e plurais no ecossistema cultural.
Morakinyo et al. (2017) realizaram um estudo paramétrico para investigar a quantidade
e a localização de jardins verticais necessárias para resfriar o ar e melhorar o conforto térmico
de áreas com variadas densidades demográficas na cidade de Hong Kong. Este estudo apontou
que 30 a 50% das fachadas no cenário urbano de alta densidade daquela cidade devem ser
esverdeadas para causar potencialmente uma redução de aproximadamente 1º Celsius na
temperatura do ar.
6

Renterghem (2018) afirma que há fortes evidências de que o incômodo por ruídos,
quando se está em casa, por exemplo, diminui muito quando a natureza está presente no painel
da janela. Em sua pesquisa, com base em estimativas quantitativas aproximadas, o autor afirma
que a redução de ruídos poderia chegar a 10 dBA quando se há na vizinhança espaço verdes de
alta qualidade. Além disso, ele afirma que os sons naturais, como canto dos pássaros, por
exemplo, advindos de uma floresta urbana próxima, são relaxantes e apoiam a ação restauradora
da natureza. Botterldooren et al. (2011) afirmam que o tráfego, em muitos países, é o fator que
mais contribui para a geração de ruídos numa área urbana e, portanto, é percebido como um
impacto negativo na satisfação com o bairro. Segundo estes autores, os efeitos negativos dos
ruídos para a saúde são observados em vários estudos e estimulam os sentimentos negativos na
população exposta.
A floresta urbana ajuda a melhorar a qualidade do meio ambiente e a saúde humana
graças à capacidade das plantas de absorverem gases de efeito estufa e removerem quantidades
significativas de poluentes atmosféricos (BARALDI et al., 2018). Baraldi et al. (2018)
avaliaram a capacidade potencial de quinze espécies em mitigar a concentração de dióxido de
carbono e poluentes urbanos e obtiveram resultados que sugeriram a potencial capacidade de
mitigação baseada nas características investigadas dos arbustos e espécies herbáceas era
específica da espécie e o potencial muito baixo de todas elas para formar ozônio indicava sua
adequação para programas de planejamento urbano.
Leite, citado por Souza et al. (1993) afirma que a industrialização provocou o
adensamento dos centros das cidades, principalmente em países subdesenvolvidos e que tais
condições acarretaram deterioração da qualidade de vida das pessoas, principalmente por causa
do aumento da violência, poluição do ar, visual, sonora, congestionamento e por causa da
escassez, cada vez maior, dos espaços verdes. Desta forma, conforme afirma Biondi (2012)
citado por Martini et al. (2013), as áreas urbanas apresentam uma série de efeitos adversos,
representado pela poluição sonora, atmosférica, hídrica e do solo, além de mudanças no clima,
alteração ou desaparecimento de cursos de água, fragmentação e isolamento dos remanescentes
florestais. Leal (2012) afirma que as alterações climáticas são talvez as mais significativas no
que tange impactos no ambiente urbano.
Os telhados verdes recuperam espaços verdes em áreas urbanas e beneficiam o público,
os agricultores e a vida selvagem, oferecendo muitas vantagens ambientais, ecológicas e
econômicas, pois eles reduzem o escoamento das águas pluviais, mitigam os efeitos das ilhas
de calor urbanas, absorvem poeira e poluição, retêm dióxido de carbono, produzem oxigênio,
criam espaços para a produção de alimentos e oferecem habitat natural para animais e plantas.
7

Além disso, os telhados verdes também reduzem indiretamente as emissões de CO2 das usinas
e fornos, reduzindo a demanda por aquecimento e resfriamento, sugerindo benefícios
econômicos e ambientais de longo prazo (LI, BABCOCK, 2014).
Bargos et al. (2011) listam cinco funções das florestas urbanas, sendo: função social,
função estética, função ecológica, função educativa e função psicológica. Os autores descrevem
a função social das florestas urbanas como possibilidades de lazer oferecidas à população; a
função estética como forma de diversificação da paisagem construída e embelezamento das
cidades; a função ecológica como meio de provimento de melhorias no clima, na qualidade do
ar, água e solo das cidades, melhorando o bem estar dos habitantes; a função educativa como
possibilidade oferecida pelos espaços da floresta urbana para o desenvolvimento de atividades
educativas e a função psicológica para a realização de exercícios físicos, lazer, recreação e
outras atividades que funcionam como atividades antiestresse e de relaxamento.
Gonzalez et al. (2011) observaram em sua pesquisa que o uso da vegetação como
dispositivo de sombreamento gerador de umidade e o recurso de ventilação natural foram
bastante eficientes como recursos de conforto térmico. Eles afirmam que a implantação e
manutenção das florestas urbanas exigem pouco investimento financeiro, principalmente
quando se conhece os benefícios proporcionados à população. Dorigo et al. (2015) apontam
como aspectos positivos das áreas verdes urbanas como importantes espaços para convivência
e interação social, além de estreitar a relação do ser humano com a natureza.
Segundo Lourenço et al. (2016), as florestas urbanas possuem diversos benefícios
salutogênicos e ecossistêmicos, tais como: diminuição da temperatura, do escoamento
superficial da água, da concentração de poluentes atmosféricos, de ruídos, de impactos dos
ventos, da incidência solar em pavimentos e construções. Enfim, conforme afirmam estes
autores, o serviço florestal americano apontou que os benefícios das florestas urbanas
proporcionam uma economia três vezes maior que o custo da manutenção destas áreas.
Frota e Schiffer (2001), citado por Matias e Costa (2012), afirma que os períodos de
fadiga no ser humano, quando analisados termo higrométricamente, possuem suas causas em
condições ambientais de temperatura e umidade do ar desfavoráveis ao aparelho
termorregulador, o qual funciona nestes momentos excessivamente. Estes autores trabalharam
a ideia de que a variabilidade climática é decorrente da associação entre a dinâmica natural do
planeta e de ações antrópicas modificantes, causando, portanto, efeitos diretos ou indiretos
sobre a saúde e bem-estar.
8

3.2. Floresta urbana e saúde humana
Cada vez mais a população que vive principalmente em cidades e grandes centros
urbanos, e vem apresentando-se com maiores índices de ocorrências das chamadas “doenças
modernas”. Síndrome do pânico, depressão, ansiedade, estresse, doenças pulmonares e
auditivas, são algumas destas doenças, que podem afetar qualquer faixa etária, raça ou classe
social. Neste sentido, Gouveia (1999) afirma que a urbanização desenfreada, sem mecanismos
regulatórios e de controle, trouxe consigo enormes repercussões na saúde da população,
gerando uma situação de extrema desigualdade e iniquidade ambiental e em saúde. Este autor
afirma, ainda, que os problemas como a insuficiência dos serviços básicos de saneamento,
coleta e destinação adequada do lixo e condições precárias de moradia somam-se agora à
poluição química e física do ar, da água e da terra. Ademais, as áreas urbanas, segundo Biondi
(2012) citado por Martini (2013), apresentam uma série de efeitos adversos, como as várias
formas de poluição, alteração climática, alteração e desaparecimento de cursos de água,
fragmentação e isolamento dos remanescentes florestais e o contato intenso e contínuo da
população humana.
Ojima (2008) aponta uma relação identificada em uma pesquisa desenvolvida por
MCCann e Ewing em 2003, onde afirma que as pessoas que vivem em áreas de urbanização
dispersa tendem a ter um maior índice de massa corporal que aquelas de áreas mais compactas,
além de apresentarem também maiores índices de hipertensão e pressão arterial. Essa relação é
explicada, segundo o autor, pelo fato de que as pessoas que vivem nessas regiões tendem a
andar e caminhar menos, explicando a tendência a serem mais obesas. O fato de as pessoas que
vivem em áreas mais compactas tenderem a ter menores índices de massa corpórea indica, de
certa forma, que parte da atividade física que pode ser realizada durante as próprias atividades
do cotidiano tem peso importante na vida das pessoas.
Segundo o entendimento de Freitas (2003), os problemas ambientais são,
simultaneamente, problemas de saúde, uma vez que os seres humanos e as sociedades são
afetados em várias dimensões. Já o Ministério do Meio Ambiente - MMA (2007) alega que
produzir saúde não é exclusividade do setor de saúde, pois esta deve ser entendida como um
termo que engloba uma série de condições que devem estar apropriadas para o bem-estar
completo do ser humano, incluindo o meio ambiente equilibrado. No entanto, no que tange à
interface saúde das populações, segundo Camponogara e colaboradores (2008), percebe-se
pouco engajamento do setor da saúde no sentido de refletir sobre a crise ambiental e a correlação
meio ambiente e saúde humana, bem como de efetivar estratégias de ação no que se refere aos
9

danos provocados. Os autores afirmam ainda, que alguns pesquisadores e instituições têm se
esforçado em estabelecer uma discussão, tendo em vista a necessidade de buscar respostas para
o contexto que se exacerba a problemática ambiental, mas que pode ser fato que os estados de
saúde ou doença do ser humano podem ser a expressão do sucesso ou fracasso experimentado
pelo seu organismo no seu esforço de resposta adaptável aos desafios proporcionados pelo meio
ambiente.
Maas et al. (2006), com o objetivo de investigar a força da relação entre a quantidade
de espaços verdes nas áreas onde as pessoas vivem e a saúde destas, concluíram que havia uma
relação significativa para a saúde geral de acordo com a porcentagem de espaço verde dentro
de um raio de um a três quilômetros. Concluíram, ainda, que as pessoas com maior grau de
escolaridade, idosos e jovens, parecem se beneficiar mais da presença de áreas verdes em seus
ambientes de vida do que outros grupos nas grandes cidades, mostrando uma associação
positiva entre espaços verdes e a saúde dos moradores.
Segundo Lourenço et al. (2016), estudos conduzidos principalmente na Europa e na
América do Norte evidenciam concretamente uma associação positiva entre florestas urbanas e
saúde, com desfechos positivos na diminuição da obesidade e do risco de desenvolver doença
cardiovascular e doenças mentais.
Os autores Ambrey e Fleming (2014) analisaram em seu artigo a influência de espaços
verdes públicos para a satisfação com a vida de moradores de áreas metropolitanas da Austrália
utilizando uma fórmula matemática para encontrar a satisfação dos moradores quanto a áreas
verdes e sua manutenção. Os resultados ilustram a evidência de que os espaços verdes públicos
melhoram o bem-estar dos residentes urbanos e que a prestação de serviços para manutenção e
conservação destas áreas deve estar contida no plano de gestão da cidade.
Pretty et al. (2007) afirmam que há evidências de que o contato com o meio ambiente e
espaços verdes promovem uma boa saúde e que, associada à prática de atividade física regular,
gera benefícios para a saúde física e psicológica. Os autores sugerem, ainda, a hipótese de que
"exercício verde" pode melhorar a saúde e bem-estar psicológico, mas poucos estudos têm
quantificado estes efeitos. Os autores avaliaram os efeitos em dez estudos de caso com
exercícios verdes, o qual incluiu caminhadas, ciclismo, equitação, pesca, canoagem e atividades
de conservação. Eles constataram que o exercício verde levou a uma melhora significativa na
autoestima e na alteração do humor total, além de raiva-hostilidade, confusão, desorientação,
depressão, desânimo e tensão-ansiedade, as quais melhoram pós-atividade. Logo, o exercício
verde tem, assim, implicações importantes para a saúde pública e do meio ambiente, conforme
afirmam os autores.
10

Vujcic et al. (2018), ao explorar em sua pesquisa se moradores de áreas centrais da
cidade de Belgrado (Sérvia) que vivem em áreas com mais espaços verdes possuem melhor
saúde física e mental, concluíram, a partir de teste t para amostras independentes, que os
entrevistados valorizam atividades recreativas, como caminhada e atividades comuns, e
reconhecem as áreas verdes urbanas como locais adequados para atividades físicas; também,
reconhecem que essas áreas possuem potencial para o alívio de problemas nervosos e na
diminuição de uso de medicamentos.
Grahn e Stigsdotter (2003) afirmam que o estresse e as doenças relacionados ao estresse,
conforme consta nos registros médicos, têm aumentado dramaticamente entre adultos e crianças
nas sociedades ocidentais. E esse fato tem exigido uma parte cada vez maior do orçamento para
o serviço médico. Na Suécia, por exemplo, conforme afirmam os autores, grande parte do
orçamento público e privado é usada para pessoas que sofrem de diferentes doenças
relacionadas ao estresse, como a síndrome de Burnout, insônia, fadiga, depressão, sentimentos
de pânico, dentre outras doenças similares. Os resultados do artigo dos autores Grahn e
Stigsdotter (2003) sugerem que, quanto mais vezes uma pessoa visita amplos espaços verdes
urbanos, menos vezes ela relata doenças relacionadas ao estresse. Os autores concluem que é
necessário estabelecer mais áreas verdes perto de prédios de apartamentos e tornar estas áreas
mais acessíveis e que isso poderia tornar os ambientes mais restauradores. Matas e florestas são
comumente relatadas como o ambiente mais desejado para relaxar e recuperar do estresse e do
esforço mental, como sustentam Grahn e Stigsdotter (2003).
Brotman et al. (2008) procuraram estimar a extensão em que os fatores de risco
comportamentais e fisiopatológicos poderiam explicar a associação entre o sofrimento psíquico
e incidente cardiovascular. Os autores afirmam que o sofrimento psicológico aumenta os riscos
da doença, tais como: infarto do miocárdio, angina, acidente vascular cerebral, insuficiência
cardíaca e mortalidades relacionadas. Eles concluíram que a associação entre o estresse
psicológico e o risco de doenças cardiovasculares é, em grande parte, explicada por processos
comportamentais e, portanto, o tratamento do sofrimento psíquico que tem como objetivo
reduzir os riscos da doença, deve se concentrar principalmente na mudança de comportamento.
Nesse sentido, talvez o contato com a natureza em seu meio natural possa ser uma forma para
auxiliar no processo.
Estudos de associação entre espaços verdes e saúde, em geral, identificam uma relação
positiva para estresse, fadiga mental, humor, concentração, autodisciplina e estresse fisiológico,
conforme afirmam Maas et al. (2009). Estes autores utilizaram os dados eletrônicos derivados
de registros de 195 médicos (clínicos gerais) na Holanda e correlacionaram com a porcentagem
11

de área verde encontrada em um raio de um a três quilômetros no entorno da residência dos
pacientes estudados. As doenças foram agrupadas por categoria de acordo com a Classificação
Internacional de Atenção Primária, resultando em 24 grupos. Os resultados apontaram que a
taxa de prevalência das doenças de 15 dos 24 grupos foram menores para aqueles pacientes que
se encontravam vivendo onde era maior o espaço verde em um raio de um quilômetro. Os
estudos apresentam, ainda, relação mais forte para transtorno de ansiedade e depressão. Os
autores enfatizam, a partir dos seus estudos, a importância dos espaços verdes perto de casa,
principalmente para crianças e grupos socioeconômicos mais baixos.
Outra pesquisa que mostrou o impacto das áreas verdes sobre o estresse e a obesidade
foi feita pelos pesquisadores Nielsen e Hansen (2007). Eles utilizaram, nesta pesquisa,
questionários que foram enviados para 2000 adultos dinamarqueses no ano de 2004, dos quais
somente 1200 destes retornaram. Estes questionários tinham questões que forneceriam
informações acerca dos acessos a áreas verdes e indicadores de saúde dos participantes. Os
autores concluíram que o acesso às estas áreas pode reduzir o estresse e diminuir a incidência
de obesidade.
Kardan e colaboradores (2015), em seus estudos com a população urbana do grande
centro de Toronto no Canadá, a partir de relatos pessoais, e combinando com mapeamentos de
grupos de árvores e árvores individuais, por meio de imagens de satélites de alta resolução,
analisaram a percepção geral de saúde, condições cardiometabólicas e doenças mentais. Os
resultados estatísticos (regressão múltipla, correlação canônica e análise multivariada) sugerem
que as pessoas que vivem em bairros com uma maior densidade de árvores em suas ruas,
possuem, significativamente, maior percepção de saúde e melhores condições
cardiometabólicas.
Kaplan e Kaplan (1989) afirmam que diferentes perspectivas conceituais convergem
para prever que, se as pessoas estão estressadas, um encontro com a maioria dos ambientes
naturais trará uma redução do estresse ou influência restauradora, enquanto muitos ambientes
urbanos vão dificultar a recuperação. Hipóteses referentes aos aspectos emocionais, de atenção,
fisiológicos e estresse reduzido por influências da natureza são derivadas de uma teoria psico-
evolutivo, segundo suas pesquisas bibliográficas.
Berman et al. (2012) realizaram um estudo que teve como objetivo analisar se a
caminhada na natureza poderia ser benéfica para indivíduos com transtorno depressivo. Para
tanto, eles estudaram vinte indivíduos que foram diagnosticados com a doença. Estes indivíduos
foram induzidos a pensar sobre algo negativo que tenha acontecido com eles, antes de fazerem
uma caminhada de 50 minutos em um ambiente natural ou urbano. Após a caminhada, o humor
12

e a memória negativa, utilizada na etapa anterior, foram reavaliados. Uma semana depois o
procedimento foi repetido. Como resultado, os autores perceberam que os participantes
exibiram aumentos significativos na melhoria do humor e dos pensamentos negativos que
expuseram antes da caminhada, sendo essa melhoria muito mais efetiva quando se tratava da
caminhada na natureza em relação à caminhada urbana.
O’Brien et al. (2014) estudaram as florestas periurbanas na Inglaterra e debateram sobre
o contato das pessoas com o meio ambiente natural como parte da vida. Com isso, apontam tais
florestas como importantes locais onde as pessoas possam interagir com a natureza para obter
saúde e bem-estar. Eles fizeram uma análise qualitativa a partir de dados coletados in situ
através de caminhadas na floresta, discussões em grupos focais e análise e utilização de
fotografias, com uma amostra de 49 pessoas. Com os dados, os autores afirmam que este
método forneceu dados ricos sobre a ampla gama de significados associados às florestas, que
podem ter um impacto percebido na saúde e no bem-estar das pessoas. As descobertas se ligam
aos debates contemporâneos sobre saúde, bem-estar e serviços ecossistêmicos. Em conclusão,
as florestas periurbanas contribuíram para a saúde, autoestima e bem-estar de múltiplas formas
e as atividades organizadas podem ser importantes para aqueles que enfrentam barreiras para
acessar as áreas verdes, pois estes ambientes oferecem oportunidades às conexões sociais e uma
série de benefícios sensoriais.
Richardson e Mitchell (2010) realizaram o primeiro estudo no Reino Unido sobre a
relação entre espaço urbano verde e saúde humana, sendo ainda o primeiro estudo a investigar
diferenças de gênero nessa relação. Neste estudo foi utilizada uma abordagem ecológica,
considerando como dado ambiental a porcentagem de área verde contida em cada região
denominada pela Área de Censo do Reino Unido. Foram selecionados os resultados de saúde
que estavam mais relacionados ao espaço verde, tais como: mortalidade por doenças
cardiovasculares e mortalidade por doenças respiratórias, por exemplo. Os autores concluíram
que as doenças cardiovasculares masculinas e as taxas de mortalidade por doença respiratória
diminuíram com o aumento do espaço verde, diferentemente para as mulheres. Possíveis
explicações para as diferenças de gênero, observadas na relação espaço verde e saúde, são as
diferenças de gênero nas percepções e uso dos espaços verdes urbanos. Com o estudo, os
autores concluíram que não se pode assumir benefícios de saúde de forma uniforme para toda
a população quando se trata da correlação espaço verde urbano.
Mitten (2009) realizou uma pesquisa que objetivava identificar e mostrar o alcance e a
profundidade dos impactos positivos do ambiente natural na saúde e desenvolvimento humano
e, consequentemente, na sociedade. Sua pesquisa bibliográfica mostrou que o tempo em
13

espaços naturais fortalece os laços de vizinhança, reduz o crime, estimula as interações sociais
entre crianças, fortalece as conexões familiares, diminui a violência doméstica, ajuda os novos
imigrantes a lidar com a transição e adaptação e apresenta muitos benefícios para a saúde. Esta
mesma autora cita Magazine (2009) para mostrar que, no final dos anos de 1800, o Quakers’
Friends Hospital utilizou a natureza no tratamento de doenças mentais e tuberculose em
pacientes que viviam em sanatórios, utilizando o ar fresco, o sol e uma boa alimentação. Houve
uma melhora, principalmente na cura da tuberculose, afirma a autora.
Park et al. (2009) revisaram uma pesquisa feita anteriormente sobre os efeitos do
Shinrin-yoku, termo utilizado para o denominado “banho de floresta”, que pode ser definido
como contato com a atmosfera da floresta, e que apresentou novos resultados de experimentos
de campo conduzidos em 24 florestas em todo o Japão. Em cada experimento, 12 sujeitos dos
280 no total, com idade aproximada de 22 anos, foram enviados no primeiro dia para a floresta
e os outros grupos para a área urbana, invertendo no segundo dia. Foram mensurados, pela
manhã, antes do café, e antes, durante e depois das caminhadas. Os resultados mostram que os
ambientes florestais promoveram as concentrações mais baixas de cortisol, menor frequência
cardíaca, pressão arterial mais baixa, maior atividade do nervo parassimpático e atividade
nervosa simpática menor do que os ambientes da cidade.
Os autores Mitchell e Popham (2008), por exemplo, afirmam que estudos têm
demonstrado que a exposição chamada espaço verde tem um efeito sobre a saúde e
comportamentos relacionados à saúde. Em sua pesquisa, utilizando dados contidos em registros
de mortalidades e a exposição de grupos aos espaços verdes, buscaram determinar se a
mortalidade por todas as causas e por causas específicas (doenças circulatórias e câncer de
pulmão, por exemplo) ocorridas entre os anos de 2001 e 2005 variava conforme exposição ao
espaço verde. Os autores postulam que o rendimento em saúde seja menos pronunciado em
populações com maior exposição a espaços verdes, pois as taxas de mortalidades por todas as
causas e de mortalidades por doenças circulatórias foram menores nestes grupos.
Di Bucchianico e colaboradores (2018) afirmam que os espaços verdes são um aspecto
importante na qualidade de vida dos cidadãos das cidades modernas, mas que, no entanto,
algumas plantas causam doenças alérgicas, as quais podem ser agravadas pela poluição do ar.
Estes mesmos autores evidenciaram, em sua pesquisa com 100 pacientes, entre 4 e 18 anos em
Roma, que, quando ocorrem altos níveis de florescimento das espécies alergênicas e poluição
do ar, são afetados os sintomas de asma e bronquite.
14
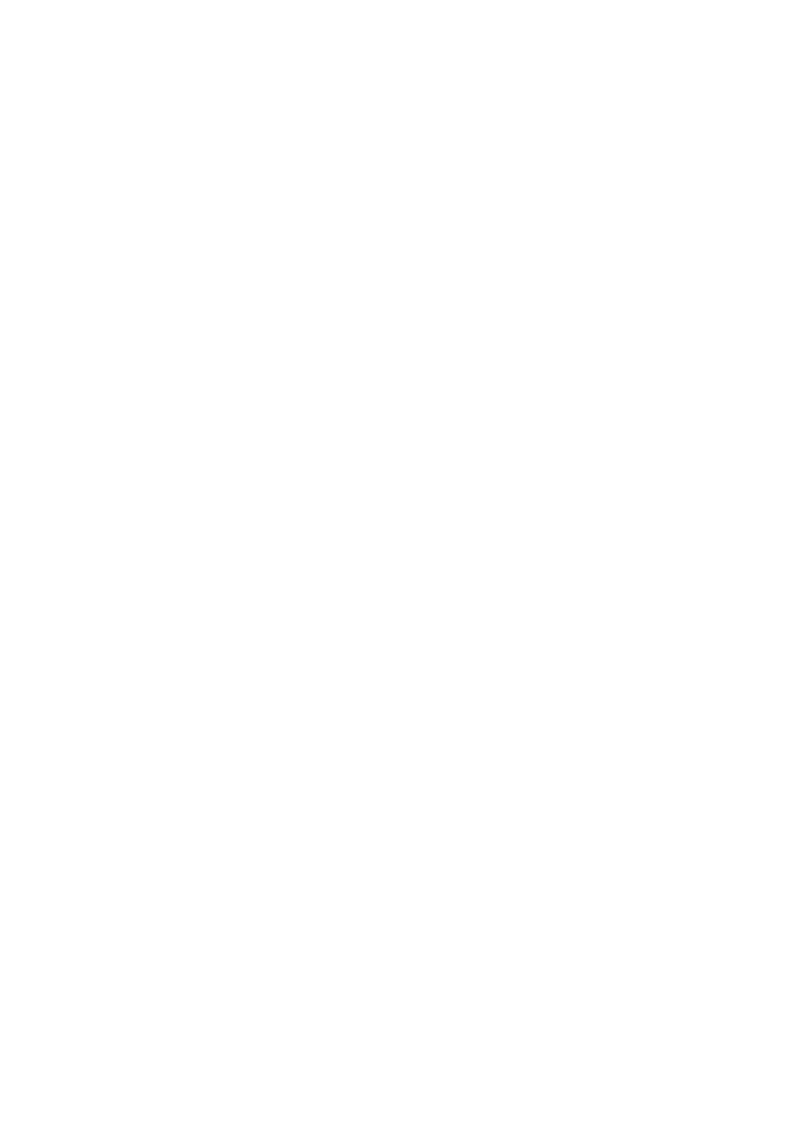
4. MATERIAIS E MÉTODOS
4.1. Ética
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP)
da Universidade Federal de Viçosa (UFV), via parecer consubstanciado de número 1.865.102.
4.2. Área de estudo
A pesquisa foi aplicada junto aos funcionários da Cidade Administrativa do Estado de
Minas Gerais – CAMG, localizada à Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n, Bairro Serra
Verde, Belo Horizonte, Minas Gerais. A Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves é
o centro administrativo do Estado de Minas Gerais e, portanto, a sede oficial do governo deste
Estado e vários órgãos públicos da esfera estadual.
Dos 304 participantes, 76,64% residia na área urbana de Belo Horizonte. No entanto,
alguns dos participantes residiam nas cidades vizinhas: Betim, Brumadinho, Contagem,
Igarapé, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, São
José da Lapa, Sarzedo, Sete Lagoas e Vespasiano. Além de outras cidades mineiras: Coronel
Fabriciano, Esmeraldas, Florestal, Ipatinga, Juiz de Fora, Tombos, Uberlândia e Varginha. Os
participantes que não residiam em Belo Horizonte foram desconsiderados nas análises
estatísticas.
A escolha de Belo Horizonte como local de estudo (Figura 1) se deu pelo fato de ser
uma cidade que possui as atribuições que proporciona uma vida corrida, cada vez mais violenta
e estressante à população que nela vive, condicionando-a às chamadas “doenças modernas”,
tais como: Síndrome do pânico, depressão, ansiedade, estresse, doenças pulmonares e auditivas
e distúrbios alimentares. Além disso, ao aplicar a pesquisa na Cidade Administrativa Presidente
Tancredo Neves, houve a facilidade de envio do formulário eletrônico para várias pessoas
simultaneamente.
Cabe ainda ressaltar que, embora esta pesquisa não tenha sido aplicada em ambiente e
situações controladas, ao realizá-la somente com os funcionários da Cidade Administrativa,
obteve-se uma situação única onde os participantes possuem condições similares. Ou seja, em
parte do dia, todos estavam localizados em um mesmo lugar, na CAMG, que é o seu lugar de
trabalho, se encontrando, portando, em condições ambientais semelhantes. Da mesma maneira
quanto ao deslocamento, neste caso, o trajeto entre a CAMG e suas residências, bem como o
15
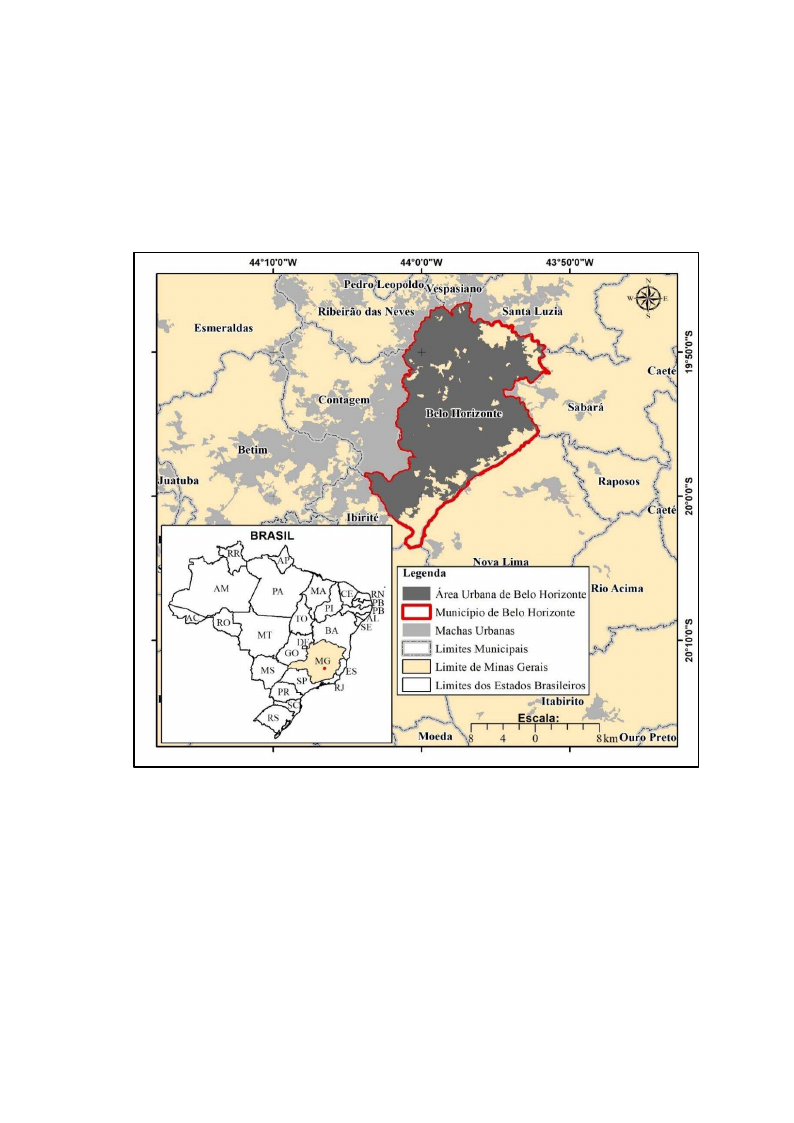
restante do tempo livre, o qual, geralmente ou em maior parte, as pessoas permanecem em suas
residências. Diante disso, forma considerados para a análise os dados ambientais levantados de
acordo com a residência dos participantes, visto que cada pessoa reside em um lugar diferente,
possuindo, portanto, condições ambientais também diferentes.
Figura 1: Localização da área de estudo.
O município de Belo Horizonte (BH), conforme consta em IBGE (2018), possui uma
área territorial de 331.401 km2, sua população em 2010 (último censo) era de 2.375.151
pessoas, estimada para 2017 em 2.523.74 pessoas e densidade demográfica era de 7.167
hab.km-2. Belo Horizonte está localizado na latitude 19°55’15” Sul e longitude 43°56’16”
Oeste, com altitude média de 852 metros. Este município se encontra em uma área de transição
entre os biomas Cerrado e Mata Atlântica, apresentando clima tropical com estação seca
Aw/Cwa, temperatura média anual de BH é de 21,1 graus celsius, precipitação de 1.463,7 mm
e umidade relativa de 72,2 %.
16

4.3. Levantamento dos dados gerais, hábitos de vida e indicadores de saúde
Para os levantamentos dos dados das pessoas foi elaborado um questionário eletrônico,
separado em três seções: dados gerais, hábitos de vida e dados de saúde. Na primeira seção,
dados gerais, foi solicitado o endereço de residência e há quanto tempo os moradores residiam
ali, nome, sexo, massa, estatura, data de nascimento, escolaridade. Em relação aos hábitos de
vida, foram elaboradas questões sobre o consumo de álcool em dias no mês; consumo de
cigarros por dia; se considera ter alimentação saudável; quantas vezes por semana pratica
alguma atividade física e o que eles sentiam quando se encontravam em ambientes florestados
ou não. Na última seção, o intuito foi obter informações de saúde dos participantes. Neste
sentido, foi questionado sobre o uso de medicamentos e se já foram diagnosticados com
algumas doenças, tais como: hipertensão arterial sistêmica (pressão alta); colesterol alto;
glicose alta; diabetes; infarto agudo do miocárdio; acidente vascular cerebral (derrame); doença
cardíaca; doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); cirrose hepática; colite ulcerativa
(doença intestinal); artrite; asma; bronquite; depressão; ansiedade; enxaqueca; síndrome do
intestino irritável; câncer e alergias.
Além das perguntas acima, que eram de caráter obrigatório, foi inserido uma subseção,
com caráter não obrigatório, para obtenção de alguns resultados de últimos exames feitos pelos
participantes. Nesta foram solicitados os resultados de exames de glicose, colesterol total,
colesterol HDL, triglicérides e cortisol.
O questionário eletrônico (Anexo 1) foi criado na plataforma digital do Google
utilizando o Google Forms. O link gerado pela plataforma foi encaminhado pela Assessoria de
Comunicação da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves para aproximadamente
15.000 funcionários de diferentes órgãos que funcionam na CAMG. O questionário pôde ser
respondido onde e quando o participante quisesse, lhe atribuindo um caráter menos invasivo
em relação a outros métodos de obtenção de dados de pessoas, como entrevistas, por exemplo.
Antes de começar a responder às perguntas, o próprio questionário tinha esclarecimentos dos
objetivos da pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, adequado para a
plataforma digital do Google a partir do Anexo 2. Só foi possível responder ao questionário
aqueles que estavam de acordo e aceitaram o referido termo, permitindo assim, ao participante
fazer o upload dos arquivos no Drive do proprietário do formulário por meio de login no
Google, caso contrário, o questionário não iniciava e levava o participante a uma página de
agradecimentos e finalização.
17
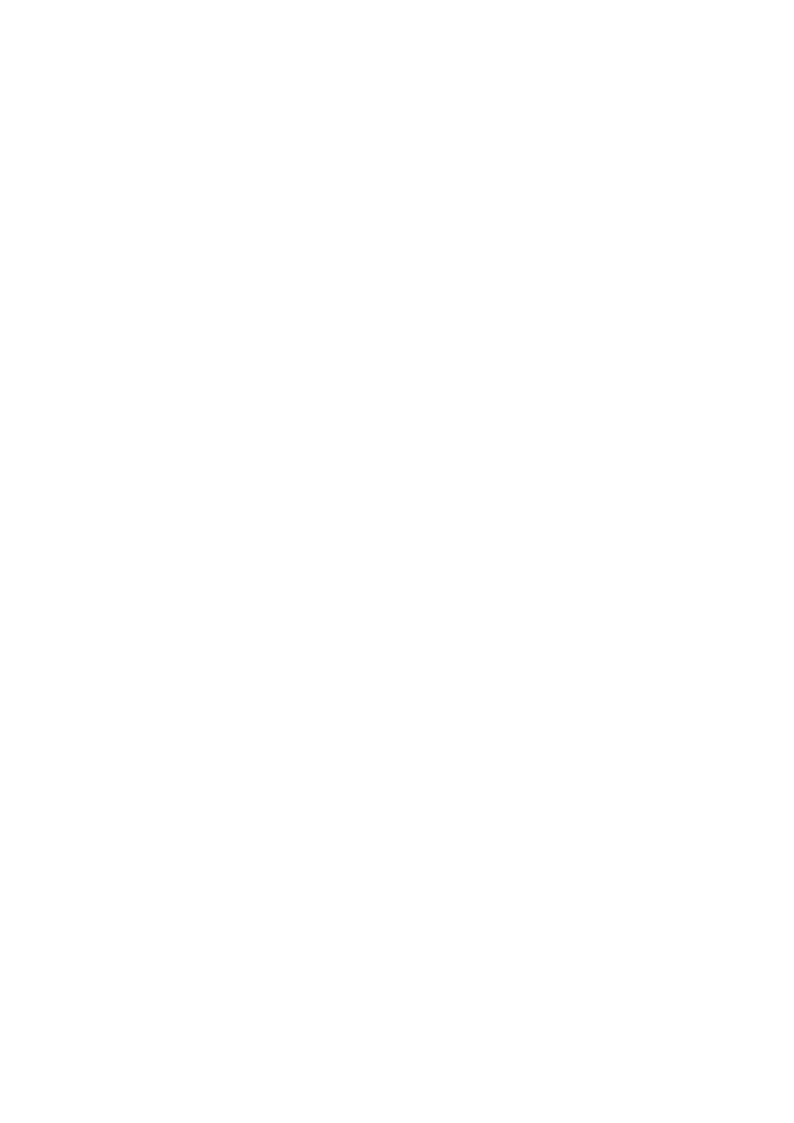
Foi dado um mês, após o envio do referido link, aos receptores para responderem ao
questionário e, consequentemente, participarem desta pesquisa. Após este tempo o formulário
eletrônico foi desativado, obtendo, portanto, 304retornos com as informações solicitadas, com
as quais foram feitas as análises deste estudo.
4.4. Levantamento dos dados ambientais
Os dados ambientais aqui utilizados foram todos correlacionados à floresta urbana, mas
para fins de testes e estudos diferenciados, este dado foi particionado em quatro
compartimentos, sendo: floresta urbana, mais especificamente sua área em quilômetros
quadrados encontrada na área circular com raio de 0,5 (meio) e de 1 (um) quilômetro no entorno
da residência dos participantes; árvores (quantidade) encontradas na área circular com raio de
um quilômetro no entorno da residência dos participantes e distância da residência dos
participantes a um parque urbano mais próximo e aberto a visitações. Estes dados foram
utilizados na correlação com os indicadores de saúde dos participantes, os quais foram
fornecidos por meio do formulário eletrônico supracitado.
A seguir os procedimentos para obtenção e manipulação de cada compartimento da
floresta urbana.
4.4.1. Mapeamento da floresta urbana no entorno da residência dos participantes
Para o mapeamento e cálculo de área da floresta urbana de Belo horizonte foi definido,
a priori, uma área, a qual teve como referência a residência dos participantes e foi definido um
raio de um quilômetro a partir das mesmas. Com os endereços fornecidos pelos participantes
no formulário eletrônico foi possível georreferenciar, utilizando a plataforma do Google Earth,
a residência de cada um deles. Partindo do ponto criado e georreferenciado, foi utilizada a
plataforma do software QGis versão 2.14.21 (OSGEO, 2017) para exportar os arquivos em
formato “kml” para “shape” e gerar, em sequência “buffers” com raios de meio e um quilômetro
(Figuras 2A, 2B, 3A e 3B)), definindo uma área circular de 0,78 e 3,14 quilômetros quadrados,
respectivamente, no entorno das residências de cada participante da pesquisa. Essas áreas foram
utilizadas para delimitar o mapeamento e, consequentemente, quantificar a floresta urbana, a
qual foi tabulada e correlacionada com os indicadores de saúde, fornecidos no questionário.
Diferenciando, portanto, toda a floresta urbana contida na área gerada com o raio de um
18

quilômetro com aquela que se encontrava mais próxima às residências dos participantes, ou
seja, aquela contida num raio de meio quilômetro.
Foi considerado um raio de, no máximo, um quilômetro porque círculos com raios
maiores que isto iriam ultrapassar os limites da área urbana e periurbanas de Belo Horizonte,
além de que o intuito desta pesquisa era o de estudar especificamente a floresta urbana. Além
disso, as imagens, disponíveis em boa qualidade e adquiridas mais recentemente, utilizadas para
o mapeamento destas florestas, cobriam apenas a área urbana.
Para o mapeamento da floresta urbana de Belo Horizonte foram utilizadas ortofotos
aerofotogramétricas georreferenciadas em escala de 1: 2.000 e resolução espacial de 20
centímetros, adquiridas entre o período de 28 de agosto a 02 de setembro de 2015 (Figuras 2A
e 2B). Elas foram concedidas exclusivamente para este projeto pela Gerência de Cadastros
Tributários da Secretaria Municipal de Finanças de Belo Horizonte. Foram utilizadas
232 cenas (mosaicadas em 16 blocos) permitindo que fossem classificadas mais de uma
cena de uma só vez, respeitando à capacidade de processamento dos computadores
disponíveis para a execução desta etapa. Do total de 304 participantes, apenas aqueles
que tiveram 100% do círculo formado pelo buffer ao redor de sua residência, coberto
pelas imagens, foram considerados para análise, ficando, portanto, 223 indivíduos para
as áreas com raio de um quilômetro e 233 com raio de meio quilômetro.
No mapeamento foram utilizadas as ferramentas contidas na plataforma dos Sistemas
de Informações Geográficas (SIG) do software ArcGis (ESRI, 2016) e foi utilizado o algoritmo
de Máxima Verossimilhança (MAXVER). Este é o método mais comum de classificação
supervisionada de imagens, do tipo pixel a pixel, que utilizada a informação espectral
isoladamente de cada pixel para achar as regiões homogêneas, segundo Demarchi e
colaboradores (2011). Estes autores afirmam também que tal método considera a
ponderação das distâncias entre as médias dos níveis digitais das classes, cujas amostras
de treinamento são definidas pelo usuário, utilizando parâmetros estatísticos e ajustes
por meio de uma distribuição gaussiana.
As Figuras 3A e 3B, bem como o índice Kappa de 0,72 e o índice de Matriz
Confusão de 0,85 mostram que o mapeamento foi bem-sucedido e, portanto, representa
adequadamente a realidade de campo, para aquele momento da aquisição das imagens
utilizadas.
19
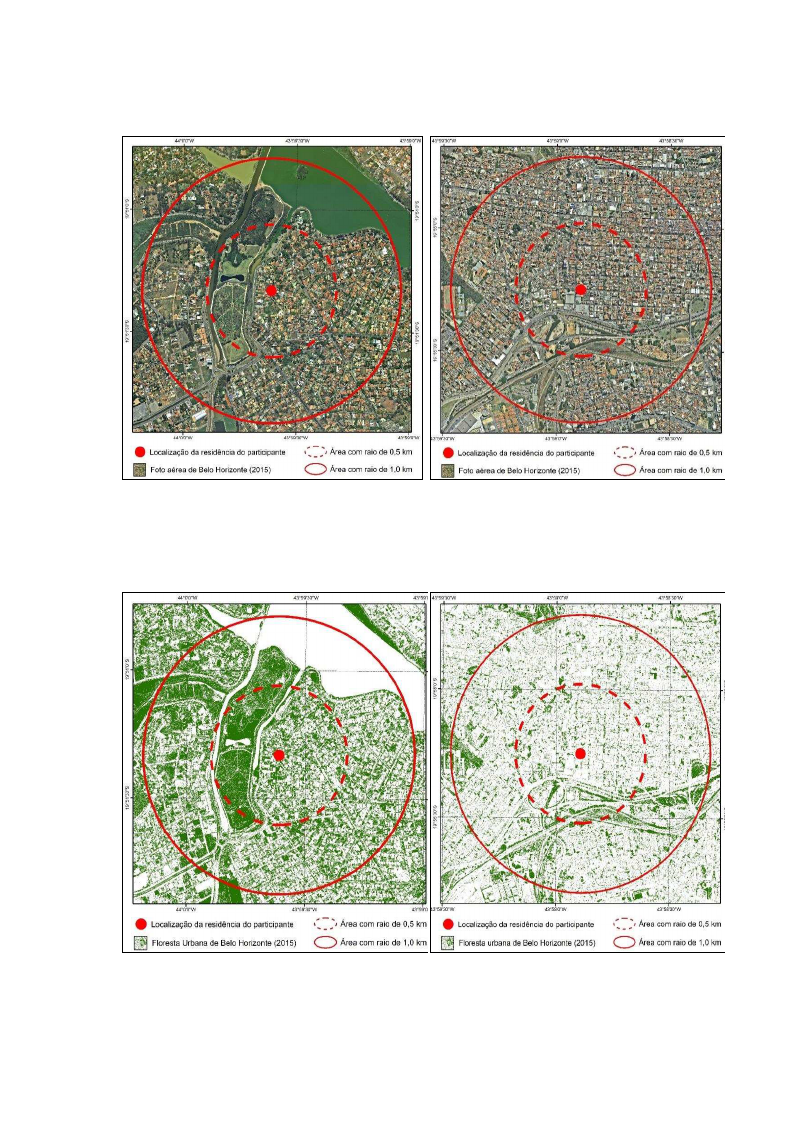
A)
B)
Figura 2: Vista parcial da superfície de Belo Horizonte sob as imagens aéreas utilizadas para
o mapeamento da floresta urbana no entorno da residência de um participante do Bairro
Pampulha (A) e outro do Bairro Centro (B).
A)
B)
Figura 3: Floresta urbana mapeada no entorno da residência de um participante do Bairro
Pampulha (A) e outro do Bairro Centro (B), a partir das imagens aéreas mostradas nas Figuras
2A e 2B, respectivamente.
20

Em busca da obtenção de resultados mais adequados e condizentes com a
realidade de campo e com os objetivos da pesquisa, para esta classificação foi coletado
cuidadosamente um número elevado de pixels para cada amostra de treinamento de cada
classe considerada neste estudo: floresta urbana, sombra e área construída, esta incluiu
todos os demais usos do solo. Além disso, não foi feita nenhuma generalização dos dados
gerados para evitar perder alguma informação relacionada à floresta urbana, por menor
que fosse.
Vale salientar que a alta resolução espacial das imagens geraram arquivos digitais
muito grandes e, consequentemente, dificultaram o processamento e o desenvolvimento
desta etapa. Grande parte dos erros desta classificação foi atribuída à confusão do
classificador no reconhecimento de alguns pixels referentes às áreas correspondentes às
sombras e árvores, por estas apresentarem, em alguns pontos, respostas espectrais
similares.
4.4.2. Levantamento do número de árvores no entorno da residência dos
participantes
A partir da área circular com raio de um quilômetro, criada no entorno da
residência dos participantes a partir de suas residências, definida na etapa anterior e
mostrada nas Figuras 2A, 2B, 3A e 3B, foi possível extrair as informações pontuais, que
representavam a localização georreferenciada das árvores que ali encontravam. A partir
dos arquivos espaciais e vetoriais foi extraído o número de árvores que foram encontrados num
raio de um quilômetro a partir da residência de cada participante.
Os dados foram suficientes para cobrir 100% da área no entorno de apenas 91 das 304
residências dos participantes, pois o mapeamento destas árvores abrangeu somente os
logradouros públicos da área central da cidade de Belo Horizonte. O arquivo espacial e
digital referente a este mapeamento foi concedido pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente do município. Passando, portanto, a compor também, como dado ambiental, a
análise deste trabalho por meio da correlação com os indicadores de saúde destes
indivíduos.
21

4.4.3. Obtenção da distância entre a residência dos participantes a um parque
urbano mais próximo aberto à visitação
Diante deste panorama, que se apresenta dicotomicamente no espaço urbano e o
potencial que estes espaços têm para promoção de variados benefícios à população,
principalmente àquela que vive nas cidades e grandes centros urbanos, propôs-se aqui inserir,
como dado ambiental, alguma informação referente às Unidades de Conservação (UC) urbana,
no intuito de averiguar as possíveis associações para com os indicadores de saúde considerados
nesta pesquisa. Neste sentido, foi utilizada a distância entre o parque urbano mais próximo das
residências dos participantes e abertos à visitação e as residências.
A partir dos dados espaciais vetorizados referentes às unidades de conservação de Belo
Horizonte, fornecidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foi possível
selecionar e separar aquelas que estavam abertas à visitação, portanto, aquelas que
ofereciam o mínimo para o turismo e atividades físicas e de lazer. Nesse sentido, foi
considerado para esta análise apenas os parques municipais urbanos que se encontravam
abertos à visitação em meados do ano de 2017. A partir dos mesmos foi possível calcular
a distância entre as residências dos participantes da pesquisa ao parque mais próximo.
Utilizou-se, portanto, as ferramentas disponíveis na plataforma do ArcGis (ESRI, 2016).
Os vetores foram rasterizados e, posteriormente, foram geradas áreas ao seu redor
contendo distâncias denominadas “distâncias euclidianas”. Em seguida, foram extraídos
os valores para os pontos que representam as residências dos participantes da pesquisa,
arquivo resultante da etapa anterior, cruzando-os e obtendo, portanto, à distância em
quilômetros, entre a residência de cada participante em relação ao parque urbano que se
encontrava mais próximo de cada residência.
4.5. Preparação e processamento dos dados para análise
Inicialmente, cada participante ganhou uma numeração para lhe atribuir anonimato. A
informação fornecida por eles, por meio do formulário eletrônico, teve atribuição “1” para
resposta “sim” e “0” para respostas “não”, quando foi o caso.
Os dados de massa e estatura dos participantes foram utilizados para gerar o Índice de
Massa Corpórea (IMC). Os resultados gerados foram distribuídos por situação, levando em
consideração o constante em Keys et al. (1972), ficando, portanto, da seguinte maneira: <18,5
= abaixo do peso; 18,6 a 24,9 = Peso ideal; 25 a 29,9 = Levemente acima do peso; 30 a 34,9 =
22

Obesidade grau I; 35 a 39,9 = Obesidade grau II – severa e >40 = Obesidade grau III – mórbida.
Estas, por fim, foram distribuídos em dois grupos: 1) obesidades grau I, II e III foram
considerados como ocorrência de obesidade e 2) abaixo do peso, peso ideal e levemente acima
do peso não foram considerados ocorrência de obesidade.
Cada um dos quatro compartimentos que se refere aos dados ambientais e, portanto, à
floresta urbana, foi subdividido em quatro subgrupos a partir dos seus valores (intervalo entre
o mínimo e o máximo) levantados do determinado dado ambiental. Foi utilizada a média
aritmética para definir as faixas de intervalo para cada subgrupo. Foi possível, assim, saber
quais e quantos indivíduos residia em cada um destes subgrupos e, consequentemente a
frequência das doenças que os mesmos forneceram.
Buscando atender aos objetivos propostos neste trabalho foram estimados os
coeficientes de correlação e a frequência relativa com o intuito de investigar o comportamento
da saúde das pessoas frente às diferentes formas e diversas situações em que se encontram as
florestas urbanas de Belo Horizonte. Nesse sentido, cada dado ambiental foi correlacionado
com os indicadores de saúde considerados nesta pesquisa, possibilitando analisar as possíveis
associações entre estes indicadores e a floresta urbana.
Os dados obtidos sobre sensação e sentimentos explicitados pelos participantes, por
meio do questionário, quando se encontravam em áreas verdes e arborizadas e outrora em áreas
que não se configurassem desta maneira, foram esquematizados e em sequência obtidos a
frequência com que eles apareceram para ambas as situações.
As demais informações levantadas no estudo, como os hábitos de vida, por exemplo,
foram utilizadas para análises secundárias e complementares, bem como para caracterização
dos participantes da pesquisa e da amostra.
4.6. Análise estatística
Para averiguar a associação entre as variáveis ambientais e os indicadores de saúde, bem
como o grau de associação entre as mesmas, foi adotada a Análise Estatística Descritiva.
Portanto, para os dados relacionados a resultados de exames clínicos (dados quantitativos), os
quais foram fornecidos em mgdL-1, foi estimado o coeficiente de Correlação de Pearson,
enquanto que para os demais dados referentes aos indicadores de saúde, os quais obtiveram
uma resposta binária (dados qualitativos), correspondendo a ter ou não diagnóstico das doenças
que foram consideradas para este estudo, foi estimado o coeficiente de Correlação de Spearman
e Frequência Relativa. Sendo considerados nas análises, portanto, apenas os indivíduos que
23

possuíam ambos os dados, atribuindo quantidades diferentes de indivíduos estudados para cada
teste realizado. Foi utilizado o Sistema para Análises Estatísticas denominado SAEG (SAEG,
2007) e o Excel (MICROSOFT, 2013).
24
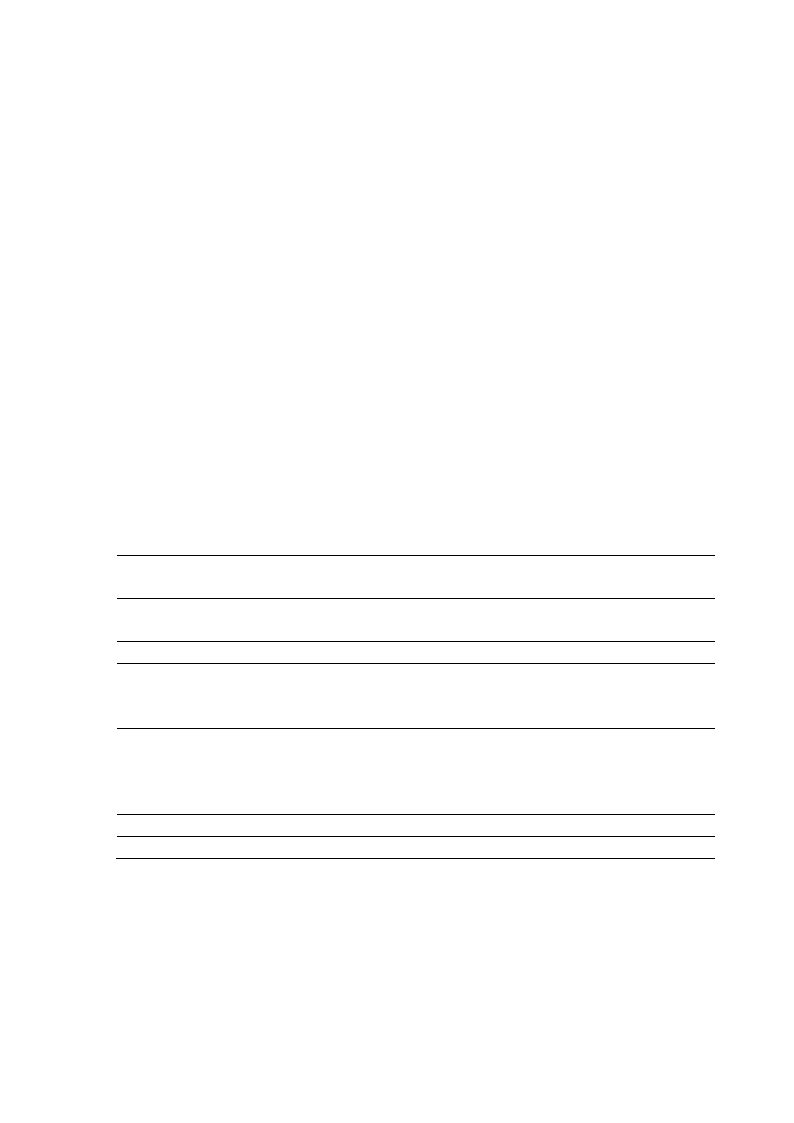
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1. Caracterização dos indivíduos estudados, dos dados ambientais e dos
indicadores de saúde
Participaram da pesquisa 304 funcionários da Cidade Administrativa Presidente
Tancredo Neves, os quais trabalhavam em vários e diferentes órgãos públicos que funcionavam
naquele local.
Vale ressaltar que os dados fornecidos pelos participantes foram informações que
fizeram parte da realidade de suas vidas e não apenas observações realizadas
momentaneamente.
Dos 304 participantes, 197 eram mulheres e 107 eram homens, que, em sua maioria, se
encontravam em sua idade adulta, ou seja, entre os 19 e 59 anos, com média de 39,66 anos,
variando entre 29 e 51 anos. Destes, 41,44% possuíam graduação, 53,61% pós-graduação e
apenas 4,95% possuíam ensino médio completo (Tabela 1).
Tabela 1: Caracterização dos indivíduos estudados
VARÍAVEIS
Gênero
Masculino
Feminino
Idade (anos)
Ensino Médio
Escolaridade Graduação
Pós-graduação
Alimentação saudável
Hábitos de Tabagismo (unidade/dia)
vida Alcoolismo (consumo dia/mês)
Atividade física (prática dia/semana)
IMC - Índice de Massa Corpórea (kgm-²)
Tempo de moradia no endereço informado (anos)
n
MÉDIA
DESVIO
PADRÃO
TOTAL
(%)
-
304
-
-
35,20
-
64,80
297 39,66 10,45
-
-
4,93
304 -
-
41,44
-
-
53,61
181 -
-
77,90
302 0,70
3,52
-
303 4,07
4,51
-
304 2,23
1,81
-
181 26,09 4,86
-
181 11,16 11,37
-
Embora não tenha sido objetivo deste estudo incorporar os hábitos de vida nas análises
de associação entre saúde e floresta urbana, foi possível também obtê-los a partir dos dados
fornecidos pelos participantes, tais como: alimentação saudável, consumo de álcool e cigarros,
práticas de atividades físicas, dentre outros. Tais dados possibilitaram, portanto, analisar quais
foram os demais fatores que poderiam influenciar o comportamento dos dados de saúde. Assim
sendo, dos participantes que responderam, 77,9% disseram ter uma alimentação saudável.
25

Quanto ao consumo de cigarros, 91,44% disseram não fazer uso de cigarros; os que fumavam
consumiam em média 0,7 cigarros por dia. Deve ser lembrado que algumas das doenças
estudadas aqui, como doenças pulmonares e alergias, sofrem grande influência negativa deste
hábito de vida. Assim, para este estudo, segundo os dados fornecidos, o consumo de cigarro,
por ser baixo ou mesmo pelo fato que grande parte dos participantes não era fumante, pode-se
considerar que este hábito não atribuiu uma tendência sobre os indicadores de saúde dos
participantes, principalmente as doenças que são afetadas diretamente por este hábito.
Apenas 30% dos participantes disseram não consumir nenhum tipo de bebida alcóolica.
Dos demais, a média de dias de consumo de álcool por mês foi de 4,07. Apenas 20 dos
participantes disseram beber bebida alcoólica mais que 11 dias por mês.
Outro hábito de vida que contribui para uma vida saudável é a prática constante de
atividades físicas, contribuindo, portanto para a melhoria dos resultados de exames e
diagnósticos de algumas doenças avaliadas aqui. No entanto, uma parcela considerável dos
participantes afirmou não praticar nenhuma atividade física e apenas 45% praticavam mais que
três dias por semana, tendo uma média de 2,23 dias por semana. Vale salientar que foi
considerado neste estudo como prática de atividades físicas é somente quando estas ultrapassam
30 minutos constantes. Nesse sentido, a pessoa deixa de ser sedentária quando essa prática
atinge no mínimo três dias por semana.
Quanto ao Índice de Massa Corpórea (IMC), 48% dos participantes que forneceram
informações de massa e estatura se encontram com peso ideal e 31,50% na faixa que é
considerado como levemente acima do peso. A média apresentada deste grupo para IMC foi de
26,09, variando em 4,86, se encontrando, portanto, no grupo “levemente acima do peso”. Vale
salientar que é consenso que a obesidade intensifica o risco do desenvolvimento de várias
doenças, tais como: hipertensão arterial, apneia do sono, diabetes, problemas ortopédicos,
infarto do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais e vários tipos de câncer. Sendo, portanto,
um fator com potencial para influenciar os indicadores de saúde da pessoa.
Quanto ao tempo em que residiam no endereço fornecido, a média apresentada foi de
11,16 anos e, dos 181 participantes que forneceram este dado, 59 residiam neste endereço entre
dois e cinco anos, enquanto que apenas 24 residiam em torno de um ano. Lembrando que,
espera-se que grande parte do dia, como a maioria, as pessoas estejam em suas residências.
Buscando saber os demais contatos com espaços e áreas verdes que os participantes
pudessem ter, além daquele encontrado no entorno de suas residências, foi questionando sobre
quantas vezes por semana eles frequentavam estas áreas, como unidades de conservação e
sítios, por exemplo. De acordo com as informações fornecidas pelos participantes, 35%
26

frequentavam ou visitavam apenas uma vez por semana, aproximadamente 31% nenhuma vez
e 11,50% duas vezes. 45,70% dos participantes se encontravam residindo a menos 1,15
quilômetros de um parque urbano aberto à visitação, 42,30% entre 1,16 a 2,26 quilômetros,
8,12% entre 2,27 a 3,37 quilômetros e apenas 3,88% entre 3,38 a 4,48 quilômetros.
Quanto ao número de árvores em um raio de um quilômetro no entorno da residência
dos participantes, a menor quantidade encontrada foi de 4.006 árvores e a maior foram
contabilizadas em 13.804 unidades destas. Na faixa formada do primeiro subgrupo deste dado
ambiental, portanto, contendo o intervalo com as menores quantidades de árvores (4.006 a
6.456), residiam 42,85% dos participantes. Nos demais subgrupos tiveram 30,77% entre 6.456
a 8.905, 16,48% entre 8.905 e 11.355 e apenas 9,90% no grupo com maior número, entre 11.355
a 13.804 unidades.
Com o resultado do mapeamento calculou a área da floresta urbana contida na área
circular de meio quilômetro, que corresponde a um total de 0,78 km2 e na de um quilômetro
com área total de 3,14 km2, no entorno da residência de cada um dos participantes. A área
mínima de floresta urbana encontrada em um raio de meio quilômetro foi de 0,019 km2 e a
máxima de 0,264 km2. Os dados apontaram que 92,70% dos participantes se encontravam entre
0,08 e 0,20 km2, o que corresponde entre 25 a 75% da floresta urbana mapeada para estas áreas.
Portanto, apenas 7,30% dos participantes residiam em áreas com maior porcentagem de floresta
urbana, correspondendo áreas entre 0,20 a 0,264 km2. As áreas com raio de um quilômetro
tiveram comportamento similar, ou seja, 92,82% dos participantes se encontravam entre 25 a
75% da floresta urbana mapeada para estas áreas, correspondendo a áreas entre 0,37 e 0,58 km2
de floresta urbana e 7,18% residiam em faixas com as maiores áreas de cobertura da floresta
urbana, entre 0,79 a 1,01 km2. Mesmo sendo as maiores áreas, correspondem a menos de 1/3
da área total delimitada para o mapeamento no entorno das residências dos participantes.
Para todas as análises contidas em cada um destes itens houve a combinação válida de
pares, definindo, portanto, um número de amostra diferente para cada análise feita, mas que
atenderam à técnica da estatística descritiva. Nesse sentido, os dados binários correspondentes
aos indicadores de saúde tiveram 233 para as análises que utilizaram o dado ambiental “Área
de floresta urbana encontrada na área circular com raio de meio quilômetro no entorno da
residência dos participantes (km2)”, e 223 nas que utilizaram a “Área de floresta urbana
encontrada na área circular com raio de um quilômetro no entorno da residência dos
participantes (km2)”; 91 indivíduos avaliados quando foram correlacionados com o dado
ambiental “número de árvores encontradas na área circular com raio de um quilômetro no
entorno da residência dos participantes” e 234 quando analisado com “distância da residência
27
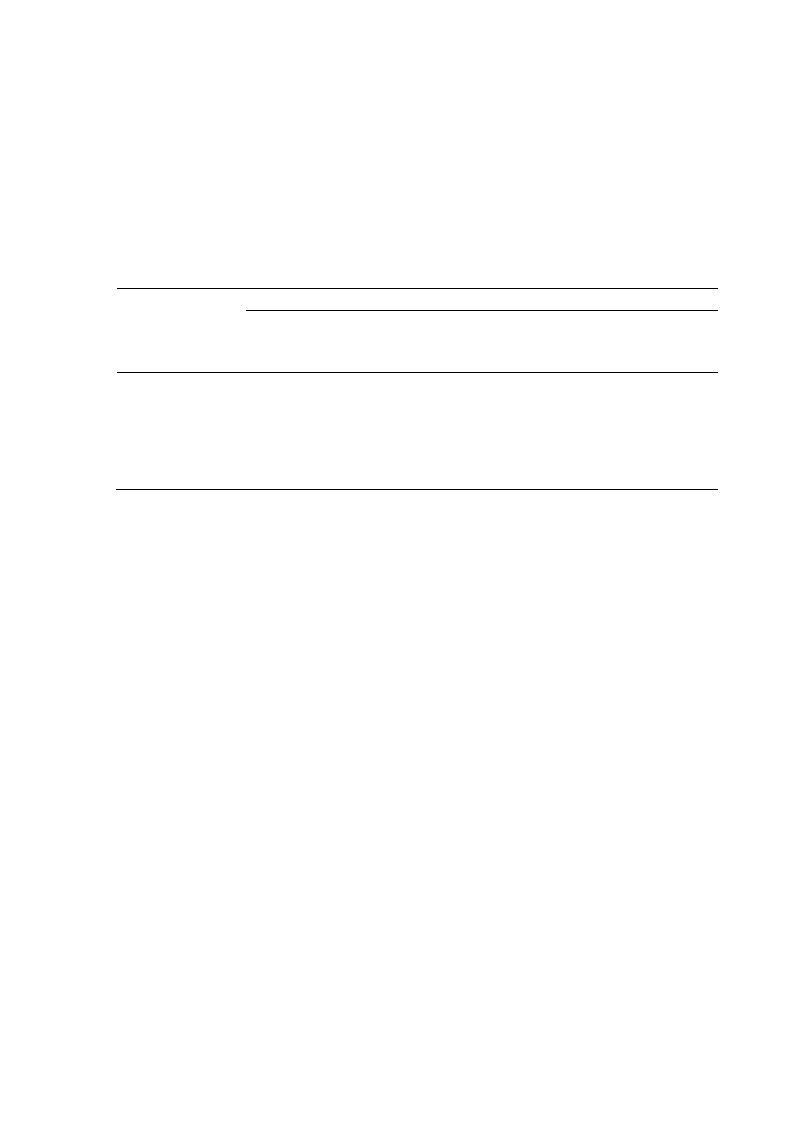
dos participantes a um parque urbano mais próximo aberto à visitação (km)”. Já para os
indicadores de saúde, que correspondiam a resultados de exames clínicos laboratoriais, por não
ser de fornecimento obrigatório no formulário eletrônico, estes números se comportaram
conforme Tabela 2.
Tabela 2: Número de indivíduos estudados nas correlações entre os dados ambientais e os
indicadores de saúde obtidos por exames clínicos laboratoriais
DADOS AMBIENTAIS
Área de floresta Área de floresta
INDICADORES urbana (km2) no urbana (km2) no
DE SAÚDE raio de 0,5 km raio de 1 km
Colesterol HDL
60
57
Número de
árvores em um
raio de 1km
25
Dist. da residência
a um parque
urbano (km)
60
Colesterol total
67
64
29
66
Cortisol
8
8
3
8
Glicose
67
64
29
66
Triglicérides
61
58
24
61
Dentro da amostra de 304 indivíduos, nenhum disse ter sido diagnosticados como já ter
tido acidente vascular cerebral (AVC); apenas um indivíduo foi diagnosticado com doença
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e um indivíduo com infarto do miocárdio; dois indivíduos
já tiveram Cirrose Hepática e quatro indivíduos com algum tipo de câncer (três casos de
carcinoma papilífero da tiroide e um com câncer de pele). Com a baixa quantidade de dados
para estes indicadores de saúde, não foi possível inferir qualquer análise e, portanto, qualquer
conclusão.
5.2. Manifestações sensoriais e sentimentais frente aos diferentes ambientes
Ao serem questionados sobre o que sentiam quando se encontravam em áreas verdes e
arborizadas e outrora em áreas que não se configurassem desta maneira, os participantes
manifestaram suas sensações e sentimentos correspondentes, conforme mostrados nas figuras
4 e 5.
28
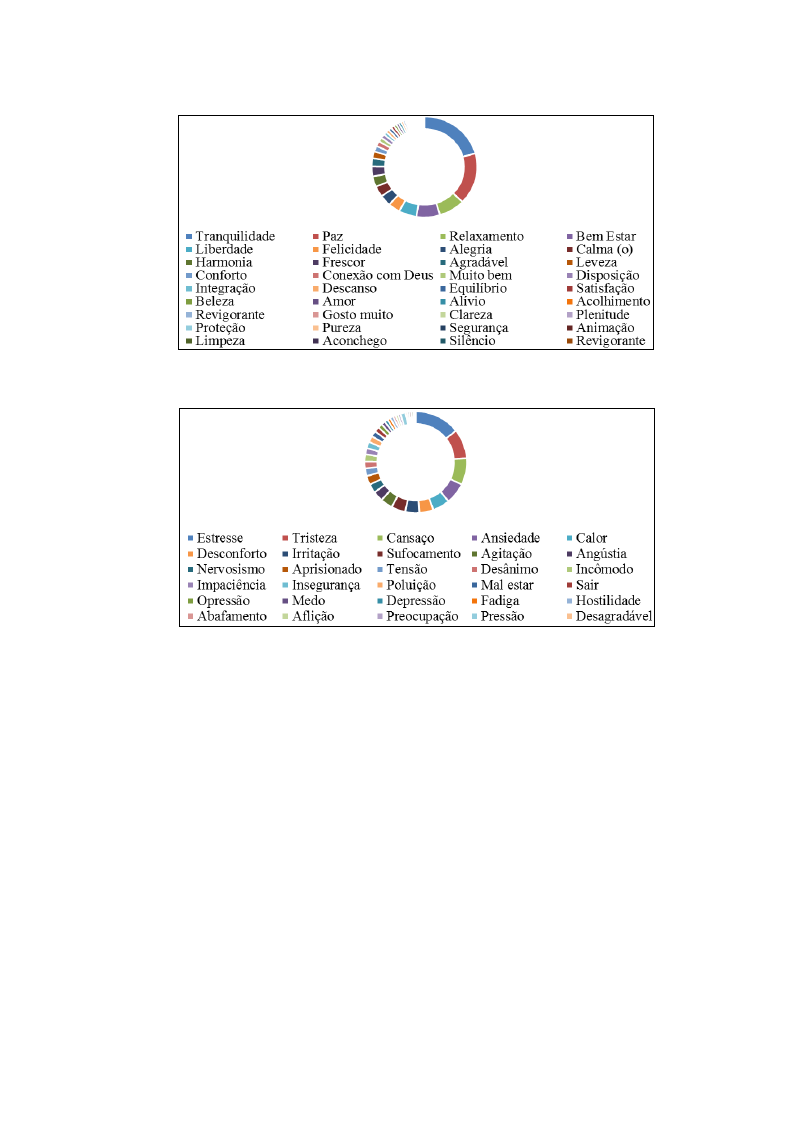
Figura 4: Sensações e sentimentos expressados pelos participantes para ambientes florestados.
Figura 5: Sensações e sentimentos expressados pelos participantes para os demais ambientes.
Pode-se verificar nas Figuras 4 e 5 que, quando se encontravam em ambientes mais
arborizados, portanto, áreas verdes, o que mais apareceu como respostas às suas sensações
foram, respectivamente, tranquilidade, paz, relaxamento e bem-estar, seguindo de outras 32
palavras que expressam boas sensações e bons sentimentos. Em contrapartida, quando se
encontram em ambientes que não se apresentam desta forma, eles sentem estresse, tristeza,
cansaço, ansiedade e calor, respectivamente, acrescidos de mais 25 palavras que apareceram
em menor proporção, mas todas exprimindo sensações e sentimentos ruins.
Ao observar o gráfico da Figura 5 pode-se averiguar que o estresse foi a doença que
obteve maior expressão diante das declarações dos participantes, quando se encontravam em
ambientes com escassez de área verde ou baixa porcentagem arbórea. Mesmo assim, quase 80%
dos participantes desta pesquisa declararam visitar áreas verdes no máximo duas vezes por
semana. Grahn e Stigsdotter (2003) afirmaram em seu artigo que, quanto mais vezes uma pessoa
visita amplos espaços verdes urbanos, menos vezes ela vai relatar doenças relacionadas ao
29

estresse. Pois, segundo os autores, baseado nos resultados alcançados, matas e florestas são
comumente relatadas como ambiente mais desejado para relaxar e recuperar do estresse e do
esforço mental. Nos estudos de Maas et al. (2009), de associação entre espaços verdes e saúde,
em geral, foi identificada uma relação positiva para estresse. Da mesma maneira, Berman et al.
(2012) concluíram em seus estudos que os indivíduos que apresentavam transtorno depressivo
apresentaram aumentos significativos na melhoria do humor e dos pensamentos negativos que
expuseram antes da caminhada, principalmente aquela realizada em um ambiente natural em
relação ao urbano. Ambrey e Fleming (2014), em seu artigo, cuja aplicação se deu nas áreas
metropolitanas da Austrália, evidenciaram que os espaços verdes públicos melhoram o bem-
estar dos residentes urbanos.
Vale salientar aqui que, de certa maneira, esses resultados confirmam a tese de que as
florestas urbanas proporcionam bem-estar e contribuem para melhorar a saúde do ser humano,
principalmente para as doenças como ansiedade e estresse.
Cada pessoa possui uma percepção sobre as coisas e os ambientes onde elas vivem e
frequentam, bem como as experiências se diferenciam entre elas. Neste sentido, o que pode ser
bom para um, pode não ser nada bom para o outro. Além disso, vale salientar que sensações e
percepções são sentimentos que não podem, a priori, expressar em números, mas é possível
categorizá-los em bons ou ruins e em positivos ou negativos, por exemplo. Neste sentido,
embora as áreas florestadas possam não apresentar influência efetiva, nas respostas
cardiometabólicas e dados de saúde de determinadas pessoas, como apontaram os dados desta
pesquisa, isso não elimina o fato que as áreas verdes influenciam em seu comportamento
psicológico, atribuindo-lhe, por exemplo, bem-estar e tranquilidade. Diante disso, sugere-se
analisar as percepções que as pessoas têm em diferentes ambientes, correlacionando com o
lugar de onde elas vivem ou frequentam para averiguar se há uma positividade ou não, quanto
à presença de florestas em sua qualidade de vida, bem-estar e saúde.
5.3. Análise da correlação entre os dados ambientais e os indicadores de saúde
A partir da correlação entre os indicadores de saúde e os dados ambientais considerados
nesta pesquisa, foram obtidas diferentes associações, conforme mostrado nos itens “5.3.1”,
“5.3.2” e “5.3.3”.
30

5.3.1. Análise da correlação entre a floresta urbana encontrada no entorno da
residência dos participantes e os indicadores de saúde
Nas Tabelas 3 e 4 encontram-se os Coeficientes de correlação linear simples de Pearson
e de Spearman e nas Tabelas 5 e 6 à Frequência Relativa para os indicadores de saúde
considerados para esta pesquisa e os dados correspondentes à área, em quilômetros quadrados,
de floresta urbana mapeada na área circular com raio de meio e um quilômetro,
respectivamente, no entorno das residências dos participantes.
Constante na Tabela 3, os coeficientes de correlação de Spearman mostram associação
consideráveis entre Asma (0,1057); Colesterol Alto (- 0,1035) e Síndrome do Intestino Irritável
(- 0,1016) com a floresta urbana encontrada mais perto das residências dos participantes. As
ocorrências de Asma e Obesidade também variaram no mesmo sentido, o que quer dizer que,
quando a área de floresta urbana aumentava, o número de ocorrências para diagnósticos de
Asma e Obesidade também se elevava. Segundo Croce et al. (1998), uma grande variedade de
poluentes, orgânicos e não-orgânicos, geralmente associados a agentes biológicos e não-
biológicos, está associada direta e indiretamente ao aumento da incidência de asma e outras
doenças respiratórias como as alergias.
Quanto à ocorrência de obesidade apresentar uma associação positiva com a floresta
urbana, onde o Coeficiente de Correlação de Spearman foi de 0,0243 (p-valor: 0,3871) para a
floresta urbana encontrada mais próxima da residência dos participantes (raio de 0,5 km) e
0,0787 (p-valor: 0,1801) para aquela encontrada na área circular com raio de um quilômetro no
entorno de ondem eles residem, podem ser considerados diversos fatores para justificar este
resultado. Embora o presente estudo não contemplasse de forma significativa os processos de
urbanização contemporânea, ou seja, como a sua forma de organização pode influenciar nas
condições de saúde da população. Neste caso, vale mencionar o trabalho de Ojima (2008), que
destaca uma pesquisa desenvolvida por MCCann e Ewing, e que mostra que as pessoas que
vivem em regiões urbanas mais dispersas, ou seja, mais distantes do centro da cidade, tendem
a ter um maior índice de massa corporal do que aquelas que vivem em áreas mais compactas,
como os centros urbanos, por exemplo. O autor atribui essa relação ao fato de que as pessoas
que vivem nestas áreas tenderem a andar e caminhar menos, em contrapartida de quem vive nas
áreas mais compactas tender a apresentar menor índice de massa corporal devido às atividades
físicas que tem de realizar durante as próprias atividades do cotidiano. Vale salientar, ainda,
que as regiões mais dispersas de Belo Horizonte apresentaram-se com maior área de floresta
urbana e, como dito por Bargos e Matias (2011), essa característica valoriza economicamente
31

as propriedades ao seu entorno, possibilitando o acesso a somente quem possui poder aquisitivo.
Essa circunstância sugere, portanto, o aumento concomitantemente do acesso a bens de
consumo, como veículos e alimentação. Enquanto a alimentação aumenta o consumo de
calorias, o veículo diminui a sua queima. Vale salientar que a obesidade em Frequência Relativa
não apresentou nenhum caso para o grupo com menor área de floresta urbana, conforme
mostrado pelas Tabelas 5 e 6, bem como as Figuras 10A e 10B. Embora apresentasse também
uma queda na quantidade de ocorrências de obesidades à medida que aumentava a área de
floresta urbana, principalmente a encontrada mais próxima à residência dos participantes. Este
aspecto apontou que os fatores ambientais e emocionais causadores de obesidade estão, para
aqueles que possuem maior área de floresta urbana, contribuindo para a diminuição da sua
ocorrência.
Com relação à associação entre a área de floresta urbana encontrada na área circular
com raio de meio e um quilômetro no entorno da residência dos participantes com os
indicadores de saúde, pode-se afirmar que apresentou um Coeficiente de Correlação Linear
Simples mais significante para a ocorrência de diagnóstico de Asma e Síndrome do Intestino
Irritável, principalmente com a floresta urbana encontrada mais perto das residências dos
participantes. A ocorrência de Asma aumentou à medida que a área de floresta urbana também
aumentava, apontando que esta doença pode ser afetada negativamente pelos componentes
presentes ali. O Coeficiente de Spearman apontou associação, variando em sentido contrário,
entre a Síndrome do Intestino Irritável em relação à área de floresta urbana. Sugerindo que esta
síndrome seja, de certa maneira, afetada ou originada por processos psicológicos ou distúrbios
mentais.
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica se mostrou como comportamento associativo
com aquela floresta urbana encontrada na área circular com raio de um quilômetro (1 km) no
entorno da residência dos participantes, conforme mostrado pelo Coeficiente de Correlação de
Spearman de - 0,1029 e p-valor de 0,0618 (Tabela 4). No entanto, apenas um dos participantes
já fora diagnosticado com essa doença, o que invalida o resultado apresentado.
Ainda na Tabela 4, o Coeficiente de Correlação de Pearson, embora tenha apresentado
um índice de 0,1647 para Colesterol HDL e de - 0,2911 para Cortisol, o p-valor de ambos são
significativos a partir de 11,05% e 24,21%, respectivamente. O baixo número de amostras para
Cortisol deixa em dúvida a consistência desta associação, embora que o Colesterol HDL não
deva ser ignorado e, portanto, necessita ser investigado, haja vista que os autores Park et al.
(2009) mostraram em seus estudos que os ambientes florestais promoveram as concentrações
mais baixas de cortisol.
32
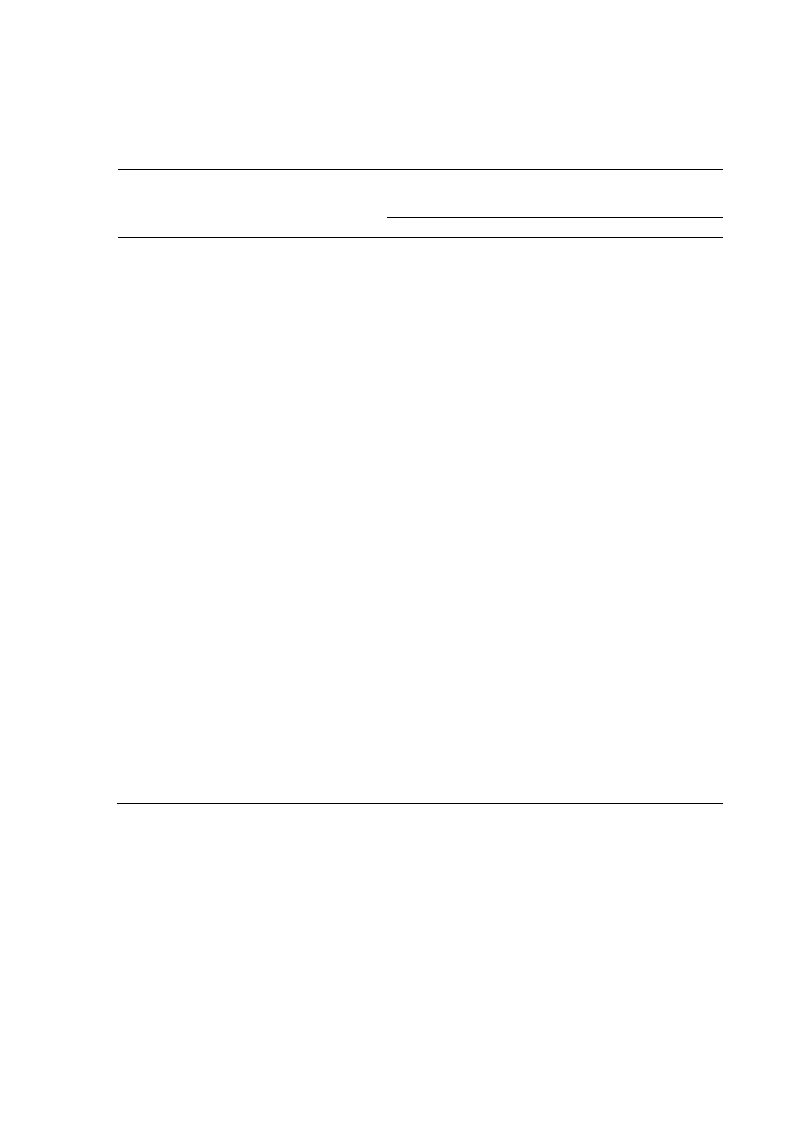
Tabela 3: Estimativas dos coeficientes de Correlação de Pearson e dos coeficientes de
Correlação de Spearman entre a floresta urbana encontrada na área circular com raio de meio
quilômetro (0,5 km) no entorno da residência dos participantes e os indicadores de saúde
INDICADORES DE SAÚDE
CORRELAÇÃO DE CORRELAÇÃO DE
PEARSON
SPEARMAN
Alergia
Ansiedade
Artrite
Asma
Bronquite
Câncer
Cirrose Hepática
Cirurgia
Colesterol alto (>200 mgdL-1)
r
pr
ρ
pr
0,0212
0,3733
-0,0214 0,3722
0,0188
0,3875
0,1057
0,0538
-0,0679 0,1507
-0,0812
-
-0,0118
-0,1035
0,1080
-
0,4285
0,4184
Colesterol total *
-0,0360 0,2918
Colesterol HDL *
-0,0805 0,2704
Colite Ulcerativa (Doença intestinal)
-0,0291 0,3291
Cortisol *
-0,4015 0,1621
Depressão
-0,0654 0,1597
Derrame
-
-
Diabetes
0,0947
0,0747
Doença Cardíaca
0,0359
0,2923
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
-0,0976 0,0685
Enxaqueca
-0,0989 0,0660
Glicose alta (>100 mgdL-1)
-0,0477 0,2337
Glicose *
-0,0599 0,1808
Hipertensão (>140x90 mmHg)
-0,0735 0,1315
Infarto do Miocárdio
-0,0859 0,0954
Obesidade (IMC>40)
0,0243
0,3871
Síndrome do Intestino Irritável
-0,1016 0,0609
Triglicérides *
-0,1030 0,2208
Uso de medicamento
-0,0482 0,2320
r = Coeficiente de correlação de Pearson;
ρ = Coeficiente de correlação de Spearman;
pr = Nível crítico ou p-valor;
* Dados utilizados oriundos de resultados de exames clínicos laboratoriais.
OBS.: Demais indicadores de saúde correspondem a dados binários sobre a ocorrência de
determinada doença.
Embora os dados de Cortisol tenham apresentado um número baixo de indivíduos, pois
somente oito dos participantes apresentaram exames para cortisol, vale salientar que as análises
de cortisol com relação à floresta urbana teriam muito a contribuir para os resultados deste
trabalho. Segundo Mcardle et al. (2008), citados por Bueno e Gouvêa (2011), o cortisol ou
33
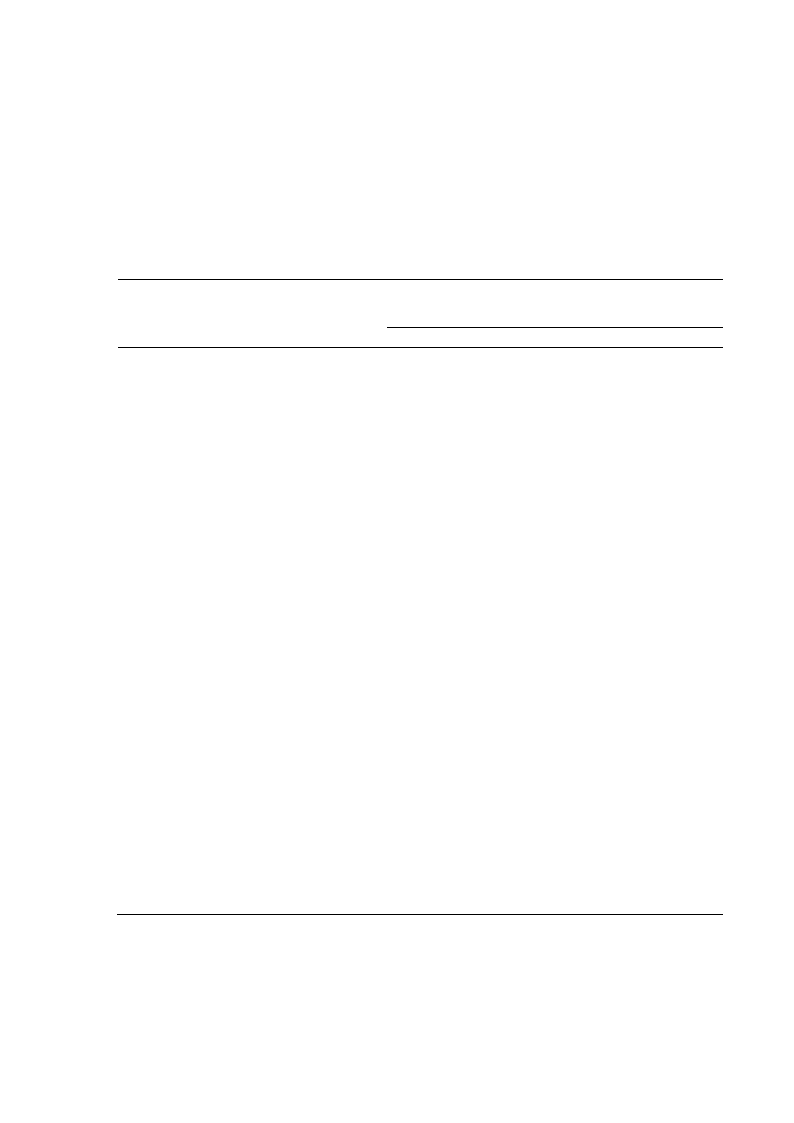
hidrocortisona é o principal glicocorticoide produzido pelo córtex da suprarrenal (10-20 mg
diários), que está envolvido na resposta ao estresse, aumento da pressão arterial e da glicose do
sangue, além de suprimir o sistema imune.
Tabela 4: Estimativas dos coeficientes de Correlação de Pearson e dos coeficientes de
Correlação de Spearman entre a floresta urbana encontrada na área circular com raio de um
quilômetro (1 km) no entorno da residência dos participantes e os indicadores de saúde
INDICADORES DE SAÚDE
CORRELAÇÃO DE CORRELAÇÃO DE
PEARSON
SPEARMAN
Alergia
Ansiedade
Artrite
Asma
Bronquite
Câncer
Cirrose Hepática
Cirurgia
Colesterol alto (>200 mgdL-1)
r
pr
ρ
pr
0,0249
0,3547
-0,0457 0,2468
-0,0185 0,3909
0,0754
0,1297
-0,0531 0,2135
-0,0894
-
-0,0522
-0,0396
0,0905
-
0,2175
0,2766
Colesterol total *
-0,0296 0,3293
Colesterol HDL *
0,1647 0,1105
Colite Ulcerativa (Doença intestinal)
0,0022
0,4869
Cortisol *
-0,2911 0,2421
Depressão
-0,0428 0,2610
Derrame
-
-
Diabetes
0,0311
0,3208
Doença Cardíaca
-0,0370 0,2896
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
-0,1029 0,0618
Enxaqueca
-0,0137 0,4187
Glicose alta (>100 mgdL-1)
-0,0639 0,1696
Glicose *
-0,0634 0,1715
Hipertensão (>140x90 mmHg)
-0,0963 0,0747
Infarto do Miocárdio
-0,0936 0,0806
Obesidade (IMC>40)
0,0787
0,1801
Síndrome do Intestino Irritável
-0,0960 0,0753
Triglicérides *
-0,0637 0,3173
Uso de medicamento
-0,0483 0,2010
r = Coeficiente de correlação de Pearson;
ρ = Coeficiente de correlação de Spearman;
pr = Nível crítico ou p-valor;
* Dados utilizados oriundos de resultados de exames clínicos laboratoriais.
OBS.: Demais indicadores de saúde correspondem a dados binários sobre a ocorrência de
determinada doença.
34
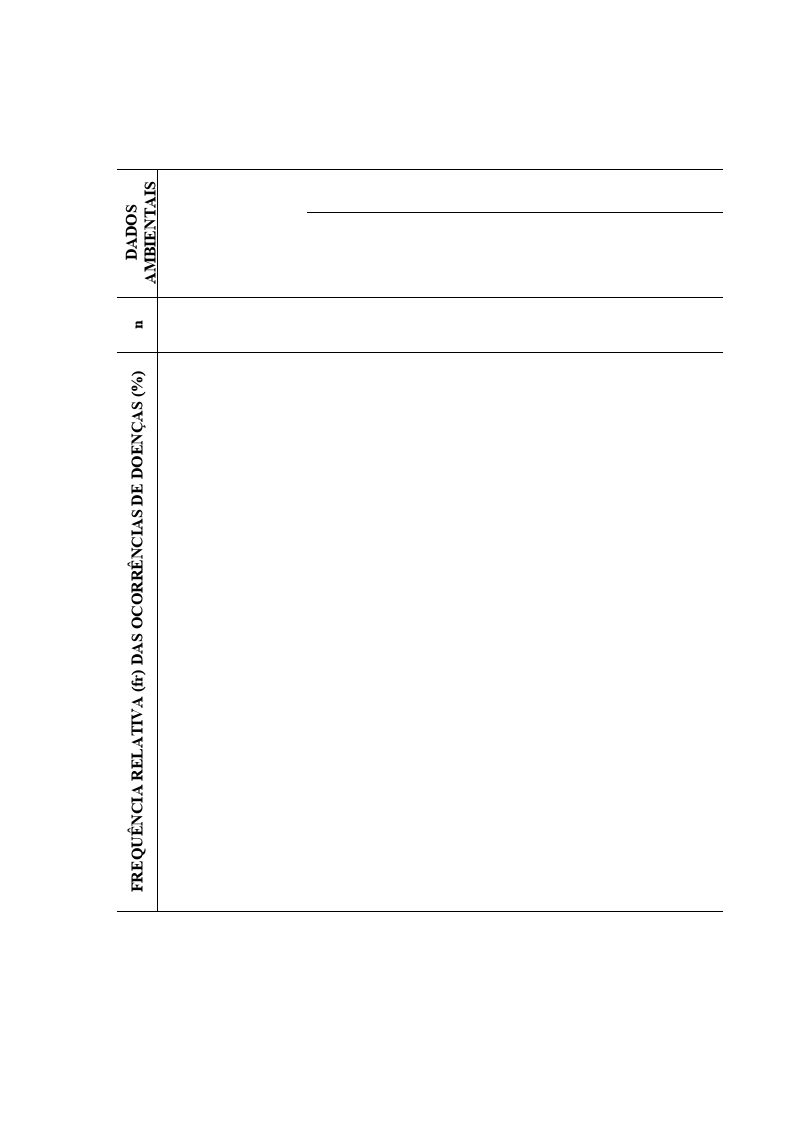
Tabela 5: Número de indivíduos e Frequência Relativa das ocorrências de doenças em relação
à área de floresta urbana encontrada na área circular com raio de meio quilômetro (0,5 km) no
entorno da residência dos participantes
ÁREA DE
FLORESTA
URBANA (km2)
GRUPO
1
2
3
4
0,019 a 0,080 0,081 a 0,141 0,142 a 0,202 0,203 a 0,264
NO RAIO DE
0,5km
NÚMERO DE
INDIVÍDUOS
POR GRUPO
Alergia
Ansiedade
Artrite
Asma
Bronquite
Câncer
Cirrose Hepática
Cirurgia
Colesterol alto (>200
mgdL-1)
Colite Ulcerativa
(Doença intestinal)
Depressão
Derrame
Diabetes
Doença Cardíaca
Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica
Enxaqueca
Glicose alta (>100
mgdL-1)
Hipertensão
(>140x90 mmHg)
Infarto do Miocárdio
Obesidade (IMC>40)
Síndrome do
Intestino Irritável
Uso de medicamento
3
66,67
66,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
66,67
0,00
33,33
0,00
0,00
0,00
0,00
33,33
0,00
33,33
0,00
0,00
33,33
66,67
106
55,66
42,45
5,66
3,77
18,87
3,77
0,00
58,49
25,47
0,94
26,42
0,00
0,94
1,89
0,94
38,68
9,43
16,98
0,94
22,22
8,49
46,23
107
56,07
37,38
5,61
7,48
15,89
0,93
0,00
55,14
30,84
0,93
21,50
0,00
4,67
4,67
0,00
27,1
9,35
15,89
0,00
12,50
4,67
42,99
17
52,94
29,41
0,00
11,76
11,76
0,00
0,00
58,82
23,53
0,00
5,88
0,00
0,00
0,00
0,00
11,76
0,00
11,76
0,00
9,09
5,88
35,29
Com relação à Frequência Relativa, estimada para os dois dados correspondente à
floresta urbana, apesar de apontar uma discrepância quanto ao número de indivíduos entre os
quatro grupos (1, 2, 3 e 4), algumas doenças se mostraram com comportamento associativo,
conforme pode ser observado nas Tabelas 5 e 6. Sendo, portanto, a Tabela 5 para a Frequência
35
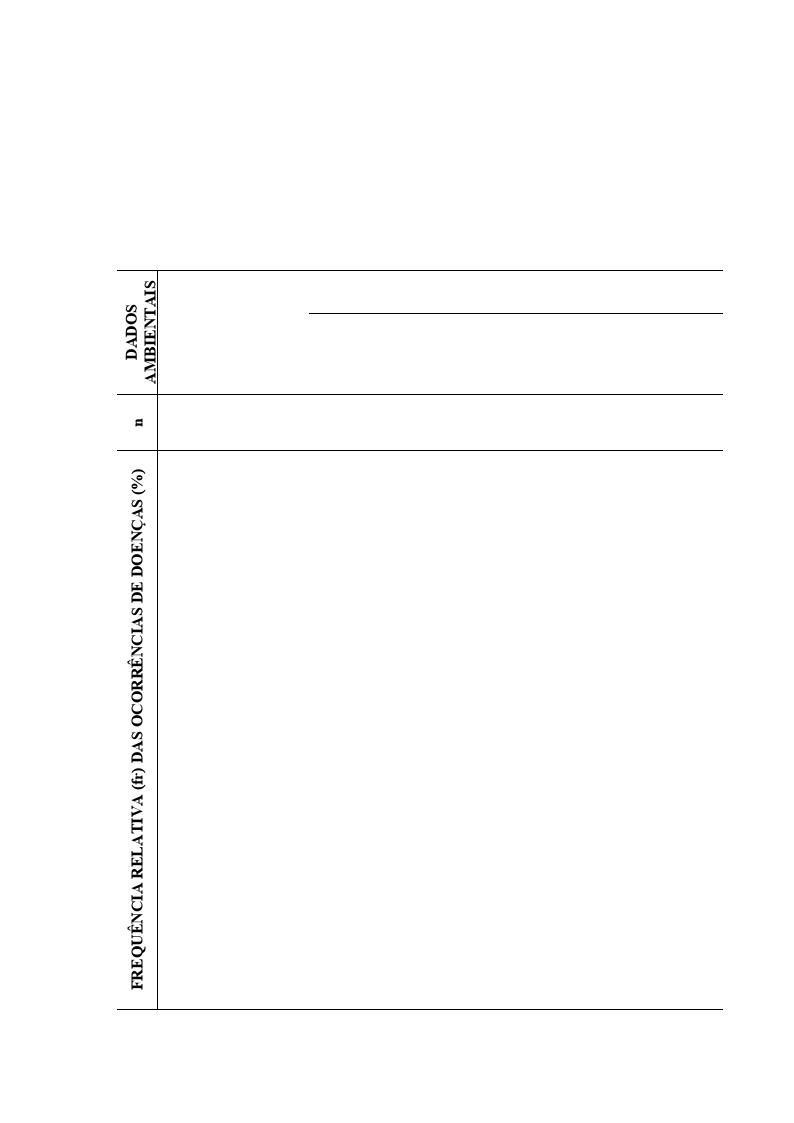
Relativa entre os indicadores de saúde e à área de floresta urbana disposta na área circular com
raio de meio quilômetro (0,5 km) e a Tabela 6 para área circular com raio de um quilômetro (1
km) no entorno da residência dos participantes.
Tabela 6: Número de indivíduos e Frequência Relativa das ocorrências de doenças em relação
à área de floresta urbana encontrada na área circular com raio de um quilômetro (1 km) no
entorno da residência dos participantes
GRUPO
ÁREA DE
FLORESTA
URBANA (km2)
NO RAIO DE 1 km
1
2
0,157 a 0,371 0,371 a 0,585
3
0,585 a 0,799
4
0,799 a 1,013
NÚMERO DE
INDIVÍDUOS
POR GRUPO
Alergia
Ansiedade
Artrite
Asma
Bronquite
Câncer
Cirrose Hepática
Cirurgia
Colesterol alto (>200
mgdL-1)
Colite Ulcerativa
(Doença intestinal)
Depressão
Derrame
Diabetes
Doença Cardíaca
Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica
Enxaqueca
Glicose alta (>100
mgdL-1)
Hipertensão
(>140x90 mmHg)
Infarto do Miocárdio
Obesidade (IMC>40)
Síndrome do
Intestino Irritável
Uso de medicamento
3
33,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98
58,16
43,88
4,08
4,08
20,41
4,08
0,00
63,27
31,63
1,02
26,53
0,00
3,06
4,08
1,02
33,67
12,24
22,45
1,02
20,31
10,20
51,02
106
55,66
35,85
3,77
7,55
14,15
0,94
0,00
50,94
24,53
0,94
21,7
0,00
1,89
2,83
0,00
32,08
6,6
11,32
0,00
13,11
3,77
39,62
16
56,25
31,25
6,25
12,5
25,00
0,00
0,00
75,00
31,25
0,00
18,75
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
12,50
0,00
0,00
12,5
43,75
36
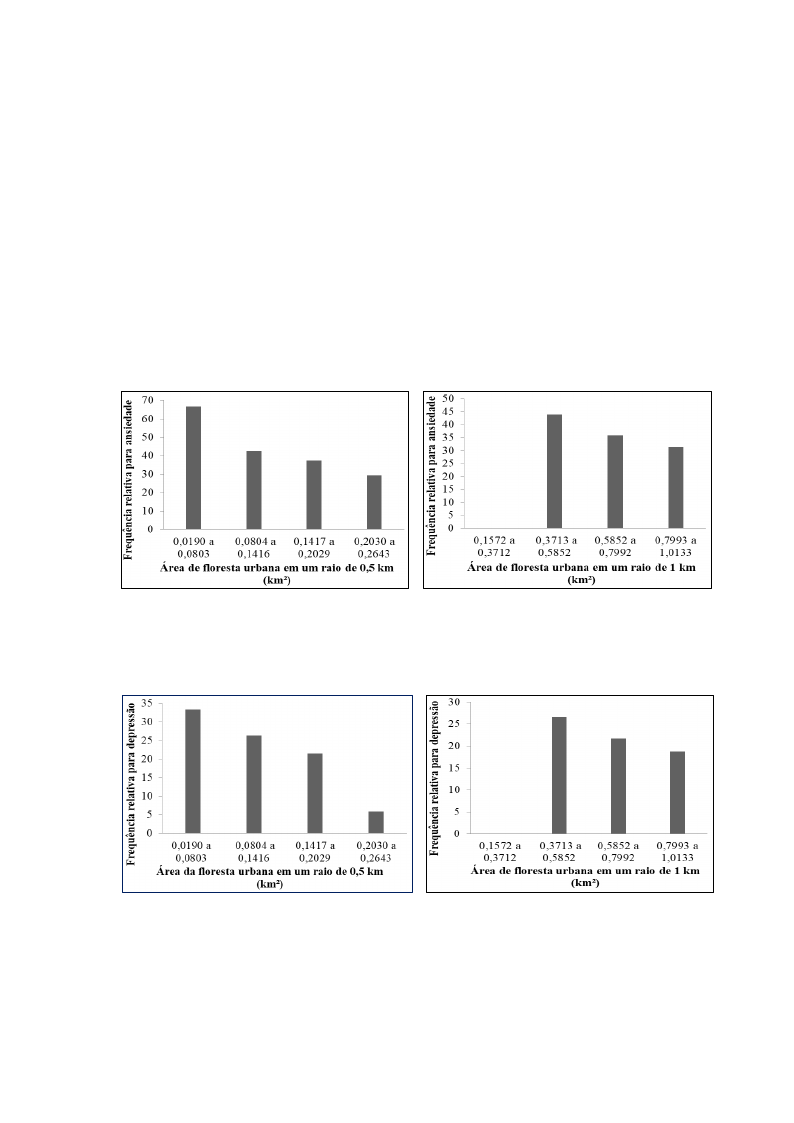
Conforme pode ser observado nas Tabelas 5 e 6, a frequência relativa das ocorrências
de diagnósticos para as doenças estudadas mostrou uma diminuição à medida que a floresta
urbana aumentou, principalmente para aquelas que se encontram mais próximas às residências,
como pode ser analisado também nos histogramas representados pelas Figuras 6A, 6B, 7A, 7B,
8A, 8B, 9A, 9B, 10A e 10B, para as ocorrências de diagnósticos de ansiedade, depressão,
enxaqueca, hipertensão e obesidade. Para outros indicadores de saúde que simularam um
comportamento similar, o número de ocorrências é insuficiente para alguma consideração
estatística.
A)
B)
Figura 6: Frequência relativa da ocorrência de diagnóstico de ansiedade em relação à área de
floresta urbana encontrada na área circular com raio de 0,5 km (A) e de 1 km (B), no entorno
da residência dos participantes.
A)
B)
Figura 7: Frequência relativa da ocorrência de diagnóstico de depressão em relação à área de
floresta urbana encontrada na área circular com raio de 0,5 km (A) e de 1 km (B), no entorno
da residência dos participantes.
37
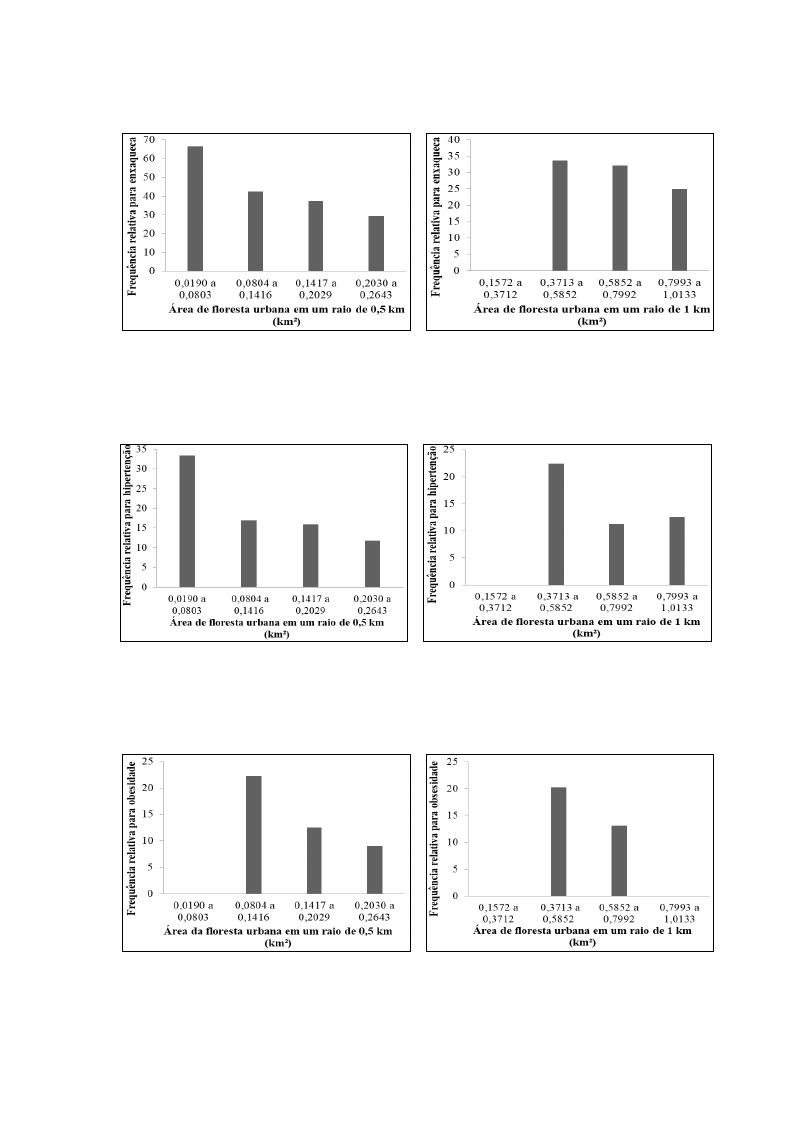
A)
B)
Figura 8: Frequência relativa da ocorrência de diagnóstico de enxaqueca em relação à área
de floresta urbana encontrada na área circular com raio de 0,5 km (A) e de 1 km (B), no
entorno da residência dos participantes.
A)
B)
Figura 9: Frequência relativa da ocorrência de diagnóstico de hipertensão em relação à área
de floresta urbana encontrada na área circular com raio de 0,5 km (A) e de 1 km (B), no
entorno da residência dos participantes.
A)
B)
Figura 10: Frequência relativa da ocorrência de diagnóstico de obesidade em relação à área
de floresta urbana encontrada na área circular com raio de 0,5 km (A) e de 1 km (B), no
entorno da residência dos participantes.
38

Embora alguns destes indicadores de saúde possam apresentar outros ou diferentes
fatores causadores ou desencadeadores, como fatores genéticos e estilo de vida, os que
apresentaram alguma associação com a floresta urbana se tratam de doenças que são
categorizadas ou causadas por transtornos mentais, ou seja, doenças psicológicas. Essa
circunstância aponta os fatores ambientais e emocionais como preponderante na incidência das
mesmas para os casos estudados. E mostrou ainda que as associações se apresentaram mais
fortes quando se tratava daquela floresta urbana que se encontrava mais próximo às residências
dos participantes, ou seja, nesta pesquisa a floresta urbana encontrada há um raio de meio
quilômetro, conforme mostrado nas Figuras 6A, 7A, 8A, 9A e 10A em comparação com os
histogramas mostrados nas Figuras 6B, 7B, 8B, 9B e 10B.
Maas et al. (2009), em um estudo comparativo da associação entre a área verde
encontrada no entorno da casa dos pacientes estudados na Holanda, e suas doenças registradas
pelos médicos (clínicos gerais), relatam uma correlação forte para as ocorrências de transtornos
de ansiedade e depressão, principalmente com as áreas verdes encontradas dentro do raio de
um quilômetro. Ou seja, houve também uma diminuição da prevalência destas doenças à
medida que aumentava a área verde ao redor da casa destes pacientes, principalmente das mais
próximas às residências destes.
Vale salientar que estes transtornos podem mudar as percepções de vida, interferindo na
autoconfiança, no entusiasmo e na forma como estas pessoas se relacionam com os demais.
Além disso, muitas destas doenças podem contribuir ou desencadear outras, refletindo até
mesmo nas características físicas e no comportamento cardiometabólico do ser humano, haja
vista o resultado observado no que tange à associação das florestas urbanas para com a pressão
arterial (hipertensão). Estresse e ansiedade, por exemplo, são fatores de risco para doenças
como acidente cardiovascular, infarto do miocárdio, angina e AVC. Como afirmado pelos
autores Brotman e seus colaboradores (2008), a associação entre o estresse psicológico e o risco
de doenças cardiovasculares é, em grande parte, explicada por processos comportamentais.
Portanto, segundo os autores, o sofrimento psicológico aumenta os riscos da doença, tais como:
infarto do miocárdio, angina, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e mortalidades
relacionadas.
Maas et al. (2006), em um estudo similar a esta pesquisa, utilizaram dados de
mapeamento de área verde em um raio de um a três quilômetros, e dados de saúde. Os autores
consideraram a declaração de doenças de modo geral e concluíram que havia uma correlação
significativa com a porcentagem de espaço verde levantado dentro deste raio. Richardson e
Mitchell (2010), que utilizaram também porcentagem de área verde em estudo no Reino Unido,
39

obtiveram resultado positivo para correlação entre doenças cardiovasculares masculinas e as
taxas de mortalidade por doenças respiratórias, as quais diminuíram as suas incidências à
medida que havia o aumento dos espaços verdes.
Estudos realizados pelos autores Park et al. (2009), a partir dos efeitos do denominado
“banho de floresta”, mostram que os ambientes florestais promovem a concentração mais baixa
de cortisol, menor frequência cardíaca e pressão arterial, maior atividade do nervo
parassimpático e menor atividade nervosa simpática do que os ambientes urbanos. Todos estes
resultados, seja nesta pesquisa ou a dos autores citados, apontam para um caminho onde o
rendimento em saúde se apresenta menos pronunciado em pessoas e, consequentemente, nas
populações com maior exposição a espaços verdes.
Como pode ser observado na Tabela 5, o uso de medicamento também apresentou uma
tendência a diminuir com a floresta urbana encontrada mais próxima da residência dos
participantes. Ressalta-se que a maioria dos medicamentos (Anlodipina, Brupopiona,
Fluoxetina, Enalapril, Losartana, por exemplo) da qual 45,72% dos participantes fazem uso é
prescrita para ansiedade, depressão e hipertensão, cujas doenças apresentaram tendência à
diminuição com a presença da floresta urbana nesta pesquisa, corroborando, portanto, os
resultados obtidos para as doenças mencionadas.
A floresta urbana também impactou a incidência de obesidade. À medida que se
aumentava a área desta floresta no entorno da residência dos participantes, diminuía o Índice
de Massa Corpórea dos mesmos. Resultados similares foram encontrados também na pesquisa
realizada por Nielsen e Hansen (2007), que encontrou como resultado a diminuição do estresse
e a redução da obesidade. Em via, o estresse foi a doença que mais os participantes citaram
sentir ao se encontrarem em ambientes desprovidos de floresta.
A influência da floresta urbana nos parâmetros estudados tem apresentado respostas
instigantes e até imediatas, segundo as informações levantadas junto aos participantes da
pesquisa e a partir de artigos correlacionados. No entanto, não há como quantificar o resultado
na saúde humana e dizer em quanto tempo a melhora pode ser percebida principalmente para
diferentes indivíduos e situações. Mas, como afirmou Freitas (2003), os problemas ambientais
são, simultaneamente, problemas de saúde, uma vez que os seres humanos e as sociedades são
afetados em várias dimensões. Seguindo esta linha de raciocínio, os indicadores de saúde que
apresentaram a tendência à diminuição com a presença da floresta urbana devem ser
considerados como parte de um sistema, visto que um determinado distúrbio no meio onde as
pessoas vivem poderá afetá-lo direto ou indiretamente.
40

A UNESCO indica como ideal para uma boa qualidade de vida uma relação 12m2 de
área verde por pessoa. Já a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana considera um índice
estipulado em 15m2hababitante-1 (PEREIRA et al., 2010).
O centro da cidade de Belo Horizonte, conforme consta em Pereira et al. (2010), possuía
nesta época um índice de cobertura vegetal de porte arbóreo de 15,68 m2habitante-1. Estes
autores afirmam ainda que em 1990 foi feito um levantamento das áreas verdes da cidade e
encontraram um índice de área verde de 7,3 m2habitante-1 para a região centro-sul, a qual
engloba o centro de Belo Horizonte. Desde então vários projetos, programas e leis, tais como
Programa Metropolitano de Parques Urbanos; PLAMBEL (Planejamento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte) e Lei Orgânica do Município, por exemplo, vêm sendo
implantados na cidade no intuito de implementação de áreas verdes no tecido urbano,
abrangendo também arborização de logradouros e investindo, ainda, em consciência ambiental
na busca por beneficiar a qualidade de vida dos moradores da cidade (FONSECA, 1997 apud
Pereira et al., 2010). Embora algumas regiões da cidade, principalmente por estarem perto de
parques e outras unidades de conservação, atinjam ou mesmo ultrapassam os índices ideais de
área verde por habitantes, outras regiões se apresentam com défice e vêm perdendo suas
florestas urbanas devido ao adensamento destas áreas.
A partir dos dados do mapeamento da floresta urbana, para esta pesquisa, foi observado
também que, atualmente, os tamanhos das áreas diminuíram à medida que se aproximava do
centro de Belo Horizonte. Como pôde ser observado na “Figura 2A”, que mostra um residente
da região da Pampulha, portanto, com maior área de floresta urbana e, “Figura 2B”, de um da
região central da cidade mais desprovida destas áreas. Assim sendo, como a maioria dos
participantes se encontram na área central da cidade, foi esperado que o resultado apontasse
para maiores problemas de saúde para aquelas pessoas que residem naquele local. Até mesmo
porque, como a pesquisa exalta a interferência das florestas urbanas na saúde humana, esta sem
dúvida é um dos balizadores da identificação da qualidade de vida das pessoas e de quais
possuem acesso a este bem natural.
Como dito por Leite citado por Souza et al. (1993), as cidades estão cada vez mais
fragmentadas, dispersas e segregadas, e sua configuração espacial revela as inúmeras
diferenciações espaciais e, sobretudo, nas condições atuais, elas são pensadas e planejadas
majoritariamente pela lógica do capital subsidiada pelas forças do Estado. Logo, a questão
ambiental, incluindo insistentemente e especificamente as áreas verdes urbanas, não está sendo
vista como a devida preocupação enquanto bem público comum. Cada vez mais estas áreas se
encontram em maior quantidade em espaços privatizados, cujo acesso tem sido em grande parte
41

pela população de melhor renda. Acrescenta-se a este diagnóstico a importância de observar o
conteúdo social de muitas áreas centrais. Em alguns casos, é comum nos grandes centros
metropolitanos existir uma população de baixa renda ocupando áreas consideradas centrais,
conforme afirma Leite citado por Souza et al. (1993).
Em contrapartida, o surgimento de espaços verdes urbanos parece intimamente ligado
ao tratamento de crises sociais e à reorganização de cidades. No entanto, eles desempenham um
papel fundamental na transformação das cidades em direção a ambientes socialmente e
ecologicamente mais benignos (COLDING et al., 2013).
5.3.2. Análise da correlação entre o número de árvores encontradas no entorno da
residência dos participantes e os indicadores de saúde
Como descrito na metodologia, a partir dos dados espaciais referentes ao levantamento
individual de árvores urbanas da cidade de Belo Horizonte, foi possível extrai-las e quantificá-
las dentro de uma área, que fora estabelecida com raio de um quilômetro a partir da residência
dos participantes. Contudo, obteve-se com cobertura de 100% apenas para a área de 91
indivíduos dentre os 304. Utilizando dos dados referentes aos indicadores de saúde, fornecidos
por estes indivíduos, foi possível estimar os Coeficientes de Correlação de Pearson e
Coeficientes de Correlação de Spearman (Tabela 7).
É possível observar na Tabela 7 que o aumento do número de árvores no entorno de
onde as pessoas vivem pode, de alguma maneira, melhorou as condições da saúde destes
moradores, como por exemplo, as doenças cardíacas, que tiveram diminuição do número de
ocorrências à medida que aumentava o número de árvores, de acordo com o coeficiente de
Spearman de -0,2203 e p-valor de 0,0183.
Em contrapartida, esses indicadores também podem contribuir para a ocorrência ou
piora de algumas outras, como Asma e Alergia, por exemplo. Doenças as quais apresentaram
uma associação linear nesta análise, representada pelo Coeficiente de Spearman no valor de
0,1093 e 0,1704, respectivamente. No entanto, o p-valor para a ocorrência de Asma foi 0,1498,
para as ocorrências de Alergia foi de 0,0530. Como dito anteriormente, este foi um resultado
esperado porque doenças como Asma e Alergia são, geralmente, afetadas por fatores
ambientais, como pólen e outros particulados que são expelidas pelas árvores. Haja vista o alto
número de ocorrências de alergias respiratórias relatadas pelos participantes, representando por
78,82% das ocorrências de alergias declaradas pelos participantes. Vale relembrar que, como
dito por Croce et al. (1998), uma grande variedade de poluentes, orgânicos e não-orgânicos,
42
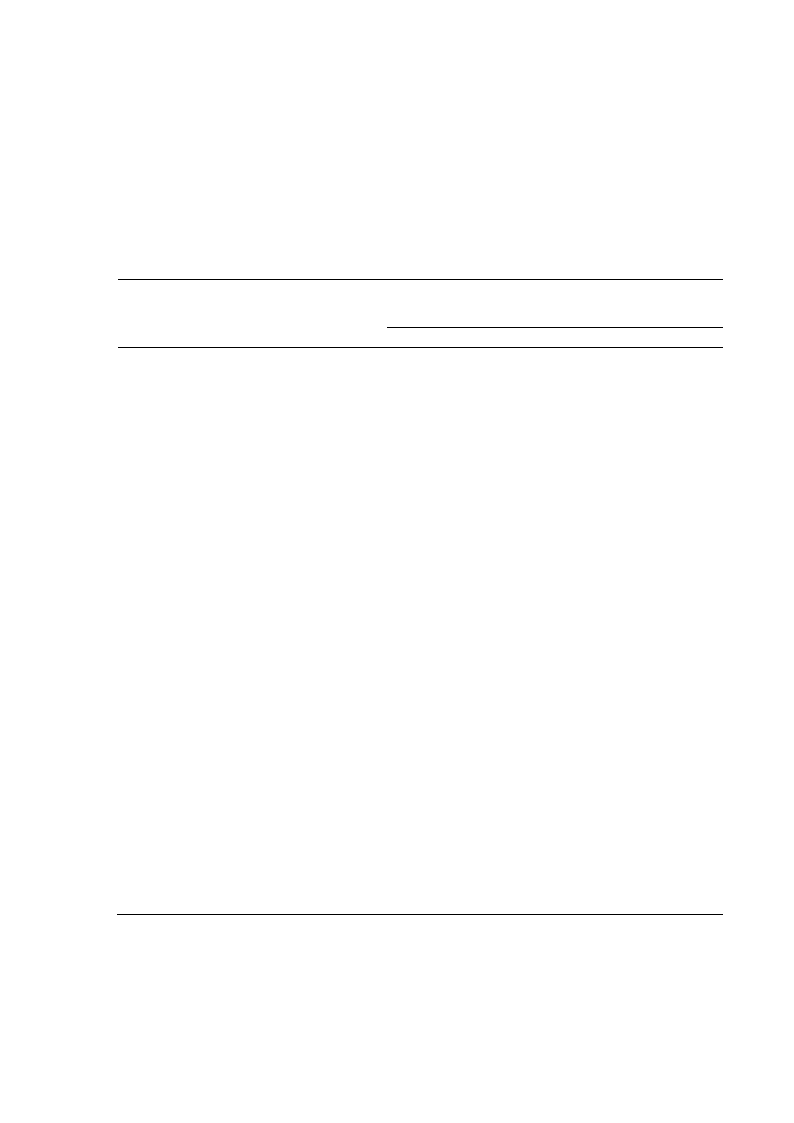
geralmente associados a agentes biológicos e não-biológicos, está associada direta e
indiretamente ao aumento da incidência de asma e outras doenças respiratórias como as
alergias.
Tabela 7: Estimativas dos coeficientes de Correlação de Pearson e dos coeficientes de
Correlação de Spearman entre o número de árvores encontradas na área circular com raio de
meio quilômetro no entorno da residência dos participantes e os indicadores de saúde
INDICADORES DE SAÚDE
CORRELAÇÃO DE CORRELAÇÃO DE
PEARSON
SPEARMAN
Alergia
Ansiedade
Artrite
Asma
Bronquite
Câncer
Cirrose Hepática
Cirurgia
Colesterol alto (>200 mgdL-1)
r
pr
ρ
pr
0,1704
0,0530
-0,0525 0,3094
-0,0023 0,4911
0,1093
0,1498
0,0192
0,4279
0,1312
-
0,0735
-0,1026
0,1066
-
0,2427
0,1652
Colesterol total *
-0,0558 0,2991
Colesterol HDL *
0,1179 0,2873
Colite Ulcerativa (Doença intestinal)
0,0000
0,0000
Cortisol *
-0,0279 0,4911
Depressão
0,0727
0,2451
Derrame
-
-
Diabetes
-0,0281 0,3948
Doença Cardíaca
-0,2203 0,0183
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
-0,0722 0,2466
Enxaqueca
0,0546
0,3021
Glicose alta (>100 mgdL-1)
0,0000
0,0000
Glicose *
0,0173 0,4352
Hipertensão (>140x90 mmHg)
-0,0916 0,1924
Infarto do Miocárdio
-0,0883 0,2012
Obesidade (IMC>40)
0,1309
0,1476
Síndrome do Intestino Irritável
-0,0782 0,2291
Triglicérides *
0,0129 0,4761
Uso de medicamento
-0,0289 0,3925
r = Coeficiente de correlação de Pearson;
ρ = Coeficiente de correlação de Spearman;
pr = Nível crítico ou p-valor;
* Dados utilizados oriundos de resultados de exames clínicos laboratoriais.
OBS.: Demais indicadores de saúde correspondem a dados binários sobre a ocorrência de
determinada doença.
43
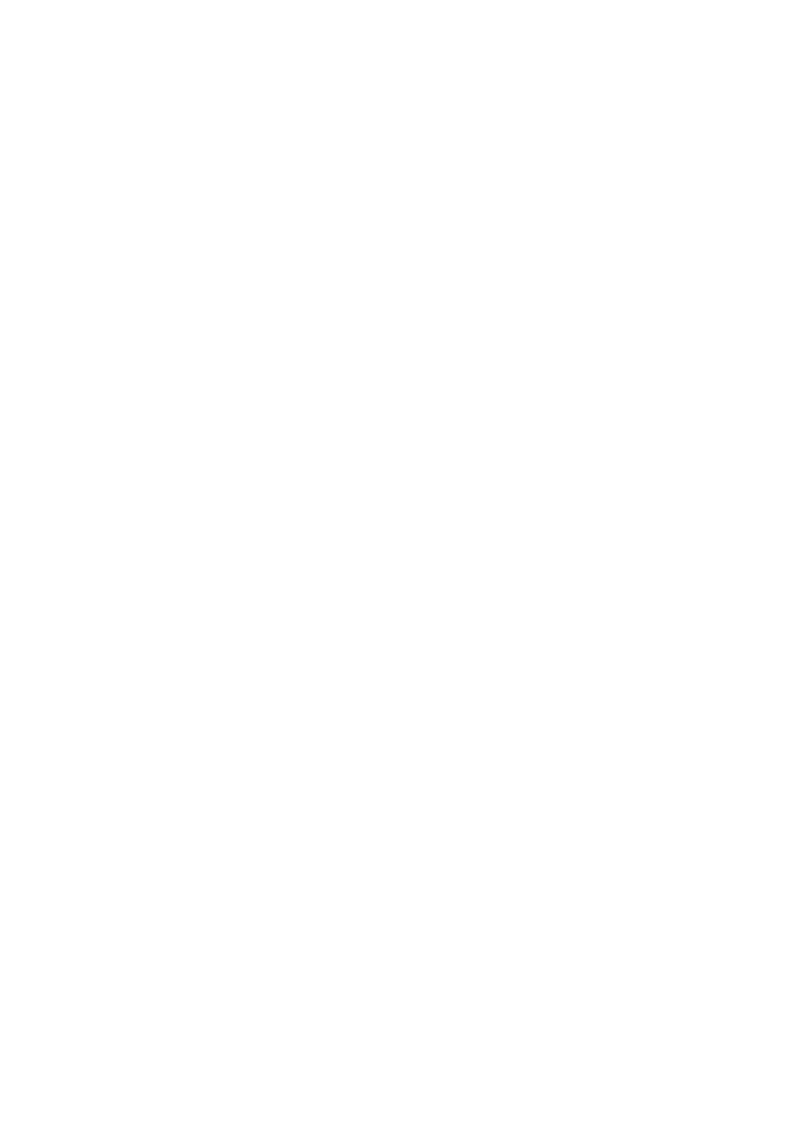
Quanto à incidência de alergia, foram contabilizadas 170 ocorrências a partir dos dados
fornecidos pelos participantes, configurando 18 casos de origem alimentar, 31 de alergias
dermatológicas, 27 indivíduos que têm alergias a medicamentos e 134 com alergias
respiratórias. Estas últimas, em sua maioria, causadas por poeira, mofos e ácaros,
respectivamente.
Diante do panorama apontando acima, cabe sugerir novos estudos sobre a concentração
de CO2 e outros componentes nocivos presentes na atmosfera, que possam ser encontrados no
sangue de pessoas expostas a diferentes ambientes urbanos, diferindo, portanto, ambientes com
variação quanto à área de florestas urbanas. De acordo com Arbex et al. (2012), para o Brasil,
a Organização Mundial da Saúde estima que a poluição atmosférica cause cerca de 20 mil
mortes por ano e as estimativas globais sugerem 1,15 milhões em todo o mundo, o que
corresponde a 2% do total de óbitos. Esses dados reafirmam a necessidade de mais estudos que
abrangem esta temática. Li e Babcock (2014) apontam os telhados verdes como alternativa para
reduzir indiretamente as emissões de CO2.
Outra associação para este dado ambiental que também chamou a atenção foi o fato de
obesidade, que apresentou um p-valor de 0,1476 para uma associação de 0,1309. Ou seja,
conforme aumentaram o número de árvores, aumentaram também o IMC dos participantes,
mostrando que, mesmo baixa, apontou que as pessoas apresentaram nível de gordura mais alto
à medida que aumentaram o número de árvores no entorno de suas residências. Talvez isso seja
explicado por fatores socioeconômicos, visto que, como mostrado anteriormente, mais
especificamente no item “5.3.1”, as partes centrais são onde existe uma população de baixa
renda e, concomitantemente, onde é mais desprovida de florestas urbanas. Em contrapartida,
aqueles bairros com maior presença da floresta urbana são as áreas geralmente ocupadas por
uma população de melhor renda e, portanto, com maior poder aquisitivo. Em suma, talvez por
possuir maior poder de compra, isso possa refletir em maior consumo energético versus
diminuição da sua queima. As pessoas tendem a se tornarem mais sedentárias devido aos
recursos acessados, como transporte pessoal e empregados para fazerem os serviços
domésticos, por exemplo.
Foi estimada também a Frequência Relativa entre os dados analisados neste item,
conforme pode ser visualizado na Tabela 8. Como pode ser observado nesta Tabela, entre os
indicadores que apresentaram uma Frequência Relativa que mostra uma diminuição do número
de ocorrência da doença à medida que aumenta o número de árvores, considerou-se apenas
ansiedade e hipertensão. Esses comportamentos estão representados também pelos histogramas
referentes às Figuras 11A e 11B, respectivamente. As demais doenças não apresentaram
44
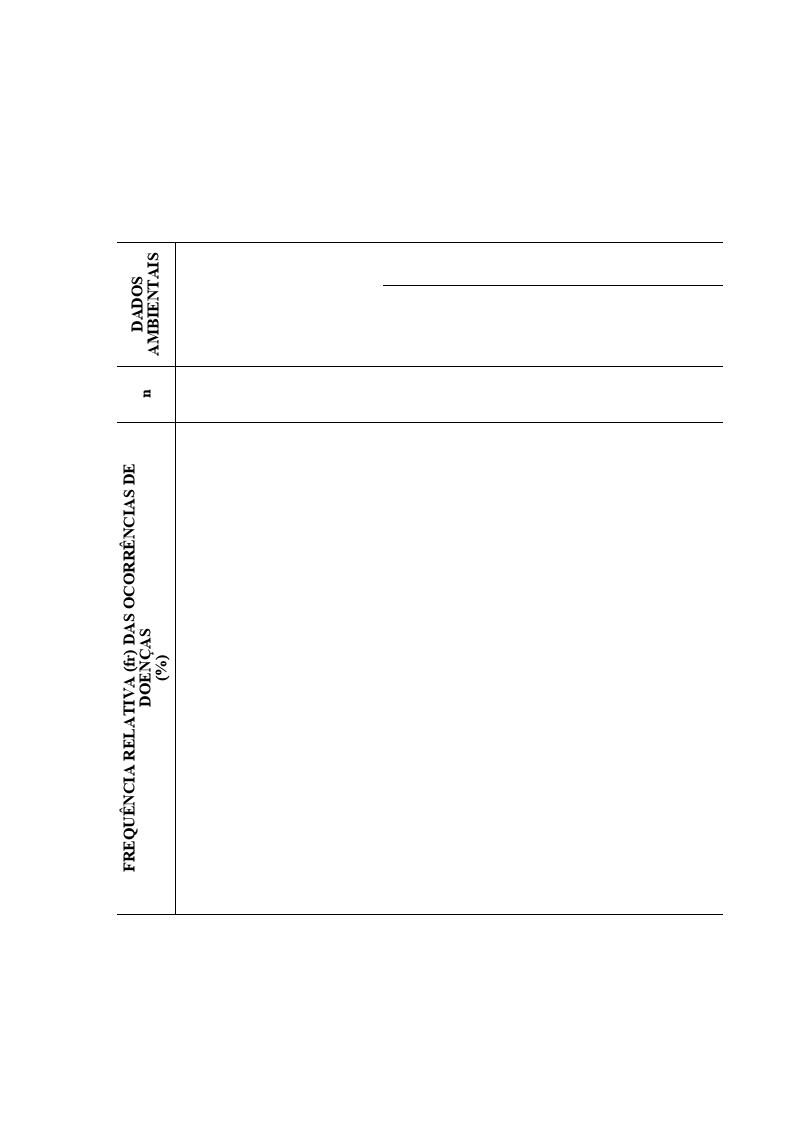
indícios associativos ou não possuíam número de indivíduos suficientemente para atender o
mínimo para uma análise estatística.
Tabela 8: Número de indivíduos e Frequência Relativa das ocorrências de doenças em relação
ao número de árvores encontradas na área circular com raio de um quilômetro (1 km) no entorno
da residência dos participantes
GRUPO
ÁREA DE FLORESTA
URBANA (km2)
NO RAIO DE 1 km
1
4.006 a
6.456
2
6.456 a
8.905
3
8.905 a
11.355
4
11.355 a
13.804
NÚMERO DE
INDIVÍDUOS
POR GRUPO
Alergia
Ansiedade
Artrite
Asma
Bronquite
Câncer
Cirrose Hepática
Cirurgia
Colesterol alto (>200 mgdL-1)
Colite Ulcerativa (Doença
intestinal)
Depressão
Derrame
Diabetes
Doença Cardíaca
Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica
Enxaqueca
Glicose alta (>100 mgdL-1)
Hipertensão (>140x90 mmHg)
Infarto do Miocárdio
Obesidade (IMC>40)
Síndrome do Intestino Irritável
Uso de medicamento
39
48,72
38,46
2,56
7,69
20,51
2,56
0,00
51,28
30,77
0,00
25,64
0,00
2,56
10,26
2,56
30,77
10,26
17,95
2,56
7,14
12,82
46,15
28
57,14
46,43
7,14
3,57
10,71
0,00
0,00
60,71
17,86
0,00
14,29
0,00
3,57
0,00
0,00
28,57
7,14
17,86
0,00
13,63
7,14
39,29
15
60,00
33,33
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00
60,00
13,33
0,00
26,67
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
13,33
13,33
6,67
18,18
6,67
33,33
9
66,67
22,22
0,00
11,11
11,11
22,22
0,00
66,67
33,33
0,00
22,22
0,00
0,00
0,00
0,00
33,33
11,11
0,00
0,00
25,00
0,00
55,56
45
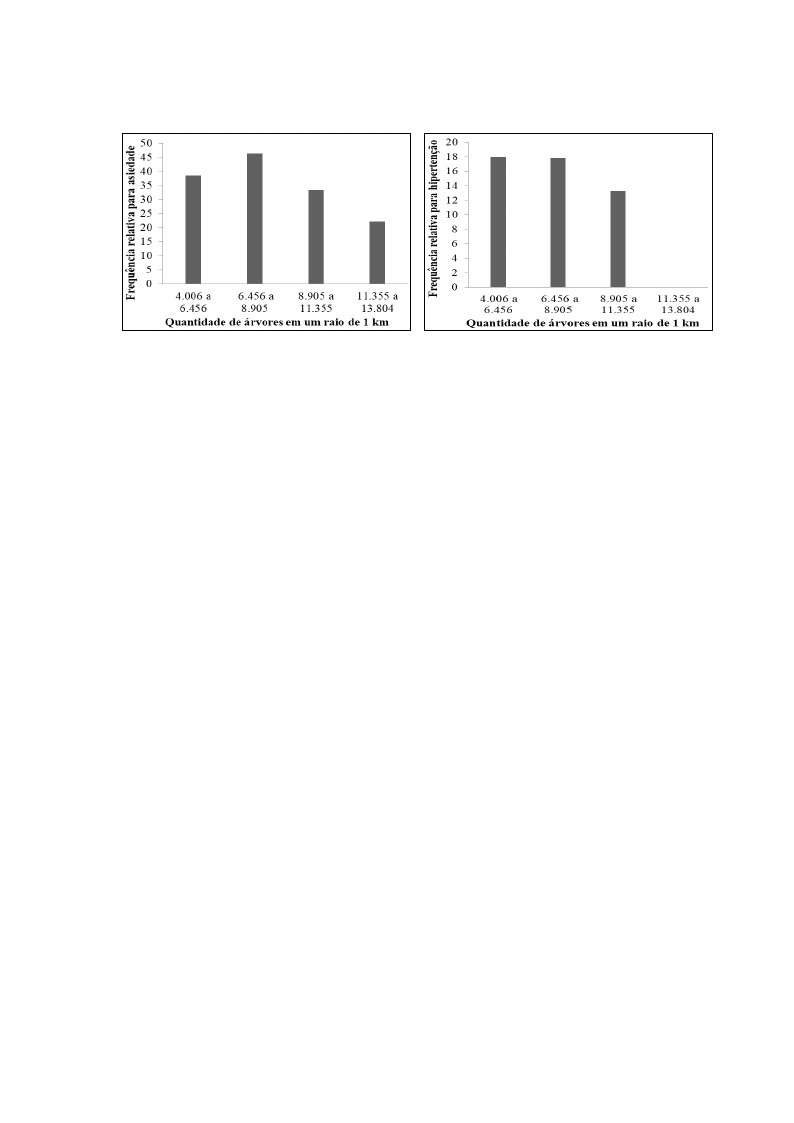
A)
B)
Figura 11: Frequência relativa da ocorrência de ansiedade (A) e de hipertensão (B) em relação
ao número de árvores encontradas na área circular com raio de 1 km no entorno da residência
dos participantes.
As doenças cardíacas, ansiedade e hipertensão tiveram diminuição do número de
ocorrências à medida que aumentava o número de árvores. Kardan et al. (2015) encontraram
resultados similares em sua pesquisa aplicada em Toronto, no Canadá, cujo, fragmentos de
árvores e as árvores individualizadas imprimiram melhores condições cardiometabólicas e
saúde mental nos indivíduos pesquisados. Nesse sentido, eles constataram que as pessoas que
vivem em bairros com uma maior densidade de árvores em suas ruas possuem,
significativamente, maior percepção de saúde e melhores condições cardiometabólicas.
Levando-se em consideração a relação floresta urbana e saúde humana, a Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), conforme descrito por
Pereira et al. (2010), indica uma relação de duas árvores para cada habitante. Particularmente,
a cidade de Belo Horizonte, segundo o inventário das árvores realizado pela Prefeitura
Municipal por meio da sua Secretaria de Meio Ambiente, atualmente possui mais de 1.000.000
de árvores, contabilizando as que se encontram dentro dos parques e em logradouros públicos
(PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2018). Neste caso, não foram contabilizadas as áreas
privadas. O número de habitantes da cidade de Belo Horizonte, de acordo com a estimativa
realizada pelo IBGE em 2017 (IBGE, 2018), é de 2.523.794 habitantes e isso significa que,
baseando-se nestas informações, são menos de uma árvore para cada habitante da área urbana.
Vale salientar que UNESCO e Kardan et al. (2015) não levaram em consideração em
suas análises a presença de outros elementos que formam a floresta urbana nas áreas estudadas.
Nesta pesquisa foi considerada como floresta urbana toda forma de vegetação encontrada no
meio urbano e associada às pessoas. Neste caso, ressalta-se que a quantidade de árvores
analisada isoladamente, como feita nesta análise em específico, sem considerar o contexto onde
elas estão inseridas, pode induzir a um resultado falso positivo ou superestimar os mesmos. Isso
46

porque os demais componentes da floresta urbana podem estar imprimindo influência positiva
ou negativa no comportamento das doenças estudadas. No entanto, isso não elimina a
importância que as árvores, sendo, portanto, as principais componentes da floresta urbana,
principalmente por causa da sua importância biológica e paisagística, que exercem um papel
vital para o bem-estar e qualidade de vida das comunidades urbanas devido a sua capacidade
única de controlar muitos dos efeitos adversos do meio urbano, como citado por Martini et al.
(2014).
5.3.3. Análise da correlação entre a distância da residência dos participantes a um
parque urbano mais próximo aberto à visitação e os indicadores de saúde
Os Coeficientes de Correlação estimados entre à distância da residência dos
participantes a um parque urbano mais próximo aberto à visitação e os indicadores de saúde
(Tabela 9) mostraram correlação linear, variando em sentido contrário, para o indicador de
saúde Colesterol HDL (-0,2082), Colesterol Total (-0,0008) e Glicose (-0,0102), apresentando
p-valor de 0,0183, respectivamente 0,0552, 0,4949 e 0,4385. Este resultado mostra que o
Colesterol HDL (Lipoproteínas de Alta Densidade), considerado como o colesterol bom, piora
à medida que as pessoas moram mais perto dos parques urbanos abertos à visitação. Segundo
Cho et al. (2015), pessoas com múltiplos fatores de risco tendem a ter níveis de Colesterol HDL
mais baixos, diagnóstico que, associado a outros, se torna um fator de risco para doenças
cardiovasculares e poderia contribuir para progressão de outras, como aterosclerose e trombose,
por exemplo. Já Colesterol e Glicose apresentam alguma melhora à medida que as residências
se encontram mais próximas aos parques urbanos de BH.
Os centros urbanos, por suas características, demandam, cada vez mais, por espaços
públicos para lazer, capazes de estabelecer relações sociais mediante práticas esportivas,
educativas, culturais, artísticas e contemplativas em um ambiente saudável. Ou seja, atividades
baratas e saudáveis. Nesse sentido, os parques urbanos podem oferecer à população urbana
condições para amenizar os sintomas e a incidência da depressão e outras doenças
correlacionadas. Assim, cabe destacar que a localização e, por conseguinte, os acessos a estes
parques devem ser facilitados pelo poder público, possibilitando que as pessoas frequentem
estes espaços e facilitando a sua democratização. Mesmo assim, o que se vê é a instalação dos
processos de renúncia aos espaços públicos urbanos e de privatização da natureza, como bem
afirma Leite citado por Souza et al. (1993), atribuindo, portanto, a responsabilidade também
47
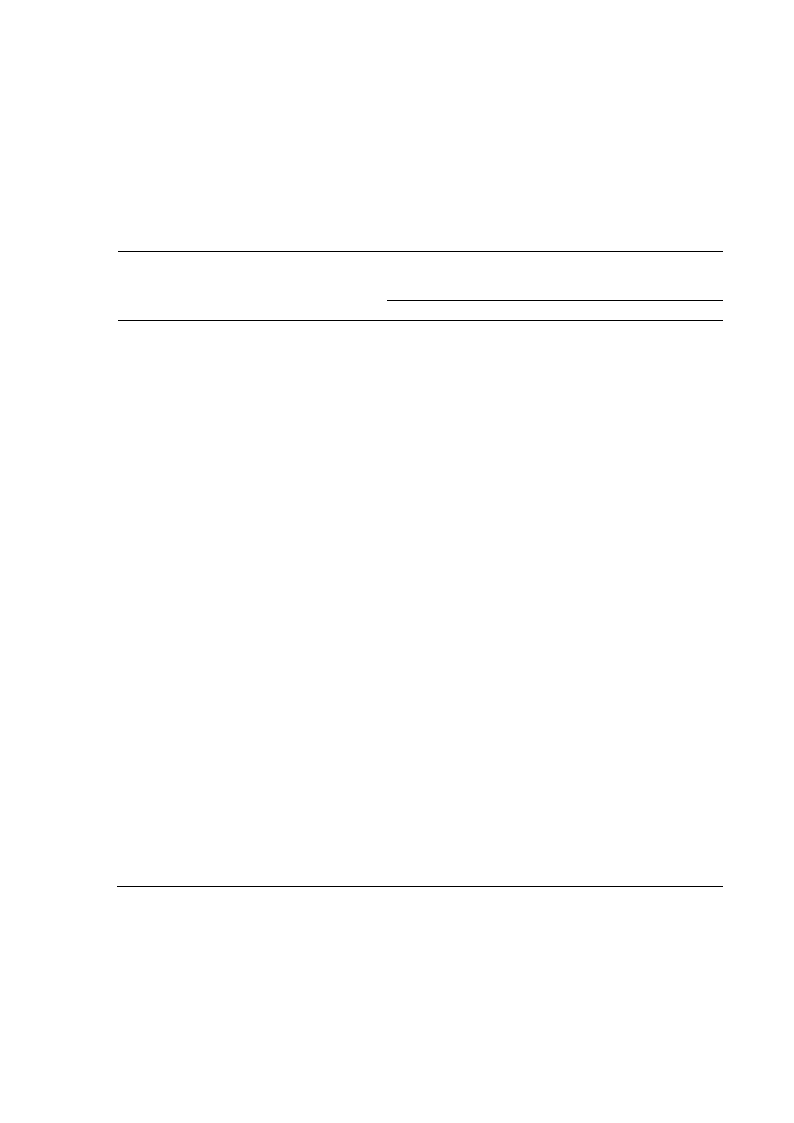
àqueles que não possuem a consciência de que o espaço urbano onde vivem deve lhe pertencer
e lhe acolher.
Tabela 9: Estimativas dos coeficientes de Correlação de Pearson e dos coeficientes de
Correlação de Spearman entre a distância da residência dos participantes a um parque urbano
mais próximo aberto à visitação e os indicadores de saúde
INDICADORES DE SAÚDE
CORRELAÇÃO DE CORRELAÇÃO DE
PEARSON
SPEARMAN
Alergia
r
pr
ρ
pr
-0,0344 0,2995
Ansiedade
Artrite
Asma
Bronquite
Câncer
Cirrose Hepática
Cirurgia
Colesterol alto (>200 mgdL-1)
0,0583
0,0657
-0,0880
-0,0134
0,0219
-
-0,0372
0,0215
0,1867
0,1580
0,0890
0,4187
0,3692
-
0,2851
0,3715
Colesterol total *
-0,0008 0,4949
Colesterol HDL *
-0,2082 0,0552
Colite Ulcerativa (Doença intestinal)
0,0199
0,3805
Cortisol *
0,0848 0,4209
Depressão
-0,0574 0,1903
Derrame
-
-
Diabetes
-0,0116 0,4297
Doença Cardíaca
0,0325
0,3199
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
0,0364
0,2894
Enxaqueca
Glicose alta (>100 mgdL-1)
0,0155
0,0031
0,4064
0,4814
Glicose *
-0,0102 0,4385
Hipertensão (>140x90 mmHg)
0,0526
0,2109
Infarto do Miocárdio
0,0800
0,1110
Obesidade (IMC>40)
0,0101
0,4525
Síndrome do Intestino Irritável
0,0420
0,2610
Triglicérides *
0,0038 0,4883
Uso de medicamento
-0,0047 0,4716
r = Coeficiente de correlação de Pearson;
ρ = Coeficiente de correlação de Spearman;
pr = Nível crítico ou p-valor;
* Dados utilizados oriundos de resultados de exames clínicos laboratoriais.
OBS.: Demais indicadores de saúde correspondem a dados binários sobre a ocorrência de
determinada doença.
48
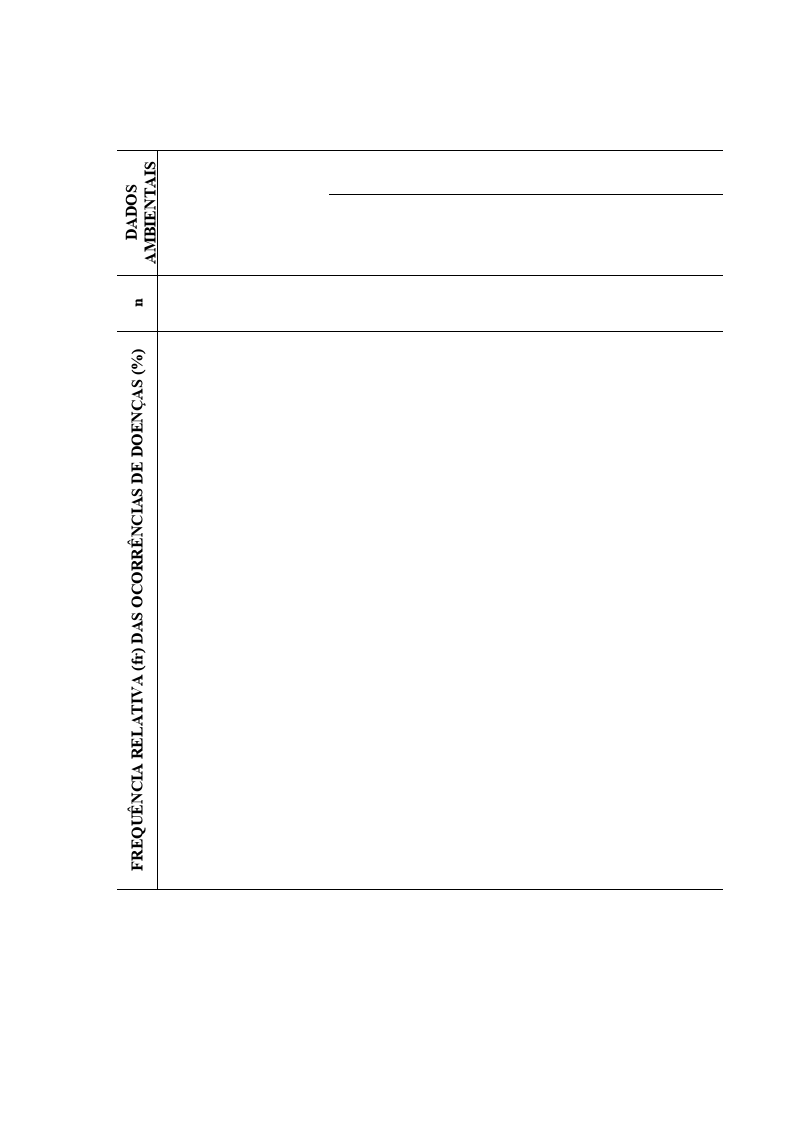
Tabela 10: Número de indivíduos e Frequência Relativa das ocorrências de doenças em relação
à distância da residência dos participantes a um parque urbano mais próximo aberto à visitação
GRUPO
ÁREA DE FLORESTA
URBANA (km2)
NO RAIO DE 1 km
1
0,04 a 1,15
2
1,16 a 2,26
3
4
2,27 a 3,37 3,38 a 4,48
NÚMERO DE
INDIVÍDUOS
POR GRUPO
Alergia
Ansiedade
Artrite
Asma
Bronquite
Câncer
Cirrose Hepática
Cirurgia
Colesterol alto (>200
mgdL-1)
Colite Ulcerativa
(Doença intestinal)
Depressão
Derrame
Diabetes
Doença Cardíaca
Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica
Enxaqueca
Glicose alta (>100
mgdL-1)
Hipertensão (>140x90
mmHg)
Infarto do Miocárdio
Obesidade (IMC>40)
Síndrome do Intestino
Irritável
Uso de medicamento
107
55,14
34,58
3,74
6,54
15,89
0,93
0,00
54,21
27,1
0,93
25,23
0,00
1,87
1,87
0,00
28,97
7,48
13,08
0,00
16,39
5,61
43,93
99
56,57
47,47
7,07
6,06
19,19
4,04
0,00
63,64
30,3
0,00
24,24
0,00
3,03
5,05
1,01
36,36
11,11
18,18
1,01
17,74
8,08
44,44
19
73,68
31,58
0,00
0,00
21,05
0,00
0,00
63,16
31,58
5,26
10,53
0,00
0,00
0,00
0,00
31,58
0,00
21,05
0,00
16,66
10,53
47,37
9
33,33
33,33
11,11
11,11
0,00
0,00
0,00
22,22
22,22
0,00
11,11
0,00
11,11
0,00
0,00
22,22
11,11
11,11
0
16,66
0,00
44,44
Quando aplicado Frequência Relativa para estes dados, apenas a incidência de depressão
apresentou-se com comportamento associativo e da mesma maneira que o Colesterol HDL, e
teve piora na medida em que se aproximava destas Unidades de Conservação, ou seja, aumentou
49
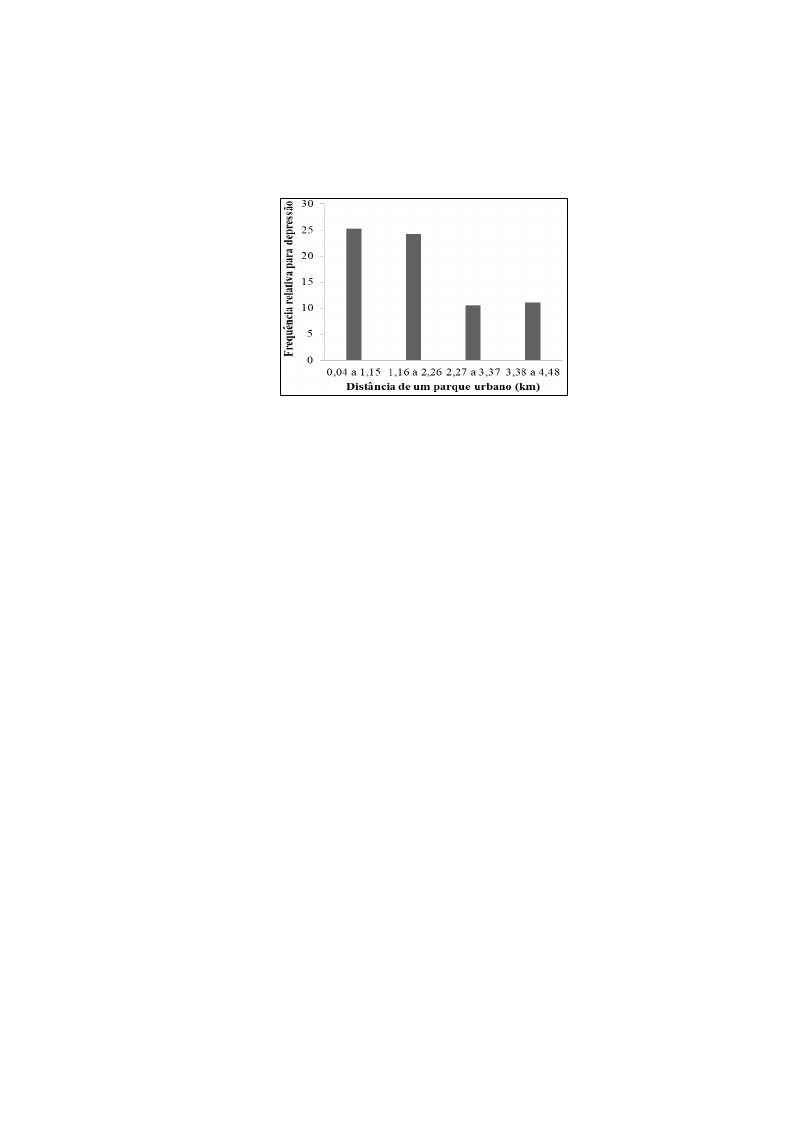
o número de casos de diagnósticos para depressão à medida que se aproximava dos parques
urbanos, como pode ser analisado na Figura 12.
Figura 12: Frequência relativa da ocorrência de diagnóstico de depressão em relação à
distância da residência dos participantes a um parque urbano mais próximo aberto à visitação.
Esses resultados são inesperados para esta situação, mas talvez a explicação esteja no
contexto socioeconômico e cultural destas regiões onde estão inseridos os parques urbanos de
Belo Horizonte, além, também, da forma de como os parques foram criados. Pois a baixa
visitação a estas áreas, comprovada pelos dados desta pesquisa, que mostraram que mais de
30% dos participantes não visitavam nenhuma vez por semana e 35% apenas uma, pode ter
como uma de suas causas às condições precárias em que muitos se encontram. Nesses locais se
enfrenta sérios problemas com a falta de segurança, vandalismo e presença de usuários de
drogas, por exemplo. Como afirma Matias et al. (2014), as desigualdades econômicas também
se fizeram presente quanto à visitação, visto que muitos dos parques de Belo Horizonte são
menos privilegiados, contendo menor índice de segurança, estrutura e suporte. Estes autores
explicitam que alguns destes parques se encontram em condições precárias e em situação de
alta depredação. Estes problemas podem ser o motivo que desestimula as pessoas a visitarem e
frequentarem mais estas áreas.
Em contrapartida, os estudos realizados pelos autores Grahn e Stigsdotter (2003), Nilsen
e Hansen (2007) e Park et al. (2009), por exemplo, demonstram que os acessos a estes espaços
podem diminuir a incidência de algumas doenças, tais como: estresses e doenças
correlacionadas, obesidade, hipertensão e doenças correlacionadas.
Independentemente do resultado apontado aqui, não se pode ignorar a importância
desses espaços - sejam eles representados pelos parques ou apenas uma praça, árvores
encontradas ao longo dos logradouros, jardins e fragmentos florestais, para a população que
vive nas cidades, principalmente nos centros urbanos. O fato é que estes espaços, com ênfase
50

para as Unidades de Conservação, a exemplo os parques urbanos, proporcionam um ambiente
que melhora a umidade do ar e diminuem a temperatura, preservam elementos naturais e a
biodiversidade no meio urbano, diminuem os poluentes sonoros e atmosféricos, dentre outros
benefícios e serviços ambientais, que contrapõem aos aspectos de artificialidade, típicos dos
ambientes urbanos. Soma-se, ainda, que estes espaços oferecerem à população um ambiente
para lazer e sociabilização, podendo contribuir, por exemplo, para a saúde, a autoestima e o
bem-estar de múltiplas formas. Nesse sentido, o cidadão há de se conscientizar de que a cidade
deve acolher, mesmo com suas dicotomias em um mesmo espaço e tempo, mas um espaço que
o pertence, onde ele tem participação na sua reorganização e, portanto, interferência na
morfologia urbana.
De modo geral, os itens “5.3.1”, “5.3.2” e “5.3.3” analisados acima mostram que, dentre
os indicadores de saúde estudados, aqueles que são categorizados como doenças psicológicas
ou mesmo aquelas que podem ser, direta ou indiretamente, afetadas por elas, foram os principais
a apresentarem um comportamento associativo, sendo correlação positiva e inversa em relação
às florestas urbanas. Ou seja, diante dos resultados, pode-se concluir que os indicadores de
saúde que apresentaram algum comportamento associativo significante frente à floresta urbana
se tratavam, em sua maioria, de doenças que são categorizadas como psicológicas ou originadas
por processos psicológicos ou distúrbios mentais, como Ansiedade e Depressão, por exemplo.
Isso leva a crer que o bem-estar psicológico está associado a processos positivos relacionados
à saúde.
Acredita-se, ainda, que os indicadores de saúde, tais como Doenças Cardíacas,
Hipertensão, Síndrome do Intestino Irritável, Enxaqueca e obesidade sejam de alguma maneira,
doenças que podem ser afetadas por esses processos psicológicos e, por este fato, apresentaram
coeficientes que demonstram uma associação para com a floresta urbana. Diante disso, e do
fato de que as doenças psicológicas ou os disturbios mentais afetam, direta ou indiretamente, a
incidência de várias doenças humanas, tornam-se necessárias maiores investigações que
utilizem, para tanto, testes e avaliações psicológicas, como os Inventários de Ansiedade e de
Depressão de Beck, por exemplo. Pois estes testes e avaliações são provavelmente as medidas
de autoavaliação de ansiedade e depressão mais amplamente usadas, segundo Marcolino et al.
(2007). Os autores afirmam que eles têm o objetivo de fornecer subsídios para diagnosticar as
mudanças de comportamentos do ser humano diante da exposição aos variados ambientes na
sua vida cotidiana, possibilitando, portanto, entre outras coisas, aumentar a compreensão a
respeito do comportamento em si e suas causas, voltadas aqui, para os componentes ambientais
51

aos quais as pessoas estão expostas. Assim, as possíveis associações entre estas doenças e as
áreas verdes, como as florestas urbanas, poderão ser melhor mensuradas e compreendidas.
Para aquelas doenças que os Coeficientes de Correlações Lineares Simples foram
próximos de zero, não significa que não apresentam associações, visto que podem estar
correlacionados em outras dimensões. Portanto, baseando-se nos resultados para estes
indicadores de saúde não há como inferir se o seu comportamento ou ocorrência estão, de
alguma maneira, alterando de acordo com a variação da floresta urbana no entorno de onde os
indivíduos residem.
Para outros indicadores de saúde que simularam um comportamento associativo, o
número de ocorrências foi insuficiente para alguma consideração estatística e as demais doenças
não apresentaram indícios associativos ou não possuíam número de indivíduos suficientemente
para atender o mínimo para uma análise estatística.
Estudar a relação das florestas urbanas com a saúde da população é passar pelo crivo do
entendimento dos processos urbanos. Trata-se de uma forma de entender as relações sociais,
ambientais, urbanas e econômicas e, como estas condições podem afetar a saúde da população.
Pois, como dito por Leite citado por Souza et al. (1993), a reorganização das cidades, nas
condições atuais, se deve por inúmeros fatores. Dentre eles, podem-se mencionar as condições
gerais em que estes locais se encontram.
Ao apontar a floresta urbana como agente para minorar as incidências de algumas
doenças, torna-se mais evidente que a necessária valorização destes ambientes e o investimento
em recuperação e conservação das áreas verdes, como áreas protegidas, parques e praças
arborizadas, por exemplo, especificamente a partir de esforços para garantir o aumento e
manutenção das florestas urbanas, é uma questão imediata de saúde pública. Isto quer dizer que
gastos com a criação e manutenção destas áreas podem contribuir efetivamente para com a
melhoria na qualidade de vida da população e, consequentemente, gerar uma economia nos
investimentos em saúde pública. Pois parece certo que qualquer dano causado ao meio ambiente
gera, consequentemente, prejuízos à saúde pública.
Diante disso, há de se concluir que quem planeja o meio ambiente urbano precisa levar
em consideração que a floresta urbana não se trata apenas de paisagismo, mas também uma
questão de saúde, bem-estar, além dos benefícios socioeconômicos. Somando-se a isso, as
florestas urbanas servem como medidas para a amenização dos os impactos ambientais adversos
devidos às condições de artificialidade do meio urbano, além dos aspectos ecológicos,
históricos, culturais, sociais, estéticos, paisagísticos, dentre outros, que podem influenciar as
sensações de conforto das pessoas que vivem nesses ambientes.
52

Tais observâncias podem, ainda, instigar o desenvolvimento de um campo de
investigação dedicado à medicina florestal, o qual pode ser utilizado como complemento aos
tratamentos convencionais ou como métodos terapêuticos. Além disso, como uma alternativa
estratégica para a medicina preventiva, principalmente para as doenças originadas em processos
mentais, tais como ansiedade, estresse e depressão. Assim sendo, justifica-se a necessidade de
novos estudos ou de estudos controlados, que possam quantificar e analisar a influência das
florestas urbanas nos comportamentos psicológicos e cardiometabólicos dos seres humanos,
considerando as florestas em suas várias dimensões, as quais podem afetar as pessoas e seus
sentidos de modos e intensidades diferentes.
No entanto, cabe ressaltar que este trabalho não teve a pretensão de afirmar,
categoricamente, que as florestas, sejam elas urbanas ou não, influenciam, com exclusividade,
no bem-estar e na saúde do ser humano, mas sim apontá-las como um dos componentes
essenciais para uma vida mais saudável. Acredita-se que a presença destas áreas deve ser um
componente a ser associado a outros comportamentos e hábitos, tais como: exercícios físicos;
alimentação equilibrada; evitar o fumo e o consumo de álcool e outras drogas, etc. Caso
contrário, tais comportamentos podem interferir de forma significativa na manifestação de
doenças, principalmente as psicológicas, visto que, nos dias de hoje, muitas destas doenças são
atribuídas ao estilo de vida, à cultura e à sociedade em que vivemos.
53

6. CONCLUSÕES
O coeficiente de Correlação Linear Simples mais significante foi para a ocorrência de
diagnóstico de asma e síndrome do intestino irritável. A ocorrência de asma aumentou à medida
que a área de floresta urbana também aumentava e a ocorrência para síndrome do intestino
irritável teve comportamento inverso. Houve diminuição da incidência de ocorrências de
ansiedade, depressão, enxaqueca e hipertensão em relação ao aumento da floresta urbana. Estes
indicadores de saúde e obesidade apresentaram, também, comportamento similar pela
Frequência Relativa. Observou-se que estes comportamentos foram melhores na floresta urbana
encontrada mais próxima da residência dos participantes, portanto, aquela encontrada na área
circular com raio de meio quilômetro no entorno da residência dos participantes, em
comparação com aquela de um quilômetro.
Ansiedade, hipertensão e as doenças cardíacas tiveram diminuição do número de
ocorrências à medida que aumentava o número de árvores no entorno de onde as pessoas
residiam. Em contrapartida, ocorreu aumento do número de ocorrência para asma e alergias.
Esta última doença apresentou maior incidência de alergias respiratórias, sendo 55,92% dos
indivíduos estudados.
Quanto a residir mais próximo de parques urbanos abertos à visitação na cidade de Belo
Horizonte, apenas o Colesterol HDL e a incidência de diagnóstico de depressão apresentaram
um comportamento associativo maior que as demais doenças estudadas. No entanto, houve
piora destes indicadores à medida que os indivíduos moravam mais perto destas áreas.
A floresta urbana, entendida aqui como a que inclui todas as formas de vegetação das
cidades, foi o dado ambiental que mais contribuiu para os comportamentos associativos com os
indicadores de saúde estudados, principalmente aquela encontrada mais próxima às residências
dos participantes.
Os indicadores que apresentaram maiores respostas associativas com diminuição da sua
incidência frente aos dados ambientais referentes à floresta urbana foram aqueles que são
categorizados como doenças psicológicas, ou geralmente originadas por processos psicológicos
ou distúrbios mentais. Em contrapartida, asma e alergias aumentaram suas ocorrências
concomitantemente ao aumento da floresta urbana, por se tratarem de doenças que são afetadas,
direta ou indiretamente, por uma grande variedade de poluentes orgânicos e não-orgânicos,
geralmente associados a agentes biológicos e não-biológicos, encontrados com abundância em
ambientes ao ar livre como ruas e florestas.
54

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AMBREY, C.; FLEMING, C. Public Greenspace and Life Satisfaction in Urban Australia.
Urban Studies Journal Limited, p. 1-32, 2013.
ARBEX, M. A.; SANTOS, U. P.; MARTINS, L. C. SALDIVA, P. H. N.; PEREIRA, L. A. A.;
BRAGA, A. L. F. A poluição do ar e o sistema respiratório. Jornal Brasileiro de Pneumologia,
v. 38, n. 5, 2012.
BARALDI, R.; NERI, L.; COSTA, F.; FACINI, O.; RAPPARINI, F.; CARRIERO, G.
Ecophysiological and micromorphological characterization of green roof vegetation for urban
mitigation. Jornal Urban Forestry & Urban Greening, p. 1-9, 2018.
BARGOS, D. C.; MATIAS, L. F. Áreas verdes urbanas: um estudo de revisão e proposta
conceitual. Revista Brasileira de Arborização Urbana, v. 6, n. 3, p. 172-188, 2011.
BERMAN, M. G.; KROSS, E.; KRPAN, K. M.; ASKREN, M. K.; BURSON, A.; DELDIN, P.
J.; KAPLAN, S.; SHERDELL, L.; GOTLIB, I. H.; JONIDES, J. Interacting with nature
improves cognition and affect for individuals with depression. Jornal ofaffective disorders, v.
140, p. 300-305, 2012.
BIONDI, D. Floresta urbana: conceitos e terminologias. In: ______. Floresta Urbana.
Curitiba: A autora, p. 11-27, 2015.
BOTTELDOOREN, D.; DEKONINCK, L.; GILLIS, D. The influence of Traffic Noise on
Appreciation of the Living Quality of a Neighborhood. International Journal of
Environmental Research and Public Health, v. 8, n. 3, p. 777-798, 2011.
BRASIL, MMA - Ministério do Meio Ambiente. Subsídios para Construção da Política
Nacional de Saúde Ambiental. Brasília: Editora do Ministério de Saúde, 2007.
BROTMAN, D. J.; GOLDEN, S. H.; WITTSTEIN, I.S. The cardiovascular tollof stress.
Journal of Environmental Psychology, v.370, p.1089-1099, 2008.
BUENO, J. R.; GOUVÊA, C. M. C. P. Cortisol e exercício: efeitos, secreção e metabolismo.
Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, v.5, n.29, p. 435-445, 2011.
CAMPONOGARA, S.; KIRCHHOF, A. L. C.; RAMOS, F. R. S. Uma revisão sistemática sobre
a produção científica com ênfase na relação entre saúde e meio ambiente. Revista Ciência e
Saúde Coletiva, v.3, n.2, p.427-439, 2008.
CHO, S. W.; KIM, B. G.; KIM, B. O.; BYUN, Y. S.; GOH, C. W.; RHEE, K. J.; KWON, H.
M.; LEE, B. K. Parâmetros hemorreológicos e glicêmicos e HDL-Colesterol para predição de
eventos cardiovasculares. Revista Brasileira de Cardiologia. v. 106, n. 1, p. 56-61, 2015.
COLDING, J.; BARTHEL, S.; BENDT, P.; SNEP, R.; KNAAP, W. V. D.; ERNSTSON, H.
Urban green commons: insights on urban common property systems. Journal Global
Environmental Change, v. 23, p. 1039-1051, 2013.
55

CRISE, M. M.; BIONDI, D.; ARAKI, H. A floresta urbana da cidade de Curitiba, PR. Revista
Floresta, v. 46, n. 4, p. 425-438, 2016.
CROCE, Poluição ambiental e alergia respiratória. Revista Medicina: Ribeirão Preto, v. 31,
p. 144-153, 1998.
DEMARCHI, J. C.; PIROLI, E. L.; ZIMBACK, C. R. L. Análise temporal do uso do solo e
comparação entre os índices de vegetação NDVI e SAVI no município de Santa Cruz do Rio
Pardo – SP usando imagens LandSat-5. Revista Ra'e Ga - O Espaço Geográfico em Análise,
v. 21, p. 234-271, 2011.
DI BUCCHIANICO, A. D. M.; BRIGHETTI, M. A.; CATTATI, G.; COSTA, C.; CUSANO,
M.; DE GIRONIMO, V.; FROIO, F.; GADDI, R.; PELOSI, S.; SFIKA, I.; TRAVAGLINI, A.;
TRIPODI, S. Combined effects of air pollution and allergens in the city of Rome. Jornal Urban
Forestry & Urban Greening, p. 1-11, 2018.
DORIGO, T. A.; FERREIRA, A. P. N. L. Contribuições da percepção ambiental de
frequentadores sobre praças e parques no Brasil (2009-2013): revisão bibliográfica. Revista de
Gestão Ambiental e Sustentabilidade, v. 4, n. 3, p. 31-45, 2015.
ESRI. ArcGIS desktop. Versão 10.3.1. Redlands, CA: Environmental Systems Research
Institute, 2016.
FREITAS, C. M. Problemas ambientais, saúde coletiva e ciências sociais. Revista Ciência
Saúde Coletiva, v.8, n.1, p.137-150, 2003.
GONZALEZ, I. M. da; SILVA FILHO, D. F. da. Recursos naturais de conforto térmico: um
enfoque urbano. Revista Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, v. 6, n. 4, p. 35-50,
2011.
GOUVEIA, N. Saúde e meio ambiente nas cidades: os desafios da saúde ambiental. Revista
Saúde e Sociedade, v. 8, n. 1, São Paulo, 1999.
GRAHN, P.; STIGSDOTTER, U. A. Landscape planning and stress. Urban Forestry and
Urban Greening, v.2, p. 1-18, 2003.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades. Disponível em:
<https://cidades.ibge.gov.br>. Acessado em: 20/03/2018.
KAPLAN, R.; KAPLAN, S. The experience of nature: a psychological perspective.
Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
KARDAN, O.; GOZDYRA, P.; MISIC, B.; MOOLA, F.; PALMER, L. J.; PAUS, T.;
BERMAN, M. G. Neighborhood greenspace and health in a large urban center. Journal
Nature-Scientific Reports, v. 5, n. 11610, 2015.
KEYS, A.; FIDANZA, F.; KARVONEN, MJ.; KIMURA, N.; TAYLOR, HL. Indices of
relative wight and obesity. Jornal of Chronic Diseases, v. 25, n.6, p. 329-343, 1972.
56

LEITE, M. A. F. P. A natureza e a cidade: rediscutindo suas relações. In: SOUZA, M. A. A.
de; SANTOS, M.; SCARLATO, F. C.; ARROYO, M. (org.). Natureza e sociedade de hoje:
uma leitura geográfica. São Paulo: Hucitec-Anpur, 4ª ed., p. 139-145, 1993.
LI, Y.; BABCOCK, R. Green roofs against pollution and climate change: a review. Agronomy
for Sustainable development, p. 695-705, 2014.
LONDE, P. R.; MENDES, P. C. A influência das áreas verdes na qualidade de vida urbana.
Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde, v. 10, n. 18, p. 264-272, 2014.
LÓPES-MOSQUERA, N.; SÁNCHEZ, M. The influence of personal values in the economic-
use valuation of peri-urban green spaces: ab application of the means-end chain theory. Journal
Tourism Management, v. 32, n. 4, p. 875-889, 2011.
LOURENÇO, L. F. A.; MOREIRA, T. C. L.; ARANTES, B. L. de; SILVA FILHO, D. F. da;
MAUAD, T. Metrópoles, cobertura vegetal, áreas verdes e saúde. Revista Estudos Avançados,
v. 30, n. 86, p. 113-130, 2016.
MAAS, J.; VERHEIJ, R. A.; GROENEWEGEN, P. P.; VRIES, S. de; SPREEUWENBERG,
Peter. Green space, urbanity, and health: how strong is the relation? Journal Epidemiol
Community, n.60, p.587-592, 2006.
MAAS, J.; VERHEIJ, R. A.; VRIES, S. de; SPREEUWENBERG, P.; SCHELLEVIS, F. G.;
GROENEWEGEN, P. P. Morbidity is related to a green living environment. Journal of
Epidemiology & Community Health, v. 63, p. 967-973, 2009.
MARCOLINO, J. A. M.; MATHIAS, L. A. S. T.; PICCININI FILHO, L.; GUARATINI, A.
A.; SUZUKI, F. M.; ALLI, L. A. C. Escala hospitalar de ansiedade e depressão: estudos da
validade de critério e da confiabilidade com pacientes no pré-operatório. Revista Brasileira de
Anestesiologia, v. 57, n. 1, 2007.
MARTINI, A.; BIONDI, D.; BATISTA, A. C.; ZAMPRONI, K. Valores extremos do índice
de conforto térmico nas ruas de Curitiba-PR: comparação entre ambientes arborizados e sem
arborização. Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, v. 8, n. 3, p. 52-62,
2013.
MARTINI, A.; BIONDI, D.; BATISTA, A. C.; ZAMPRONI, K.; VIEZZER, J.; GRISE, M.
M.; LIMA NETO, E. M. de. Percepção da população sobre o conforto térmico proporcionado
pela arborização de ruas de Curitiba-PR. Revista Floresta, UFPR, v. 44, p. 515-524, 2014.
MATIAS, V. R. S.; COSTA, J. M. Análise Climática em Belo Horizonte pela variação do
conforto a partir de uma série temporal. Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde,
v. 14, n. 8, p. 15-29, 2012.
MATIAS, V. R. S.; DUARTE, M. de B.; OLIVEIRA, J. V. F. Relações entre o histórico da
criação de parques urbanos em Belo Horizonte e sua constituição enquanto lugar. Anais do III
Seminário de Pós-Graduação em Geografia da UFJF, Juiz de Fora, Minas Gerais, 2014.
MICROSOFT. Microsoft Office Excel Professional. Versão 2013. Redmond, Washington:
Microsoft Corporation, 2013.
57

MITCHELL, R.; POPHAM, F) .Effect of exposure to natural environment on health
inequalities: an observational population study. The Lancet, v.372, n.9650, p. 1655-1660,
2008.
MITTEN, D. The healing power of nature. Taproot, v. 19, n. 1, p. 20-26, 2009.
MOMM-SCHULT, S. I.; PIPER, J.; DENALDI, R.; FREITAS, S. R.; FONSECA, M. L. P.;
OLIVEIRA, V. E. Integration of urban and environmental policies in the metropolitan area of
São Paulo and in Greater London: The value of establishing and protecting green open spaces.
International Journal of Urban Sustainable Development, v.5, n.1, p. 89–104, 2013.
MORAKINYO, T. E.; LAI, A.; LAU, K. K..; NG, E. Thermal benefits of vertical greening in
a hight-density city: case study of Hong Kong. Jornal Urban Forestry & Urban Greening,
p. 1-14, 2017.
NIELSEN, T. S.; HANSEN, K. B. Do green areas affect health? Results from a Danish survey
on the use of green areas and health indicators. Journal Health & Place, n. 13, p. 839-850,
2007.
O’BRIEN, L.; MORRIS, J.; STEWART, A. Engaging with Peri-Urban Woodlands in England:
The Contribution to People’s Health and Well-Being and Implications for Future Management.
International Journal of Environmental Research and Public Health, v.11, p. 6171-6192,
2014.
O’BRIEN, L.; VREESE, R. de; KERN, M.; SIEVÄNEN, T.; STOJANOVA, B.; ATMIS, E.
Cultural ecosystem benefits of urban and peri-urban green nfrastructure across differente
European countries. Jornal Urban Forestry & Urban Greening, v. 24, p. 236-248, 2017.
OJIMA, R. Novos contornos do crescimento urbano brasileiro? O conceito de urban sprawl e
os desafios para o planejamento regional e ambiental”. GEOgraphia, v. 10, p. 46-59, 2008.
OSGeo. QGIS desktop. Versão 2.14.21. Alemanha, Essen: Open Source Geospactial
Foundation, 2017.
OSTOIĆ, S. K.; SALBITANO, F. BORELLI, S.; VERLIC, A. Urban forest research in the
Mediterranean: a systematic review. Journal Urban Forestry & Urban Greening, v. 31, p.
185-196, 2018.
PARK, B. J.; TSUNETSUGU, Y.; KASETANI, T.; KAGAWA, T.; MIYAZAKI, Y. The
physiological effects of Shinrin-yoku (taking in the forest atmosphere or forest bathing):
evidence from field experiments in 24 forests across Japan. Environmental Health and
Preventive Medicine, v. 15, p. 18-26, 2009.
PEREIRA, M. C.; ROCHA, J. R.; MENGUE, V. P. Comparação de índices e espacialização da
cobertura vegetal arbórea dos bairros centro de duas metrópoles brasileiras: Belo Horizonte e
Porto Alegre. Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, v. 5, n. 1, p. 106-
125, 2010.
58

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Inventário das árvores. Disponível em: <
https://prefeitura.pbh.gov.br/index.php/meio-ambiente/inventario-das-arvores>. Acessado em
10/02/2018.
PRETTY, J.; PEACOCKA, J.; HINEA, R.; SELLENSA, M.; SOUTHB, N.; GRIFFINA, M.
Green exercise in the UK countryside: Effects on health and psychological well-being, and
implications for policy and planning. Journal of Environmental Planning and Management,
v.50, n.2, p. 211-231, 2007.
RENTERGHEM, T. V. Towards explaining the positive effect of vegetation on the perception
of environmental noise. Jornal Urban Forestry & Urban Greening, p. 1-12, 2018.
RICHARDSON, E. A.; MITCHELL, R. Gender differences in relationships between urban
green space and health in the United Kingdom. Social Science & Medicine, v.71, p.568-575,
2010.
SAEG. Sistema para Análises Estatísticas. Versão 9.1.Viçosa: Fundação Arthur Bernardes,
Universidade Federal de Viçosa, 2007.
VASSAR STARS. Web Site for Statistical Computation. EUA: Concepts and Applications
of Inferential Statistics, 1998.
VUJCIC, M.; TOMICEVIC-DUBLJEVIC, J.; ZIVOJINOVIC, I.; TOSKOVIC, O. Connection
between urban green areas and visitors’ physical anda mental well-being. Jornal Urban
Forestry & Urban Greening, p. 1-9, 2018.
59
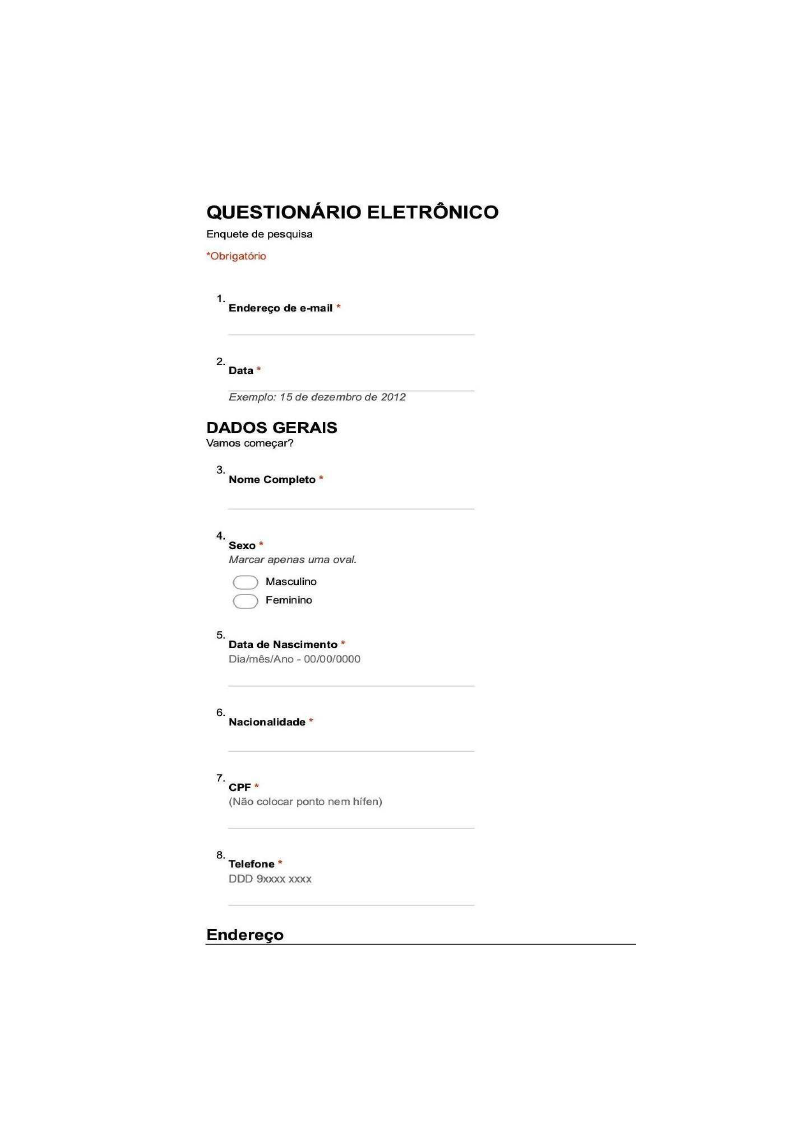
ANEXOS
Anexo 1. Questionário aplicado para a pesquisa
60
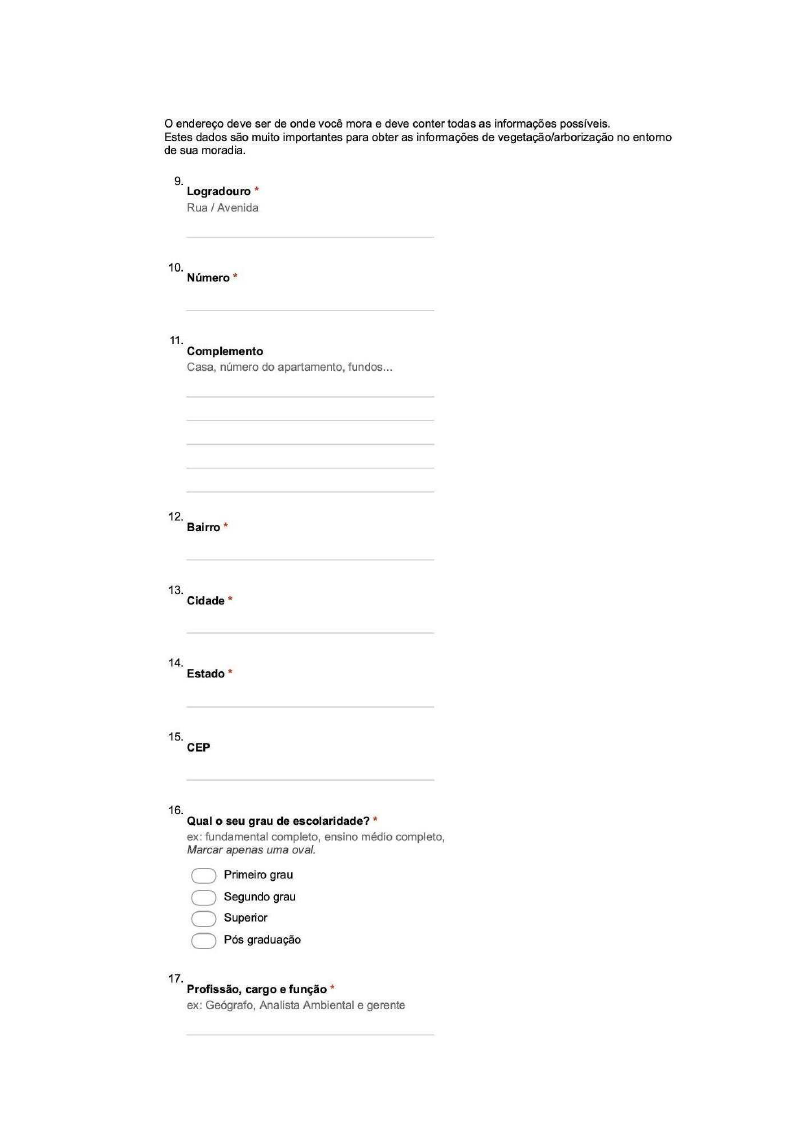
61
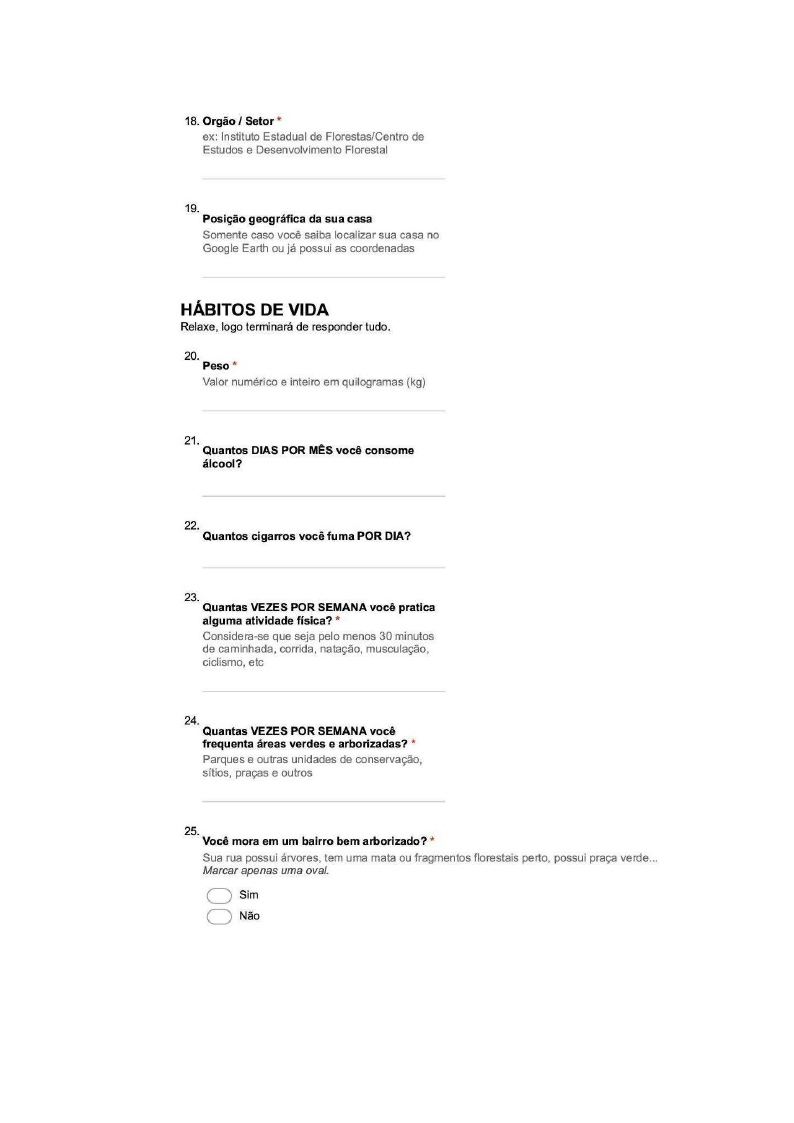
62
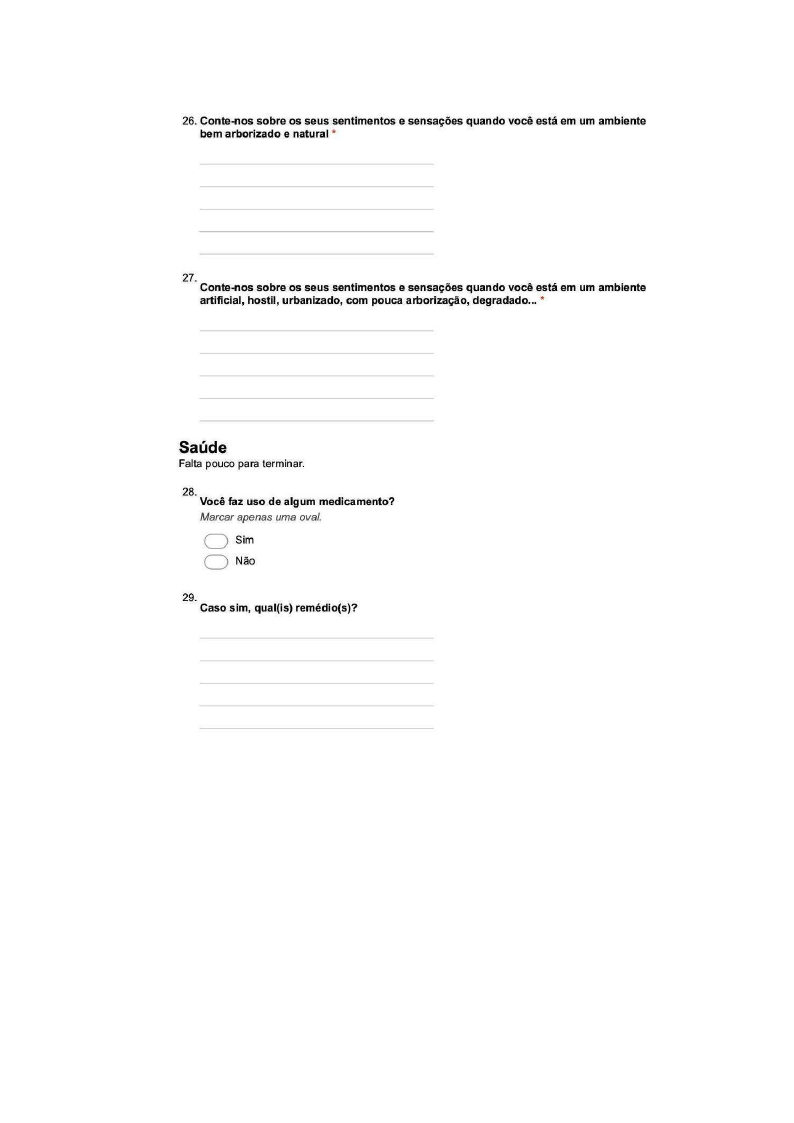
63
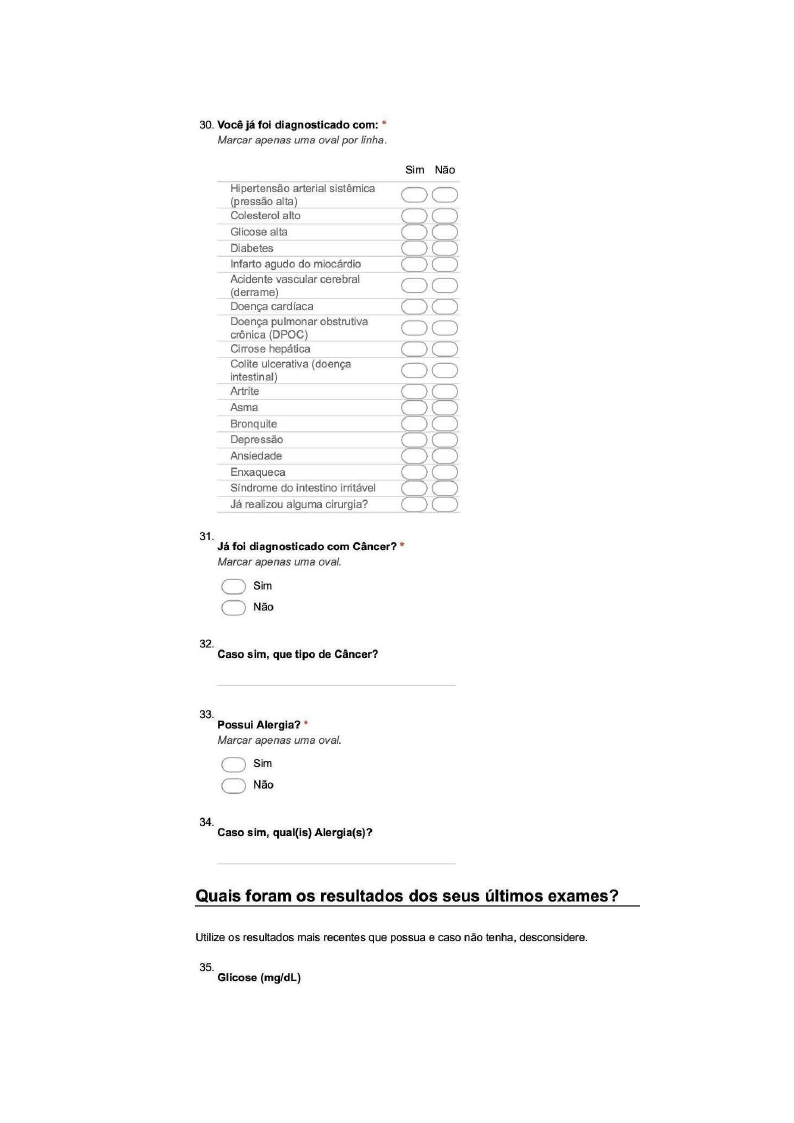
64
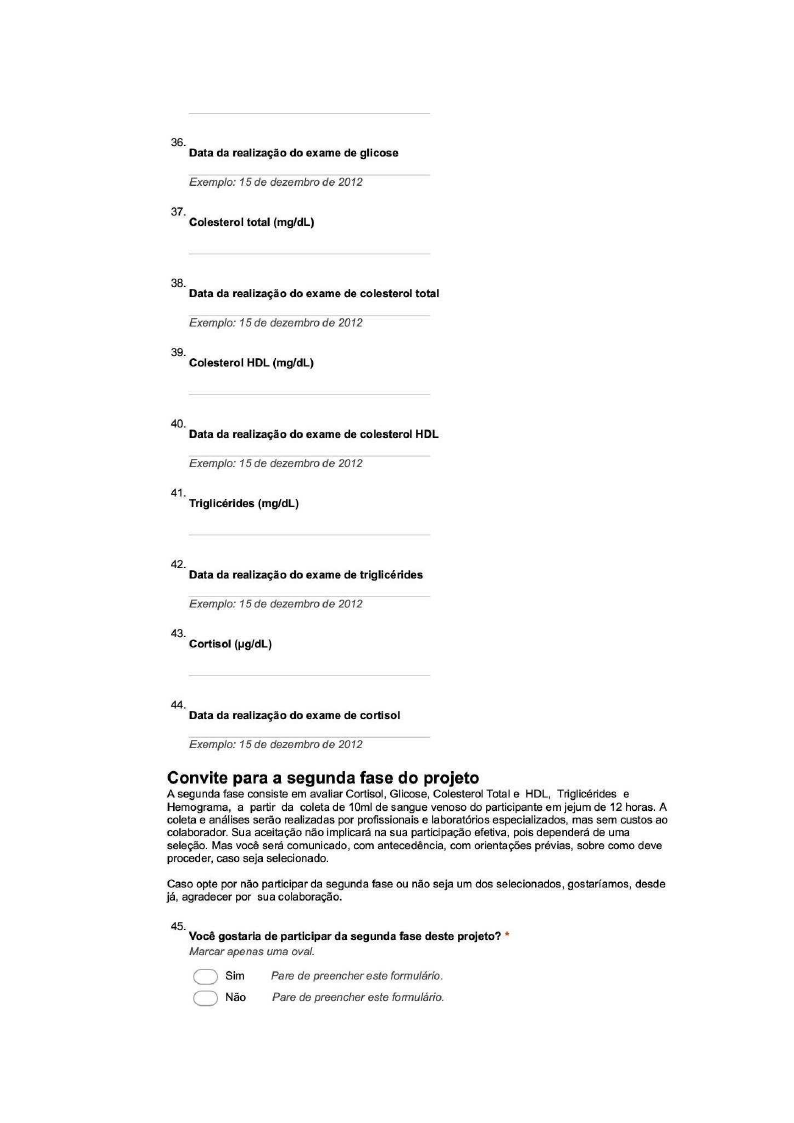
65

66

Anexo 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Este TCLE foi confeccionado em observância à Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012
do Conselho Nacional de Saúde.
TÍTULO DO PROJETO: A Influência dos Ambientes Florestais na Saúde Humana
EQUIPE PRINCIPAL DE TRABALHO:
Gilberto Fialho Moreira (Pesquisador colaborador) - Doutorando em Ciência Florestal Meio
Ambiente e Conservação da Natureza, Departamento de Engenharia Florestal da Universidade
Federal de Viçosa, (31) 99818 6851, gilgeoufv@gmail.com
Luciana Moreira Lima (Pesquisadora responsável) – Professora do Departamento de Medicina
e Enfermagem, (31) 3899 3990, luciana.lima@ufv.br
Amaury Paulo de Souza (Pesquisador colaborador) – Professor do Departamento de Engenharia
Florestal, (31) 3899 3229, amaury@ufv.br
Luciano José Minette (Pesquisador colaborador) – Professor do Departamento de Engenharia
de Produção e Mecânica, (31) 3899 3929, minette@ufv.br
Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “A Influência dos Ambientes Florestais
na Saúde Humana”, cujo objetivo é investigar a relação entre a saúde das pessoas e o tamanho
da área arborizada onde elas vivem. A justificativa deste trabalho está em apontar, a partir desse
estudo, que o contato e a utilização de ambientes florestais podem melhorar a saúde, o bem-
estar e a qualidade de vida das pessoas, justificará parcialmente os gastos com a criação e
manutenção de áreas florestais, bem como conservação e restauração de ambientes e seus
componentes e, consequentemente diminuir consideravelmente os gastos com a saúde da
população.
Sua colaboração neste estudo é MUITO IMPORTANTE, mas a decisão de participar é
VOLUNTÁRIA, o que significa que o (a) senhor (a) terá o direito de decidir se quer ou não
participar, ou mesmo recusar de participar de alguma parte do estudo em especial. Também
poderá desistir de participar do estudo em qualquer momento.
CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS E ANONIMATO
Garantimos que será mantida a CONFIDENCIALIDADE das informações e o ANONIMATO.
Ou seja, o seu nome não será mencionado em qualquer hipótese ou circunstância, mesmo em
publicações científicas. Informamos que os resultados obtidos irão compor uma base de dados
que poderão ser utilizados em outros estudos desenvolvidos pelo grupo responsável pelas
investigações desenvolvidas na Universidade Federal de Viçosa.
PROCEDIMENTOS DO ESTUDO QUE ESTARÁ SENDO REALIZADO
A primeira etapa será composta pelo questionário, a ser respondido a seguir e, quem se
interessar poderá ser selecionado para compor os grupos que farão parte da segunda etapa da
pesquisa. Esta fase consiste em avaliar Cortisol, Glicose, Colesterol Total e HDL, Triglicérides
e Hemograma a partir da coleta de uma amostra de 10 ml de sangue venoso, que será realizado
após jejum de 12 horas, por um laboratório especializado.
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
Não haverá nenhuma compensação financeira por participar do estudo, ou custos de transporte
e de alimentação. Também não será exigida, por parte do avaliado, nenhuma cobrança
financeira por estar participando do estudo. Apesar disso, diante de eventuais danos,
67

identificados e comprovados, decorrentes da pesquisa, ele tem assegurado o direito à
indenização.
BENEFÍCIOS DE SUA PARTICIPAÇÃO
Você irá receber cópias dos resultados dos seus testes e os resultados finais do estudo.
QUANTO AOS RISCOS DE PARTICIPAÇÃO DO ESTUDO
O presente estudo prevê mínimas ações invasivas. No entanto a pesquisa pode provocar um
desconforto pelo tempo exigido, que leva em média quinze minutos para responder o
questionário, ou até um constrangimento pelo teor dos questionamentos. Para minimizar esses
riscos o questionário será enviado eletronicamente, podendo o participante responder onde e
quando quiser, evitando possíveis constrangimentos e desconfortos ocorridos em entrevistas.
Para quem participará da segunda etapa, para a retirada de sangue serão tomadas todas as
medidas sanitárias para que não ocorra risco de contaminação biológica e desconforto excessivo
ao avaliado, sendo o atendimento feito por profissionais capacitados e habilitados. Todos os
processos buscarão um atendimento humanizado pautado no respeito e atenção com os
participantes da pesquisa.
ARMAZENAMENTO DOS DADOS
Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador
responsável por um período de 5 (cinco) anos após o término da pesquisa, e depois desse tempo
serão destruídos.
DÚVIDAS SOBRE O ESTUDO
Em caso de dúvida o participante poderá entrar em contato com os pesquisadores responsáveis
através dos contatos:
Gilberto Fialho Moreira
Endereço: Vila Giannetti, casa 51 - Campus da UFV – Viçosa/MG
Telefone: (31) 3891- 0856
E-mail: cedef.ief@gmail.com
Luciana Moreira Lima
Endereço: Departamento de Medicina e Enfermagem/UFV – Av. PH Rolfs, s/n – Centro –
Viçosa/MG
Telefone: (31) 3899-3990
E-mail: luciana.lima@ufv.br
Nome: _________________________________________________
Data de nascimento: __/__/__ Sexo: __ Nacionalidade: ______ Telefone: __________
E-mail: ________________________________________
Endereço: ______________________________________________
Bairro: _______________Cidade: _________________
Estado: _________________CEP: __________
TERMO DE CONSENTIMENTO
Declaro estar esclarecido (a) sobre os termos apresentados quanto aos objetivos, dinâmica do
estudo, confidencialidade de meus dados, benefícios e riscos, além da possibilidade de recusar
minha participação parcial do estudo, ou mesmo solicitar minha exclusão posteriormente.
68
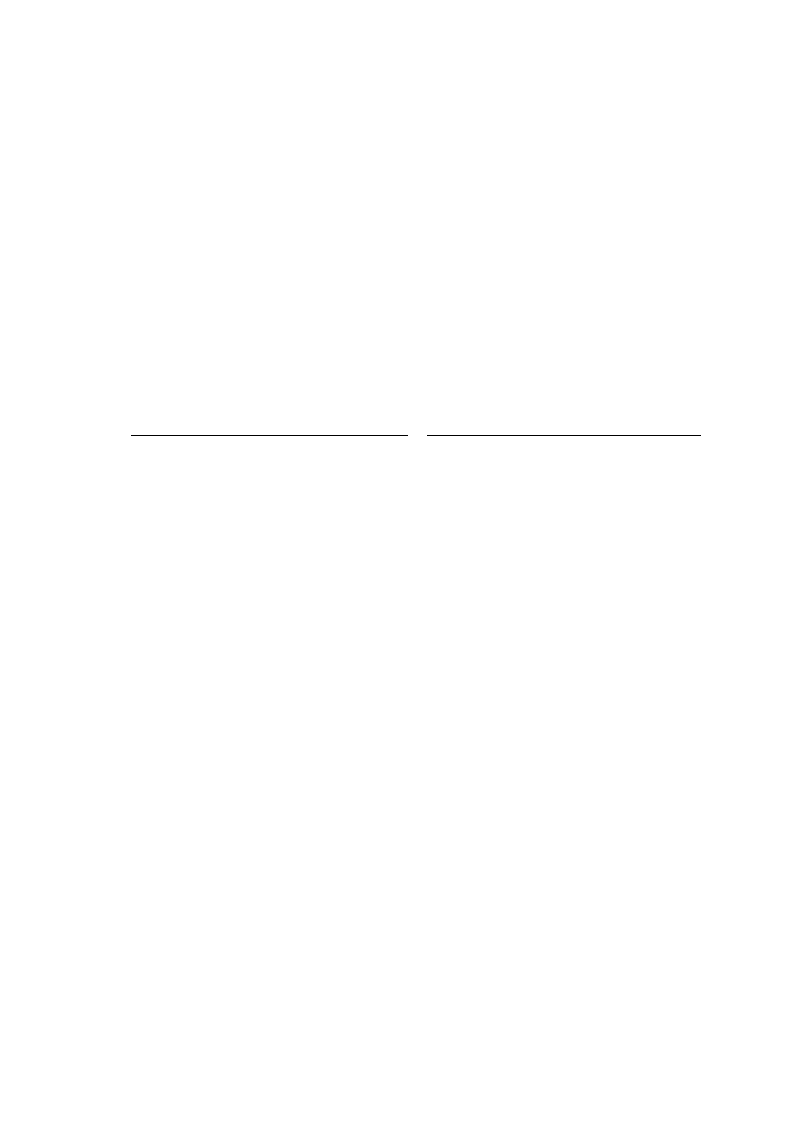
Também fui esclarecido de todas as dúvidas. Fui informado e autorizo que meus dados
decorrentes dos exames laboratoriais sejam usados para compor futuros estudos de
levantamento estatístico de prevalência de certas doenças. Desta forma, consinto por minha
livre e espontânea vontade, em participar desta pesquisa e assino o presente documento, que
poderá ser impresso com igual teor e forma, ficando uma cópia em minha posse. Em caso de
discordância ou irregularidades sob o aspecto ético desta pesquisa, você poderá consultar:
CEP/UFV – Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos: Universidade Federal de
Viçosa, Edifício Arthur Bernardes, piso inferior, Av. PH Rolfs, s/n – Campus Universitário.
CEP: 36570-900 Viçosa/MG. Telefone: (31)3899-2492. E-mail: cep@ufv.br. Site:
www.cep.ufv.br.
Belo Horizonte, ____/___/____
(Assinatura do participante)
(Assinatura do pesquisador responsável)
69
