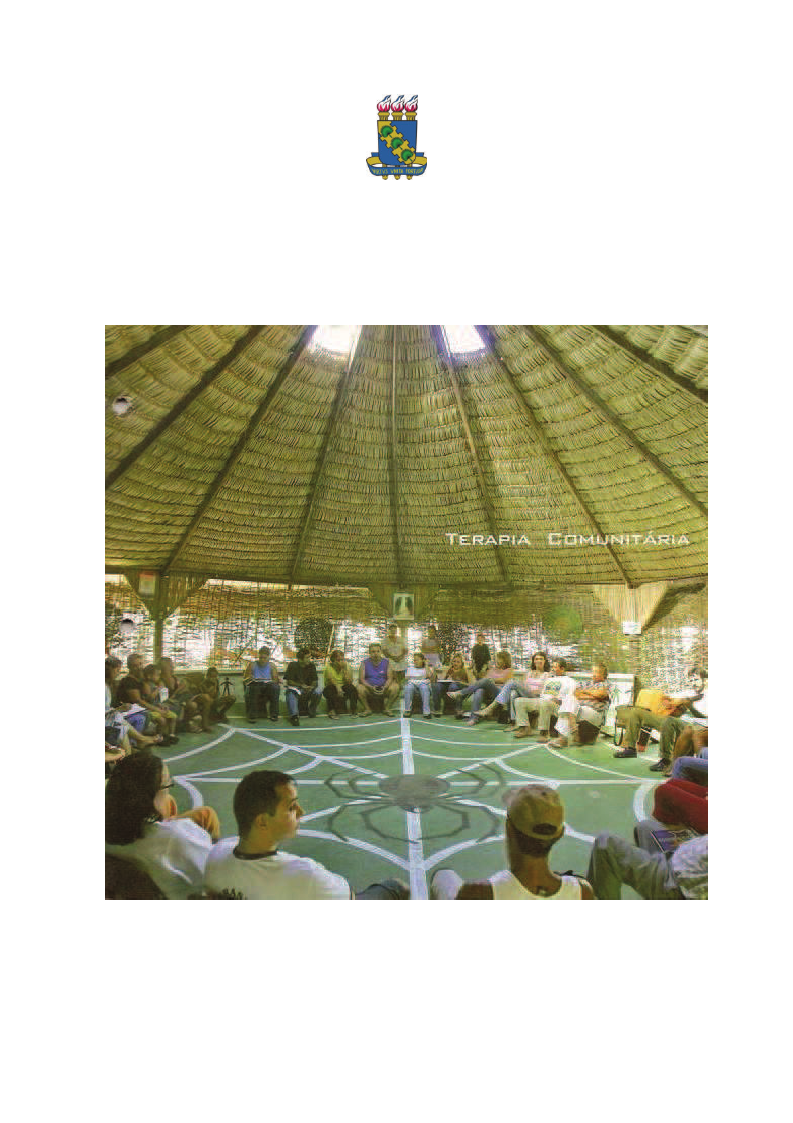
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA
LINHA DE PESQUISA: MOVIMENTOS SOCIAIS, EDUCAÇÃO POPULAR E
ESCOLA
SABER SER, SABER FAZER: Terapia Comunitária, uma Experiência de
Aprendizagem e Construção da Autonomia
Francinete Alves de Oliveira Giffoni
Fortaleza-CE
NOVEMBRO/2008
1

FRANCINETE ALVES DE OLIVEIRA GIFFONI
SABER SER, SABER FAZER: Terapia Comunitária, uma Experiência de
Aprendizagem e Construção da Autonomia
Tese apresentada à Universidade Federal do
Ceará como requisito parcial para obtenção do
título de doutor em Educação.
Orientadora: Bernadete de Lourdes Ramos
Beserra
Fortaleza-CE
NOVEMBRO/2008
2
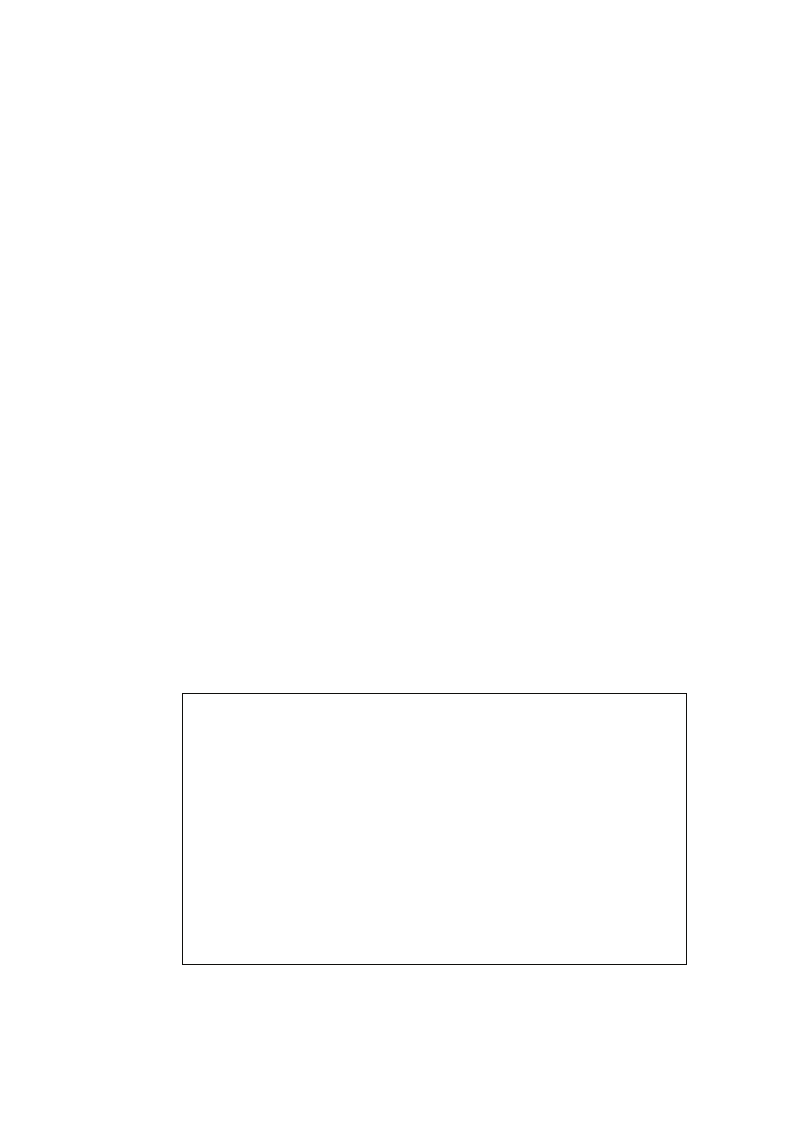
Catalogação na Fonte
Bibliotecária Perpétua Socorro Tavares Guimarães
3

FRANCINETE ALVES DE OLIVEIRA GIFFONI
SABER SER, SABER FAZER: TERAPIA COMUNITÁRIA, UMA
EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM E CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA
Tese apresentada à Universidade Federal do
Ceará como requisito parcial para obtenção do
título de doutor em Educação.
Aprovado em: 07 de Novembro de 2008
__________________________________________________________________
Profª. PhD. Bernadete de Lourdes Ramos Beserra - UFC (Orientadora)
__________________________________________________________________
Profª Dra. Eliane Dayse Pontes Furtado - UFC
__________________________________________________________________
Prof. Dr. Gabriel de Santis Feltran - CEBRAP
__________________________________________________________________
Prof. Dr. João Tadeu de Andrade – UECE
__________________________________________________________________
Profª. Dra. Sônia Pereira Barreto – UFC
4

DEDICATÓRIA
Dedico este estudo:
Ao meu esposo Vicente Giffoni, exemplo de dignidade, amor e dedicação
E aos meus filhos queridos
Vicente, Flora e Emanuel, pela paciência em cada dia de espera.
5

AGRADECIMENTOS
À minha avó, Francisca Antônia, com quem primeiro aprendi a noção do acolhimento e
os mistérios do cuidar.
À minha mãe, Eliete Francisca, olhar que me fez ver o mundo com ternura.
Ao meu pai, Chico Alves, exemplo de constância na árdua batalha da vida. Ele me
conduziu a trilhar com afinco essa escalada até aqui.
À minha tia Ritinha, pelas cores do horizonte que imprimiu em meu imaginário
intelectual desde a infância.
A tia Socorro presença meiga em minha época de menina.
Aos meus irmãos Francilene, Francisco e Francinélio Alves, cada qual com sua parcela
de contribuição em minha trajetória.
À D.Matilde, Tia Adelaide, Tia Rita, Margarida, Rita e Luis, minha família presente em
todas as horas.
A Adalberto Barreto, pela inspiração Divina na criação da Terapia,
A Airton Barreto, símbolo de um ideal realizado.
Aos Profs .Henry Campos e Luciano, pela consideração quando coordenadores do
Curso de Medicina da UFC.
Prof.Cláudio Gleidiston, coordenador do curso de Medicina da UFC-Cariri, pela infinita
compreensão e fraterno apoio.
Seu Zequinha, D.Cleinha, Fabiana, Neves que partilharam comigo profundos momentos
de sua vida.
A todos os participantes da pesquisa e membros do Projeto Quatro Varas pela
disponibilidade e carinho.
A Sílvia Lúcia, responsável pelo Centro Popular de Pesquisa e Documentação do
Pirambu(CPDOC).
A Gislene, Laudícia, Cid, Rafael, Davi, Daniele, Eliete, Geisa, Adalgisa e todos que
deram de si para a efetivação deste trabalho.
À Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
FUNCAP.
6

À professora Bernadete Beserra
que me conduziu pelos caminhos da Antropologia,
e me incentivou a ir além do conhecido,
atravessar os sentidos do real
buscar o significado oculto
no singular que habita
em cada homem.
Sua ousadia feminina,
corre ao lado da coragem nordestina
de romper limites
explorar fronteiras e destinos
E, em tudo isso, ela me ensina
a mergulhar nas fontes do cotidiano
antes desprovidas de sentido
agora, depois dela, mananciais perenes de sabedoria
e fez mais que isso:
Fez-me reencontrar o prazer da escrita,
O poder das metáforas que eu havia perdido no labirinto do positivismo.
Compartilhou comigo dores e sorrisos,
Mangas, flamboyans, viagens, fotos, filhos
Um blog, a Paraíba, algumas poesias,
Fez tempestades e desertos em minha vida
E fez também caminhos
Cheios de chegadas, repletos de partidas
Mas quem é assim nunca se despede
Será sempre aquela que rima comigo:
Bernadete, Francinete, sim, depois de tudo isso,
se não somos irmãs, somos amigas.
7

EPÍGRAFE
“Cada ser humano é um cosmos, cada indivíduo é uma efervescência de
personalidades virtuais, cada psiquismo secreta uma proliferação de
fantasmas, sonhos, idéias. Cada um vive, do nascimento à morte, uma
tragédia insondável, marcada por gritos de sofrimento, de prazer, por
risos, lágrimas, desânimos, grandeza e miséria. Cada um traz em si
tesouros, carências, falhas, abismos. Cada um traz em si a possibilidade
do amor e da devoção, do ódio, e do ressentimento, da vingança e do
perdão. Reconhecer isso é reconhecer também a identidade humana. O
princípio da identidade humana é unitas multiplex, a unidade múltipla,
tanto do ponto de vista biológico quanto cultural e individual.”
Edgar Morin e Anne Brigitte Kern
8

LISTA DE FIGURAS
Figura 1: Dr. Adalberto, sistematizador da Terapia Comunitária.
16
Figura 2: Primeiras reuniões dos direitos humanos da Comunidade Quatro Varas, no inicio da
década de 1980
18
Figura 3: Rua grito de alerta – caminho ao Projeto Quatro Varas
38
Figura 4: Horto, Casa da Cura (à esquerda), casa de acolhimento(à direita) e refeitório(altos) 39
Figura 5: Redes de tucum
40
Figura 6: Casa da cura, vista externa das salas de massoterapia
40
Figura 7: Distribuição das primeiras mudas de plantas para iniciar o horto - 1989
41
Figura 8: Laboratório de ervas da Farmácia-Viva
43
Figura 9: Oca, palhoça da terapia comunitária
46
Figura 10: Vivência da terapia da auto-estima
48
Figura 11: Cartão produzido por uma das crianças no atelier
52
Figura 12: Davi filmando a terapia
53
Figura 13: A "escolinha"
54
Figura 14: Posto do PSF no Projeto Quatro Varas
57
Figura 15: Uma sessão de terapia
59
Figura 16: Dona Zilma, a rezadeira
75
Figura 17: Dona Francisca, massoterapeuta
77
Figura 18: Grupo de teatro, Messias, coordenador do grupo (à direita)
89
Figura 19: Primeiros casebres do Pirambu - 1930
101
Figura 20: Travessa antiga do Pirambu
102
Figura 21: Construções sobre as dunas do Pirambu - 1958
103
Figura 22: Padre Hélio Campos
104
Figura 23: Airton Barreto – 9 /10/2008
108
Figura 24: Uma das primeiras sessões da terapia – 1987 - Adalberto ao centro.
113
Figura 25: 1ª Sessão de Terapia com cadeiras doadas-1988
114
Figura 26: Autoridades no Laboratório do Projeto Quatro Varas
127
9
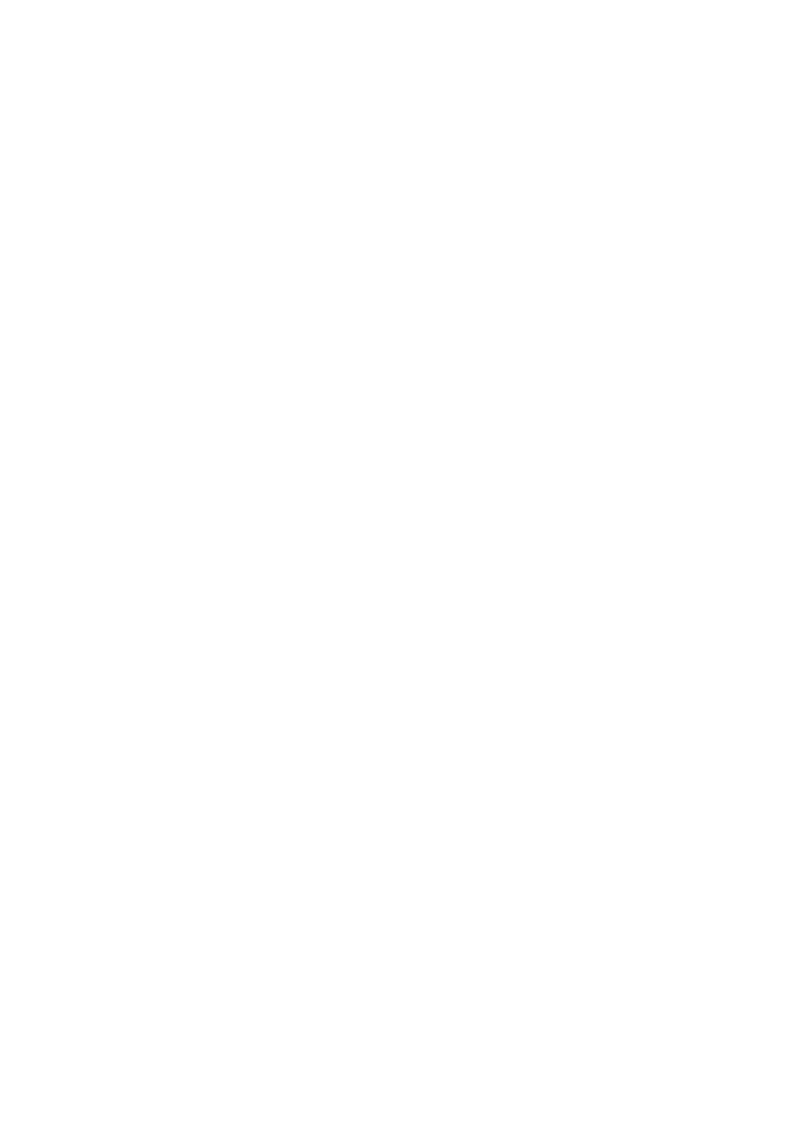
Figura 27: Seu Zequinha
136
Figura 28: Neves
154
Figura 29: Dona Cleinha
164
Figura 30: D. Cleinha, exercendo a função de massoterapeuta
174
Figura 31: Fabiana
176
Figura 32: Terapia Comunitária na visão de um dos meninos do Atelier
192
Figura 33: Contraste social na visão de um jovem artista do Atelier
198
Figura 34: A teia social da Terapia – desenho de um artista do Atelier
210
Figura 35: Cajueiro onde foram realizadas as primeiras terapias – Foto em 20/10/2008
225
Figura 36: Margaret Chan-(OMS) e Adalberto no Salão da Terapia
225
Figura 37: Salão da Terapia – Símbolo da teia de aranha
225
Figura 38: Margaret Chan no Projeto
225
Figura 39: Entrada Casa da Cura
226
Figura 40: Ala de acesso às salas de massoterapia
226
Figura 41: Banho de ervas
226
Figura 42: Sala de massoterapia
226
Figura 43: Muro de entrada do Projeto Quatro Varas
227
Figura 44: Sala de reuniões do teatro
227
Figura 45: Estátua simbólica do Índio segurando as Quatro Varas
227
Figura 46: Oca da Terapia Comunitária
227
Figura 47: Banner – Produtos da Farmácia Viva 4 Varas
228
Figura 48: Banner – Atividades do Projeto 4 Varas
228
Figura 49: Preparação de medicamentos da Farmácia Viva 4 Varas
228
Figura 50: Equipe do Laboratório da Farmácia Viva 4 Varas
228
Figura 51: Prefeita Luizianne Lins recebe homenagem do Projeto Quatro Varas
229
Figura 52: Prefeita Luizianne Lins (ao centro) e Adalberto(à esquerda) na inauguração da
ampliação da Casa da Cura
229
Figura 53: Posto PSF - 4 Varas - Visão Interna
229
10

Figura 54: Posto PSF - 4 Varas - Visão Interna
229
Figura 55: Adalberto e Presidente Lula, na entrega do Prêmio Valorização da Vida - 22.06.2005
230
Figura 56: Adalberto discurso em Brasília, na cerimônia de entrega do prêmio Valorização da
Vida - 22.06.2005
230
Figura 57: Seu Zequinha na França
231
Figura 58: D. Zilma na França
231
Figura 59: Adalberto e D. Zilma na terapia da auto-estima
231
Figura 60: Adalberto ministra palestra na França juntamente com D. ZIlma
231
Figura 61: Airton Barreto e visitantes
232
Figura 62: Adalberto e visitantes durante a terapia
232
Figura 63: Dr. Diendonné - Representante do Ministério da Saúde de Bourkina Fasso – África;
Dra. Henriqueta Camarotti, coordenadora do MISMEC-DF e membro da ABRATECOM e
Francinete “etnógrafa” à direita.
232
Figura 64: Coleta de dados no Projeto
232
Figura 65: Meninos do Pirambu - 1998
233
Figura 66: Antigo Pirambu - 1953
234
Figura 67: Meninos do Pirambu 2 - 1998
234
Figura 68: Praia do Pirambu - década de 1980
234
Figura 69: Sessão de Terapia ao ar livre - 1987
234
Figura 70: Antigo Salão da Terapia - 1989
234
11

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO.............................................................................................................16
CAPÍTULO I – ESBOÇO ETNOGRÁFICO DA TERAPIA COMUNITÁRIA..........37
1.1. Caminho a Quatro Varas..........................................................................37
1.2. Esboço Etnográfico da Terapia Comunitária e sua Teia de Relações
Sistêmicas ................................................................................................39
1.3. Uma Sessão da Terapia Comunitária.......................................................58
CAPÍTULO II – A HISTÓRIA DA TERAPIA COMUNITÁRIA..............................93
2.1. A Terapia Comunitária – Uma Herança dos Movimentos Sociais
do Brasil.....................................................................................................93
2.2. Pirambu, Berço da Terapia Comunitária..............................................101
2.3.
Movimento
de
ocupação:
A
origem
da
comunidade.....................................................................................................107
2.4. O nome da comunidade:Quatro Varas..................................................110
2.5. Dos direitos humanos à terapia comunitária......................................111
2.6 A Terapia Comunitária torna-se Política Pública..................................122
CAPÍTULO III – DE PACIENTE A TERAPEUTA: A RESSIGNIFICAÇÃO DO
PROCESSO SAÚDE-DOENÇA E EMPODERAMENTO NA TERAPIA
COMUNITÁRIA...........................................................................................................135
3.1. Seu Zequinha: “eu aprendi uma experiência: a gente só aprende a nadar
caindo n’água, né?”.........................................................................................135
3.2. “Eu não Aprendi nada em Livro, Aprendi com o Sofrimento, Peia,
Decepção e a Vontade de Vencer.”.................................................................138
3.3. “Apanhei Tanto de Chicote que Aprendi a Dançar o Xote!”..................145
3.4 “Eu vou é lutar!” O Empoderamento como Estratégia
de Sobrevivência.............................................................................................150
12

3.5. Neves: O Resgate das Raízes Culturais.................................................154
3.6. Dona Cleinha: O poder da simpatia.......................................................164
3.7. Fabiana: “Quando termina a terapia, a pessoa sai com a mala cheia de
caminhos...”.....................................................................................................175
3.8. Fabiana, a terapeuta: “‘é carne, osso, pé e pescoço’. Então é assim, teve
carne, teve osso, teve pé e pescoço, é povo.”..................................................190
CAPITULO IV – A TERAPIA COMUNITÁRIA E O DESENVOLVIMENTO DA
DIMENSÃO POLÍTICA DO HOMEM.......................................................................192
4.1. Do Modelo Biomédico à Construção da Cidadania...............................192
4.2. A Terapia Comunitária, o desenvolvimento do Bios Politikos e a
construção da esfera pública............................................................................196
4.3. O emergir da fala de um sujeito que não contava..................................203
4.4. Consensos e dissensos: a proposta política da Terapia..........................207
CONCLUSÃO..............................................................................................................210
BIBLIOGRAFIA.........................................................................................................214
ANEXOS.......................................................................................................................220
13

RESUMO
O presente estudo investiga a terapia comunitária, modalidade terapêutica
que faz parte de um Projeto de Extensão do Departamento de Saúde Comunitária da
UFC em parceria com uma ONG, o Movimento Integrado de Saúde Mental
Comunitária (MISMEC). Partindo da relação entre o surgimento da terapia comunitária
e a história dos movimentos sociais em saúde no Brasil, busco identificar até que ponto
ela vem se constituindo como um espaço no qual o diálogo e a palavra são valorizados
como instrumento de transformação social. Procuro desvendar se a participação no
ritual da terapia comunitária contribui para a ampliação da percepção do processo
saúde-doença, aprendizagem da autonomia e desenvolvimento da dimensão política do
homem. A pesquisa de campo foi realizada através da abordagem etnográfica com os
procedimentos da observação participante, entrevistas semi-estruturadas e histórias de
vida. Foram escolhidos como sujeitos 20 participantes da terapia, de ambos os sexos,
com idades que variam entre 27 e 65 anos, procedentes, em sua maioria do bairro do
Pirambu, com nível de escolaridade predominante entre o ensino fundamental e médio.
Os resultados indicam que a terapia comunitária tendo como foco o sofrimento e não a
patologia, possibilita consensos e dissensos entre a medicina oficial e as práticas
populares de cura, promovendo a ressignificação da dor e da doença e a reafirmação da
capacidade de autogestão de itinerários terapêuticos. Desta forma favorece o
empoderamento pessoal e coletivo, apontando alternativas para o enfrentamento do
estresse psicossocial. A partir desses resultados pode-se concluir que a terapia
comunitária é uma instituição ampla cujo grau de complexidade relaciona-se à
multiplicidade de seus objetivos e relações. Caracterizando-se como experiência de
construção de saberes coletivos, ela promove a interação entre diversas práticas
complementares de cura e a formação de uma extensa rede com outras instituições
sociais como Alcoólicos Anônimos, ONGs, participantes de diversas igrejas,
universidades e lideranças comunitárias. Compõe assim uma teia sistêmica de apoio
social voltada para o auto-cuidado e valorização da vida.
Palavras chaves: Terapia comunitária. Educação popular. Movimentos
sociais em saúde.
14

RÉSUMÉ
Cette recherche s’intéresse à la thérapie communautaire, en tant que
modalité thérapeutique faisant partie d’un Projet d’Extension du Département de Santé
Communautaire de l’ Université Fédérale du Ceara (UFC), en partenariat avec une
ONG, le Mouvement Intégré de Santé Mentale Communautaire (Movimento Integrado
de Saúde Mental Comunitária / MISMEC). En partant de la relation entre l’émergence
de la thérapie communautaire et l’histoire des mouvements sociaux dans le domaine de
la santé au Brésil, je cherche à identifier jusqu’à quel point cette relation constitue un
espace de transformation sociale par le biais de ces instruments privilégiés que sont le
dialogue et la parole. Je postule qu’au-delà même d’un changement dans la perception
du processus « santé-maladie », la thérapie communautaire promeut l’apprentissage de
l’autonomie et le développement de la dimension politique de l’homme. L’investigation
sur le terrain a été réalisée dans le cadre d’une démarche ethnographique privilégiant
l’observation participante, des entretiens semi-dirigés et des histoires de vie. Ont
participé à cette enquête, 20 sujets des deux sexes, âgés de 27 à 65 ans, en cours de
thérapie, provenant, en majorité, du quartier Pirambu (Fortaleza/Ceara), et ayant une
scolarité située entre le niveau primaire et celui du collège. Les observations indiquent
que la thérapie communautaire, s’intéressant plus à la souffrance qu’à la pathologie, met
en évidence des consensus et des dissensions avec la médecine officielle et les pratiques
populaires de soin, tout en favorisant une resignification de la douleur et de la maladie,
ainsi que la réaffirmation de la capacité d’autogestion de leurs parcours thérapeutiques
par les patients. De cette manière, elle réaffirme le pouvoir d’implication personnel et
collectif, tout en offrant des alternatives pour affronter le stress psychosocial. À partir
de ces résultats, on peut établir que la thérapie communautaire s’apparente à une
institution ample dont le degré de complexité est à mettre en perspective avec la
multiplicité de ses objets et de ses relations. Se caractérisant comme une expérience de
construction de savoirs collectifs, elle promeut l’interaction entre diverses pratiques
complémentaires de soins et la formation d’un réseau étendu avec d’autres institutions
sociales telles que les Alcooliques Anonymes, des ONG, ainsi que des participants à
divers mouvements religieux, universitaires ou des militants de quartier. Elle constitue
ainsi un vaste réseau systémique dédié au soin de soi et à la valorisation de la vie.
Mots-clés: thérapie communautaire, éducation populaire, mouvements
sociaux dans le secteur de la santé.
15
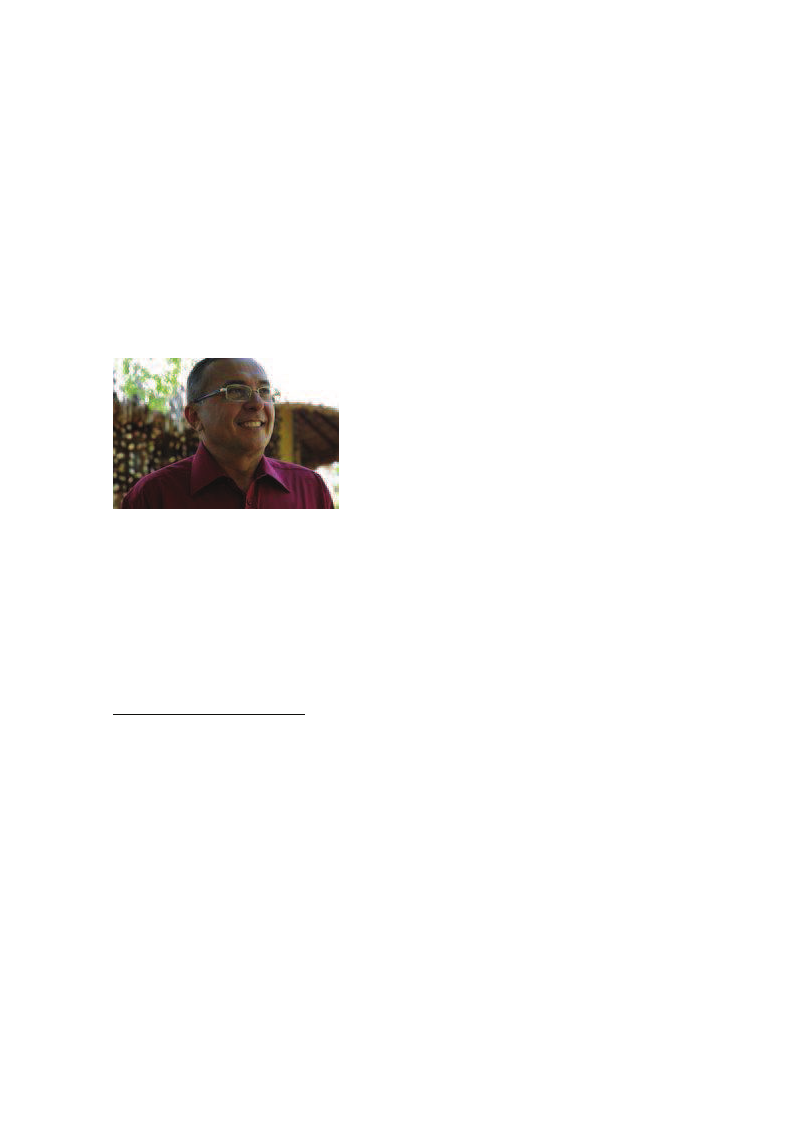
INTRODUÇÃO
A presença de outros que vêem o que vemos e ouvem o que
ouvimos garante-nos a realidade do mundo e de nós mesmos.
Hannah Arendt
Quando, em meados de julho de 1987, Adalberto Barreto1, alguns dos seus
alunos do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará e 26 pessoas da
comunidade Quatro Varas no Pirambu iniciaram,
meio inocentemente, o que se tornou depois
conhecido como terapia comunitária, a história já
tinha muitos registros de outras experiências
comunitárias. Os Círculos de Cultura, de Paulo
Figura 1: Dr. Adalberto, sistematizador
da Terapia Comunitária.
Freire2 (1977), por exemplo, inspiraram muitas
experiências que depois se desenvolveram no
Nordeste3 e no Brasil, no âmbito dos movimentos
sociais4 (FREITAS, 2007). Há provavelmente inspirações ainda mais remotas e não
necessariamente lembradas na hora da construção de uma história da terapia
comunitária: o costume indígena da reunião de anciãos ou de outras reuniões mais
abrangentes para a discussão e resolução de problemas.
1 O Professor Adalberto é conhecido no âmbito do Projeto Quatro Varas como “Adalberto”. Por este
motivo, em alguns momentos optarei por este nome, acrescentando por vezes o sobrenome “Barreto”
para me referir a ele neste trabalho.
2 A influência da filosofia de Paulo Freire nas práticas de emancipação popular levadas a cabo no Brasil
nas décadas de 1960 e 1970 é assinalada por Freitas (2007). Muitas das ações emergentes naquele
período, focadas em interações comunitárias e solidárias basearam-se em intervenções formativas e
educativas sob a perspectiva freiriana.
3 Em 1963, em Recife-PE o I Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular, envolve inúmeros
grupos e movimentos populares em prol da aproximação entre a população e a produção educativo-
cultural.
4 O ideal de uma politização da consciência dos oprimidos através do método da educação popular
fortaleceu os movimentos sociais que surgiram nas décadas 70 e 80, quando a participação popular
passou a representar uma ferramenta indispensável para a superação dos conflitos que a sociedade
brasileira enfrentava naquele período. É neste período que se encontram vários movimentos, como: os
Movimentos de Educação de Base (MEB), ligados à Igreja Católica, os Movimentos de Cultura Popular
(MCP) voltado para projetos artísticos e culturais, os Centros Populares de Cultura (CPC) o movimento
universitário da União Nacional dos Estudantes (UNE). A aliança entre a educação popular, a igreja e a
assessoria de diversas categorias de profissionais e intelectuais no interior dos movimentos sociais no
Brasil será tema de discussão no capítulo II.
16
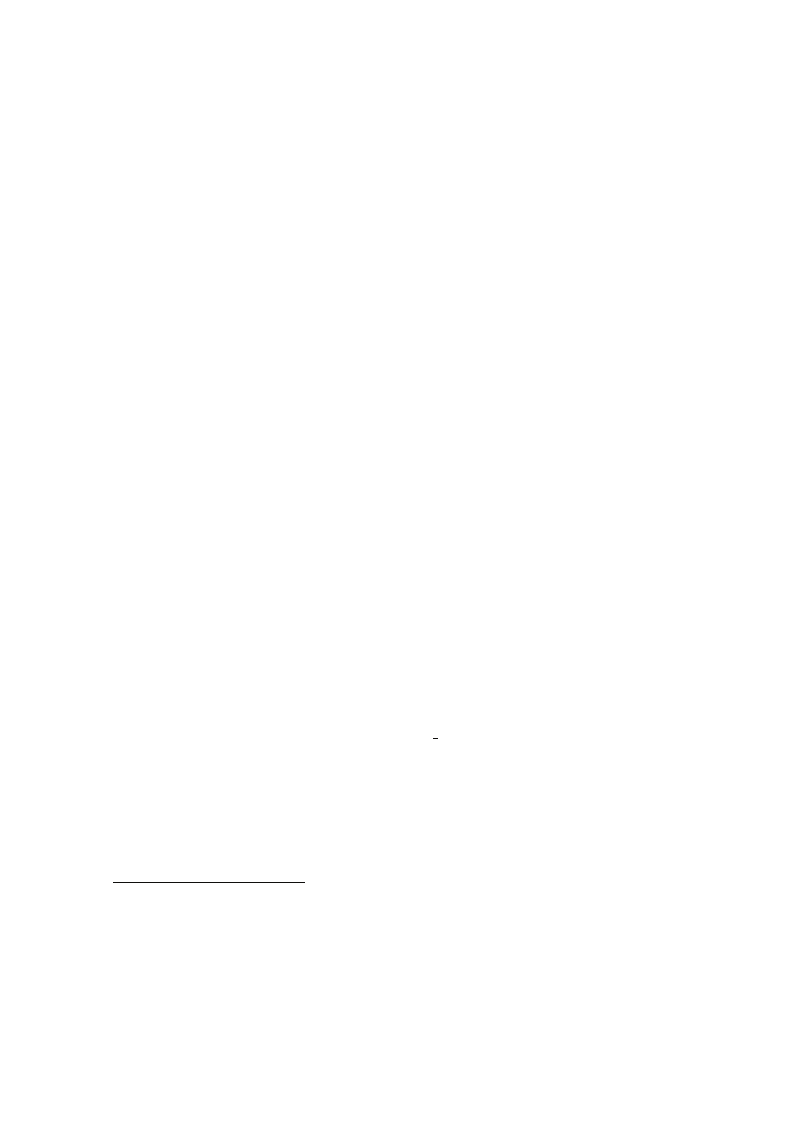
Diferentemente dos Círculos de Cultura, de Paulo Freire, a terapia
comunitária se beneficiou de um contexto histórico mais favorável às organizações
populares e comunitárias, de tal modo que em apenas 21 anos de existência já se
difundiu bastante pelo Brasil e pelo mundo. Hoje ocupa um lugar de destaque no
cenário das políticas públicas em Saúde no Brasil.
A primeira vez que tomei conhecimento da experiência foi numa das visitas
que fiz ao Projeto Quatro Varas, no ano de 1995. Naquela oportunidade senti
reacenderem em minha mente questionamentos sobre o mecanicismo do modelo
biomédico, surgidos desde que ingressara no curso de medicina da UFC em 1980.
Assim, a cada novo contato com o Projeto Quatro Varas, passava a refletir um pouco
mais profundamente sobre a possibilidade de realizar um estudo com a terapia
comunitária como tema. Essa idéia veio viabilizar-se a partir do doutorado que iniciei
em março de 2004.
No decorrer da pesquisa, interessada em contextualizar o surgimento da
terapia, descobri que, não por acaso, ela nasceu de um movimento social iniciado em
1985 por posse de terras, na favela do Pirambu, em Fortaleza-CE5. As sessões tiveram
início em 1987, sendo institucionalizadas por Adalberto no ano de 1988, através de um
Projeto de Extensão do Departamento de Saúde Comunitária da UFC6. Logo em seguida
o projeto de extensão é vinculado a uma ONG, o Movimento Integrado de Saúde
Mental Comunitária (MISMEC).
Cria-se assim um programa de atenção à saúde comunitária que leva em
conta os aspectos biológicos, psicológicos, inter-relacionais e ambientais, considerando
as peculiaridades e os recursos da cultura local. O MISMEC é uma entidade sem fins
lucrativos, com estatuto social registrado no 3o R.P.J. de Fortaleza-CE, em 08 de
setembro de 1995 sob o Nº 112222 que presta à comunidade diversos serviços de
prevenção por meio de práticas complementares de cura que incluem a terapia
comunitária, a terapia da auto-estima, massagens terapêuticas, fitoterapia, rezas e outras,
5 A história desse movimento e suas implicações na origem da terapia comunitária será tema do segundo
capítulo.
6 Ao longo do texto refiro-me simplesmente ao “Projeto”, ou “Projeto Quatro Varas” para falar do Projeto
de Extensão do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da UFC. A denominação
simples de “Quatro Varas” utilizarei quando me reportar à comunidade onde fica a sede do Projeto
Quatro Varas. Ela é uma das 110 comunidades organizadas do bairro do Pirambu, compreendido entre o
bairro Barra do Ceará e o antigo kartódromo e conta com a população atual de 250.000 habitantes.
Disponível em: http://www.4varas.com.br/historico.htm. Acesso em 13 de out de 2008. A origem do
nome “Quatro Varas” será esclarecida posteriormente no Capítulo II.
17

além de atividades educativas e sociais como a escolinha alternativa e o grupo de teatro
para crianças e adolescentes.
Em sua origem, a
terapia consistia em uma
reunião informal de pessoas
da comunidade Quatro Varas
com Adalberto e seus alunos.
Ela se configura inicialmente
como espaço de escuta e vai
se constituindo ao longo do
tempo, numa abordagem
Figura 2: Primeiras reuniões dos direitos humanos da
Comunidade Quatro Varas, no inicio da década de 1980
terapêutica e preventiva em
saúde mental, na qual as
pessoas se cuidam e se
transformam, através do uso da palavra, da formação de vínculos e de redes de apoio
social. Utilizo o conceito de redes sociais de Scherer – Warren (1993, p. 104) que inclui
tanto organizações formais como também as redes de relações informais que
“conectam” núcleos de indivíduos e grupos a uma área de participação mais ampla”.
Tendo em suas bases elementos da pedagogia de Paulo Freire7, a terapia
comunitária foi se desenhando sobre três pilares principais: a abordagem sistêmica,8 a
teoria da comunicação de Watzlawick (1967)9 e a antropologia cultural10 às quais se
agregam a teoria da resiliência11, noções de psicanálise, traços de xamanismo12 e
princípios político-filosóficos relacionados aos direitos humanos. As influências dessas
7 Um dos pontos da filosofia de Freire (1977) que podem ser identificados com os pressupostos da terapia
comunitária diz respeito ao seu envolvimento com as pessoas pertencentes das classes subalternas,
exploradas e sem a mínima condição de sobrevivência no sentido de trabalhar para desenvolver a crença
na possibilidade de melhoria em suas vidas a partir do momento em que poderiam fazer uma leitura
crítica do mundo e transformá-lo.
8 Segundo essa teoria, cada elemento que faz parte de um sistema influencia o outro, sendo também por
ele influenciado.
9 Essa teoria faz a diferenciação entre comunicação verbal e não-verbal e se fundamenta no pressuposto
de que todo comportamento tem valor de comunicação. Na terapia por exemplo, os sintomas físicos
podem estar manifestando um sofrimento que não é expresso verbalmente.
10 A Antropologia traz para a terapia a consideração dos hábitos, costumes e crenças presentes na
subjetividade humana e que portanto devem ser levados em conta na percepção do processo saúde-
doença.
11 Resiliência: Na psicologia e na sociologia a resiliência pode ser entendida como a capacidade
demonstrada por pessoas ou grupos para resistirem a situações adversas sem perderem o seu equilíbrio,
Capacidade de construir-se positivamente frente às adversidades (TAVARES, 2001).
12 O xamanismo compreende um conjunto de práticas de cura de origem indígena que reúnem religião e
mitos.
18

correntes teóricas no desenvolvimento da terapia serão apresentadas ao longo dos
capítulos, concomitantemente à apreciação dos resultados da pesquisa.
Para explicar mais detalhadamente o interesse que a terapia me despertou
logo no primeiro momento em que a conheci até chegar a ser objeto do presente estudo,
farei uma retrospectiva de minha trajetória pessoal e profissional, começando pelas
primeiras inclinações que tive para a área de saúde.
Na realidade, a identificação começou porque eu sempre gostei de “cuidar”
das pessoas. Diante de uma lágrima, um suspiro ou qualquer expressão de sofrimento,
nunca consegui ficar indiferente. Desde cedo, esse jeito de ser foi se definindo num
propósito de ser médica, até que, num dado momento, passei a dedicar a esse objetivo a
maior parte de minha energia. Em março de 1980, aos dezoito anos, entrei na Faculdade
de Medicina esperando que algo misterioso viesse a acontecer dali em diante. Na
expectativa de conhecer o ser humano e aprender a lidar com ele, via nas vestes brancas
que se usava nas aulas de laboratório, o símbolo de uma sagrada missão.
No entanto, meu entusiasmo arrefeceu-se à medida que fui me deparando
com uma abordagem positivista cujo alvo era o sintoma e o objetivo central, a eficácia
das intervenções clínicas e prescrições farmacológicas. Não me conformava com o fato
dos pacientes serem tratados como “casos clínicos”, dentro de uma visão na qual as
doenças eram resultado da ação de um agente patogênico que acometia o sujeito isolado
de sua experiência existencial. Para mim, cada pessoa que atendia no ambulatório
escondia uma vida cheia de nuances e com algumas delas cheguei a conversar coisas
muito diferentes da rotina médica. Compartilhar suas histórias era algo que me ajudava
a superar a aridez do curso, que, apesar dos conflitos, consegui concluir em 1986.
Depois disso, decidi continuar minha busca por uma medicina humanística e
em 1987 me inscrevi para o concurso da Residência Médica em Psiquiatria13, esperando
aprofundar-me no estudo da subjetividade do homem em toda a sua complexidade. Mas
isto de fato não se deu e, já ao final do primeiro ano, percebi que as cores que eu pintara
no horizonte esmaeciam cada vez que percorria os pátios desérticos do hospital, onde os
pacientes se dispersavam sob o sol, sucumbindo à espera de nada. Logo me dei conta de
que não desvendaria os segredos do psiquismo daqueles seres humanos a quem restava
apenas a reclusão e os remédios que eram obrigados a tomar, religiosamente.
13 A Residência funcionava no Hospital de Saúde Mental de Messejana (HSMM), pertencente à Fundação
de Saúde do Estado do Ceará – FUSEC.
19

A percepção de vidas reduzidas a objetos de intervenção clínica aniquilava
meus sonhos da infância, minando a disposição de seguir em frente. Procurava os
professores mais abertos, fazia leituras alternativas e refletia sobre minha sensação de
impotência, me questionando como poderia contribuir para que tivessem um melhor
prognóstico. Um dia, despertei para a necessidade de ir mais além do que apenas
observar e comecei a analisar mais detidamente a situação à luz da história das políticas
de Saúde Mental no Brasil e no mundo.
Engajei-me na Sociedade Cearense de Psiquiatria (SOCEP) que, àquela
época, discutia o movimento da reforma psiquiátrica já em andamento no Brasil,
embora mais tardiamente que em outros países como, por exemplo, a Itália, que desde
1961 já era palco do movimento “Psiquiatria Democrática”, comandado pelo psiquiatra
Franco Basaglia14, da cidade italiana de Gorizia (AMARANTE, 1996). No Brasil, a
Reforma só viera a tomar alguma consistência a partir da conjuntura política que se
instalara em fins da década de 1970, emergindo junto ao movimento contra a ditadura
militar instalada em 1964. Tomando conhecimento desses aspectos, fui compreendendo
porque, no Brasil, a Reforma criticava não apenas a abordagem autoritária da Psiquiatria
tradicional, mas também combatia todas as formas de repressão. (AMARANTE, 1995).
A questão era muito mais política do que até então me parecera. E, embora
eu não me entregasse de forma ativa ao movimento, começava a entender suas
implicações na luta da sociedade civil que, na época, pleiteava as eleições diretas e a
convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte.
A Reforma Psiquiátrica significava também uma luta pelo resgate da
cidadania15, palavra aqui utilizada no sentido do exercício dos direitos e deveres do
cidadão enquanto membro de uma sociedade. Para isso, a batalha inicial era pela
desmedicalização progressiva da doença mental, que só seria viável com a abertura à
participação de outros atores como líderes comunitários, agentes religiosos e outros que
14 Basaglia transformou um hospital psiquiátrico numa comunidade terapêutica, realizando mudanças
profundas tanto no modelo de assistência psiquiátrica quanto nas relações entre a sociedade e a “loucura.
Influenciado pela obra de Foucault, História da Loucura na Idade Clássica, passa a defender a "negação
da psiquiatria" como discurso e prática hegemônicos sobre a loucura. Em 1970, foi nomeado diretor do
Hospital Provincial na cidade de Trieste, iniciando o processo de fechamento daquele hospital
substituindo-o por uma rede territorial de atendimento, da qual faziam parte serviços de atenção
comunitários, emergências psiquiátricas em hospital geral, cooperativas de trabalho protegido, centros de
convivência e moradias assistidas. No ano de 1973, a Organização Mundial de Saúde – OMS, credenciou
o Serviço Psiquiátrico de Trieste como principal referência mundial para uma reformulação da assistência
em saúde mental. Disponível em: www.ifb.org.br/franco_basaglia.htm - 28k - Acesso em 08 nov. 2007.
15 O conceito de cidadania aparece em diversas oportunidades ao longo do texto e será abordado de
acordo com o desenvolvimento da temática em foco em cada capítulo.
20

entrariam em cena, com o objetivo de redirecionar o foco da intervenção médico-
hospitalar para ações que levassem à inserção do paciente na comunidade.
Envolvida com essa questão, em 1988, fui eleita chefe dos residentes e tive
oportunidade de representar o Hospital de Saúde Mental de Messejana em um fórum de
discussão com as lideranças comunitárias da 8a Região Metropolitana de Fortaleza,
visando a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS). Neste evento, participei da
elaboração de um projeto em que se articulava a psiquiatria com os demais serviços de
saúde, incluindo a atenção materno-infantil, o atendimento preventivo aos jovens, além
de apoio psicossocial a adultos e idosos.
O modelo teria de ser construído, uma vez que não estava totalmente
definido. A idéia era promover a relação entre os movimentos populares locais e os
profissionais de saúde dos serviços no planejamento das práticas cotidianas, com vistas
a um melhor enfrentamento da complexidade dos problemas de saúde mental. Acontece
que, como os serviços vinham se organizando com base na visão tradicional adotada
pelos órgãos do antigo Sistema de Saúde, certamente ofereceriam resistência ao
intercâmbio entre o saber popular e o saber técnico. E assim, devido às dificuldades
políticas e econômicas que relegavam os novos ideais do SUS à categoria de utopia e
submissão a outras experiências já “consagradas”, o projeto não chegou a ser efetivado.
Diante de mais uma desilusão e, como naquela época ignorava as dinâmicas
mais profundas da vida social, desmotivei-me a ponto de desistir da militância e entrar
numa fase de aversão à política que me devolveu às atividades “científicas” da
residência. Era um período em que chegaram novos preceptores, com cursos de pós-
graduação no exterior e convidaram os residentes para seminários e grupos de estudo
em que poderiam conhecer idéias inovadoras na abordagem da saúde mental.
Resolvi participar do grupo da etnopsiquiatria, 16 que relacionava as doenças
psíquicas às questões culturais. O que me levou a escolher esse grupo foi a lembrança
de Dona Eufrásia, uma senhora de sessenta anos, que eu estava acompanhando na
enfermaria há quase dois meses. Com diagnóstico de esquizofrenia crônica, ela vivia há
anos isolada num pavilhão, com poucos registros de sua história e sem maiores
investimentos científicos por parte da equipe. Distante do mundo, permanecia em total
mutismo quando deparei com seu nome na lista de meus pacientes. Após exaustivos
esforços para me comunicar com ela, um dia percebi que balbuciava o nome de uma
16 Essa abordagem integra a dimensão cultural do problema psicológico à análise dos funcionamentos
psíquicos internos.
21

filha e, numa das visitas, observei de longe que fazia gestos como se estivesse
cavalgando.
Com os subsídios colhidos no grupo de estudo, comecei a utilizar uma
abordagem diferente e, em conversas informais ia reunindo algumas de suas frases
soltas sobre “viver num sítio”, “usar vestido estampado”, coisas que me faziam
imaginar o contexto em que vivia, antes de vir para o hospital. Tentando dar realidade a
esses fragmentos de sua história, mandei fazer um vestido com tecido florido, desses
que donas-de-casa do interior costumam usar. Ao vesti-lo, esboçou o único sorriso que
vi emergir em seu rosto e que me motivou a redobrar os esforços para preencher as
lacunas de seu prontuário como se fizesse uma colagem com os pedaços recortados de
sua vida.
Apesar de discreta, a melhora de Dona Eufrásia me mostrou a importância
dos elementos contextuais da vida dos pacientes e confirmou minha opção pela
etnopsiquiatria. Numa das reuniões, ouvi falar de uma abordagem desenvolvida no
hospital psiquiátrico Avicenne, na cidade de Bobigny na França, pelo psiquiatra George
Devereux. Ele atendia junto a uma equipe multidisciplinar pessoas e grupos socialmente
excluídos, especialmente migrantes, levando em conta seu aporte cultural. Naquele
momento, inspirada na proposta de Devereux (1970) me motivei a intensificar a busca
por abordagens alternativas em saúde mental.
Antes mesmo de concluir a residência, iniciei a especialização em
Homeopatia e me inscrevi num curso de formação em Psicodrama. Queria superar os
limites do paradigma mecanicista para que não me acompanhassem no alvorecer de
minha vida profissional como psiquiatra. Não conseguia me imaginar atendendo em
ambulatórios públicos lotados e sem privacidade, filas e filas de pacientes que viriam
apenas receber a “receita” dos seus “remédios controlados”. Sonhava com uma prática
diferenciada, na qual iria utilizar psicofármacos de forma restrita, priorizando
medicamentos fitoterápicos e homeopáticos, associados à psicoterapia.
Estava totalmente voltada para a busca de uma medicina holística17 quando
ouvi falar de um curso de formação em “Terapia Familiar Sistêmica”, a ser ministrado
pelo psiquiatra Adalberto Barreto, que retornara do doutorado em Antropologia na
França. De imediato, associei a proposta do curso ao enfoque da etnopsiquiatria e
depois constatei que, de fato, na abordagem que ele preconizava, os sintomas eram
17 O conceito de holismo a que estou me referindo é aquele que preconiza uma medicina que leva em
conta as diversas dimensões humanas.
22

considerados como uma linguagem com significados culturais que deveriam ser
interpretados de acordo com o contexto de vida do sujeito.
Além dos importantes subsídios que o curso trouxe à minha prática
psiquiátrica, a convivência com Adalberto fortaleceu minha afinidade com o campo das
ciências humanas, me direcionando também para a vida acadêmica, na qual só vim
mergulhar anos depois, porque, antes disso tive de trilhar outros caminhos.
Desenvolvi atividade de consultório até fevereiro de 1995 quando decidi
fazer mestrado na área de Educação. A escolha foi motivada pela grande incidência de
sintomas psicossomáticos em crianças e adolescentes com problemas de adaptação à
escola. Decidi investigar o assunto em minha casuística, por meio de uma pesquisa
denominada “o aluno em situação de avaliação escolar: a psicodinâmica do estresse na
linguagem psicossomática.” A natureza transdisciplinar do tema demandava, além de
um orientador da área de educação, um co-orientador da área de saúde. Fui procurar
Adalberto, já então docente da Faculdade de Medicina da UFC e encontrei-o no
Pirambu, onde coordenava um Projeto de Extensão do Departamento de Saúde
Comunitária da UFC, o “Projeto Quatro Varas”, criado por ele, em 1988. E assim, sem
me dar conta, estava dando meus primeiros passos em direção à terapia comunitária.
No momento em que cheguei, ele estava com os alunos que se preparavam
para sair, uma vez que já era quase cinco horas da tarde e haviam concluído suas
atividades. Adalberto logo me reconheceu apesar de nos termos visto pela última vez
há mais de seis anos, no curso de terapia familiar. Mostrou-se bastante solícito, como de
costume, e ouviu com atenção eu explicar por que precisava de um co-orientador para
minha dissertação de mestrado. Após me fazer algumas perguntas, aceitou meu convite
e, em seguida, percebendo que eu estava meio curiosa a respeito do que fazia ali, me
levou a conhecer as diversas áreas do Projeto Quatro Varas, enquanto conversávamos
sobre a temática que eu estava estudando.
Num breve passeio a pé, ia mostrando as atividades que aconteciam no
momento, como a oficina de desenho para crianças e adolescentes, as massagens
terapêuticas e a rádio comunitária. Ao contornar o pequeno lago que separa a Casa da
Cura18 dos canteiros da farmácia-viva, o aroma das ervas medicinais recém-aguadas me
transportou à infância no interior da Paraíba. Quase podia sentir o cheiro do xarope de
18 A Casa da Cura é um espaço reservado a atendimento de pessoas em estado de estresse, que necessitam
de tratamentos como: massoterapia, banhos de ervas e rezas. Será apresentada com detalhes no capítulo I,
que traz a etnografia da terapia.
23

imburana ainda morno que minha avó aprendera a preparar com seu pai, raizeiro
conhecido no sertão como “Padrinho Antônio”. Numa espécie de transe, aquele cenário
meio mágico me trazia a voz dela me ensinando as rezas que Padrinho Antônio fazia
para curar meninos com “quebranto e mau-olhado”. Parei de caminhar por um momento
como se estivesse meditando.
Absorta nas lembranças viajava no tempo, sem me dar conta de que
Adalberto ressaltava agora os detalhes das recentes construções, como se falasse a um
visitante ilustre. Encabulada, pela ausência momentânea, saí subitamente das
reminiscências e passei a ouvi-lo atentamente. Falava dos projetos que a comunidade
tinha para o futuro, das ampliações necessárias e das doações que haviam conseguido.
No pequeno trajeto, senti-me acolhida também pelas pessoas que ele ia me
apresentando, o que aumentou meu encantamento com aquele lugar. Enquanto
caminhávamos de um canto a outro do terreno, delimitado apenas por uma cerca que
permitia ver a praia bem à frente, tentava resistir à tentação de cruzar o pequeno portão
de madeira envelhecida e caminhar descalça na areia cuja maciez me seduzia. E assim,
durante toda a visita, tive a sensação de que voltaria ali outras vezes.
Além da paisagem natural, a beleza rústica das construções de carnaúba, a
leveza das redes de tucum balançando ao vento e o jeito simples das pessoas fizeram
com que eu me identificasse logo com o Projeto Quatro Varas. E o que mais me marcou
nesse reencontro com Adalberto foi o fato de constatar que ele era um médico diferente,
que, apesar de ser bastante conceituado no meio profissional, falava a linguagem do
povo e demonstrava gostar mesmo de estar na comunidade. Fiquei ainda mais admirada
quando soube que ele havia criado uma abordagem terapêutica que poderia, talvez,
curar meu desencanto com o modelo biomédico: a terapia comunitária.
A surpresa de conhecer um novo método de terapia em grupo, em algo
pouco semelhante ao que eu imaginava ser o trabalho de Devereux(1970) na França e
desenvolvido no seio de uma população “carente”19, me deixou tão impressionada que,
dias depois, quis voltar lá e pouco a pouco transferi para lá minhas orientações, dado
que Adalberto também preferia conversar ao ar livre ao invés das salas fechadas da
faculdade de medicina da UFC.
Enquanto o esperava, ou após o horário de minha orientação, geralmente eu
ficava conversando com alguém da comunidade a respeito da terapia e de outras
19 A palavra “carente” está entre aspas para especificar que fazia parte de meu vocabulário àquela época.
Hoje não mais a utilizo para me referir à população menos favorecida.
24

atividades oferecidas pelo Projeto. Motivada a participar de alguma forma daquele
trabalho, cheguei a realizar voluntariamente, durante três meses, um grupo semanal de
autoconhecimento com os jovens que participavam da oficina de desenho.
Numa das tardes de quinta-feira em que eu estava lá para uma reunião extra
com o monitor desse grupo, chamaram-me para assistir à terapia que já ia começar. O
movimento das pessoas que chegavam, umas mais arrumadas, outras mais à vontade,
entrando devagar, conversando baixinho, como se estivessem num culto religioso. O
som suave de um violão que vinha de dentro da palhoça criava um clima de
naturalidade que me convidava a participar.
Na intimidade da palhoça, a luz azulada proveniente do vitral incrustrado no
teto de palha tornava o ambiente muito aconchegante. Escolhi uma das cadeiras de
madeira crua, dispostas em círculo e, tentando me comportar como todos que ali
estavam, me preparei para participar. Não esperava que naquele dia, muito mais que
tecer interpretações teóricas sobre o método, eu vivenciaria sentimentos que me trariam
profundas reflexões. Os relatos que ouvia de algumas pessoas soavam de forma
diferente dos simples sintomas que eu costumava ouvir. Eram partes de uma história de
pobreza e violência, o testemunho da força que faziam para enfrentar o desafio de seu
cotidiano.
Como médica, achava um pouco estranho estar ali, lado a lado com os
“pacientes”, partilhando acontecimentos que surgiam contundentes e cheios de vida,
diferentemente de como chegariam a mim, num ambiente de atendimento psiquiátrico
formal. Mas, se por um lado a situação me causava certo desconforto, por outro, me
mostrava várias nuances que eu ainda não havia percebido, principalmente o fato de
que, ali reunidas, aquelas pessoas se sentiam mais capazes de superar suas dores,
enfrentavam juntas o seu sofrimento.
No decorrer da sessão, diversas vezes me emocionei ao ouvir músicas que
conhecia desde criança, por sentir o toque de mãos nas minhas e ver lágrimas
misturadas a fervorosas preces, que reacenderam meus antigos anseios por uma prática
médica que pudesse incluir o calor da pele durante um abraço, o cheiro de perfume
barato, os gestos de solidariedade e os lampejos de sabedoria que eu via emergir
inesperadamente do coração de pessoas tão simples. Tudo isso me fez perceber na
terapia a força e a beleza de um parto natural.
Após esse primeiro contato, tive a impressão de que experiências como
aquela poderiam diminuir o hiato entre curadores e aqueles que buscam a cura. E, não
25
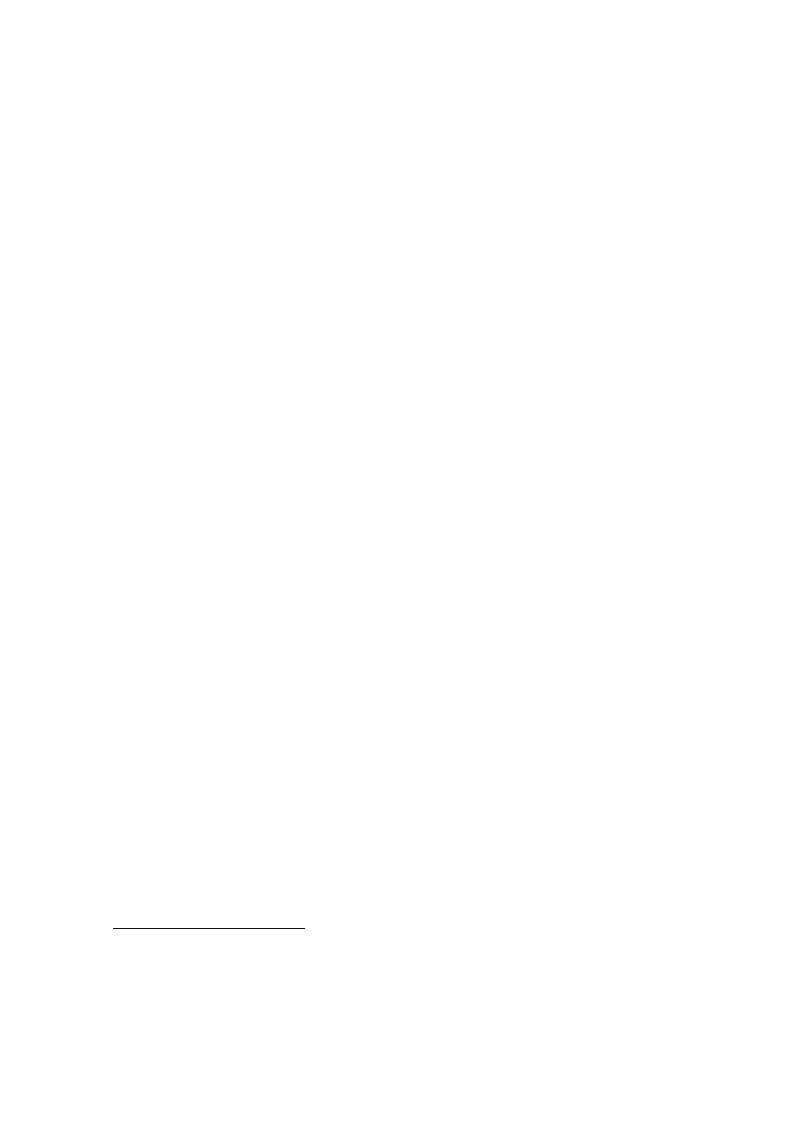
sei se foi mais pelo sentimento ou pela razão, que ainda antes de finalizar o mestrado,
senti o desejo de conhecer mais a fundo a terapia e essa idéia brotava dentro de mim
como as ramas de uma semente há muito adormecida na terra árida do sertão.
Teria começado imediatamente a elaborar um projeto para submeter à
seleção do doutorado logo que terminasse de escrever a dissertação do mestrado, não
fosse a necessidade de retornar à atividade de consultório e dar prioridade aos três filhos
pequenos. Assim mesmo, sempre que podia, trabalhava na elaboração do projeto de
pesquisa, cujo objeto era o Projeto Quatro Varas e o foco, a terapia comunitária. Com
esse objetivo decidi cursar, como aluna especial, uma disciplina de “Introdução à
Pesquisa Etnográfica” no Programa de Doutorado em Educação na UFC. As leituras
sugeridas e as discussões das quais participei vieram ampliar minha compreensão das
relações entre cultura e sociedade, contribuindo para a construção das primeiras
questões de pesquisa que giravam em torno do diálogo entre o modelo biomédico e o
saber popular.
Estava nesse processo quando, em 2002, Adalberto me incentivou a fazer
concurso para lecionar na disciplina Saúde Comunitária em um novo curso de Medicina
que a UFC havia inaugurado em 2001, na cidade de Barbalha - CE. Tive de ir morar na
região do Cariri e trabalhar com a saúde da comunidade rural, experiência que me
colocou em contato com a riqueza das práticas populares de cura ali existentes e me
trouxe uma maior compreensão da relação entre os aspectos culturais e o processo
saúde-doença. Nessa época, entrei em contato com as idéias de Laplantine (1973),
Helman (2003), Minayo (1992), que subsidiaram encontros e seminários com temas de
antropologia médica e também algumas pesquisas de campo que realizei. A partir daí,
elaborei um projeto de extensão que se chamou “Assistência Comunitária em Saúde”, e
visava resgatar e incentivar a cultura da medicina popular20.
A vivência como docente ao mesmo tempo em que serviu para amadurecer
um pouco mais minha visão histórica das políticas de saúde no Brasil (SOARES, 2001)
e a formar uma opinião mais crítica sobre a hegemonia do modelo biomédico
(CASTIEL,1994; LUZ, 1995), também dificultou minhas idas ao Projeto Quatro Varas.
Nos dois primeiros anos fiz apenas três ou quatro visitas mas, cada vez que voltava de
20 O projeto registrado sob nº QA00. 2003. PS.0743 envolvia professores e alunos da faculdade de
medicina da UFC em parceria com instituições públicas locais (Escola Agrícola do Crato e Empresa
Brasileira de Agropecuária (EMBRAPA) – Seção Cariri) e lideranças comunitárias integrava ações em
saúde comunitária desenvolvidas nos municípios de Crato-CE e Barbalha - CE. As ações consistiam em
incentivar o conhecimento, o cultivo e o uso de plantas medicinais e o resgate de outras práticas populares
de cura, especialmente aquelas voltadas para a religiosidade, aspecto muito presente na região.
26
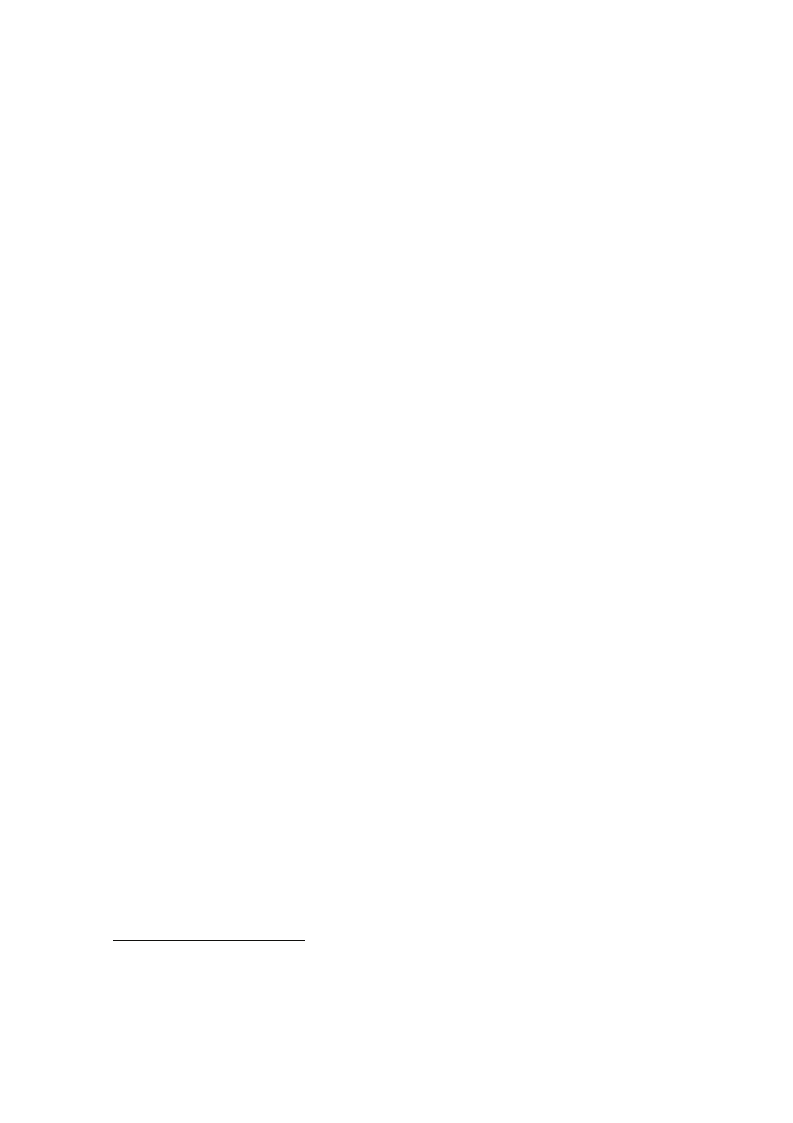
lá, trazia novas idéias para o projeto de doutorado e fortalecia minha crença na
importância da terapia para a população do Pirambu.
Pensando em contribuir para sua inserção no campo das práticas populares
de cura no Brasil, construí um projeto inicial vinculando a terapia ao campo da Saúde
Comunitária e, em março de 2004, consegui ingressar no programa de doutorado em
Educação na UFC. Escolhi como metodologia a abordagem etnográfica porque havia
conhecido, um ano antes, a Professora Bernadete Beserra, uma socióloga recém-
chegada de seu doutorado em Antropologia nos Estados Unidos. Ela havia sido minha
professora na disciplina “Introdução à Pesquisa Etnográfica”, que me abriu um universo
de viagens a culturas e horizontes diferentes de meu mundo “positivista”, como ela dizia
umas vezes brincando, outras me desafiando. Não sei se foi por conta das teorias sociais
e antropológicas das quais ela se mostrava profunda conhecedora ou por seu jeito de ser
que desde então passei a vê-la como futura orientadora.
Aprendi com ela e com os autores que ia me apresentando a visitar outras
realidades, inclusive a minha, a conhecer o “distanciamento antropológico” que se
tornou, para mim, uma instância salvadora e uma possibilidade de conseguir realizar
uma investigação científica sobre a terapia. Com Malinovski (1976), Geertz (1989),
Evans - Pritchard (1978), pude começar a dar pequenos mergulhos naquilo que se
chama “ponto de vista do outro” situando-o em seu contexto. A antropologia me
permitia enxergar novas dimensões da terapia e de seus sujeitos. Comecei então a
construir um novo posicionamento, a definir uma nova postura21.
A pesquisa de campo teve início em fevereiro de 2005. A essa altura já
havia cursado a maior parte das disciplinas do doutorado, me familiarizando com a
questão da relação entre saúde e educação, por intermédio de autores que discutiam a
educação popular como Paulo Freire (1977, 1992), Vasconcelos (1997), Valla (2000) e
outros. Essas leituras me despertavam para a questão da escuta à fala das classes
populares e me levavam a perceber a terapia como uma experiência de construção de
saberes coletivos (VALLA, in COSTA, 1998).
Comecei a identificar mais ainda a intersecção entre a terapia comunitária e
o enfoque da educação popular quando me dei conta das relações da terapia com as
21 Quero ressaltar a influência da compreensão da relação pesquisador-pesquisado, evidenciada no artigo
de Beserra, "Quem Pode Representar Quem? E Sentimentos e Relações de Poder numa Pesquisa de
Campo" Etnia, Olavarría, Argentina. 46-47:27-43, 2004.
27

outras atividades existentes no projeto como a terapia da auto-estima, a massoterapia, a
fitoterapia. Vi que havia ali um verdadeiro sistema alternativo ao modelo biomédico que
envolvia uma série de atores e funções sociais em torno da questão da doença e da cura.
Desta forma, o foco central do estudo que antes consistia em compreender
até que ponto a terapia questionava a hegemonia do modelo biomédico e quais suas
possíveis contribuições para ampliação da percepção do processo saúde-doença, ia se
ampliando para incluir os aspectos educacionais e sociais nela existentes. Com essa
percepção, passei a direcionar a pesquisa para investigar a terapia comunitária como
um movimento emergente das classes populares e representativo da luta por mudanças
na área de saúde comunitária, como um esforço coletivo de busca por caminhos
alternativos para o enfrentamento do estresse em suas diversas nuances.
Enquanto prosseguia nessa tarefa, acompanhava a peleja de Adalberto pela
afirmação da terapia no meio acadêmico cearense, no qual ele enfrentava atitudes de
indiferença ou hostilidade, às vezes expressa em críticas. A constatação dessa batalha
me levou a buscar o entendimento dos aspectos sociais e políticos do contexto em que
ela surgiu, no ano de 1987, época em que o processo da reforma psiquiátrica convivia
com a efervescência de diversos movimentos sociais nas periferias das grandes cidades.
Após vários anos de luta, a reforma psiquiátrica consegue algumas vitórias.
No plano político, por exemplo, o Senado Federal, aprova o projeto de lei Nº 3.657, de
1989, que inicia a desativação dos complexos manicomiais, substituindo-os por serviços
abertos e centros de convivência, com terapêutica multidisciplinar. E, efetivamente, em
quase todos os estados do Brasil iniciam-se mudanças na assistência à saúde mental. No
Ceará, a reforma contou com o respaldo na lei estadual de 29 de julho de 1993, que
levou à implantação de vários Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) — em diversas
cidades do Estado e na Capital, Fortaleza.
Além dos CAPS, onde equipes multiprofissionais passam a trabalhar
visando a prevenção, a integração dos sujeitos e a busca de restaurar sua cidadania,
paralelamente surgem novos espaços e experiências de curas coletivas. A terapia
comunitária foi uma destas atividades pioneiras, era inovadora sua proposta de articular
a Medicina tradicional e popular com ações educativas.
Reformulei várias vezes meus objetivos para inserir questões que me
levassem a entender como os fatores contextuais contribuíram para o formato que a
terapia foi assumindo, e até que ponto estes fatores influenciaram os diversos modos
pelos quais ela se propunha a promover transformações individuais e coletivas.
28

Um dos aspectos daí emergentes, que só percebi depois de coletar alguns
dados e que veio aprofundar a investigação, suscitando novas questões de pesquisa, foi
a hipótese da construção da cidadania no ambiente da terapia. Dei-me conta dessa
possibilidade ao perceber que parte dos freqüentadores mais assíduos também
participavam do Movimento Integrado de Saúde Comunitária (MISMEC)22, exercendo
muitas vezes posições de comando. Isso me levou a questionar se a participação na
terapia favorecia o engajamento político e se ela potencializava o desenvolvimento de
habilidades sociais como a comunicação e a liderança.
Perseguindo essas questões decidi procurar os pioneiros do projeto e coletar
depoimentos sobre a história de como a terapia foi se construindo. Em minhas
hipóteses, não conseguia mais ver a terapia apenas como abordagem terapêutica e sim
como espaço de aprendizagem política. Essa vertente da pesquisa ganhou nova força
após a primeira qualificação, ocorrida no dia 9 de junho de 2006, na qual, a profa. Sônia
Pereira me colocou em contato com dois autores cujas idéias assumiram importância
fundamental neste trabalho: Arendt (2004) e Ranciére (1996). A partir daí comecei a
perceber que durante a terapia, emergiam palavras e atitudes que carregavam em si um
forte significado político, no sentido de “educação cívica” (RANCIÈRE, 1996, p. 17)
por encontrar ali “duas palavras-chave da política: igualdade e a liberdade” (Ibidem.,
p.23). Igualdade como atributo daquilo que é comum, associando-se “com o nome da
própria comunidade (Ibidem., p.24) e liberdade que é simplesmente a qualidade
daqueles que não têm nenhuma outra (nem mérito, nem riqueza) e é ao mesmo tempo
contada como uma virtude comum”.
As idéias de Arendt (2004) no que se refere à construção de um espaço
público que se cria no debate e no diálogo entre os homens e que ela denomina “espaço
político”, me fizeram repensar a terapia. A autora fala que a ausência de um espaço
organizado para o diálogo provoca o isolamento social e a sensação de solidão que se
expressa em inaptidão para o posicionamento político. Por outro lado, o espaço público
que se cria na convivência dos homens com seus pares, no contato de uns com os
outros, propicia o exercício da liberdade. Para ela, o desafio de se colocar neste espaço
leva à construção da autonomia. Essas proposições me levaram à seguinte indagação:
até que ponto o ato de falar no espaço aberto pela terapia constitui uma aprendizagem
22 A primeira diretoria do MISMEC foi constituída por participantes da terapia.
29
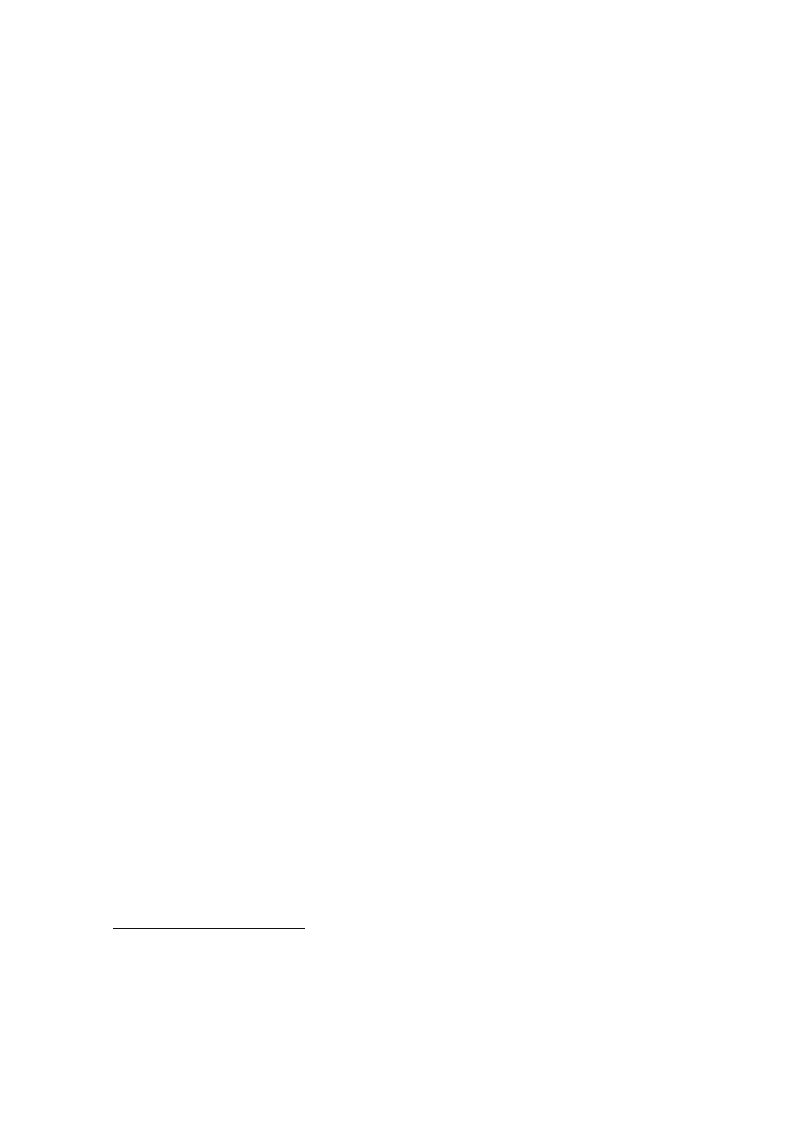
da prática de luta pela cidadania, favorecendo o processo de desenvolvimento da
dimensão política do Homem?
Buscando a resposta, ia dos dados a Arendt(2004) e dela a Rancière (1996).
Sua teoria sobre o litígio político que se estabelece quando se confrontam diferentes
visões de mundo e a possibilidade de se criar a partir daí, “consensos e dissensos”
permitiu-me questionar se os acordos e antagonismos entre o modelo biomédico e o
conhecimento popular que ocorrem na terapia, estariam potencializando a construção de
significados inusitados sobre o processo saúde-doença e a elaboração de novos saberes
coletivos.
As interlocuções com esses autores, as conversas com minha orientadora,
além das leituras que ela me indicava23, foram conduzindo a um redimensionamento
constante do estudo que foi tomando um novo rumo e se tornando mais complexo à
medida que eu buscava definir o questionamento central da pesquisa. Indagava se a
terapia comunitária de fato poderia ser considerada um espaço político (ARENDT,
2004) e se a metodologia utilizada nas sessões estaria realmente potencializando a busca
da autonomia24 e a construção da cidadania.
Passei a investigar o itinerário terapêutico dos sujeitos entrevistados e
constatei que muitos deles, antes de chegarem ao projeto Quatro Varas, tiveram uma
experiência de confronto com a dor, a partir da qual iniciaram sua trajetória até
encontrar a terapia como um espaço de escuta. Eu levantava a hipótese de que algo
mais, além da busca da cura motivava a participação na terapia.
Comecei a refletir sobre a possibilidade de que, a partir de uma experiência
traumática ou mesmo de uma dificuldade emergente do cotidiano, houvesse se instalado
um processo de busca que levaria à ampliação da consciência sobre o mundo, de
aperfeiçoamento dos modos de enfrentar as vicissitudes da vida.
Um ano após o início da pesquisa, me dei conta das redefinições pelas quais
passou a terapia enquanto objeto de estudo. Ela se construía e reconstruía dentro de
mim, assumindo formas mutáveis como as contas de um caleidoscópio, que se
rearranjam de várias maneiras. Finalmente, configurou-se como um espaço terapêutico
(BARRETO, 1992) político (ARENDT, 2001; RANCIÈRE, 1996) e dialógico
23 Muito me auxiliou a leitura do livro Brasileiros nos Estados Unidos, Hollywood e outros sonhos
(BESERRA, 2005), que traz experiências práticas de pesquisa etnográfica e análises profundas das
histórias dos sujeitos pesquisados. Com esse subsídio, passei a vivenciar com mais naturalidade o
cotidiano da pesquisa e de seus personagens.
24 Adquirir autonomia, nesse sentido, significa definir-se como identidade e ter vínculo social
(RANCIÈRE, 1996, p.118).
30

(FREIRE, 1987; 1997). A partir daí, pretendia formular interpretações acerca de como
na terapia se constrói e se transmite o conhecimento e qual sua importância no processo
de empoderamento25 pessoal e comunitário.
Assim, continuei minha jornada de “etnógrafa”, movida pelo intuito de
colaborar para introduzir no campo científico a reflexão acerca do fazer cotidiano da
terapia e de como este pode se tornar fonte de aprendizagem política. Com esse objetivo
estabelecido, comecei a investigar os princípios que ordenam a estrutura ritual e a
eficácia terapêutica26 da terapia comunitária a exemplo de Andrade (2006) que realizou
um estudo antropológico sobre a prática da medicina alternativa e complementar em
diversas clínicas de Fortaleza, evidenciando aspectos formais e dinâmicos dos rituais.
O autor demonstrou que o ambiente onde acontece o ritual e os instrumentos
utilizados “estão diretamente ligados ao desenvolvimento do processo terapêutico e à
eficácia da cura.” (ANDRADE, 2006, p. 75). Utilizo o termo ritual para me referir a
uma prática cujos padrões simbólicos são cultivados e perpetuados por um grupo que os
transmite de geração a geração (DURKHEIM, 1996). Para o autor, as relações humanas
necessitam de rituais e símbolos, uma vez que o ritual é um elemento de coesão e
manutenção da vida social, tendo o poder de integrar os indivíduos e organizá-los de
forma a compor uma sociedade. Nesse sentido, o ritual, além de fazer a conexão do
homem com o sobrenatural, estabelece as formas básicas do relacionamento social. Na
oportunidade desta investigação queria compreender no “ritual da terapia”, o conjunto
de práticas e elementos simbólicos que e estruturam.
Eu sabia que descrever cientificamente a estrutura de funcionamento da
terapia e “explicar” seus efeitos na vida dos participantes representaria, para mim, um
grande desafio, principalmente pelo fato de se caracterizar como um objeto dinâmico,
com muitas nuances e particularidades, o que exigiria constantes reformulações no
curso da pesquisa. As primeiras dificuldades surgiram pelo fato de eu não querer perder
de vista o questionamento inicial de como a participação nas sessões auxiliava as
pessoas a vivenciar o processo saúde-doença e, ao mesmo tempo, incluir novos aspectos
que foram surgindo ao longo do processo como a troca de saberes e o desenvolvimento
do “ser político”. (ARENDT, 2004).
25 O termo empoderamento que utilizo vem do inglês Empowerment, um conceito complexo que envolve
noções de distintos campos de conhecimento e será desenvolvido ao longo do texto.
26 O conceito de “eficácia simbólica” será abordado no capítulo I.
31
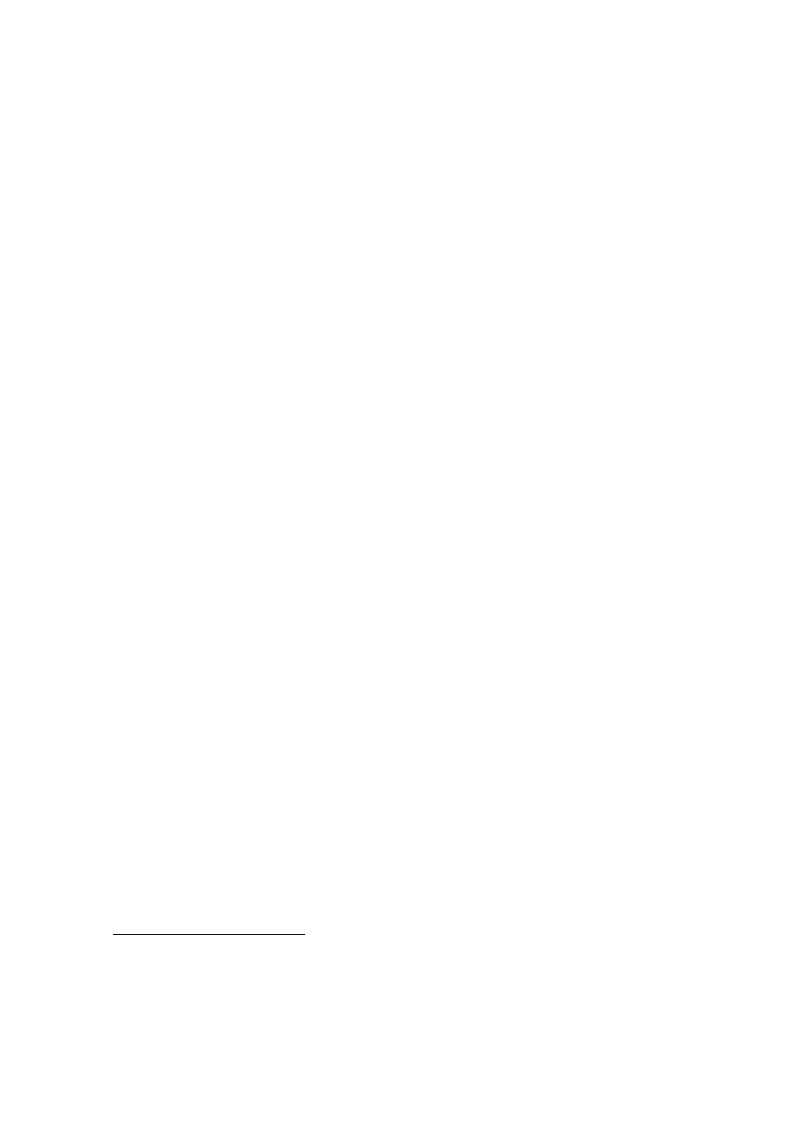
Assim, os rumos da investigação foram redefinidos várias vezes para
incorporar indagações como: que diferentes concepções do processo saúde-doença
emergem e se cruzam no espaço/tempo da terapia? Até que ponto a metodologia
desenvolvida nas sessões estaria promovendo, além da busca pela saúde, a construção
da cidadania? Como descobrir se a participação na terapia estaria favorecendo a
socialização e o desenvolvimento do bios politikos do homem e de que forma os
“consensos e dissensos” ali emergentes poderiam levar à construção de habilidades e
competências sociais?
Para abranger todos esses aspectos, busquei diferentes métodos de pesquisa
e subsídios teóricos em clássicos da Antropologia como Malinowski (1976), Geertz
(1978) e Victor Turner (1974) além de dialogar com autores mais recentes. Utilizei a
abordagem etnográfica com os procedimentos de observação participante, entrevistas
semi-estruturadas, histórias de vida e análise de alguns documentos, fotos e filmagens
da terapia que serviram para análise de suas dinâmicas e de temas mais específicos
como alcoolismo, violência contra a mulher, depressão e outros.
Agregando-se ao material que já havia reunido antes de iniciar formalmente
a pesquisa, a coleta de dados foi distribuída em pouco mais de dois anos, desde março
de 2005 a meados de julho de 2007, envolvendo, dentre os participantes da terapia,
pessoas de ambos os sexos e de classes sociais diversificadas, sendo a maioria da classe
desfavorecida, procedentes, ali mesmo do Pirambu27. As idades variaram entre 27 e 65
anos, e níveis de escolaridade predominante entre o ensino fundamental e médio. Os
critérios de escolha dos sujeitos foram: freqüência, tempo de participação e
envolvimento com a terapia, além da disponibilidade de participar da pesquisa.
Constituíram-se sujeitos da pesquisa 20 participantes da terapia, dentre
estes, dez freqüentadores assíduos, seis habituais e quatro terapeutas comunitários que,
além de conhecerem bem o ritual da terapia, acompanharam seu desenvolvimento desde
o início. Os relatos de seus itinerários terapêuticos até chegarem ao Projeto Quatro
Varas e à terapia trouxeram muitas contribuições ao estudo. Coloquei a possibilidade de
escolha de nomes fictícios para quem assim desejasse, sendo que a maior parte dos
entrevistados optou por identificar-se por seu nome próprio, dentre estes, cinco
O 27 Pirambu caracteriza-se por ser área limítrofe na divisão leste-oeste de Fortaleza. Na parte oeste vão se
situar as favelas e setores menos favorecidos. Do outro lado, no leste é a área nobre da cidade, onde se
pode ver a paisagem urbana oficial. Os detalhes históricos e sócio-econômicos sobre o bairro serão
discutidos no capítulo II.
32

visitantes que também deram seus depoimentos a respeito da terapia: a Professora
Cristiane Feneon, uma pedagoga francesa de aproximadamente 60 anos. Ela é solteira e
desde jovem dedica-se à igreja, não como freira mas como “leiga”, termo que ela usa
para definir-se nas atividades beneficentes que realiza; o coordenador de saúde pública
da cidade de Genebra na Suíça, Ricardo Rodari; a então presidente da Associação
Brasileira de Terapia Comunitária, Marilena Grandesso; Odorico Andrade Monteiro,
Secretário de Saúde de Fortaleza, além de José Airton de Paula Barreto, pioneiro na
história da luta da comunidade do Projeto Quatro Varas e seu irmão, o Professor Dr.
Adalberto de Paula Barreto, sistematizador da terapia comunitária. Com este, além dos
vários contatos informais e conversas, fiz duas longas entrevistas em sua casa, treze por
e-mail e inúmeras por telefone, atualizando as informações e esclarecendo dúvidas que
iam surgindo a cada fase do processo.
As entrevistas foram gravadas e depois transcritas, sendo quase todas elas
precedidas de uma conversa preparatória. Na oportunidade, os objetivos da pesquisa
eram explicitados e as entrevistas marcadas em locais e horários definidos conforme a
conveniência dos entrevistados. Procurava estabelecer um clima de acolhimento no qual
o entrevistado pudesse sentir-se à vontade para tirar dúvidas quando achasse necessário,
ou interromper sua fala para evidenciar alguma parte ou pedir para não registrar algum
trecho que não desejasse tornar público.
Embora tivesse elaborado dois tipos de roteiro, um para os terapeutas
comunitários e outro para os participantes, muitas vezes surgiam na conversa outras
perguntas que eram então consideradas, até mesmo em detrimento das outras
anteriormente planejadas, que se tornavam então menos relevantes. Quando não era
possível esgotar o assunto, novo encontro era marcado para continuar o aprofundamento
na coleta de dados. A maioria das entrevistas foram realizadas no próprio ambiente do
Projeto, logo após a terapia, ou em outros horários (dado que alguns informantes
realizam trabalhos voluntários ou participam de outras modalidades terapêuticas). Em
alguns casos, tive oportunidade de ir até a residência do entrevistado. Em todas essas
situações, ficou acertado o acesso a uma cópia da transcrição a fim de autorizar ou não
sua utilização no estudo. Com algumas pessoas discutia detalhes da pesquisa,
compartilhando as motivações que me levaram a estudar a terapia. Observei que essa
atitude aproximava o entrevistado de meus objetivos, no sentido do esforço em
colaborar com os mesmos.
33
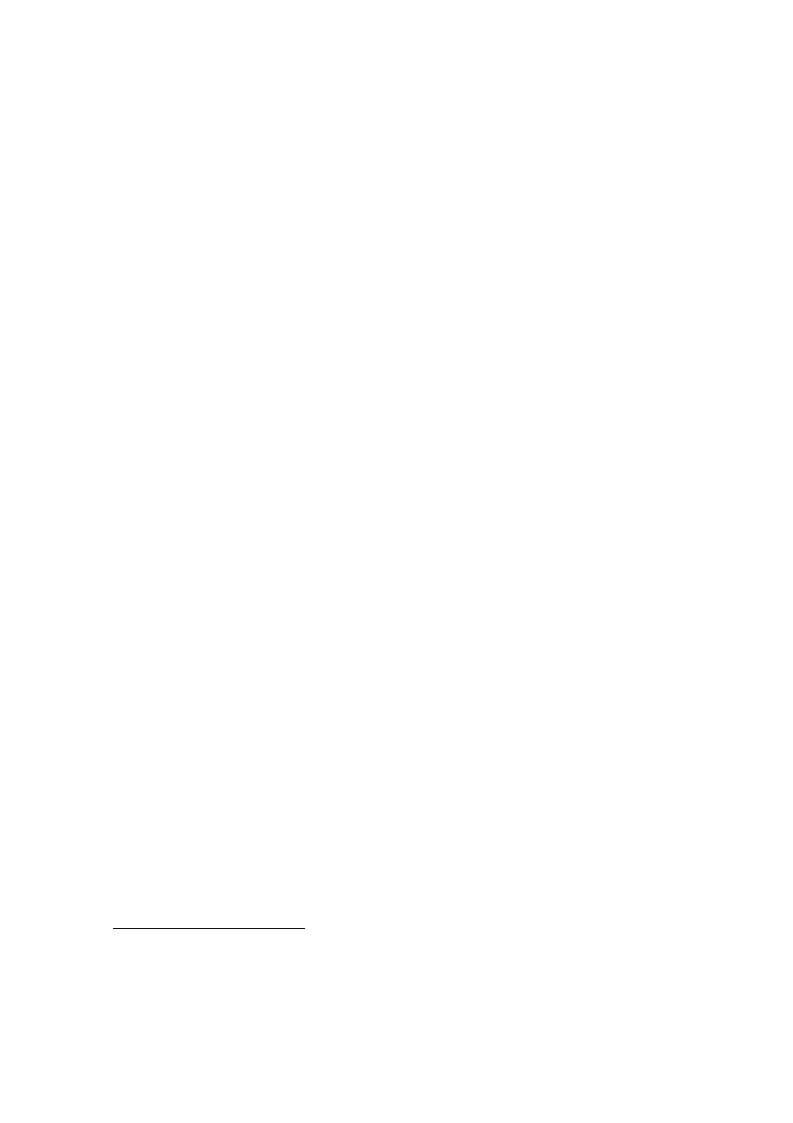
Ao longo deste percurso, me deparei diversas vezes com a dificuldade de
manter a postura de pesquisadora a investigar a terapia, isto porque, freqüentando
Quatro Varas há mais de dez anos, já me sentia fazendo parte da vida das pessoas, não
só por ter participado com elas de muitas sessões e de alguns trabalhos voluntários, mas
também porque sempre conversávamos, quando ficava um pouco mais, auxiliando
Adalberto na prescrição de receitas28, após a terapia. Por este motivo, além de cuidar
dos procedimentos da pesquisa, tinha a preocupação de substituir meu olhar habitual
pelo da antropóloga na qual eu pretendia ir me transformando aos poucos. Em estado de
alerta produzido pelas leituras etnográficas, me conscientizava a cada dia da
necessidade de adotar uma atitude de estranhamento, para ver, como se fosse pela
primeira vez, aquilo que já me era tão familiar.
Com o decorrer do tempo fui entrando no processo, superando meus limites
e passando a considerar como fonte de dados inclusive minhas percepções dos
momentos em que participava ativamente de sessões, cantando de mãos dadas com as
pessoas ou sentindo pulsar o coração ao ver estremecer de dor a mãe que perdera seu
único filho.
Gradativamente, os dados da observação participante e aqueles coletados
nas entrevistas iam se somando aos elementos de minha própria experiência. Na busca
de uma síntese lúcida de tudo isso, visitava autores e teorias, conversava com minha
orientadora, pensava e sofria cada vez que me confrontava com aspectos inusitados da
relação sujeito-objeto. Comecei a compreender as dificuldades pelas quais passaram
tantos pesquisadores na relação com os sujeitos de pesquisa. Finalmente me conformei
quanto à necessidade de renunciar à intimidade do que já conhecia e me dispus a
estabelecer os ajustes necessários ao meu empreendimento.
Um outro aspecto com o qual tive de lidar foi o fato de conhecer além da
terapia, diversas outras abordagens terapêuticas.29 Foi preciso muito cuidado para que
os referenciais trazidos de minha experiência profissional não interferissem no processo
de interpretação. Para minimizar o risco de vieses, anotava com cuidado os detalhes das
observações, fazendo os registros de minhas percepções internas no diário de campo.
Abandonando pelo caminho a bagagem pesada de meus “conhecimentos” anteriores,
28 É prática comum após a sessão, Adalberto ficar alguns minutos ainda no salão da terapia para atender
às pessoas que desejam receita de medicamentos, tirar dúvidas ou tratar mais reservadamente algum
assunto.
29 Além da Residência e da formação em Terapia Familiar Sistêmica, fiz cursos de Psicodrama,
Psicoterapia psicanalítica, Master e Practitioner em Programação Neurolingüística e Psicoterapia de
grupo rogeriana.
34

procurava olhar adiante, seguindo os passos de Malinowski (1976, p.50) quando diz que
“prevendo a existência de muitos mistérios etnográficos, ocultos sob o espaço trivial de
tudo que vê, o etnógrafo fica à espreita de fatos sociológicos significativos.”
O que eu mais queria com esse esforço era descobrir como o acolhimento e
a aparente ingenuidade daquelas pessoas que faziam a terapia, conseguiam resguardar o
enorme potencial de uma solidariedade que cura e que se expressa em palavras e
atitudes para mim, muito significativas. Tentava acessar as percepções que vinham da
alma daquelas pessoas, que rotineiramente participavam da terapia. Só eles poderiam
me dizer se, como eu, viam a terapia como um barco seguro, um farol para iluminar
noites insones ou simplesmente era um lugar aonde vinham para encontrar seus “pares”
e dialogar. E foi quase sem me dar conta que, finalmente, fui deixando quieta a mente
da psiquiatra e assumindo com naturalidade o olhar antropológico que vinha
exercitando. Foi aí que senti que, na realidade, a terapia estava me transformando,
enquanto eu tentava analisá-la.
A sensação era semelhante àquela descrita por Minayo, (2004, p. 21)
quando assinala que “tanto os indivíduos como os grupos e também os pesquisadores
são dialeticamente autores e frutos de seu tempo histórico.” Concordo com ela quando
afirma que na relação entre o sujeito e objeto, ambos “têm um substrato comum que os
tornam solidariamente imbricados e comprometidos.” (MINAYO, 2004, p. 21) e
também com a argumentação de Strauss (1975, p. 215) de que “numa ciência onde o
observador é da mesma natureza que o objeto, o observador é, ele mesmo, uma parte de
sua observação.”. Assim, fui compreendendo a dor e a esperança que estavam inseridas
na dinâmica de trabalhar com um objeto “complexo, contraditório, inacabado, e em
permanente transformação,” (MINAYO, 2004, p. 22) como a terapia.
A partir dessa percepção, passei a caminhar mais serenamente pelas trilhas
da pesquisa, perseguindo o objetivo de observar a terapia cientificamente sem, no
entanto, me perder em análises e descrições estéreis. Procedendo assim, procurei trazer
para o papel a essência do que aprendi com essa experiência e transformar em palavras
o que vi, como quem revive o calor de um abraço reconfortante ou relembra o sabor de
um elixir que cura.
Os capítulos que se seguem foram organizados do seguinte modo: no
Capítulo I faço um relato histórico sobre o bairro do Pirambu e a descrição etnográfica
do caminho que leva a Quatro Varas. Descrevo também a estrutura e funcionamento do
Projeto, de forma a situar a terapia comunitária em seu contexto original, fazendo uma
35

análise de como se construiu em torno dela uma teia de práticas terapêuticas e
atividades sociais. A partir daí tento penetrar nas nuances do ritual, vivenciando o
emocionante partilhar de experiências, no intuito de evidenciar os dispositivos
utilizados nos diversos momentos terapêuticos.
O Capítulo II trata dos entraves enfrentados pela terapia, em sua trajetória
de desenvolvimento, como experiência empírica incipiente em 1987, até chegar à sua
maioridade, quando se tornou uma política pública, vinte e um anos depois.
No Capítulo III apresento a história de quatro terapeutas comunitários, que
chegaram ao Projeto Quatro Varas em busca de tratamento e, a partir daí, lançaram um
novo olhar às suas dores, com base no itinerário proposto pela terapia que os levou ao
questionamento do modelo biomédico e à busca da autonomia na gestão de sua vida.
O Capítulo IV aprofunda a questão da construção do saber coletivo na
terapia, mostrando de que forma esse saber contribui para o desenvolvimento do bios
politikos, o aspecto político do homem, segundo os pressupostos da teoria de Arendt
(2004), Rancière, (1996), Freire (1984, 1997), e outros autores como Bobbio (1992),
Habermas (1989), Shön (2000), além de pesquisadores mais recentes como Pereira
(2002) e Feltran (2005). Oportunamente, discuto com eles a idéia de que a participação
nas sessões da terapia favorece atitudes dialógicas e libertadoras.
No próximo capítulo, então, através do método etnográfico, tento
decodificar o simbolismo das palavras e das músicas utilizadas na terapia, buscando
desvendar, na medida do possível, o sentido oculto nas atitudes e nos gestos
potencialmente transformadores presentes no ritual acerca do qual estarei me
debruçando na busca de entender e, quem sabe, definir. A partir da visão de diversos
autores (TURNER, 1974; MAUSS, 1974; HELMAN, 1994, ANDRADE, 2006) procuro
ilustrar com imagens construídas de metáforas, lágrimas e poesia de que forma a terapia
promove a elaboração de situações de crise, formação, ampliação de vínculos e,
finalmente, uma postura mais autônoma.
36
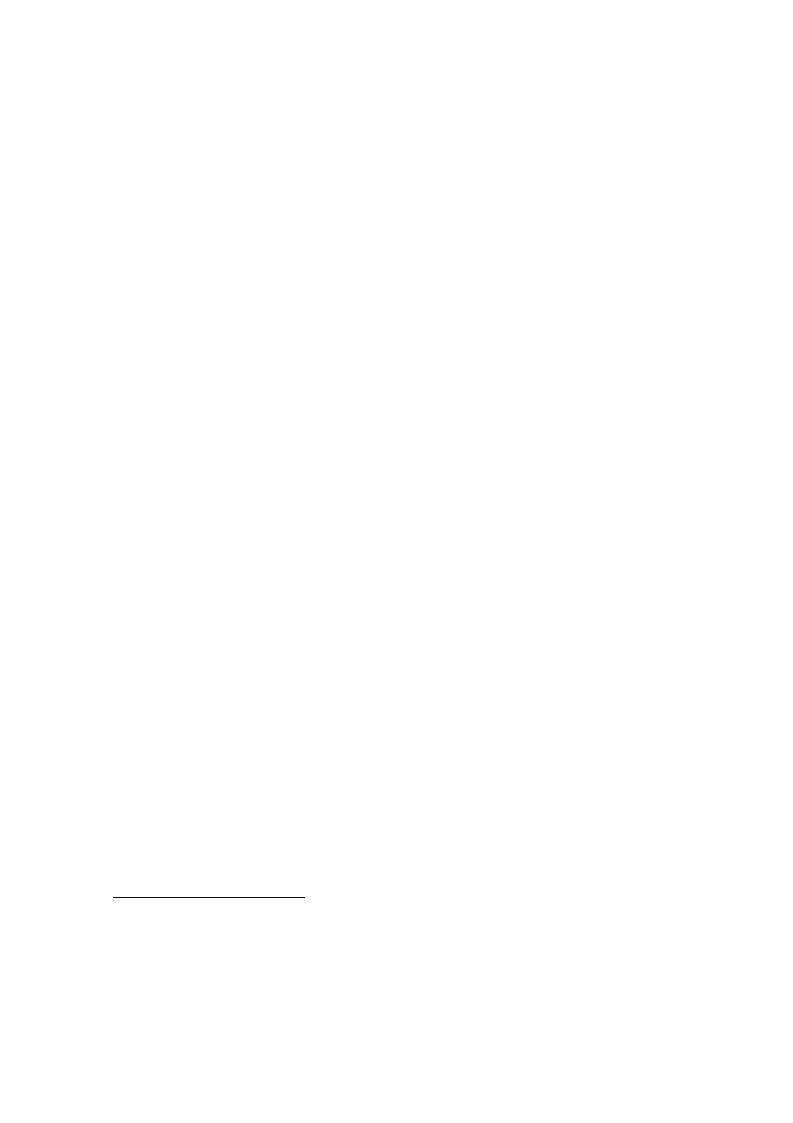
CAPÍTULO I – ESBOÇO ETNOGRÁFICO DA TERAPIA COMUNITÁRIA
O paradoxo da doença é que ela é o mais
individual e o mais social dos acontecimentos.
Augé
Este capítulo propõe um primeiro contato com a terapia, seu calor,
intensidade e ritmo. Tentei esboçar uma etnografia que começa pelo trajeto que conduz
ao espaço físico do Projeto Quatro Varas, local onde está situada a terapia, onde
também ela nasceu e de onde começou a se expandir.
Irei demonstrar, aos poucos, de que forma ela vem se constituindo como
uma instituição complexa, interconectada sistemicamente para formar uma rede de
práticas e instituições sociais dentro do âmbito do Projeto e fora dele.
1.1 Caminho a Quatro Varas
Quem, do lado sul da cidade, deseja ir ao Projeto Quatro Varas deve seguir
pela Avenida Presidente Castelo Branco, conhecida como “Avenida Leste-Oeste”. Esta
nasce na Praia de Iracema, área bastante explorada turisticamente por sua beleza natural
que atrai visitantes o ano inteiro. Logo no início da avenida há um majestoso hotel,
ladeado à esquerda por um jardim bem cuidado, cercado de pinheiros e, à direita, por
uma sofisticada marina onde aportam numerosos iates.
Ao longo da orla, o azul-esverdeado das ondas é contornado por arabescos
de uma branca espuma que se desmancha na areia, acompanhando as mudanças na
arquitetura urbana que vai assumindo características cada vez mais humildes quanto
mais se aproxima do local onde fica o Projeto Quatro Varas - o bairro do Pirambu30 -
que abriga cerca de cinqüenta mil pessoas e cujo aspecto de abandono denuncia os
parcos investimentos públicos na periferia31.
30 O nome “Pirambu”, em tupi-guarani significa “peixe roncador” e se refere a um espécime de peixe
muito abundante no local.
31 O conceito de periferia que utilizo aproxima-se da acepção de Feltran (2005), quando se refere às
periferias dos grandes centros, como áreas que apresentam características comuns como a vivência de
necessidades, carências e privações. Para ele, o fato de morar na periferia determina modos específicos de
agir e de entender o mundo. De um modo geral são consideradas periferias as áreas urbanas distantes do
ponto central da cidade. O bairro do Pirambu, nesse sentido, não poderia ser incluído na categoria de
bairros periféricos uma vez que fica a 3 km do centro de Fortaleza.
37
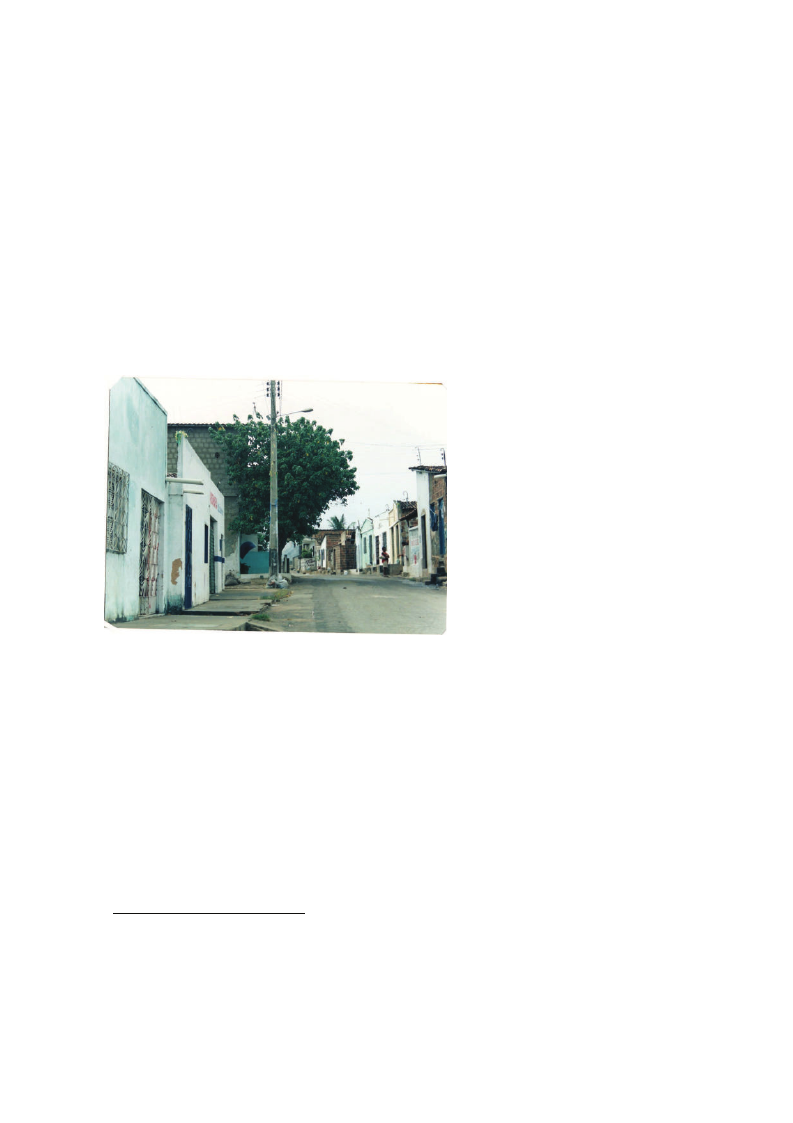
O bairro começa no “pólo de lazer”, construído no local onde funcionava
um antigo kartódromo32 que, na verdade, é uma praça desértica, com arbustos
ressecados e onde se vê alguns brinquedos quebrados, feitos de ferro e madeira, que
resistiram ao tempo. Com exceção da Escola de Aprendizes Marinheiros, sempre
impecável, com seus altos muros bem caiados, e de algumas residências que ao longo
do tempo foram reformadas, predominam na maior parte do Pirambu, a precariedade e a
monotonia das construções, responsáveis pelo transitar de pessoas que preferem o ar
livre das calçadas ao espaço restrito de suas casas.
Seguindo pela “Leste-Oeste” pode-se ver, à margem direita, o nome Rua
Grito de Alerta,33 em uma placa antiga, afixada num paredão de quase três metros,
repleto de pichações. Este é um
ponto de referência para quem
procura o Projeto Quatro Varas. É
muito comum se encontrar ali
recostado, um homem bêbado, e
ao seu redor, meninos de rua, de
calções desbotados, sem camisa,
jogando bola de gude ou contando
moedas que recebem no sinal.
Figura 3: Rua grito de alerta – caminho ao Projeto Quatro
Varas
Dobrando novamente à direita,
trafega-se por cima de uma antiga
duna, hoje uma ladeira tão
íngreme que parece uma montanha-russa e que termina abruptamente em um beco sem
saída, de onde se avista o mar e a entrada do Projeto Quatro Varas. O portão alto de
ferro reciclado deixa entrever a palhoça de cipó trançado e coberta de palha, onde
ocorrem as sessões da terapia comunitária.
32 O antigo kartódromo construído na década de 1970 para diversão dos filhos da burguesia foi desativado
e depois demolido, porque a área não oferecia segurança, devido à localização, próxima à favela. Com o
passar do tempo, a prefeitura resolveu construir no local uma área de lazer para a comunidade do
Pirambu, e hoje é, na verdade, uma praça pública abandonada, embora conhecida como “pólo de lazer”.
33 Depois vim a saber que os nomes das ruas do Pirambu eram relacionados às lutas dos primeiros
moradores pela posse dos lotes. Este por exemplo: “grito de alerta” se refere à perseguição da polícia aos
manifestantes do movimento.
38
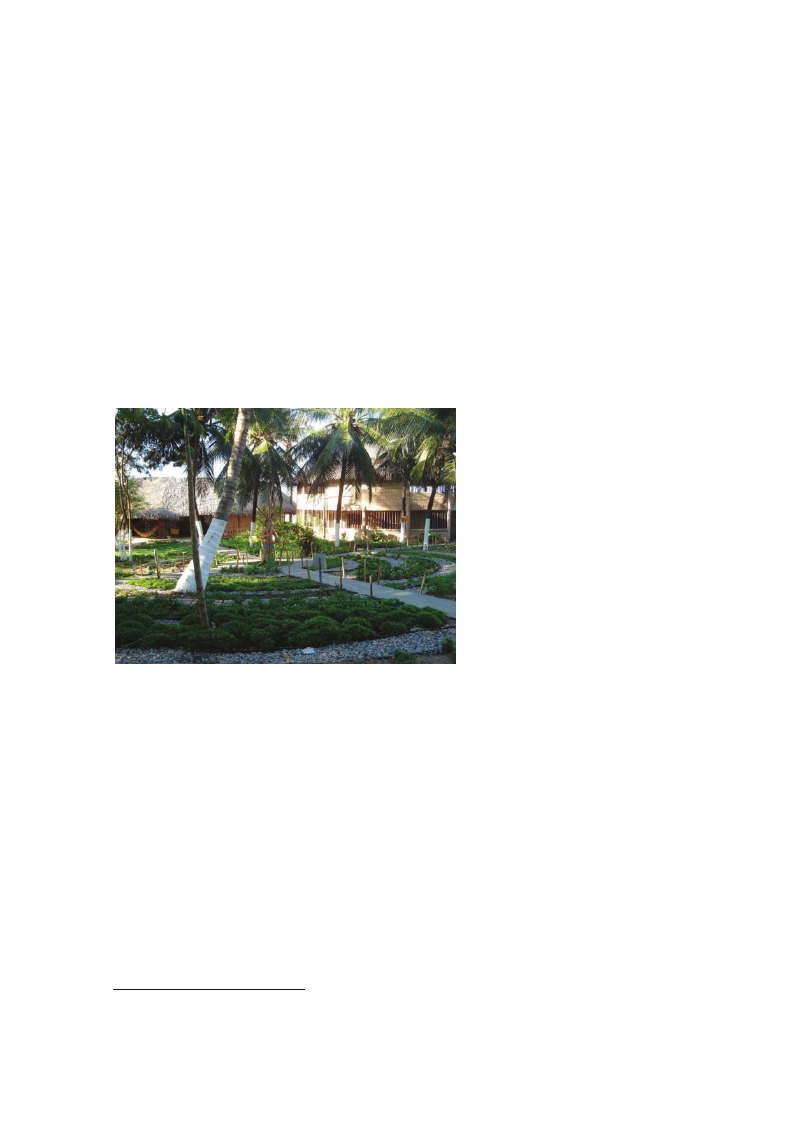
1.2 A Terapia Comunitária: notas para uma etnografia
No intuito de apresentar uma impressão viva do cenário, dos atores e das
dinâmicas que constituem a terapia comunitária e suas relações sistêmicas com as outras
atividades existentes no Projeto Quatro Varas, farei agora a tentativa de construir uma
etnografia. Meu esforço inicial é no sentido de fazer uma “descrição densa” (GEERTZ,
1989, p.7). Quero trazer um pouco do ar que se respira nesse espaço povoado por uma
gente cujos destinos, falas, silêncios e mistérios me envolveram e me envolvem até
agora!
Logo ao entrar pelo portão de ferro, pode-se sentir a atmosfera agradável do
ambiente, que se assemelha a um sítio, com cajueiros sombreando banquinhos de
alvenaria onde as pessoas
recebem a brisa do mar enquanto
se demoram em longas
conversas. O ex-administrador
do Projeto, Neves Brandão34 me
contou que os lotes de terra que
compõem a área de 7.399,36m²,
foram adquiridos um a um,
conforme as necessidades mais
imediatas, por meio de doações
Figura 4: Horto, Casa da Cura (à esquerda), casa de
acolhimento(à direita) e refeitório(altos)
de visitantes e seguidores da
religião católica. Este talvez
tenha sido o motivo pelo qual as edificações não seguem um padrão arquitetônico
único, nem têm uma perfeita simetria. O desenho meio aleatório e a rusticidade que as
caracterizam, por sua vez, podem ser atribuídos ao modo informal como foram
construídas graças ao voluntarismo dos primeiros membros da comunidade.
As fachadas decoradas com motivos locais mostram a influência da cultura
indígena presente nas redes de tucum e peças de cerâmica, distribuídas ao acaso.
34 Neves é um terapeuta comunitário, hoje com 36 anos, que chegou à Comunidade Quatro Varas ainda na
infância. Sua história será fonte de análise no capítulo 3.
39
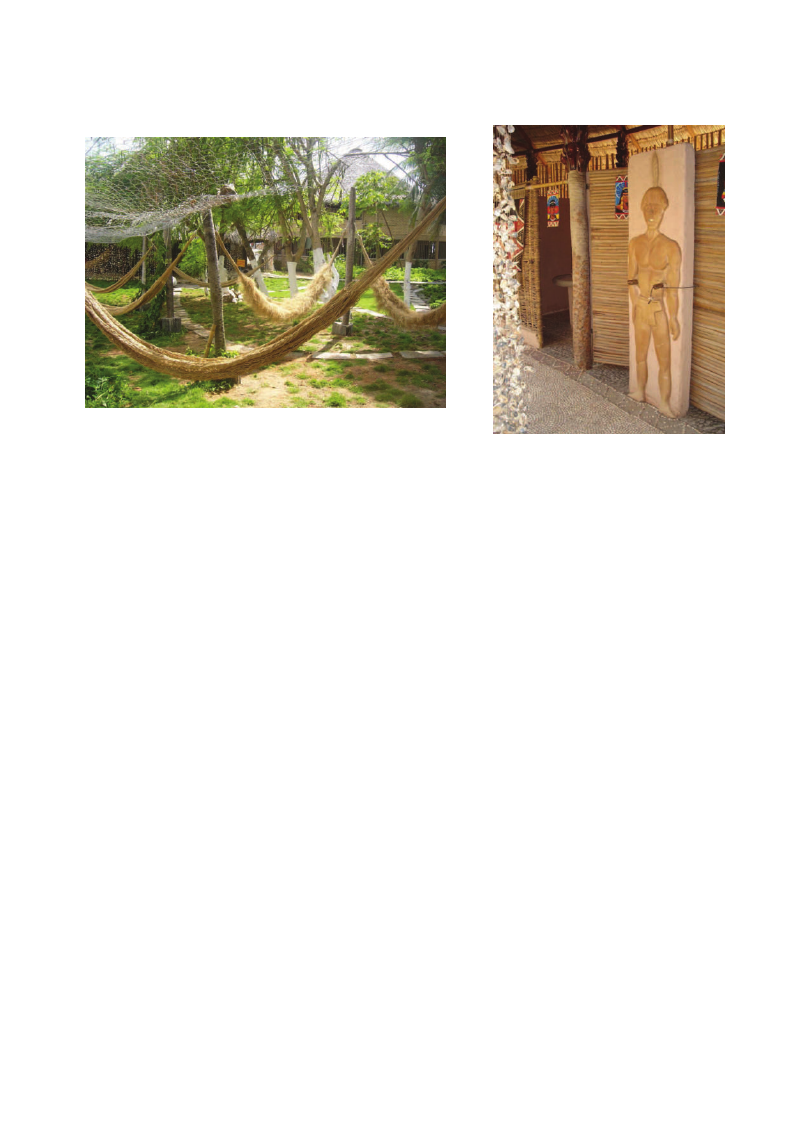
Figura 5: Redes de tucum
Figura 6: Casa da cura, vista externa das
salas de massoterapia
Quem se aproxima para conhecer o Projeto vê que ali se desenvolvem
diversas atividades e, numa observação mais acurada, percebe-se as relações que
existem entre elas, relações essas que se estabeleceram ao longo do tempo, formando
uma rede de fluxos que as retroalimentam. Aprofundando-se na análise da história da
terapia pode-se finalmente concluir que ela é a atividade geradora e organizadora de
todas as outras, que foram surgindo, a partir das demandas suscitadas pelos primeiros
participantes e pela inspiração de Adalberto, que, a partir da escuta, procurava meios de
elaborar e sistematizar cada uma das modalidades terapêuticas e outras atividades que
com elas dividem o espaço do Projeto. Minhas análises permitem deduzir que a
expansão da terapia com multiplicação de atividades que com ela se relacionam nesse
espaço se deve a dois aspectos principais: primeiro, sua natureza holística, que demanda
a agregação de diversos outros métodos complementares de cura e, segundo, o fato de
ser uma experiência socializadora cujo pressuposto básico é a construção de uma teia de
interações que garanta sua sustentabilidade.
40

Segundo me informou Adalberto,35 desde as primeiras sessões da terapia,
ele observou que as pessoas, ao falarem de seus problemas, traziam elementos de sua
cultura, tanto na explicação das causas como também nos métodos de cura que
procuravam. Como eram em sua maioria procedentes do interior cearense, elas se
referiam por exemplo ao uso de ervas medicinais comuns naquela região. Atento à
freqüência com que esse tema aparecia, resolveu propor uma parceria com a UFC para
instalar ali o “Projeto Farmácia Viva”36, com a supervisão do Prof. Francisco José de
Abreu Matos, que logo fez a doação de muitas mudas de plantas medicinais,
provenientes do horto da UFC.
As primeiras mudas foram distribuídas entre mulheres e crianças que
ficaram responsáveis para plantá-las nas áreas livres do terreno, cuidando depois de sua
aguação diária. O sistema de irrigação só foi inaugurado anos depois, quando já se havia
construído os canteiros de alvenaria.
A foto ao lado mostra o momento da
inauguração da Farmácia Viva.
A aquisição do terreno
para organizar o horto de plantas
medicinais foi viabilizada graças à
doação da Profª Cristiane Feneon37,
Figura 7: Distribuição das primeiras mudas de
plantas para iniciar o horto - 1989
que, partilhando os ideais da
Teologia da Libertação38, costumava
contribuir com ações da igreja. Ela
conta como chegou à terapia e o que a motivou a contribuir financeiramente:
35 A entrevista aconteceu no dia 10 de outubro de 2008, com a finalidade de aprofundar aspectos da
etnografia, a partir de sugestão da banca da segunda qualificação, realizada no dia 3 de outubro de 2008.
36 O Projeto Farmácia Viva foi criado pelo Professor Francisco José de Abreu Matos, na década de 1980,
com o objetivo de certificar o poder curativo das plantas tradicionalmente utilizadas pela medicina
popular do Nordeste. O Prof. Matos procurou identificar o princípio ativo de cada planta, catalogando de
forma sistematizada. Em seguida, construiu um horto e plantou as mudas cujas propriedades químicas
estavam cientificamente comprovadas. A partir daí, ele começou a incentivar parcerias da UFC com
outras instituições para implantar o Projeto Farmácia Viva em todo o estado do Ceará, inclusive o Projeto
Quatro Varas.
37 Ainda hoje, a Profª. Cristiane visita o Projeto anualmente participando da terapia e realizando
atividades na comunidade.
38 A Teologia da Libertação surge entre as décadas de 1960 e 1970, como uma concepção teológica, com
ênfase na busca de melhorar a situação social da humanidade. Ela se difundiu de forma especial na
América Latina, sendo uma das orientações para a pastoral das Comunidades Eclesiais de Base (CEB).
No Brasil são valiosas as contribuições do teólogo Leonardo Boff, aos movimentos desencadeados
durante o regime militar. Esse assunto será discutido no capítulo II.
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia_da_Libertação>. Acesso em 14/10/08.
41

Eu estava em Fortaleza em 1991 fazendo um trabalho de
comunidades de base no conjunto Palmeiras e o Padre Chico me disse
que seria bom conhecer o trabalho do Adalberto pela Pastoral. Fui na
quinta – feira, dia 15 de agosto de 1991 à terapia comunitária e
participei de minha primeira sessão.
A Profª Cristiane disse que, na conversa que teve com Adalberto, logo após
essa primeira sessão, admirou-se porque, enquanto dialogavam sobre a possibilidade de
um intercâmbio com a França, ao invés de pedir uma doação em dinheiro, nos moldes
assistencialistas, ele falou a respeito de como ela poderia auxiliar na viabilização de um
Projeto auto-sustentável para a comunidade, conforme relata:
[...] Rapidamente conversamos sobre a ética da troca de experiências
e ele disse: vou pedir uma coisa muito difícil para mim, pedir isso a
você, mas é a necessidade mais importante hoje, comprar um terreno
para fazer um jardim de plantas medicinais e uma horta.
A idéia dele era fazer primeiro uma horta comunitária para oferecer
oportunidades de emprego às pessoas e um canteiro de plantas medicinais para
continuar desenvolvendo o Projeto Farmácia-Viva, com apoio da UFC. Em um segundo
momento, ele buscaria recursos para construir o laboratório para fabricar
medicamentos, cuja venda reverteria em recursos financeiros para a comunidade. A
Profª Cristiane Feneon fala um português entremeado com sotaque francês,
relembrando o diálogo que teve com Adalberto há tantos anos:
Eu perguntei a ele, quanto é? 17.000 dólares, ele disse. Quando ele
disse isso, eu pensei: Não vou cair nesse tipo de troca porque a gente
é visto como muito rico e eu na verdade não sou rica. Na verdade, eu
estava ajudando meus pais. Eu estava bem alerta contra esse tipo de
exploração, que não é bom. Assistência não é bom. Adalberto é
inteligente e ele me disse. Aqui é perto do mar, há pescadores, mas
essa gente veio do sertão, não é possível pedir que eles fiquem hoje
pescadores, eles têm medo do mar. E precisam trabalhar com a terra.
Preciso comprar a terra para eles trabalharem porque acredito no
esforço deles a partir de sua cultura. Para mim foi então fácil. Vou
conseguir o recurso. E só tinha um mês porque o dono do terreno
estava doente e precisava do dinheiro para se tratar. Se não fosse
assim, uma imobiliária ia lotear e o lugar ia vai ficar cheio de casas. O
Adalberto estaria na minha cidade um mês depois. Ele já conhecia o
Dr. Jean Pierre Boyer que desenvolvia um trabalho lá. Quando
Adalberto veio da França eu dei a ele o dinheiro. Eu estava guardando
para trocar meu carro que estava velhinho. Eu estava com
necessidade, mas dei o dinheiro. O que me tocou muito foi a
42
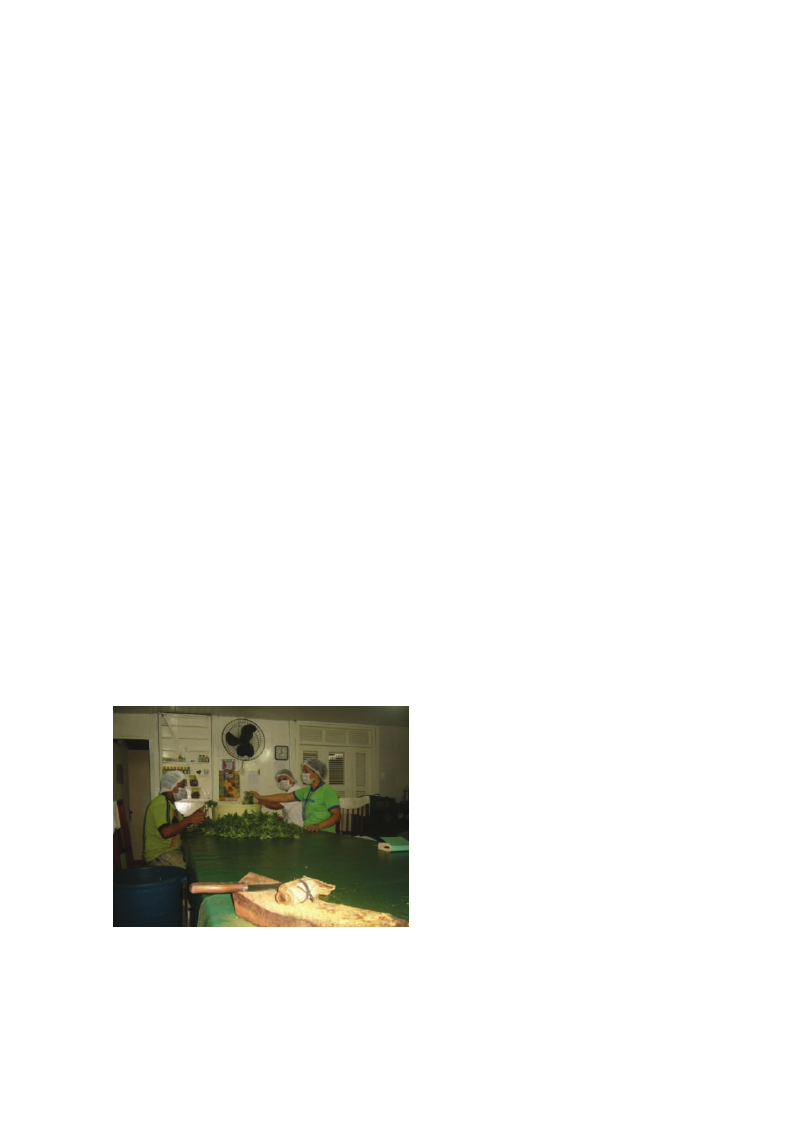
explicação do Adalberto. A explicação dele me tocou tanto porque o
Adalberto diz “você reconhece aquilo que tem dentro de você”. Eu
trabalho com alunos que estavam tão difícil para a gente, porque
sempre não conseguiam aprender, não por falta de inteligência, mas
por problema social e também problema de diferença de cultura.
Porque a escola na França é para a elite intelectual, a linguagem, a
forma de inteligência, com racionalização muito forte. Para mim se
fosse visto o que ele gosta, o que ele pode em sua cultura, fazer
profissionalmente... e o Adalberto queria fazer isso aqui, trabalhar a
partir da horta.
Quanto à terapia, ela lembra suas primeiras impressões:
Eu não falava português. O Adalberto me fazia uma tradução rápida,
eu não entendia tudo, mas fiquei muito tocada com a espontaneidade,
a confiança da gente no grupo, o ato da escuta da gente com os
outros, a ligação entre eles era muito forte. No fim da terapia o
Adalberto me pediu para dizer uma mensagem para o grupo saber
como é na França, eu disse: vocês são ricos de tudo que nós somos
pobres e vocês são pobres do que somos ricos. Eu vou levar para a
França muita coisa importante que aprendi aqui, que o dinheiro não
pode dar e vocês são ricos. Eu desejo transmitir isso e não sei como
será possível, mas vou levar. Nós podemos ajudar. A França é tão
bonita, mas a França tem muitos problemas...
Interessada e disposta a colaborar, logo ao chegar à França, enviou a
quantia necessária e, depois voltou a visitar anualmente Quatro Varas, divulgando a
terapia e o Projeto entre seus amigos na França. “Eu comecei a falar do Projeto, pra
gente que queria conhecer e que sabia que eu tinha ligação com o Brasil.” 39
A oportunidade de comprar
o terreno vizinho ao horto e construir o
laboratório para produção de
medicamentos aconteceu pouco depois,
numa visita de um representante da
igreja alemã Miserior. A partir desta
doação, Adalberto convida a Profa.
Conceição Calandi Noronha,
Figura 8: Laboratório de ervas da Farmácia-Viva
39 Em suas visitas à comunidade, sempre que tinha oportunidade, realizava oficinas pedagógicas com
crianças, além de outras ações, algumas em parceria com a igreja. Desta forma foi criando inicialmente
um vínculo pessoal com a comunidade e, posteriormente conseguir sensibilizar muitas pessoas na França
que passaram a vir ao Projeto e a colaborar com ele.
43
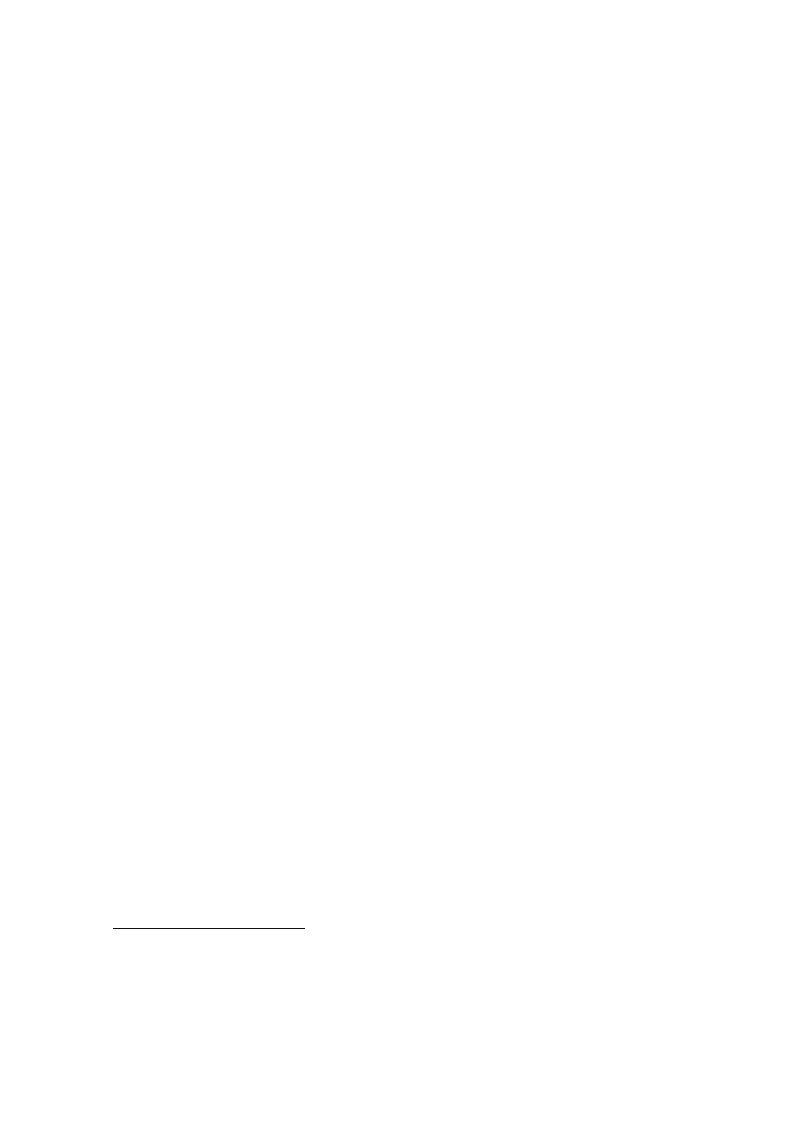
farmacêutica responsável pela produção de medicamentos da farmácia viva da UFC,
para acompanhar a instalação do laboratório e supervisionar a elaboração dos
medicamentos que passaram a ser produzidos de forma auto-sustentável, uma vez que
eram comercializados40 e a renda revertida para o Projeto.
Ainda hoje o horto de plantas medicinais empresta seu verde ao ambiente
praiano, oferecendo um refrescante aroma de ervas à “Casa da Cura41”, espaço
terapêutico com doze salas de massoterapia, feitas de bambu e ornamentadas com
cortinas de conchas que emitem um som característico, quando se agitam ao soprar do
vento.
A massoterapia que é oferecida hoje gratuitamente pelo SUS, surgiu quando
Adalberto se deu conta de que algumas pessoas que freqüentavam a terapia tinham
dificuldades de elaboração de situações de estresse por meio da verbalização. A idéia de
elaborar um curso de massoterapia surgiu por dois motivos: primeiro, o aumento da
demanda por massagens, que passaram a ser cada vez mais solicitadas pelos
participantes da terapia e em segundo lugar, por representar uma forma de oferecer
formação profissional às pessoas da comunidade.
Quanto ao primeiro aspecto, as massagens trouxeram uma nova
possibilidade de abordagem do sofrimento, pelo código corporal, por meio do toque, o
que veio beneficiar muitos participantes da terapia que apresentavam quadros
depressivos e outros que dificultavam sua manifestação na hora das sessões. A
desmotivação e a baixa auto-estima dificultam a participação dessas pessoas em
processos de crescimento pessoal. O contato físico feito por intermédio da massagem
melhora a sensação de isolamento, os sentimentos de culpa, a frustração. E, no caso dos
imigrantes, o ambiente calmo onde se realizam as massagens, o uso de óleos
aromáticos, incensos e o própria sensação de ser cuidado, de certa forma, substituem a
bênção e as rezas das benzendeiras no interior. Por outro lado, além dos pacientes,
também se beneficiam as massoterapeutas, que, muitas vezes também são procedentes
do interior e encontram nesta prática uma forma de exercer o dom da cura, no contexto
40 Ela supervisionou a farmácia voluntariamente durante 15 anos e só a partir de 2005 quando o Projeto
Quatro Varas passou a receber ajuda de custos da prefeitura de Fortaleza para a Farmácia Viva , ela
começou a receber honorários.
41 A aplicação de massagens terapêuticas se tornou de início importante fonte de recursos para o Projeto e
também para as pessoas da comunidade que, ao se capacitarem, passavam a exercer essa atividade
profissionalmente.
44

da vida urbana.42 O curso de massoterapia foi organizado em parceria com o Projeto de
Extensão, para conferir aos participantes o certificado de Terapeuta Comunitário na
modalidade “Massoterapeuta” pela UFC. A formação consta de 360 horas-aula,
envolvendo, além da aprendizagem da técnica, noções de anatomia, fisiologia e
vivências de autoconhecimento. Com o tempo, a Casa da Cura foi ampliando suas
atividades e hoje, além dos ambientes preparados para massoterapia, tem também uma
pequena sala onde atende uma rezadeira, e duas salas maiores com banheiras, para
banhos de ervas.
Recentemente perguntei a Adalberto por que se desenvolveram, além da
terapia comunitária, outras práticas de cura no Projeto. Ele disse que, a partir da
experiência com a terapia, foi percebendo que ela devia abranger a diversidade cultural
e a pluralidade humana, e que, “por isso, o terapeuta comunitário deve ser um “poliglota
da cultura”, para compreender o ser humano em todas as suas dimensões”. Nesse
sentido, é que, segundo ele, o ritual43 da terapia comunitária vem incluindo uma
diversidade de códigos culturais: lingüístico, corporal, musical, espiritual e outros, e
continua aberto para modificar-se de acordo com o contexto sociocultural onde for
desenvolvido. Isso pode ser evidenciado observando a mudança nos estilos de música, e
também nas histórias que são contadas, nos mitos e crenças que aparecem nas sessões
realizadas em outras regiões do Brasil. Esse fato encontra respaldo na proposição de
Helman (2003, p.70) de que o sistema de valores e a visão de mundo determinam “os
modos como os seres humanos entendem as causas das doenças e que opções de cura
vão procurar” e que, a partir daí, cada sociedade organiza os papéis e práticas que são
adaptados aos ambientes específicos.
42 No início, alguns dos alunos fizeram seu curso gratuitamente, e hoje ainda muitos fazem com subsídios
do Projeto, mas gradualmente foi se estabelecendo um valor para a inscrição no curso que custa
atualmente (outubro de 2008) em torno de R$ 600,00, divididos em seis parcelas iguais.
43 Utilizo aqui a proposição de Durkheim (1996) de que o ritual, presente na religião e nos mitos, é um
elemento necessário à vida social, tendo o poder de integrar os indivíduos e organizá-los de forma a
compor uma sociedade, isto porque proporciona estados mentais que favorecem a coesão dos grupos,
fortalecendo os sentimentos de solidariedade social.
45
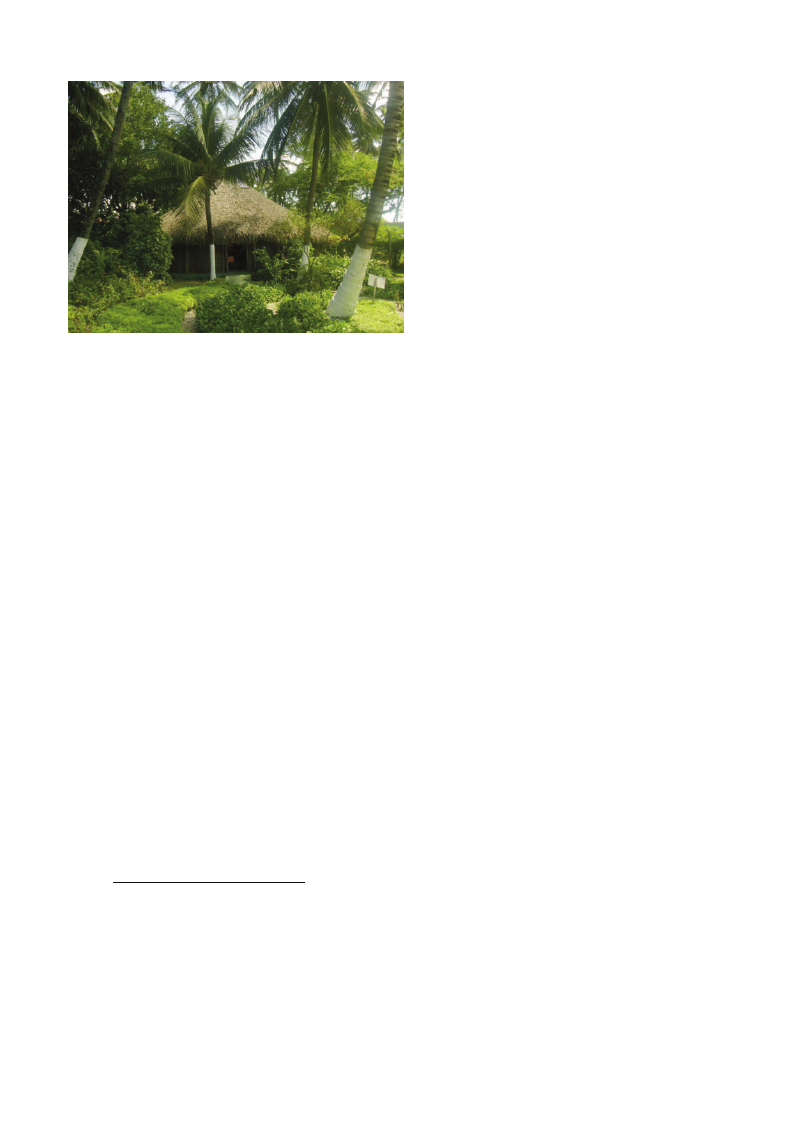
A meu ver, essa concepção
explica o motivo pelo qual a palhoça da
terapia, uma estrutura de palha
semelhante a uma “oca” de dezesseis
metros de diâmetro está localizada no
centro do terreno, cercada por outras
construções que servem para a realização
de práticas alternativas e
Figura 9: Oca, palhoça da terapia comunitária
complementares de cura44, além de
atividades artísticas e culturais. A terapia
acontece nessa palhoça, todas as quintas-feiras, impreterivelmente, às quatorze horas.
Nestes dias, a sede do Projeto fica muito mais movimentada: homens, mulheres,
crianças da comunidade e visitantes descem a ladeira em carros, motocicletas ou até
mesmo a pé, para participar das sessões que duram uma média de duas horas e reúnem
um número que varia de trinta a duzentos45 participantes. Cerca de cinqüenta a sessenta
destas pessoas costumam vir pela manhã em busca de outros tratamentos como a
“terapia da auto-estima”, conhecida pelos seus freqüentadores, como “a auto-estima”.
A terapia da auto-estima é mais uma terapia corporal complementar à
terapia, que foi criada com objetivo de aprofundar o autoconhecimento através de
dinâmicas psicofísicas. O método se constitui numa abordagem corporal em grupo que
se baseia no conhecimento da tradição oriental e na teoria bioenergética46. A
experiência é aberta a qualquer pessoa que deseje trabalhar sua auto-estima e cada
participante é orientado a participar de, no mínimo 10 a 12 sessões seguidas, embora
possa freqüentar de forma alternada, de acordo com o desejo e as possibilidades. A
atividade é realizada no mesmo salão da palhoça da terapia comunitária, pela manhã, às
quintas-feiras, entre 8 e 10 horas.47 Após a sessão, o terapeuta em geral recomenda a
massoterapia e muitas pessoas se dirigem imediatamente dali à Casa da Cura, outras
44 Andrade (2006) afirma que o termo “alternativo” como “complementar” são conceitos provisórios.
Para ele o termo “Alternativo” significa que difere do modelo biomédico hegemônico e “complementar”
se refere ao fato de complementar a medicina oficial com outras práticas diagnósticas e terapêuticas.
45 Esse número é atingido quando o Projeto recebe visitantes, por ocasião de algum evento ou quando a
terapia recebe alunos do curso de formação de terapeutas comunitários.
46 Modelo etiológico-terapêutico fundamentado nas trocas energéticas entre o indivíduo e o ambiente.
47 A terapia da auto-estima iniciou-se como atividade auto-sustentável com o preço de R$ 10,00 por
participação. Hoje é oferecida gratuitamente por intermédio de uma parceria entre o MISMEC e
Prefeitura Municipal de Fortaleza.
46

retornam a suas casas e algumas ficam para almoçar no restaurante do Projeto48
descansando, depois, nas redes de tucum, enquanto esperam para participar da terapia
comunitária que começa às duas da tarde.
Antônio, 30 anos, Técnico em Informática do Projeto Quatro Varas, diz o
que percebeu após participar de mais de 10 sessões seguidas:
[...] fui assistir a terapia da auto-estima para me. Fui participando das
dinâmicas e me interessei. A terapia me ajudou a me conhecer mais.
Lá eu aprendi que você não depende dos outros para ser feliz, basta
estar bem consigo mesmo. Uns 80% dos casos, das pessoas que
procuram a terapia, podem ser resolvidos na terapia, uns 20% restante
necessita de mais acompanhamento, às vezes o Dr. Adalberto passa
medicamentos para essas pessoas. A terapia da auto-estima auxilia
muito quem participa dela, pois a terapia traz o que há de bom nas
pessoas. Elas aprendem a lidar com depressões e problemas,
aprendem a não sofrer tanto com suas dores.
Segundo me informou Adalberto em uma conversa que tivemos no Projeto
em 21 de dezembro de 2006, pela manhã, logo após uma sessão da terapia da auto-
estima que ele coordenou, “a terapia da auto-estima é importante porque as vivências
ajudam, com o decorrer do tempo, a própria pessoa a perceber seus bloqueios e começar
a se trabalhar na terapia comunitária, na massoterapia, ou em outro lugar” 49. Ele explica
a importância de cada momento da terapia, por exemplo, na fase de acolhimento quando
as pessoas ficam de pé e formam um círculo, permanecendo alguns minutos de mãos
dadas, e cada um deve colocar a mão direita por cima da mão esquerda do outro que
significa dar energia, e a esquerda por baixo para receber, para trabalhar o dar e o
receber, a reciprocidade.
Enquanto isso acontece, anoto tudo no diário de campo onde são registrados
os dados da observação participante. À medida que pergunto sobre cada passo da
proposta do método, ele vai explicitando os detalhes na seqüência em que ocorrem na
sessão terapêutica. “Quando as pessoas ainda estão em círculo, de mãos dadas, e cada
48 Neste restaurante os pratos são vendidos a preços baixos para facilitar a participação dos freqüentadores
nas diversas atividades terapêuticas oferecidas no Projeto.
49 Hoje o Projeto Quatro Varas conta com sete terapeutas-facilitadores que se revezam na coordenação da
terapia da auto-estima. O facilitador da terapia da auto-estima é treinado em um curso de 80 horas-aula,
denominado “Cuidando do Cuidador” e que consta de um conjunto de oito técnicas, fundamentadas em
princípios da medicina oriental e da bioenergética, adaptadas à cultura brasileira: 1.Trabalhando as
tensões do corpo; 2.Trabalhando o centramento da mente com o corpo; 3.Trabalhando o masculino e o
feminino; 4.O pulsar da vida; 5.Trabalhando a agressividade; 6.Lidando com as preocupações da mente;
7.O túnel da confiança; 8.Massagem comunitária. No Ceará o valor total do curso é de R$ 600,00.
47

um dá um passo à frente, deve dizer o que veio deixar e o que pretende levar: “Deixo
minha ansiedade e quero levar autoconfiança”. Observei que depois de cada
manifestação individual em que cada pessoa diz o que veio deixar e o que pretende
levar, o grupo todo responde em uníssono: “Nós te apoiamos”. Essa resposta tem um
efeito sonoro que me chamou a atenção. Deu-me a idéia de força, o grupo todo falando
em uníssono que apóia a pessoa. É muito forte isso.
A partir daí, quando todos já se manifestaram, formam-se pares, onde uma
pessoa fica atrás da outra com as mãos delicadamente pousadas sobre os ombros de seu
par e pronuncia as seguintes palavras, que Adalberto foi ditando enquanto eu anotava:
“você não nasceu para sofrer mas o sofrimento pode fazer você crescer. O que tem feito
por você e para você. Você é o que você quer ou o que os outros querem que você seja?
Saiba que você não está só na sua caminhada, você pode contar com essa comunidade e
com o Projeto Quatro Varas”. Perguntei qual a origem dessas palavras e ele me disse
que foi coletando de “outros lugares” referindo-se aos diversos métodos terapêuticos
que conhece. Ele foi agrupando-as numa seqüência que funciona como uma preparação
para que a pessoa penetre no estado psíquico de introspecção, que permita refletir sobre
sua vida e o que tem feito dela. Desta forma, a fase inicial que é padronizada,
proporciona uma abertura às dinâmicas mais profundas da terapia, que utilizam uma
abordagem corporal direcionada a melhorar a auto-estima.
Concluída a fase de acolhimento
que dura uns 20 minutos, o facilitador50 faz
uma breve explanação sobre os fundamentos
do método e os procedimentos que ocorrerão a
seguir. O ritual mais específico começa a partir
do momento em que as pessoas recebem uma
venda de cor preta e são orientadas a
colocarem-na sobre os olhos.51 Ao som de
músicas especialmente escolhidas para cada Figura 10: Vivência da terapia da auto-estima
50 Em seu início, a terapia da auto-estima era sempre realizada pelo Adalberto, mas, aos poucos foi
ficando a cargo de outros profissionais, geralmente pessoas sem curso superior, mas com formação nas
técnicas que aplicam.
51 As vendas são distribuídas para uso na experiência, juntamente com um saco de plástico para casos de
vômito ou simplesmente para expelir a saliva que pode se tornar abundante em alguns momentos da
vivência.
48
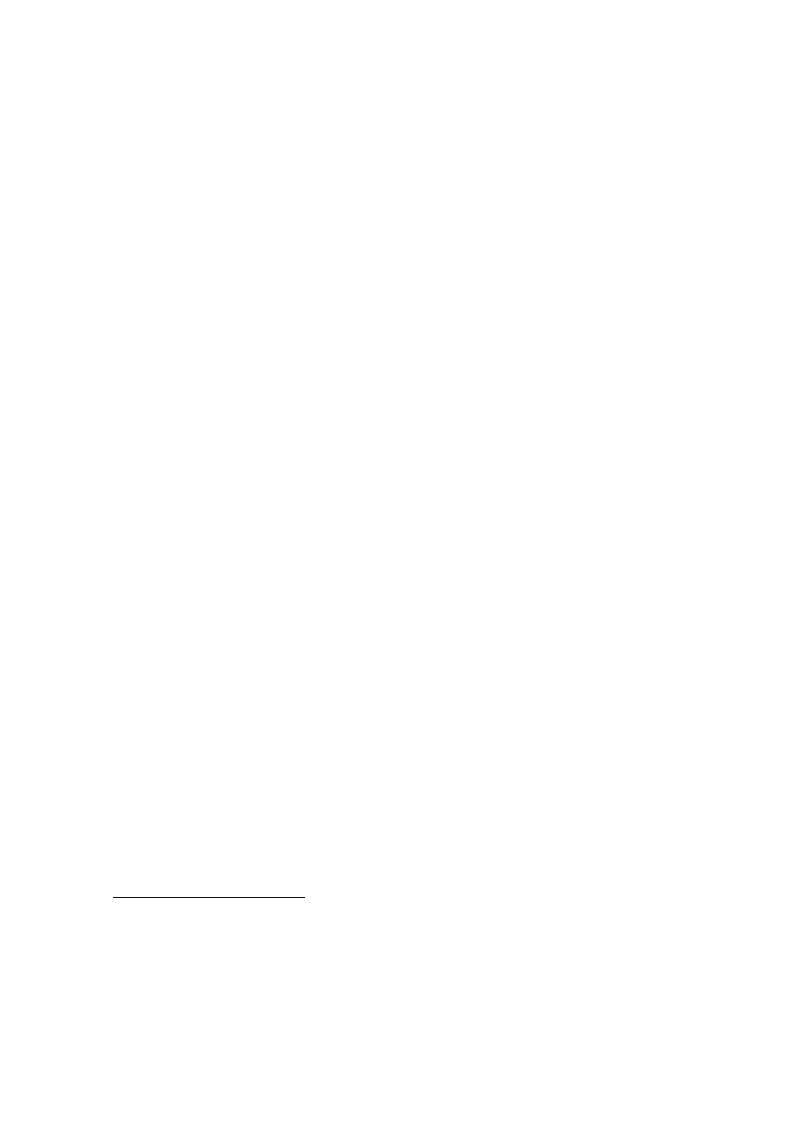
dinâmica52, inicia-se a vivência corporal, com movimentos que trabalham os chackras53
durante cerca de 30 minutos. A seguir, o terapeuta escolhe uma das oito técnicas de
visualização criativa, que fazem parte do método e que proporcionam ao indivíduo o
contato consigo mesmo, com sua história de vida, levando ao aprofundamento do
autoconhecimento. Cada técnica se destina a uma finalidade terapêutica e o terapeuta
escolhe de acordo com o momento e a constituição do grupo. Essa fase mais intensa
dura cerca de uma hora. Ela finaliza com um momento também rico de emoções no qual
as pessoas se abraçam, uma a uma, e depois se sentam no chão, em círculo para um
breve momento de partilha e elaboração das vivências
A manifestação verbal na terapia da auto-estima só acontece nesses
momentos finais, e, mesmo assim, é totalmente voluntária, de modo que, em geral,
somente algumas pessoas compartilham as impressões e os efeitos de sua experiência.
Pela análise dos dados que colhi, tanto nas inúmeras sessões das quais participei, quanto
nas entrevistas, em que vários entrevistados se detiveram a falar a respeito da mesma54,
posso afirmar que essa abordagem traz resultados consideráveis, principalmente no caso
das pessoas deprimidas que têm dificuldade de falar de si e de seus problemas. O
“resgate da auto-estima” 55 permite ao indivíduo reconstruir o vínculo positivo,
renascer. A partir daí pode iniciar um processo de construção e reconstrução de vínculos
com outras pessoas e instituições. Rosicleide, 42 anos, separada, auxiliar de produção
relata sua experiência com a terapia comunitária, complementada pela terapia da auto-
estima.
Vim por indicação da terapeuta psiquiátrica do CAPS56, pois tinha
adquirido síndrome do pânico. Freqüento aqui há dois anos. A terapia
dá muita força, apoio, porque em dois anos perdi sobrinha, cunhado,
irmão, tio, mãe. E a terapia tem auxiliado na superação das
dificuldades. Fiz também o tratamento de resgate de auto-estima em
busca de fortalecimento e auto-estima pra superação das dificuldades.
Participando de uma e de outra, aprendi a seguir em frente mesmo
diante dos problemas. Me senti fortalecida e apoiada pois consegui
52 Há oito dinâmicas básicas que constam no manual do terapeuta e que podem ser utilizadas
aleatoriamente, de forma seqüencial ou alternando-se a cada semana. O terapeuta-facilitador escolhe
qual a técnica que deseja aplicar naquele dia, de acordo com o contexto do grupo.
53 São sete pontos energéticos situados em locais onde se concentra a energia que circula no corpo.
54 Optei por não trazer muitas falas dos sujeitos e outros dados de observação sobre a terapia da auto-
estima para manter o foco do capítulo na terapia comunitária.
55 Termo também utilizado no âmbito do Projeto para designar essa forma de terapia.
56 Centro de Atenção Psico-Social (CAPS).
49

dividir as dificuldades. Aprendi a aceitar as coisas, principalmente as
perdas. Tem casos mais graves que o meu.
Outro depoimento de um jovem de 24 anos, nascido no Pirambu, onde
reside até hoje, mostra a percepção da terapia da auto-estima, comparando-a com a
terapia comunitária:
Conheci a terapia da auto-estima e a terapia comunitária e achei
interessante a maneira com que são desenvolvidos os trabalhos nas
duas formas. Percebo que a terapia da auto-estima tem umas coisas
orientais, como chackras e me interesso por esse tipo de assunto. À
tarde é mais voltado para o social sem pegar muito o aspecto
energético. Percebo que é um espaço onde as pessoas podem
encontrar um pouco mais de equilíbrio para suas vidas, tanto pelas
mensagens positivas, aconselhamentos, e por estarem saindo de sua
redoma e convivendo com outras pessoas. Tem gente que vai às duas,
mas eu me identifico mais com a da auto-estima por causa da maneira
como o trabalho é feito com o corpo, as dinâmicas, o relaxamento, o
aspecto espiritual (Rafael, 24 anos, solteiro, espírita, músico, produtor
visual e administrador).
A partir da análise de minhas observações e relatos, como o transcrito
acima, penso que a melhora da auto-estima se deve também à compreensão dos aspectos
conceituais da técnica que são absorvidos gradativamente pelos participantes que
terminam integrando-os em seu contexto de vida. Isto pode ser exemplificado pelas
palavras de um assíduo freqüentador, Luciano, um médico veterinário de 58 anos,
solteiro. “Eu vim mesmo pra melhorar a auto-estima, melhorar o espiritual e
emocionalmente. no meu todo: mente, corpo espírito e matéria”. Durante a terapia da
auto-estima são trabalhados além da noção dos chackras, símbolos que trazem
metáforas como a relação complementar entre o sol e a lua, o masculino e o feminino, o
equilíbrio Yin-Yang, esses códigos de expressão favorecem novas leituras e informações
sobre a dinâmica energética do corpo e o processo saúde-doença. Somando-se à
experiência vivencial da terapia, esse conhecimento vai influenciando positivamente na
autopercepção e na auto-estima.
Elementos ritualísticos como a venda sobre os olhos, a música, as palavras
condutoras do facilitador promovem o exercício de introspecção e a capacidade de
mergulhar nas vivências terapêuticas. Nestas, o trabalho corporal voltado para a auto-
estima, e o contato físico que é priorizado em alguns momentos como, por exemplo, na
50
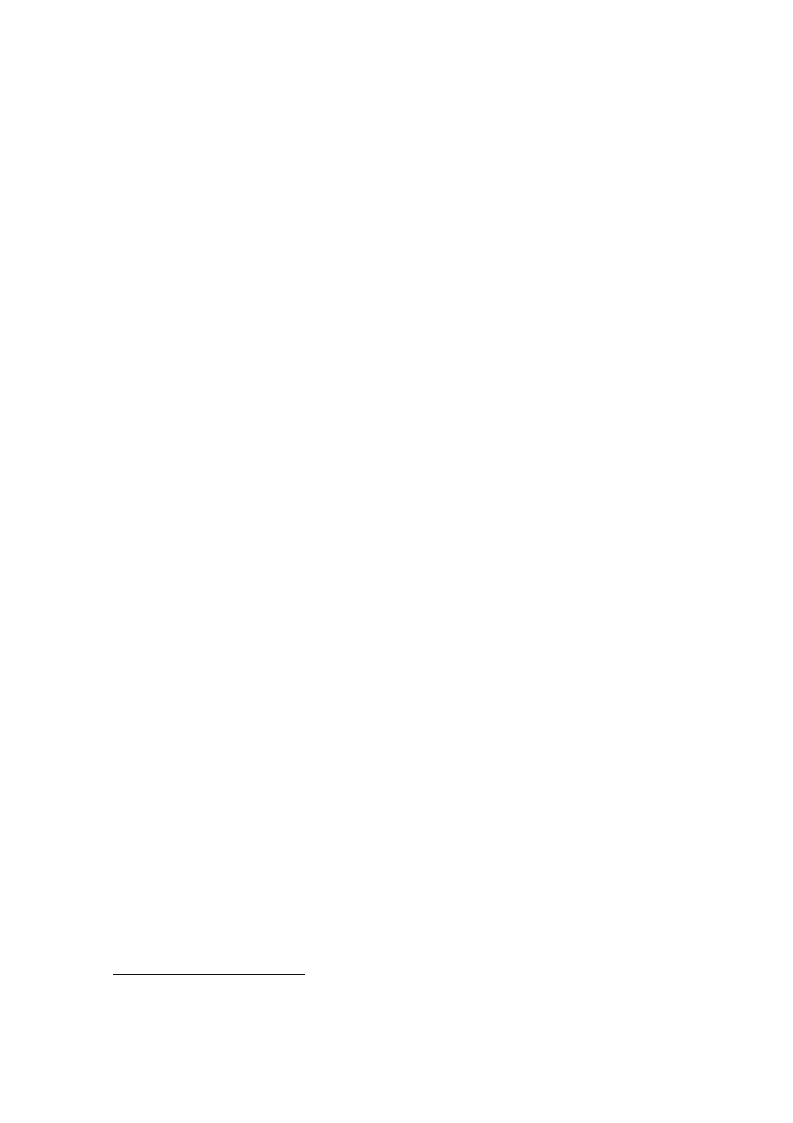
dinâmica do abraço,57 na qual se diz “Vamos abraçar os mais pertinhos e os mais
longinhos” e, ludicamente as pessoas se aproximam umas das outras. O resultado de
experiências como essas se reflete nas relações do indivíduo consigo mesmo e no
contexto social onde vive. Acredito que a terapia da auto-estima desperta o interesse
pelo processo de transformação pessoal, conferindo maior significado à participação na
terapia comunitária. Por outro lado, penso que ela fortalece os vínculos com pessoas que
também compartilham de vivências de outras modalidades terapêuticas. Euleiana, 39
anos, solteira, hoje massoterapeuta, veio participar da terapia da auto-estima por
apresentar profunda depressão:
Eu trabalhava aqui aí perdi uma irmã e adoeci, passei a participar da
auto-estima e fiz um curso de massoterapia. Foi lá que aprendi a
respeitar o limite do ser humano. Me identifiquei muito, tenho
afinidade, faço trabalho social anti-droga.Ainda hoje a terapia da auto-
estima me ajuda a manter meu equilíbrio.
Concluída a apresentação das abordagens complementares à terapia
comunitária, vou falar agora de uma atividade, que não se dirige propriamente à cura,
mas que veio agregar muitos jovens e crianças ao Projeto, colaborando para a formação
de redes sociais. Trata-se da oficina de artes para crianças e adolescentes que deu
origem a novos vínculos do Projeto com outras instituições, inclusive no exterior. A
atividade começou informalmente, a partir de uma idéia de Adalberto para dar
oportunidade de entretenimento às crianças que acompanhavam as mães à terapia.
Neves, que na época era um jovem de 17 anos, conta como ocorreu:
Isso começou na quinta-feira porque as mães vinham pra terapia e as
crianças atrapalhavam muito. Aí, o Adalberto disse pros jovens: “já
que vocês estão aí ociosos, vocês podiam vir na quinta-feira, e
ficavam cuidando dos meninos enquanto a gente faz a terapia”. Mas,
pra trabalhar com adolescentes, só conversar, conversar, fica difícil.
Vamos criar atividades, tem um desenhista. Ah, vamos criar um grupo
de desenho. Então eu, na época, era o mais velho dos meninos, já tava
aprendendo a conversar mais. O Adalberto me colocou como
coordenador. Não fui eu que escolhi não. Ele disse “você tem um
senso de liderança”. Na hora lá eu mesmo sendo tímido era sempre o
primeiro da fila “vamo lá fazer, turma”. Eles me viram como o cara
que era entusiasta. Então me viram como coordenador. Eu ficava
muito feliz porque o grupo tinha confiança em mim. Isso fez com que
57Vale ressaltar que alguns dos terapeutas desenvolvem vários papéis, podendo atuar em alguns
momentos como massoterapeutas, em outros como terapeutas comunitários ou ainda como facilitadores
da terapia da auto-estima.
51

eu me desinibisse. Aí a gente levava os meninos pra um espaço lá na
praia. Então o atelier de desenho surgiu. A gente notou que as
crianças gostavam muito de desenhar.
Orientados por Neves, aqueles meninos
que antes andavam pelas ruas pedindo esmolas,
usando drogas ou simplesmente ficavam à toa,
começaram a colorir pedaços de cartolina com
imagens de sua realidade cotidiana58. Eles
desenhavam coisas e paisagens que conheciam: a
praia, os coqueiros, casas de palha sobre as dunas,
conchas, búzios, além de personagens e cenas do
cotidiano, como brigas de vizinhos, vendedores de
peixe, lavadeiras. Transformados em cartões de rara
beleza e originalidade, os desenhos foram à Europa,
Figura 11: Cartão produzido por
levados por Profª Cristiane Feneon 59, que com eles uma das crianças no atelier
começou a divulgar o Projeto, fundando em Grenoble, na França, uma associação
chamada “Amigos de Quatro Varas”. Esta iniciativa levou o ateliê e seus artistas a
serem conhecidos fora das fronteiras do país resultando na publicação de um livro, além
de facilitar parcerias que ainda hoje geram recursos para o Projeto. A partir desse
desenvolvimento, o atelier passou a funcionar em uma sala maior, com capacidade para
abrigar até 48 jovens60.
Davi Florêncio de Souza, técnico de informática, filho de um raizeiro e de
uma vendedora ambulante, hoje casado, com cinco filhos, aos 31 anos de idade, lembra
o período quando ainda criança participou da oficina de desenhos e das duas viagens
que o grupo fez à França para a divulgação do livro. Nascido numa colônia de
pescadores no bairro do Pirambu, diz que desde criança sempre se aproximou de
pessoas com “quem pudesse aprender algo”.
Eu não gostava de futebol nem de ficar na praia. Fiz cursos de
desenho, pintura e computação. Um vizinho meu, que conhecia o
58 Naquele período, a psicóloga Mirian Rivalta organizou um grupo terapêutico para trabalhar a auto-
estima das crianças e jovens, vítimas do alcoolismo58. Participavam também os meninos da oficina de
cartões.
59 Em maio de 1992, os cartões foram apresentados em um congresso internacional em Toulon, na França,
sob a égide da UNESCO. A seguir foram utilizados como ilustração do livro L’art Therapie dans la
favela. Antes e depois da publicação do livro, de cada cartão vendido, metade do valor ia para o artista e
metade para o Projeto.
60 No ano de 2001 foram produzidos cerca de 30.000 cartões.
52
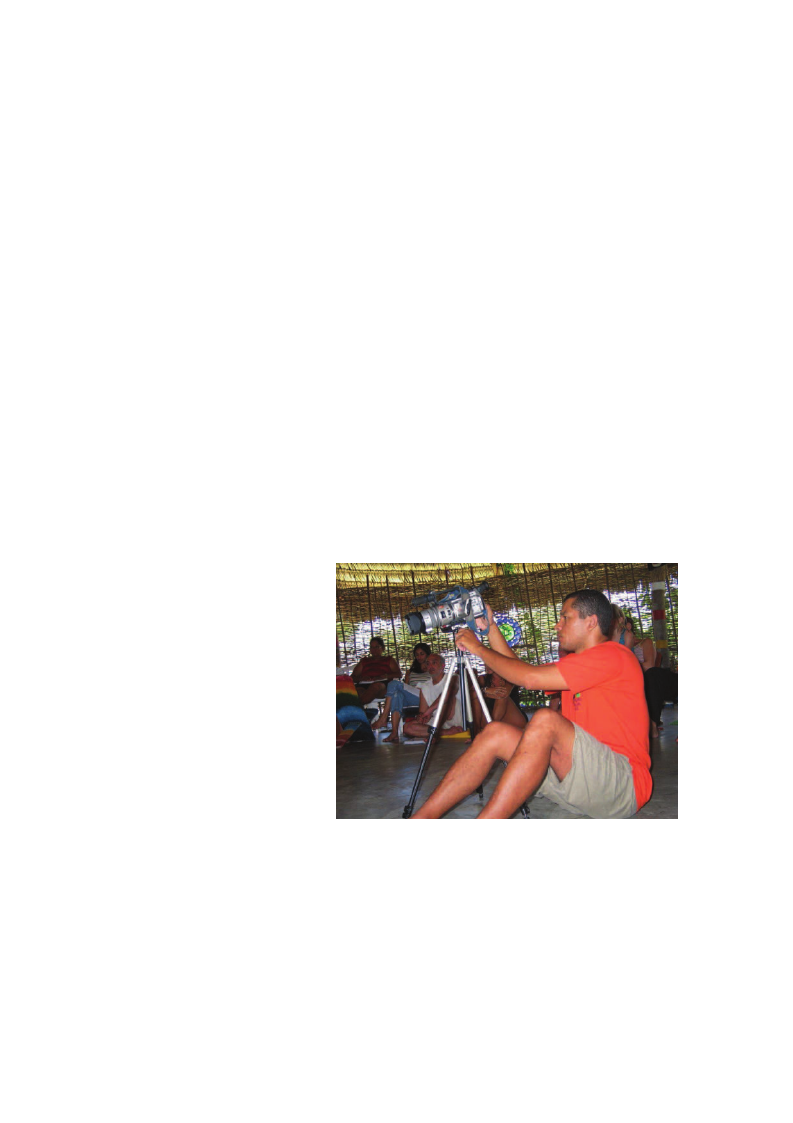
Projeto Quatro Varas, um dia, vendo meus desenhos, disse: “eu vou te
levar num canto que é a tua cara”. Era o ano de 1993, eu tinha 14
anos. Fui na terapia comunitária com os quadros que eu pintei debaixo
do braço. Não ia vender. Só ia mostrar pro pessoal. No final da terapia
Adalberto disse que podia mostrar. Eu fiquei de pé e fui mostrando os
quadros. Quando terminei ele me falou que tinha o ateliê de desenho.
Eu fui e fiquei participando. Quando a gente participava do ateliê,
recebia orientação de participar das outras atividades também: mutirão
de limpeza, reuniões de integração, reunião mensal da diretoria pra
prestação de contas e a terapia comunitária.
A partir dessa primeira sessão, ele passou a freqüentar tanto a terapia como
o grupo onde se destacava tanto pela arte como pelo comportamento. Na convivência
com pessoas da área de informática no Projeto, começou a se interessar por isso e
comentou com Adalberto. Ele o levou para conhecer o setor de processamento de dados
da Reitoria da UFC, a que tinha acesso. Lá, diante dos modernos computadores, Davi
começou a explorar mais um talento, a arte de lidar com a tecnologia. Fez vários cursos
de fotografia e filmagem tornando-se responsável pelo setor de audiovisual e pela “Casa
da Memória” que fica num dos cantos do sítio, e conta com três vãos de alvenaria que
atende toda a parte administrativa do Projeto com modernos equipamentos de filmagem,
fotografia
e
vários
computadores. Nesse local
ficam os documentos e registros
das atividades e eventos
realizados no âmbito do Projeto,
gravações em vídeo de sessões
de terapia e fotos históricas.
Num pequeno prédio anexo à
casa da memória fica uma
espécie de pequena biblioteca
onde se vendem livros, cd’s, e Figura 12: Davi filmando a terapia
vídeos relacionados à terapia.
Certo dia, eu estava visitando a Casa da Memória em busca de documentos
e fotos importantes para minha pesquisa e, comecei a conversar informalmente com
Davi. Ele dizia que, com seu próprio esforço e com o auxílio do Projeto conseguiu
53
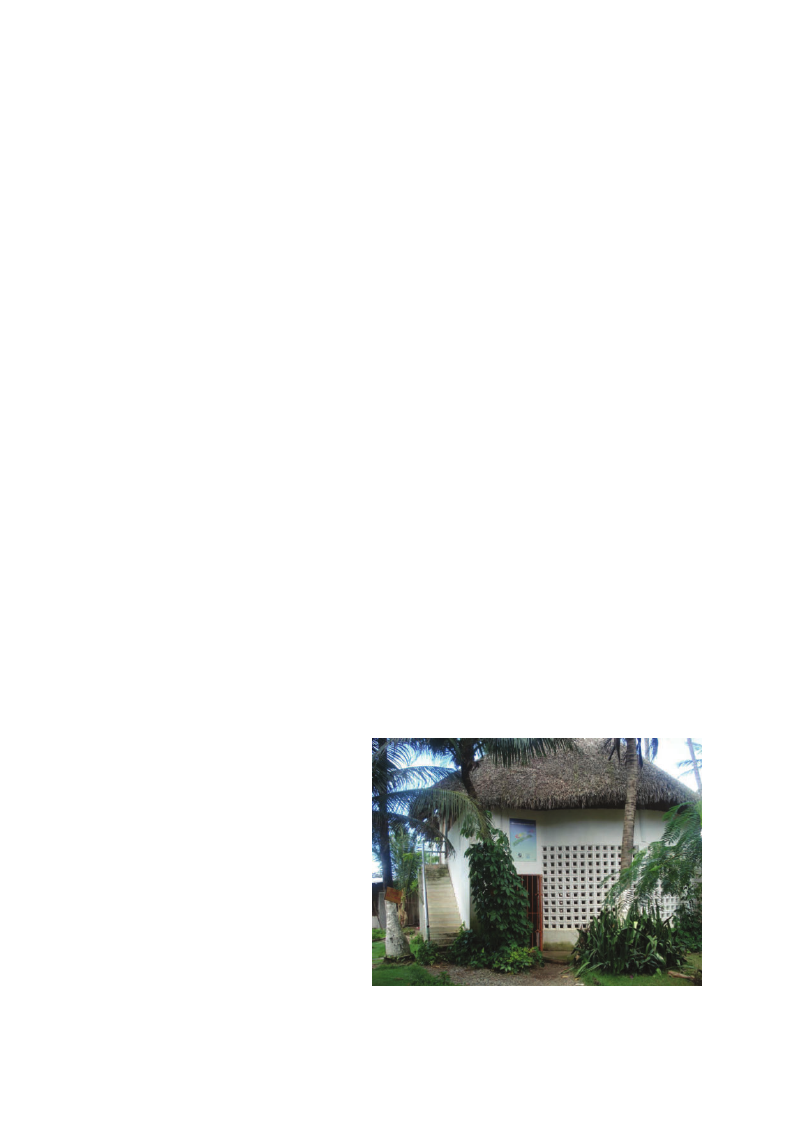
superar o preconceito de ter nascido no Pirambu e, de repente, resolveu contar um
pouco de sua história:
Meu pai me deixou quando eu tinha cinco anos. Foi um dia em que ele
deu um chute na porta e foi esfaqueando minha mãe. Eu e meus
irmãos chorando. Eu vi minha mãe no chão ensangüentada. Quando
ele saiu, fui juntando as facas, e disse bem baixinho para ela ‘Mãe, ele
foi embora, graças a Deus ele já foi’. Depois disso, ele nem ia visitar a
gente nem a gente ia na banca dele, que vendia ervas, na Rua 24 de
Maio, no Centro de Fortaleza. Ele vendia maconha e eu sempre via na
banca dele as pessoas indo comprar. Meu pai era traficante. E um dia
eu vi a polícia levar ele. Convivi de perto com essa realidade. Meus
amigos me chamavam pra fazer assalto, a usar droga, mas eu aprendi
com meu pai, a não seguir pelo caminho dele, o caminho errado.
Depois ele pagou a pena e hoje, é um homem tranqüilo. Continua com
a banca na 24 de Maio, a banca do raizeiro Souza. Quando minha mãe
viajava, eu ficava cuidando dos meus irmãos. Com minha mãe,
aprendi o dinamismo. Ela inventava coisas pra vender, como camelô,
no centro da cidade. Quando conheci o Adalberto, senti nele uma
pessoa que podia me ensinar muito. Era ele que fazia o trabalho da
auto-estima com os jovens. Era uns 40 minutos você relaxando na
praia e depois ele pedia para dizer o que sentia. Era um fim-de-semana
para integração. Ele era um pai para mim. Conheci a tecnologia graças
a ele, que me abriu as portas. Aprendi muito e comecei a trabalhar
pelo Projeto como faço até hoje. Sempre participei de todas as terapias
que tem lá.
Em seu depoimento, Davi mostra que a terapia comunitária é um espaço
aberto para receber pessoas de todas as idades, inclusive crianças, que depois podem se
engajar em outras atividades do Projeto, passando a fazer parte dessa teia de vínculos,
viva e natural. Atualmente, além da oficina de desenho que se destina mais aos
adolescentes, há outras atividades específicas para crianças. A principal delas é a
“escolinha” como é chamada pelos moradores locais. Na verdade, uma atividade de
grande alcance psicossocial, pois
oferece um serviço de terapia e
reabilitação, incluindo vários
programas, desde a reciclagem de
papel, aos ateliês de arte-terapia e
outros trabalhos educativos para
aquelas crianças que enfrentam
abandono e situações de risco. Em
alguns casos, a “escolinha” oferece
também apoio social às famílias e Figura 13: A "escolinha"
54
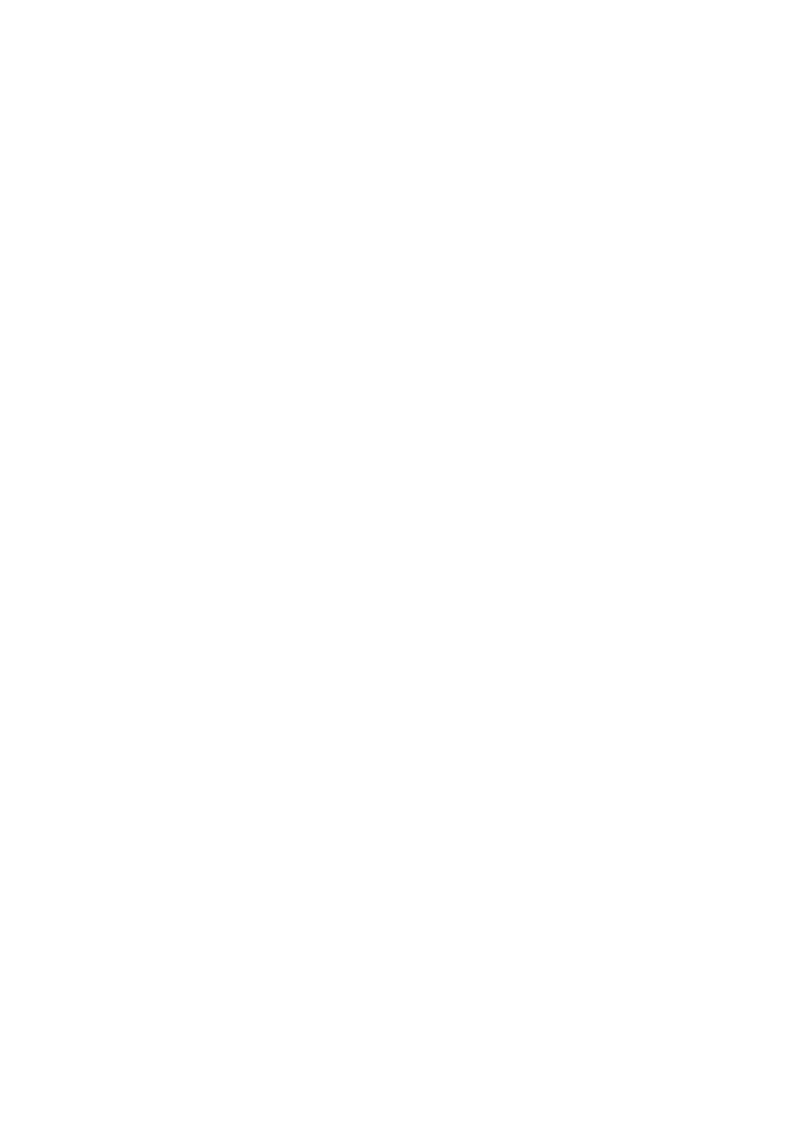
encaminhamento de pessoas dependentes de drogas a outras instituições.
No andar de cima do prédio da escola, o grupo de teatro para crianças e
adolescentes se reúne duas vezes por semana para elaborar as apresentações dramáticas
que acontecem após cada sessão de terapia. Cria ali mesmo seus enredos e já foi várias
vezes à França, visitando as cidades de Paris, Lyon, Marselha e Grenoble. Messias Silva
de Paes, o coordenador do grupo, assim se coloca:
Bom, falando em formação aqui a gente queria formar, não o ator ou a
atriz, porque isso vai acontecer naturalmente. A gente queria formar
primeiro homens de verdade. [...] O que nós tamo tentando fazer (eu
falo nós porque a gente trabalha em conjunto), é formar pessoas que a
gente veja eles adolescentes, ou adultos, já com um respaldo de vida,
com a auto-estima elevada... é isso aí que nós tentamos fazer, no
teatro. Mas caso alguém for ser um ator ou uma atriz profissional, isso
é um prazer imenso pra gente aqui. A gente tamo esperando isso
também.
Como se pode ver, após alguns anos de funcionamento, as atividades foram
se ampliando e se diversificando, o que começou a atrair lideranças de outras
comunidades do Pirambu e interessados, vindos de outros bairros de Fortaleza.
Chegavam pessoas pertencentes às mais diversas tendências políticas e diferentes
credos: católicos, espíritas, protestantes e curandeiros, que passaram a conviver com
intelectuais, pesquisadores e profissionais de diversas áreas, interessados em conhecer a
proposta. Muitos destes, ao se aproximar, se voluntariavam para realização de trabalhos
comunitários como aqueles direcionados ao combate à violência, à prevenção do
alcoolismo e do uso de drogas.
Essas aproximações são também responsáveis pela inserção de diversas
categorias de pessoas na terapia e, em contrapartida, a inserção da própria terapia numa
ampla teia de relações isto porque, muitos de seus freqüentadores também participam de
outras instituições como igrejas, grupos de Alcoólicos Anônimos(A. A.), Sindicatos e
ONGs. Um exemplo disso é Francisco Carlos, 47 anos, desempregado há quinze por
alcoolismo, que antes de vir para a terapia já freqüentava regularmente um grupo de A.
A. Ele chegou à terapia há cerca de dois anos, através de convite da companheira,
Soraya, uma mulher bastante interessada em participar das terapias e dos eventos que
ocorrem no Projeto. Ele diz que veio freqüentar a terapia “por causa do problema dela
de depressão”. “Eu acompanho pra ela não vir só”. Eu sabia que ele tinha uma história
55

de alcoolismo pois já ouvira depoimentos seus antes, durante as partilhas. Então, após
uma sessão em que o tema do alcoolismo foi tratado, procurei-o para perguntar como
ele havia se sentido pelo fato do assunto ter surgido:
Me comovi bastante, porque fui pessoa que tive problema e hoje eu
tenho conhecimento que passei pelo processo da doença, mas,
buscando a Deus e o programa de alcoólicos anônimos, eu estou uma
pessoa liberta dessa doença do alcoolismo. Não estou curado, tenho
consciência disso, mas eu também podia levar a ceifar a vida das
pessoas, que não tinha nada a ver com a minha problemática do
alcoolismo. Senti muito triste com o que a pessoa que tava falando
hoje passou, mas ao mesmo tempo, com as mensagem, as palavras
confortadas, eu me senti mais grato, e estou me sentindo muito bem
nesse momento. (...). Aquelas coisas que eu vejo que não tem pra que
eu aplique hoje, eu sempre guardo, para um dia eu tirar algum
proveito. Eu vejo aqui da terapia e aplico na minha vida.
A terapia representa para ele mais um vínculo que o sustenta, além do A.
A. .E, como ele diversas pessoas que vêem à terapia fazem parte de outras instituições.
Tal fato enriquece o grupo, pela troca de experiências.
56
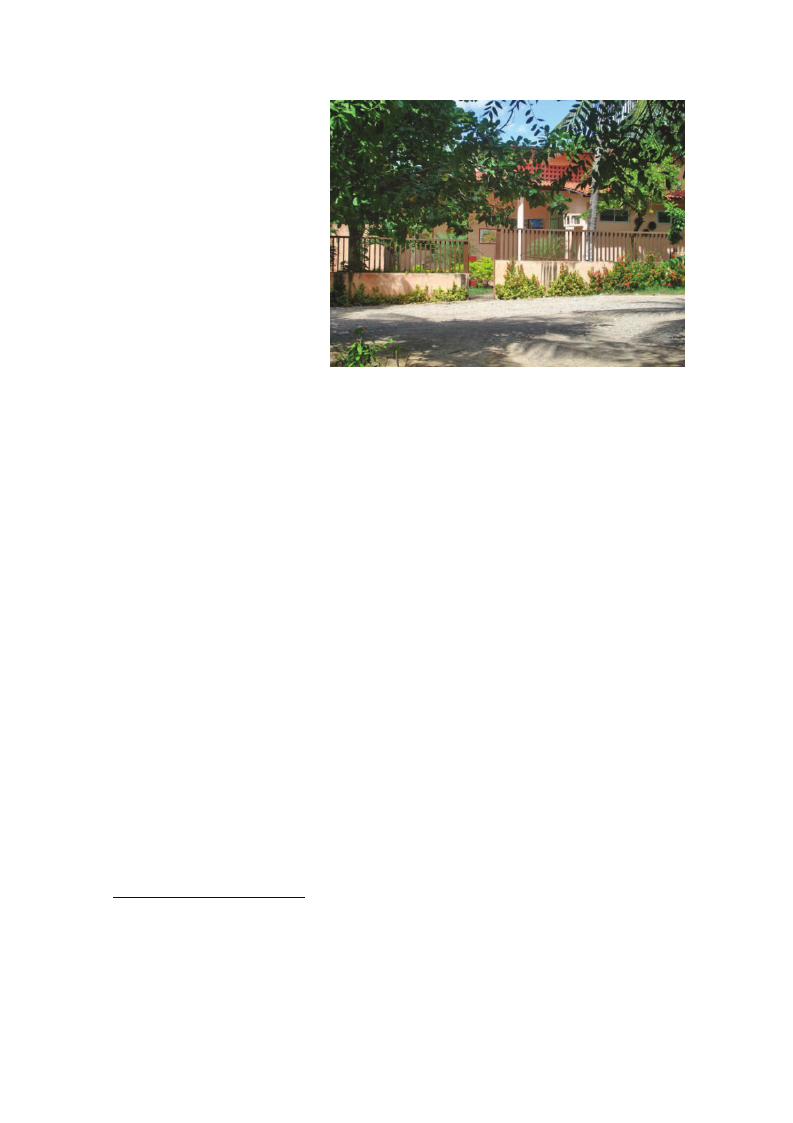
Uma outra fonte de
ampliação da terapia e de sua
inserção em redes tem sido os
encaminhamentos do SUS61,
por meio dos postos do PSF.
Há, inclusive um deles, situado
no próprio terreno do Projeto,
do lado esquerdo de quem se
dirige ao portão de saída. O
posto foi construído em 2007, a
partir de um convênio firmado Figura 14: Posto do PSF no Projeto Quatro Varas
em 2006 entre a prefeitura e o
Projeto Quatro Varas. Com esta parceria, além deste posto, presta serviço médico à
população do Pirambu, toda a rede de postos do PSF de Fortaleza, que passou a
encaminhar ao Projeto pacientes que desejam realizar tratamentos alternativos à
medicina convencional, como massoterapia, terapia da auto-estima, terapia comunitária
e também a prática da reza, uma vez que há um salinha, ao lado da Casa da Cura onde
rezadeiras atendem.62 Como se pode ver, o Projeto Quatro Varas é hoje um espaço
onde convivem a medicina oficial e as práticas populares de cura.
E, nesse processo, a terapia e o Projeto como um todo passaram a despertar
não só a atenção das classes populares que desejam utilizar os recursos, como também a
de estudantes e pesquisadores de universidades brasileiras e estrangeiras como, por
exemplo, o grupo de Residentes de Psiquiatria da Universidade de Laval – Quebec,
estudantes da Universidade Lyon II na França, e outros da Alemanha e da Suíça. Nesse
fluxo, a Casa do Acolhimento, um espaço que desde o começo do Projeto foi construído
para abrigar visitantes, teve de ser reformado e ampliado, não só devido ao acréscimo
no número de pessoas que passaram a se hospedar, como também o aumento no tempo
de permanência. Alguns visitantes chegam a ficar de seis meses a um ano realizando
61 Além dos encaminhamentos do SUS, a terapia recebe pessoas encaminhadas por delegacias
especializadas como Delegacias de Defesa da Mulher, Juizado de Menores e outras instâncias do poder
judiciário.
62 A prefeitura também construiu mais duas ocas de terapia comunitária, cercada por uma estrutura que
funciona como um sistema, semelhante ao Projeto Quatro Varas em dois outros bairros da periferia de
Fortaleza. O primeiro na Granja Portugal e o segundo no bairro São Cristóvão. O Projeto inclui a
construção de um sistema como esses em cada uma das áreas das Secretarias Regionais de Saúde do
Município de Fortaleza.
57

pesquisas ou projetos que envolvem a terapia comunitária, o Projeto e a Comunidade
Quatro Varas.
Finalmente, quero registrar que, apesar da informalidade, a organização
estrutural e o funcionamento do Projeto denotam o zelo das pessoas que ali
desenvolvem atividades na maioria das vezes voluntariamente, como se cada uma delas
trouxesse para o âmbito do trabalho, o desejo de pertencimento e a convicção de que
aquele patrimônio também é seu.
1.3 Uma Sessão da Terapia Comunitária
No dia 7 de julho de 2005, uma quinta-feira comum, eu havia chegado um
pouco antes das duas da tarde para minha observação participante, sem imaginar que
assistiria a uma das mais emocionantes sessões de terapia que já presenciei. Estava
estacionando, quando vi chegar um Fiat com placa de Mombaça, cidade do interior do
Ceará e ouvi alguém comentando: “é aquele padre que sempre traz gente pra terapia”.
Além do padre que estava dirigindo, dentro do carro havia um homem calvo de meia
idade e uma mulher que achei muito magra e com semblante fechado, pelo que pude
observar à distância. Esse casal viria a ser protagonista daquela sessão inesquecível para
mim.
Enquanto caminhava em direção à entrada da palhoça, junto a alguns
participantes, me chamou a atenção o som das vozes de umas cinco ou seis pessoas que
conversavam animadamente e levavam livros e pranchetas. Suas roupas e o
comportamento as diferenciavam do restante do grupo, composto, em sua maioria, de
gente dali mesmo, da comunidade. Discretamente, perguntei a uma moça que sempre
via na terapia, se as conhecia e ela me disse: “são profissionais de saúde que fazem o
curso de formação em Terapia Comunitária com o Adalberto e estão vindo assistir a
terapia. Eles tão treinando para serem terapeutas.” Dei-me conta de que, como essas,
muitas pessoas vêm à terapia para conhecer o método e aprender o seu manejo e não
para buscar solução para problemas pessoais.
Andei um pouco mais rapidamente para entrar primeiro e escolher um lugar
estratégico para sentar. Ao entrar no salão circular onde ocorre a terapia, olhei ao redor
como de costume, observando mais uma vez o desenho da teia de aranha que preenche
quase toda a área do piso verde e meio gasto. Lembrei de Adalberto, quando uma vez
58

me falou que essa teia simboliza a crença indígena de que “o índio sem a terra é como a
aranha sem a teia”, representando os vínculos que o indivíduo pode construir na terapia
e o sentimento de pertencer ao grupo. Ele também disse que se pode interpretar a
simbologia da aranha de acordo com a teoria sistêmica. Nesse caso ela significa que o
grupo para as pessoas funciona como uma teia, uma rede, um todo, composto de várias
partes, onde cada uma influencia a outra e é por ela influenciada (BERTALANFFY,
1975).
Mergulharia ainda mais na riqueza metafórica do desenho, caso não tivesse
sido despertada pelo chamado de uma voz feminina que pedia silêncio para iniciar a
terapia. A partir desse momento, cessam as conversas paralelas, e todos procuram
sentar-se em seus lugares,
assumindo uma atitude de escuta. A
disciplina do grupo e o respeito dos
participantes pelo contexto
terapêutico é resultado do eficiente
processo educativo vivido na
terapia.
Começou então a fase de
abertura da sessão, que, como
Figura 15: Uma sessão de terapia
sempre, foi dirigida por um co-
terapeuta. Sua principal função é
criar um clima agradável e fazer com que as pessoas se sintam à vontade,
familiarizando-se umas com as outras. Vi que a pessoa escolhida para exercer esse papel
naquele dia era uma das alunas do curso de terapia comunitária que eu havia visto antes
de entrar. Ela propõe uma brincadeira corporal dessas em que se canta fazendo mímicas,
para os outros imitarem, provocando o riso. A musiquinha era essa: “faça assim, faça
assim, faça assim como é bom fazer, faça assim, faça assim e agora é você.” Ela vai
cantando e puxando as próprias orelhas com as mãos, de forma muito cômica. As
pessoas cantam e imitam seu gesto engraçado enquanto ela repete a música, e muda o
movimento, passando a coçar a cabeça, ao modo de um macaco: “faça assim, faça assim
[...] e agora é você” e aponta para um rapaz franzino, com jeito de novato. Todos olham
para ele, esperando que continue a brincadeira. Apesar de mostrar-se um pouco inibido,
ele se esforça para não quebrar o ritmo, segura o nariz entre o polegar e o indicador,
cantando com voz nasalada: “faça assim, faça assim, faça assim como é bom fazer” e,
59

ao terminar a música, vendo uma senhora muito obesa que estava ao seu lado, um pouco
distraída, aponta para ela dizendo: “e agora é você”. Tomada de surpresa, ela ri e como
já conhece a brincadeira continua, quase automaticamente, colocando as mãos no lugar
da cintura e requebrando com uma graça pueril que os outros tentam imitar. Ficou
mesmo engraçado, todo o grupo jogando os quadris, pra lá e prá cá, inclusive eu, que,
mesmo dançando, olhava para o casal que veio com o padre. Nem o homem, nem a
mulher que vieram do Fiat com placas de Mombaça participaram da brincadeira. Ela
estava de pé, mas cabisbaixa, fugindo dos olhares das pessoas. O marido sentado, muito
sério como um juiz, dava a entender que queria ficar quieto.
Várias pessoas tiveram oportunidade de comandar a brincadeira e todos
pareciam descontraídos, quando a co-terapeuta, diz: “está bom por hoje” e faz a
pergunta rotineira: “Então, quem está vindo hoje pela primeira vez?” Onze pessoas
erguem o braço, olhando para ela que fala, sorrindo em tom acolhedor: “Sejam todos
bem-vindos à nossa terapia.” Depois pergunta pelos aniversariantes do dia e do mês.
Seis ou sete participantes levantam a mão, dizendo seu nome e a data do nascimento. O
grupo inteiro, com exceção do casal que veio de Mombaça, canta os parabéns e logo a
seguir, a co-terapeuta começa dizendo: “Gente, a terapia é um lugar pra gente falar das
preocupações, do que está tirando o sono.” Esclarece a importância de se falar dos
problemas, e recita uma quadrinha: “Quem guarda azeda, quando azeda estoura, quando
estoura fede.” Faz no entanto, a ressalva de que é bom evitar de trazer grandes segredos
ou algo que não possa ser compartilhado, “pois a terapia é um grupo aberto, um espaço
de escuta, para compartilhar as experiências.” Lembra as regras de fazer silêncio
quando alguém estiver falando, e falar somente de si, para isso recomenda-se usar o
pronome pessoal “eu” , por exemplo: “Eu penso assim, eu vejo dessa forma”.
Esse momento inicial, chamado de “acolhimento” pode ser encerrado com
uma música, a leitura de uma poesia, uma história popular ou simplesmente pode-se
passar à próxima fase do ritual, como ocorreu nessa sessão. Em seguida, a co-terapeuta
apresenta a pessoa que vai exercer a função de terapeuta, que, nesse dia, é uma visitante
de Curitiba, ex-aluna do curso de formação em terapia comunitária. Ela cumprimenta o
grupo com um expressivo “Boa tarde!” cheio de sotaque sulista e anuncia às pessoas
que já podem dizer os motivos que as trouxeram à terapia. Assinala, no entanto, que na
terapia não são permitidos julgamentos, conselhos ou sermão.
Neste momento, pode-se considerar que tem início a terapia, propriamente
dita e é comum o terapeuta fazer uma breve explanação motivando as pessoas a
60

participar da sessão, como fez Seu Zequinha, um dos mais antigos e importantes
terapeutas comunitários do Projeto Quatro Varas:
Muitas vezes abrimos o nosso coração na hora errada, com a pessoa
errada e ficamos arrependidos, porque não houve acolhimento nem
compreensão. Mas aqui você pode falar sem medo porque o grupo não
vai julgar. Nós estamos aqui para compreender. Também lembramos
que a terapia não é lugar para contar grandes segredos, mas um lugar
pra falar das inquietações do cotidiano. Como nós somos muitos,
pediria a quem quisesse falar que levantasse a mão, diga o seu nome e
qual é o seu problema, em poucas palavras, depois o grupo vai
escolher apenas um para ser trabalhado hoje. (BARRETO, 2005, p.
94).
Essa é uma das muitas formas possíveis de preparar o grupo para a “escolha
do tema.” O terapeuta pode dirigir-se ao grupo por mais de uma vez, com a seguinte
pergunta: “quem gostaria de compartilhar aquilo que está tirando o sono, causando dor
de cabeça?” Se ninguém fala, ele pode novamente evidenciar a importância de contar os
problemas para evitar sintomas, repetindo a frase popular: “quando a boca cala os
órgãos falam; quando a boca fala os órgãos saram.” De modo geral, as pessoas
entendem o significado das metáforas e se liberam para contar o que está acontecendo,
por que vieram à terapia.
Nessa sessão que estou agora descrevendo, a terapeuta também utilizou
essas palavras para estimular os participantes que, naturalmente começaram a se
colocar, levantando a mão, e explicando em breves palavras os motivos de estarem ali.
Quando alguém começa a freqüentar as sessões, é comum ficar mais reservado, temer
um pouco o grupo, ter medo de falar, mas, após duas ou três experiências, a pessoa já
passa a conhecer o ritual e sentir uma certa segurança que lhe permite enfrentar o risco
de expressar-se. O desenvolvimento dessa autonomia é auxiliado pela postura do
“terapeuta comunitário”, e de um ou dois co-terapeutas, cuja função é suscitar o
potencial terapêutico do grupo.
É importante para isso o bom desempenho dos papéis de terapeuta e co-
terapeuta, que devem ser acolhedores e tranqüilos, para oferecer um suporte emocional
a todos os participantes. Para o exercício da função de terapeuta, não se exige o nível de
escolaridade superior, uma vez que a terapia é um espaço de escuta onde não se utiliza o
enfoque na doença e não se trabalha com diagnósticos. O terapeuta comunitário deve
estar bem consciente dos objetivos da terapia e de seus limites. Ao fazer uma
intervenção, ele deve ter o cuidado de não extrapolar a competência da função de
61

terapeuta, que não é a de tentar “resolver” os problemas das pessoas e, sim a de suscitar
uma dinâmica que possibilite a partilha de experiências e criação de uma rede de apoio
aos que sofrem. Barreto explica:
O terapeuta comunitário não deve assumir o papel de um
especialista, psicólogo ou psiquiatra, fazendo interpretações ou
análises. Os especialistas desenvolvem habilidades e sabem lidar
com os traumas profundos, com as doenças. O terapeuta deve
trabalhar a competência das pessoas, procurando, sempre através de
perguntas, “garimpar” o saber produzido pela vivência do outro.
Deve, pois, resgatar e valorizar o “saber” produzido pela
experiência, pela vivência de cada um. [...] Através das perguntas, da
qualidade da escuta, o terapeuta vai ajudando a pessoa a tornar mais
claras suas questões, no sentido de fazer suas próprias descobertas
(BARRETO, 2005, p.44-45).
Em geral, o terapeuta procura manter o foco de sua abordagem na dor
existencial, no sofrimento humano, nos aspectos que podem ser compartilhados por
todos. Durante a sessão, à medida que as pessoas vão colocando seus problemas, ele vai
anotando o nome e as queixas das pessoas, organizando a votação. É permitido que o
grupo coloque até um número de oito a dez situações-problema para que daí uma seja
escolhida para ser trabalhada.
Nessa sessão, eu estava tentando me desvencilhar do olhar comum, de quem
já conhece a terapia e também do papel de psiquiatra que de vez em quando teimava em
aparecer. Queria me comportar como uma etnógrafa “à espreita de fatos sociológicos
significativos [...] prevendo a existência de muitos mistérios etnográficos, ocultos sob o
trivial de tudo que vê.” (MALINOVSKI, 1984, p. 50). Centrada nessa perspectiva,
observava que os participantes estavam naquele momento pleiteando o espaço para
colocar seu caso em votação. Quem desejava falar, levantava a mão e aguardava sua
vez. Eu estava acompanhando todo esse movimento, e registrando no diário de campo
minhas impressões quando percebi que, por dentro, algo me intrigava em relação àquele
casal que o padre havia trazido. Isso porque, tanto o marido como a esposa, apesar do
semblante carregado e de assumirem uma postura de quem está em profunda tristeza,
não atendiam às solicitações da terapeuta para as pessoas colocarem na roda da terapia
suas preocupações, pareciam alheios, ausentes. Eu me perguntava por que, mesmo
vindos de tão longe, não participavam de nada. A terapeuta, apesar do sotaque sulista
que a distanciava um pouco de nós, nordestinos, procurava fazer um rapport utilizando
o linguajar simples da terapia, ela olhava para os dois, como se estivesse falando para
62
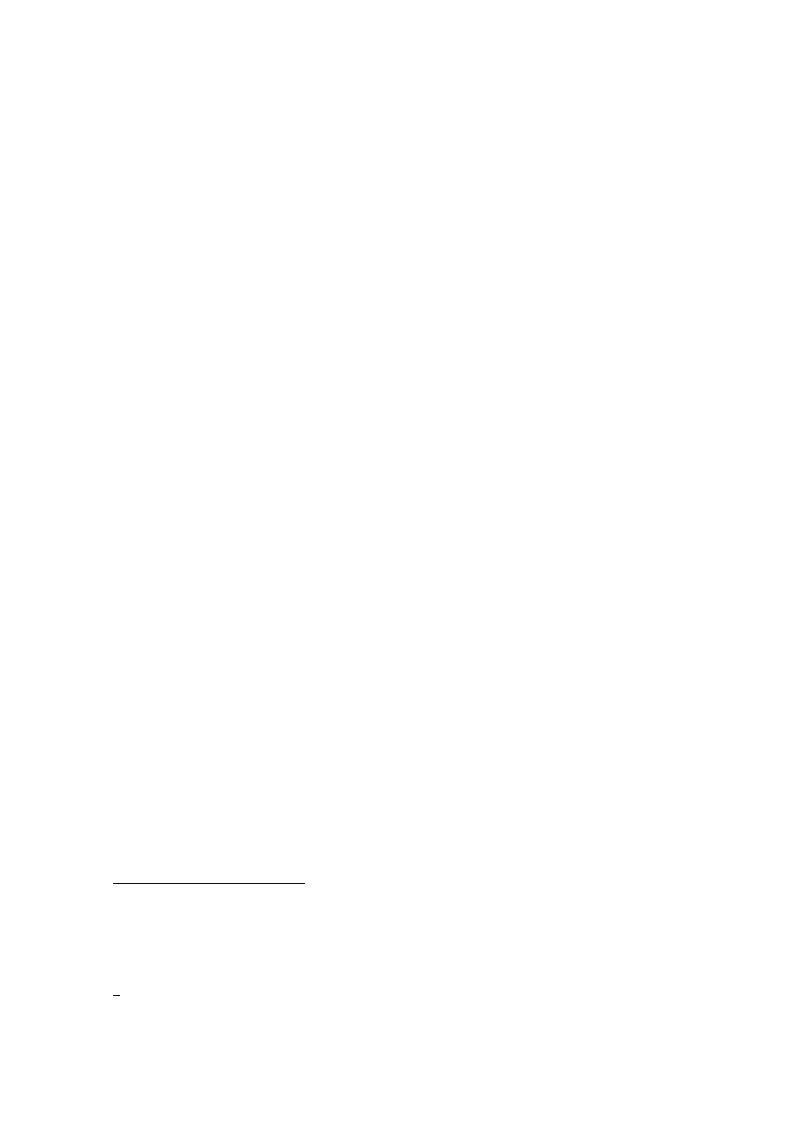
eles sobre a importância de expressar a dor, falando do sofrimento, antes que o corpo
respondesse com sintomas e somatizações. E o casal não reagia. Ela dizia tudo de novo,
com outras palavras, e eles, nada.
Enquanto vários participantes se interessavam em falar, tomando a iniciativa
de levantar o braço, e outros aguardavam sua vez, eles, que haviam se deslocado mais
de trezentos quilômetros, exclusivamente para vir à terapia, nem sequer se mexiam,
mais parecendo duas estátuas de cera. Até as pessoas do grupo já demonstravam estar
meio incomodadas.
Normalmente, quando todos os participantes que desejam ser escolhidos já
falaram, o terapeuta faz um breve resumo, perguntando ao grupo, em qual deles gostaria
de votar. Mas, antes dessa votação há um momento de reflexão em que se pede às
pessoas do grupo para comentarem qual a situação que acharam mais tocante e dizer por
que votariam nela. Qual a necessidade desse procedimento? Faz-se isso para instigar os
membros do grupo a também colocarem suas motivações. O porquê de votar neste ou
naquele caso, mostra algo sobre quem está votando, o porquê de sua escolha. O fato de
uma pessoa escolher tal história, e não outra está relacionado ao processo de
identificação e pode ser explicado pela teoria do inconsciente coletivo de Jung (1980),
segundo a qual os seres humanos guardam arquétipos, que são estruturas psíquicas
compartilhadas coletivamente.63 Por exemplo, se for trazida à sessão uma história
envolvendo violência entre pai e o filho, ela pode evocar o mito do Édipo, presente no
inconsciente coletivo de muitas civilizações. Por fazer parte desse inconsciente, é como
se tivesse algo a ver com cada uma das pessoas e estas podem se sentir tocadas por
algum aspecto da relação triangular entre pai, mãe e filho.
Desta forma, de acordo com os relatos trazidos à terapia, cada participante
tem a possibilidade de fazer uma viagem para dentro de si e, quem sabe, encontrar uma
ressonância daquele assunto com sua própria vida. E assim, conforme sua sensibilidade
e capacidade de empatia, desejará ou não que o tema seja trabalhado, porque, ao ser
tratado na sessão aquilo que tem a ver com ele, vai mexer com seus sentimentos,
63 Esses arquétipos podem assumir formas de temas mitológicos que aparecem em contos e lendas
populares. Por ação de estímulos, em sonhos ou nas manifestações artísticas, eles podem se apresentar na
mente das pessoas, sendo identificados no conteúdo de fantasias individuais ou grupais. Os arquétipos são
percebidos em comportamentos sociais em torno de experiências universais da vida, como nascimento,
casamento,
maternidade,
morte
e
separação.
Disponível
em:
<
http://www.rubedo.psc.br/dicjung/verbetes/arquetip.htm>. Acesso em 29.10.08.
63

emoções e lembranças guardadas no inconsciente, de forma que podem, de alguma
forma, ser elaboradas.
É por este motivo que o terapeuta pede às pessoas que explicitem,
justifiquem porque escolheram aquele caso e não outro. E, em seguida, ele procura
somar quantas pessoas votaram naquele determinado caso, pois estando interessadas
em que tal tema seja escolhido terão maior motivação em participar da terapia. O tema
mais votado será, provavelmente, aquele que mais se aproxima do inconsciente coletivo
do grupo e que, portanto permitirá a um maior número de pessoas, os insights, as
elaborações e a trocas de experiências. Segundo Barreto (2005), “O grupo se escolhe ao
escolher o tema. Quando um problema é mais votado, é porque a própria comunidade já
vivenciou a situação e já tem solução”. Após a soma dos votos, tendo-se escolhido o
caso a ser trabalhado, o terapeuta agradece a todos que manifestaram um problema,
explicando àqueles que não foram eleitos naquele dia, que podem, em outra terapia,
voltar a colocar seu problema em votação. Também se coloca à disposição para
conversar com estas pessoas, após o término da terapia, para auxiliar de alguma forma e
dar um encaminhamento em caso de necessidade mais urgente.
Nesta terapia ocorreu algo incomum: não se chegou a proceder à votação
porque, no momento em que as pessoas estavam colocando seus problemas para serem
votados, a senhora de Mombaça, que até então permanecera calada e aparentemente
ausente, de repente cai num pranto convulsivo, que, de tão alto, chama a atenção de
todos. Os freqüentadores mais antigos acostumados a presenciar situações semelhantes,
e manifestações psicológicas de todo tipo, entreolham-se, numa atitude de compreensão
empática, dirigindo depois o olhar à terapeuta, como que pedindo uma providência. A
mulher chorava inconsolável.64
Nesse instante, vi que o marido não se mexia na cadeira. Perfilado como um
soldado inglês, mantinha os olhos fixos no chão, sem perceber que estava sendo
observado pelo padre que, na extremidade oposta do círculo, franzia a testa, preocupado
com o choro da mulher que se tornava ainda mais dolente. Os gemidos dela
contrastavam com o silêncio que se fazia no grupo, pois, intuitivamente, as pessoas
pareciam dimensionar a gravidade da situação e se calaram, como se abrindo um espaço
para acolher aquela dor. Imaginando que fosse algo muito sério, nenhum participante
64 Os participantes já conhecem os pressupostos de um dos pilares que sustentam a terapia que é a Teoria
da Comunicação (WATZLAWICK, ), segundo a qual, todo comportamento tem valor de comunicação.
De acordo com essa visão, qualquer sintoma como o silêncio, o choro, o adoecer, é entendido como
expressão de conflitos e dificuldades nas interações com o meio.
64

ousou mais colocar qualquer assunto para ser analisado. Também ninguém reivindicou
que a terapeuta colocasse as propostas já faladas em votação. O grupo inteiro assumiu
uma atitude de espera, aguardando que um dos dois visitantes resolvesse contar o que
estava se passando com eles.
Após uns poucos e longos minutos nesse impasse, o padre, que também tem
formação em terapia comunitária, e que, portanto, conhece as regras, inclusive aquela
que diz que cada um deve falar por si, decide instigar o casal a se colocar. Mas antes,
pede desculpas ao grupo por romper uma norma do ritual, justificando o fato por estar já
há alguns dias muito aflito com a situação, sem ter conseguido auxiliar o casal de
amigos, e que por isso trouxe-os à terapia. Olhando para a mulher que não parava de
chorar e depois para o marido inerte, diz os seus nomes, dirigindo-se aos dois: “Sr.
Conrado, D. Amélia, por favor, eu queria que vocês mesmos se colocassem, que
falassem aqui pro grupo o problema que estão passando...” dito isso, aguarda uns
instantes, nos quais não se ouve qualquer pronunciamento. Apesar do fraternal apelo do
amigo e da gentil atitude do grupo, eles não reagem. Pelo contrário, os gemidos
desesperados de D. Amélia continuam e a aparente indiferença do marido cria um clima
de apreensão que eu jamais havia presenciado em outra sessão.
Como quem canaliza água de uma fonte para regar uma planta já quase sem
vida, o padre saíra esperançoso de Mombaça, trazendo o casal para Fortaleza, em busca
de alternativas. Conhecendo o potencial transformador da terapia, acreditava encontrar
ali o suporte necessário para ajudar o casal a enfrentar uma dolorosa perda. No entanto,
nesse momento, sentia-se totalmente impotente.
A terapeuta, percebendo que era sua a responsabilidade pelo
encaminhamento da situação, decide dar continuidade ao ritual da terapia, embora
pareça ansiosa, fazendo rabiscos com a caneta no papel onde vinha anotando os casos
das pessoas. Diante daquela inesperada crise de choro, não conseguira retomar ainda o
curso da sessão, mas, agora, resolve arriscar uma intervenção, dirigindo-se à senhora:
“D. Amélia, as pessoas estão só esperando para ouvi-la, olhe como ninguém quis mais
colocar nenhum problema hoje, desde que a senhora começou a chorar.” Apesar de bem
intencionadas e ditas com toda a delicadeza, suas palavras, no entanto, pareciam se
dissolver como bolhas de sabão, sem produzir qualquer efeito.
A situação se tornara angustiante a ponto de provocar nova tomada de
atitude do padre que, desta vez, dirige-se ao Sr. Conrado:
65

Olhe meu amigo, eu lhe peço que pelo amor de Deus, me atenda. Seria
bom se o senhor dissesse a essas pessoas o motivo que trouxe vocês
pra essa terapia. As pessoas aqui estão com o coração aberto, elas
podem ajudar nesse problema difícil que vocês estão atravessando.
Finalmente, talvez em sinal de consideração ao sentimento expressivo do
padre, esforça-se para acatar suas palavras e, tal um corpo sem alma, que de repente
respirasse pela primeira vez, aquele homem, que em seu habitat era forte como uma
rocha, começa a murmurar a muito custo como perdera o filho Rogério, de dezessete
anos, há pouco mais de uma semana, num acidente de moto. Porém, mal começa a falar,
cobre o rosto com as mãos e dispara um choro rouco, para desespero da esposa que
parece desfalecer, derreando-se na cadeira de lona, que haviam providenciado para ela.
Nesse momento, o grupo começa a cantar uma música que, apesar de muito
simples, tem um forte apelo afetivo, motivo pelo qual aparece em quase todas as
sessões: “encosta tua cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo tuas mágoas todas
para mim, quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora, que não vai embora
porque gosta de mim.” A maioria dos participantes já conhece, pois se costuma utilizar
essa música como recurso porque, além das palavras contidas na letra encorajarem o ato
de compartilhar sentimentos com o grupo, o tom suave da melodia, acompanhada ao
violão, cria um clima de emoção favorável às trocas afetivas, à criação de vínculos:
“Amor, eu quero seu carinho, porque eu vivo tão sozinho, não sei se a saudade fica ou
se ela vai embora, se ela vai embora, porque gosta de mim.”65
O som do violão e o calor humano que se desprende das mãos unidas dos
participantes, trazem ao presente todo o drama do acidente do filho, como o rebentar de
uma ferida que ainda sangra. O choro incontido dos pais contagia a todos. Ao se dar
conta de que há pessoas com lágrimas nos olhos, por sua causa, a mãe suspende o
pranto por um momento e, pausadamente como quem bebe um copo de água em
pequenos goles, coloca para o grupo umas poucas palavras: “Ele era um filho tão bom.
Fazia parte do coral da igreja (...) tocava umas músicas tão lindas no violão.” Sua voz
soa baixinho, como um lamento.
O fato de Dona Amélia ter começado a falar, apesar de muito timidamente,
surpreendeu a terapeuta, levando-a a modificar outra vez o ritual, e explorar o potencial
catártico do momento, deixando fluir os sentimentos que estavam emergindo. E assim,
65 Como nessa música, há em outras, diversos tipos de mensagens, ritmos e metáforas que podem ser
utilizados para acalmar ou animar. Conforme o contexto em que sejam colocadas, as músicas exercem o
poder de tocar de determinada forma, o campo emocional das pessoas.
66

passa à fase seguinte da terapia, conhecida como “contextualização” que, normalmente
só tem início depois que o grupo escolhe por voto um dos casos expostos para ser
trabalhado. Em geral, após a votação, a pessoa que foi escolhida tem de dez a quinze
minutos para discorrer sobre seu sofrimento, para explicitar melhor os detalhes do
acontecido e responder as perguntas que alguém deseja fazer para melhor entendimento
do caso. 66
Nessa sessão, como vimos, a história do acidente de Rogério nem chegou a
ser votada, pois, a forma inesperada como veio o assunto, levou a terapeuta, em
consenso com o grupo, a entrar direto na problematização, aproveitando a iniciativa de
Dona Amélia que, por um instante saiu da clausura psíquica em que estava antes,
compartilhando sua dor em tímidas palavras. A terapeuta agiu assim porque todos
pareciam concordar que era melhor tentar o diálogo com aquela mãe, e ela parecia pedir
ajuda, com seu choro desesperado. Na terapia, geralmente se evita dinâmicas em que
uns se sobreponham aos outros. As pessoas que freqüentam há mais tempo aprendem a
ceder o espaço coletivo a quem mais necessitar. Por diversas vezes vi pessoas que
traziam sofrimentos que esperavam colocar na terapia, renunciarem sua vez, em prol de
um outro participante.
Vejo que na cena descrita se expressa um aspecto político da terapia,
quando as pessoas abdicam de trazer outros casos, porque o tema da perda parecia tocar
de uma forma ou de outra todo o grupo. Era uma decisão tomada pelo grupo, em prol do
bem comum dado que, na vida de cada pessoa certamente haveria alguma história de
perdas, ou algo semelhante. A terapeuta entendeu o posicionamento do grupo e,
sabiamente, optou por dar continuidade à sessão: “gente, vamos contribuir com Dona
Amélia, fazendo perguntas, pra facilitar o entendimento do problema que ela está
vivendo.” Movidas pelo real interesse em compreender o porquê do choro e do
sofrimento, as pessoas, naturalmente, deram continuidade à sessão, começando a
indagar ora ao pai, ora à mãe pelos detalhes do acidente que levou à morte o jovem
adolescente.
Talvez pela timidez que lhe era própria, ou por se encontrar num quadro
depressivo, Dona Amélia, olhava para as pessoas que lhe faziam perguntas, como se
desejasse falar o que sentia mas não conseguia articular uma só palavra. Só depois de
66 Nesta fase, da problematização, é de praxe o terapeuta orientar o grupo para não fazer interpretações,
uma vez que o momento que é destinado apenas ao esclarecimento e busca de informações sobre o
problema.
67

ouvir algumas perguntas mais empáticas, e das demonstrações de compreensão e
carinho na atitude das pessoas, aquele grupo que lhe parecia estranho e potencialmente
hostil foi lhe parecendo mais amistoso. Achando-se ingrata com as pessoas que
demonstravam tanta simpatia e bondade, a ponto de renunciarem falar de seus
problemas para escutar o dela, num dado momento sentiu-se compelida a sair do
mutismo e falou como se dissesse para si mesma: “foi um cara que só vive bêbado que
bateu na moto. Derrubou o menino. E foi ali mesmo na hora, nem deu tempo de levar
ele pro hospital.” Após dar alguns detalhes do assunto, ela interrompe a fala para assoar
o nariz na própria roupa, enquanto um rapaz, talvez prevendo que ela fosse retomar o
choro, de imediato e com certo tom de indignação ou desejo de vingança faz uma
pergunta: “E o que vocês fizeram com esse cara?”
Nesse instante, o Sr. Conrado ergue a cabeça como se atingido em sua moral
de sertanejo respeitado e responde taxativo:
Nós não fizemo nada, não sinhô, todo mundo lá conhece o cara e sabe
que ele é um alcoólatra, um home desses valente, maluco, que não
adianta ninguém se meter com ele. Nós entregamo a Deus mesmo ...
Ele é quem sabe. E continua a falar no filho: O que importa pra nós é
nosso Rogério e as duas meninas, e agora nós tem só a Raiane que tem
treze anos e a Raissa que tá com onze. O que importa é só isso. Esse
cara aí, não me interessa o destino dele não.
A pergunta do participante, feita em tom vingativo, mostra que ele havia se
incomodado de alguma forma com o assunto que antes era particular, da família do Sr.
Conrado e agora se incorporava à vivência do grupo. O sofrimento do Sr. Conrado
passa ao domínio do grupo, começando a fazer parte da experiência de cada
participante. Por isso, pode-se dizer que o grupo é o “elo perdido do psiquismo”
(CORREA, 2000). Já vi Adalberto, por diversas vezes, lembrar nas sessões que o ato de
partilhar experiências, faz com que todos se tornem parte do problema e também da
solução. Ele se refere ao conceito de globalidade e à possibilidade de solução coletiva,
que são pressupostos da teoria sistêmica. (CAPRA, 1996; BERTALANFFY, 1975).
Durante a terapia, o diálogo com o grupo modifica o sistema de interpretação que o
sujeito tinha anteriormente, de modo que suas antigas concepções são questionadas ou
complementadas pelos novos ângulos de visão que são despertados a partir da
convivência com os outros.
68

No caso em foco, o questionamento do rapaz, se o Sr. Conrado tinha tomado
alguma atitude quanto ao dano sofrido pelo filho, desestabiliza as defesas neuróticas que
o mantinham calado e distante das pessoas. Ao sentir-se instigado pela pergunta, ele se
mobiliza para explicar o seu posicionamento de transferir para Deus a condição de fazer
justiça. Não conseguira ficar neutro diante da provocação, teve de reagir. Pode-se ver
neste exemplo que a simples comunicação entre os participantes cria novas
possibilidades de percepção do sofrimento e questionamento de crenças limitantes. A
pergunta do rapaz leva o Sr. Conrado a confrontar-se com o seu sofrimento, com seus
princípios e valores. Quem sabe, a partir dali ele faça uma reflexão, ou até tome outra
atitude?67 Um dos aspectos do poder transformador da terapia é a possibilidade de
ampliação da percepção de si e dos outros, de uma compreensão também maior dos
sintomas e seu significado. Desta forma, novas leituras podem surgir a partir do
momento em que a discussão do problema passa a ser ordenada pelo ritual da terapia.
Pouco a pouco, o casal foi compreendendo os procedimentos da terapia, que
são de conhecimento de todos e todos podem lançar mão. E assim, Dona Amélia, como
se recobrasse as forças, ao ouvir o tom altivo da voz de seu marido, respondendo à
provocação do rapaz, levanta os olhos, e já fixa o olhar em alguns dos participantes,
enquanto fala com a autoridade de quem viveu a história:
Faz treze dias hoje que o Rogério vinha trazendo do colégio a irmã
que tem treze anos. Ela tava na garupa da mobilete. Essa mobilete ele
tinha ganhado no aniversário dele, que foi em março. O cara que bateu
só vive embriagado. Dirige feito um doido. Nem quero falar nisso.
E começa a contar como era boa sua relação com o filho, e, em tom mais
emocionado:
Um domingo de manhã ele chegou, me pegou assim com as mãos e
disse: ‘Mãe vem ver a música que eu aprendi. Senta aqui”. Gesticula
ao mostrar como ele fez: Fez eu me sentar assim, bem na frente dele e
tocou uma música todinha, a coisa mais linda.
Uma mulher ainda nova na terapia pergunta se ela lembra qual era a música.
Balançando a cabeça afirmativamente, ela fala num tom quase natural: “eu sei até cantar
ela porque é da igreja.”
67 Muitas vezes, novos ângulos de interpretação, que surgem no diálogo, levam à busca e utilização de
outros recursos terapêuticos como a terapia da auto-estima e massoterapia, dentre outros.
69

Uma outra senhora da comunidade que conhece uma infinidade de músicas
populares e também da igreja, interrompe Dona Amélia com a voz de quem pede um
favor, e propõe: “Então canta pra nós, um pedacinho”. Apesar de já estar rouca de
chorar, ela cantarola os primeiros versos e uma das freqüentadoras mais recentes, como
se começasse a compreender agora o sentido da participação na terapia, puxa o refrão da
música que já cantara muitas vezes em sua igreja. Outras pessoas que freqüentam há
mais tempo a terapia vão formando coral improvisado, enquanto, por entre as lágrimas,
Dona Amélia vislumbra os rostos daqueles homens e mulheres que parecem estar ali
apenas para lhe oferecer apoio e alento.
Diante das emoções intensas que surgiram, eu não conseguira mais observar
tão “cientificamente” como pretendia. A esta altura, sentindo-me irmanada com as
pessoas, resolvi abandonar a postura de etnógrafa que eu estava tentando manter e me
entreguei inteiramente à experiência. Agora, totalmente envolvida com o que estava
acontecendo, preocupava-me em acompanhar o coro de vozes, sem deixar, nem por um
minuto de prescrutar o semblante daquela mãe que agora parecia se iluminar, ao som da
música que tomava conta do espaço. Observava, não mais pela pesquisa, mas porque eu
desejava que, pelo menos naquele instante, ela encontrasse um pouco de paz. Quem
sabe, através da música ela conseguisse sentir a presença espiritual do filho? Eu mesma
queria acreditar que ele estava ali presente, escutando, e até sentindo o aconchego das
pessoas que se esforçavam para compartilhar com seus pais a angústia e a saudade.
Os sentimentos de solidariedade do grupo fluíam entre as notas da melodia
que pareciam tecer uma teia protetora sobre Dona Amélia, Sr. Conrado, a gente da
comunidade, os alunos do curso de terapia, o padre, a terapeuta, os visitantes e eu que
também, cantava de mãos dadas, na mesma sintonia. Mergulhada na experiência como
qualquer um daqueles participantes, já não me inquietava ao lembrar da tarefa à qual
tinha me proposto naquele dia, de identificar os elementos do ritual que poderiam ser
considerados dispositivos potencialmente transformadores.
Não me contentaria em apenas ver e registrar o que estava acontecendo. E,
mesmo se quisesse, não poderia me furtar à intensidade do encontro com aquelas
pessoas que estavam se doando inteiramente para recompor de uma nova forma a
história dos pais de Rogério. Jamais tinha vivenciado numa terapia a sensação tão viva
de proximidade com alguém como me senti próxima àquela mãe. Enquanto cantava
junto a ela, cheguei a sentir algo estranho em meu corpo como se passasse por ele uma
70

energia que transformava a percepção que estava tendo da terapia, a percepção que eu
tinha de Rogério, de seus pais, de sua dor e de todo o grupo.
Assim como, para mim, cantar a música que Rogério gostava era o que fazia
mais sentido, também era para o grupo uma forma de homenagear Dona Amélia pela
sua dor e também um chamado para ela participar, experimentar a sensação de formar
vínculos, de estar na teia, na corrente.
Quando, finalmente, saí por um momento do clima emocional, observei que
a mãe já não se mostrava alheia como antes. Como um céu que se torna transparente
após a chuva, o semblante fechado de seu rosto magro se abrandou. O pai, por sua vez,
trocara a indiferença inicial por um ar de expectativa, como se esperasse que o
desenrolar da terapia trouxesse alguma novidade capaz de estancar de vez o choro da
esposa e mandar para longe aquele sofrimento.
Creio que, para ambos, se a terapia antes representava algo ameaçador,
passa a ser considerada sob novo prisma. O caos das sensações difusas e da dor antes
pouco elaborada devido ao isolamento e à solidão são substituídos pela verdade do
sentimento fraterno do grupo, uma verdade ali sentida e, portanto, densa e cheia de
significados. O ambiente ritualístico da sessão onde as pessoas demonstraram
solidariedade em palavras e gestos, produziu no íntimo dos dois, conexões inusitadas
que foram reorganizando a vivência da perda.
Para analisar esses aspectos da dinâmica interna dos sujeitos na sessão,
busquei subsídio nos escritos de Geertz (2000). Ele traz dois conceitos importantes
formulados pelo psicanalista Heinz Kohut68. O primeiro deles é o conceito de
experiência próxima e o segundo, o de experiência distante. Geertz assim define o
primeiro:
O conceito de experiência próxima é mais ou menos aquele que
alguém – um paciente, um sujeito, em nosso caso um informante -
usaria naturalmente e sem esforço para definir o que seus semelhantes
vêem, sentem, pensam, imaginam, etc. e que ele próprio entenderia
facilmente, se outros o utilizassem da mesma maneira. (2000, p. 87)
Exemplos desse tipo de experiência seriam o medo, a culpa, o amor, tal qual
alguém pode sentir e expressar quando sente. Já a experiência distante seria aquela
68 Heinz Kohut (1977) Criador da escola chamada Psicologia do Self, com ênfase na normalidade e
patologia dos transtornos narcisistas. Atribui a ameaça de fragmentação do Self como gênese do adoecer
humano.
Disponível em: <http://www.ligare.psc.br/leituras/self_des_saudavel_pg2.htm>. Acesso em 29/10/08
71

criada pelo pesquisador ou teórico para entender coisas que, para outras pessoas são de
experiência próxima. Portanto, quando alguém percebe que o outro provavelmente está
sentindo medo, e diz que ele tem uma ‘fobia’, está utilizando um termo da nosologia
médica, na tentativa de traduzir de forma categorizada aquilo que o outro sente, sua
experiência próxima. Do mesmo modo, quando se analisa o comportamento. Foi
exatamente o que fiz ao tentar decodificar o que estava acontecendo com as pessoas do
grupo, a terapeuta, Dona Amélia e o esposo.
Segundo Geertz (2000, p.91), é por meio do conceito de experiência distante
que o teórico tenta entender a experiência próxima do sujeito que ele observa. O autor
acrescenta que ninguém sabe da experiência dos sujeitos como eles próprios e faz uma
crítica à atitude do pesquisador de “andar por aí, investigando o que se passa pela mente
alheia”, mostrando a cautela que se deve ter, uma vez que as concepções de mundo
variam de um grupo para outro. O autor alerta para o cuidado ao se analisar a
experiência de outrem:
Em vez de tentar encaixar a experiência das outras culturas dentro da
moldura desta nossa concepção, que é o que a tão elogiada ‘empatia’
acaba fazendo. Para entender as concepções alheias é necessário que
deixemos de lado nossa concepção, e busquemos ver as experiências
de outros com relação à sua própria concepção do ‘eu’. [...] A meu
ver, o etnógrafo não percebe – principalmente não é capaz de perceber
– aquilo que seus informantes percebem.” Ele diz que tudo que o
pesquisador consegue perceber é através de que os outros percebem. E
isso ele só consegue analisando as formas simbólicas- palavras,
imagens, instituições, comportamentos – em cujos termos as pessoas
realmente se representam para si mesmas e para os outros, em cada
um desses lugares. (GEERTZ, 2000, p.90-91)
Nesse sentido, buscando conhecer as experiências dos sujeitos, por meio dos
símbolos, da linguagem e dos dispositivos utilizados na terapia, parti da observação
desta sessão do dia 7 de junho e também de outras a que assisti, para afirmar que a
música, a meu ver, é um dos mais potentes fatores de modulação do clima afetivo da
terapia, e pode ser considerada um instrumento catalisador. Já tive evidências disso por
diversas vezes, como certo dia em que ouvi uma moça relatar ao final da sessão, que
uma canção popular, trazida por um dos participantes durante a terapia, a tinha
conduzido a reviver importantes momentos de sua infância.
Em outra oportunidade, presenciei diversas pessoas falando de paixões e
sentimentos despertados na sessão, após ser cantada uma música romântica,
72

acompanhada ao violão. Tenho também observado que certos cânticos místicos tocam a
dimensão religiosa das pessoas. Fazem com que elas peçam para rezar uma oração, ou
chorar de emoção falando de seu vínculo com Deus, com sua fé. Assim, conforme o
estilo da música, o momento em que é cantada, o conteúdo veiculado nas palavras, o
choro brota ou pára, vem o riso, muda-se um assunto, faz-se uma ardente prece e quem
sabe, pode-se transportar a planos mais elevados da alma.
Após estas reflexões sobre a “experiência próxima” vivida pelas pessoas
que observei, a partir de minha “experiência distante”, cheguei à conclusão que, além de
evocar sentimentos e produzir sensações, a música tem o poder de estimular e fortalecer
vínculos do sujeito consigo mesmo e com as outras pessoas. Pude avaliar então sua
importância ao conferir maior efetividade à terapia, quer do ponto de vista individual
quer do coletivo.
Para Dona Amélia, por exemplo, o fato de ouvir as pessoas entoando a
música que o filho escolhera tocar para ela, pode ter significado que sua dor foi
realmente compreendida. Ela só conseguiu manifestar-se em palavras depois de
vivenciar a emoção da música. O grupo todo, cantando junto, significava que as pessoas
haviam se interessado por seu problema, vivenciando-o de forma tão fraterna que fez
com que se sentisse acompanhada. Isso ela veio revelar pouco depois quando disse que
o apoio do grupo fora fundamental para aliviar o remorso que sentia por ter comprado
aquela moto a pedido do filho, na véspera de seu aniversário. “Um rapaz tão novo”,
disse ela, lamentando, ao partilhar a dor da culpa que a perseguia e que lhe atava à dura
realidade. E a música foi a chave que abriu as comportas de seu coração, para revelar a
dor maior de todas para ela, a culpa que a massacrava desde a morte do filho. A culpa
era a pior dor, e também a mais inacessível. Talvez sozinha ela não chegasse a ler nas
entrelinhas de seus próprios sentimentos. Era só saudade que sentia? Quanto de mágoa
havia daquele bêbado que atropelara o filho? Mas onde estava o ressentimento de si
própria por ter comprado a moto? Quando entraria em contato com sua maior dor? O
padre trouxe-a à terapia. E ela, então encontrou, no ritual, o estímulo necessário e os
elementos favorecedores de seu encontro com o sofrimento, mas também com a porta
de saída de sua clausura.
Como se pode ver, a terapia, além de ser um espaço para a expressão
emocional, também possibilita mudanças na representação mental de sentimentos
negativos como medo, culpa, ressentimentos, que podem ser ressignificados por meio
da vivência em grupo. No caso em foco, a experiência de participar do ritual
73

acrescentou para o casal novos elementos que permitiram uma leitura com maior
riqueza de detalhes, aos quais se somaram as experiências dos outros participantes.
E assim, continuando o desenrolar do ritual, quando termina a música, todos
se sentam e a terapeuta solicita mais uma participação do grupo:
Agora eu peço que alguém que tenha sofrido algo semelhante,
como a perda de um ente querido, e que possa compartilhar com
Dona Amélia e o Sr. Conrado, fale sobre as formas que
encontraram para enfrentar o sofrimento, o que fizeram para
superar.
Com esta fala, ela dá início à problematização, fase em que ocorre a
“partilha” que é indiscutivelmente a função importante do ritual, momento
imprescindível da terapia porque é nesta hora que a dor é de fato compartilhada por
todos os membros do grupo.
Seu efeito terapêutico deve-se a dois aspectos importantes: primeiro, o fato de
compartilhar as vivências de outrem desperta nos participantes o sentimento de
pertencimento69 que é fundamental para restaurar a autoconfiança e o conseqüente
desenvolvimento de vínculos saudáveis consigo mesmo e com os outros. Em segundo
lugar porque, na partilha, o sujeito passa a ver que outras pessoas enfrentaram
dificuldades semelhantes às suas e conseguiram superar. Essa percepção pode contribuir
para a ressignificação do problema, além de constituir um aprendizado de estratégias de
superação, aplicáveis na vida cotidiana, um conhecimento do qual tanto o sujeito como
o grupo se apropriam. Maria Valneide, 34 anos. Casada, Zeladora. Conhece a terapia
desde o início, quando era criança, mas só a procurou para tratamento por conta “dos
sofrimentos da vida de casada, principalmente ciúmes”. Ao começar a participar de
maneira mais freqüente ela diz que ouvindo outros relatos semelhantes ao seu, tornou-
se mais “humilde”. Para ela, a terapia “representa a cura espiritual” [...] Hoje entendo
mais os problemas dos outros e tenho esperança de melhorar minha situação. Me
aconselho a mim mesma escutando os outros”.
Como se pode observar nas palavras de Valneide, por meio da partilha a
história de uma pessoa passa a fazer parte da experiência de vida de cada membro do
grupo. E dessa forma apesar de ser um grupo terapêutico aberto, a terapia fortalece as
pessoas que passam a conhecer umas às outras, e fazerem vínculos à medida que se
reencontram em outras sessões.
69 Segundo Correia, o grupo funciona como o elo perdido que reúne o imaginário das pessoas com o
sentimento de pertencimento, de afiliação, através do vínculos .
74
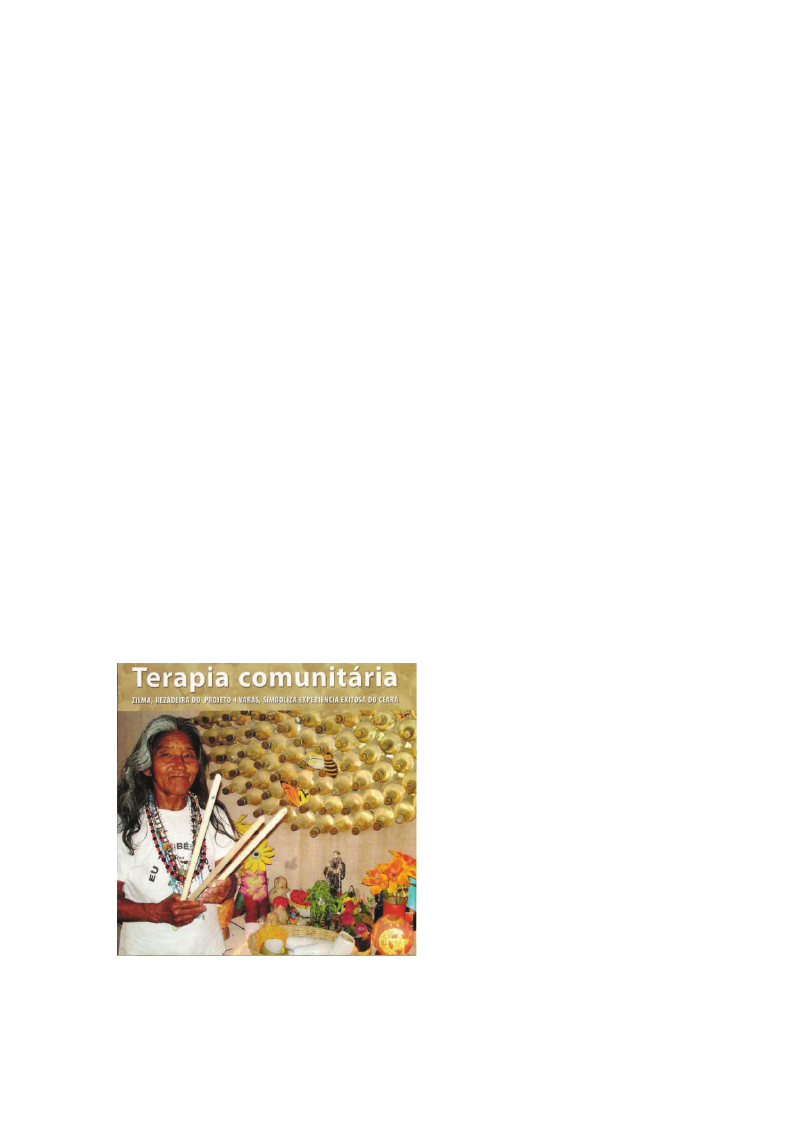
Consciente de tudo isso que foi falado acima, a terapeuta formaliza o
momento da partilha lançando para o grupo a pergunta: “Quem já viveu uma
experiência semelhante à de Dona Amélia e do Sr. Conrado? e o que fez para superar?”
Alguns dos participantes se preparam para relatar suas vivências quando Dona Zilma
Saturnino de Oliveira, uma senhora de 67 anos, nascida num bairro da periferia de
Fortaleza e antiga moradora do Pirambu, começa a falar muito espontaneamente sobre
a morte de seu filho, de vinte anos, assassinado violentamente, há cerca de três anos,
pelos membros de uma gangue:
Eu só tinha dois rapazes, o mais novo e mais dedicado a mim, que era
meus pés e minhas mãos, era quem fazia tudo lá em casa. Foi esse que
eles perseguiram, até matarem ele. E ele nem tava bebendo nesse dia.
Eu fiquei num desespero porque já sou viúva e tudo meu era com ele.
Pegaram ele na porta de casa. Fiquei maluquinha mesmo. Não comia,
nem dormia, até que me internaram no hospital mental e depois foi o
Dr. Adalberto que me trouxe aqui pra terapia. Se não fosse ele e o
Airton terem me dado esse apoio eu não sei o que teria sido de mim. E
também botei o joelho no chão e rezei. Ainda hoje eu sempre rezo.
Pergunta se pode rezar e quando a terapeuta a autoriza, vai para o centro do
salão, fecha os olhos e começa uma oração com a voz fervorosa de quem sabe falar com
seres de outro mundo. Ao final, pede a Deus uma bênção para todo o grupo e volta ao
seu lugar, começando a relatar sua chegada ao Projeto e como conseguiu transformar
sua revolta em novos objetivos de vida.
Numa das primeiras vezes
que visitei Quatro Varas, me
apresentaram Dona Zilma como a
“rezadeira”. Naquela ocasião, havia
umas cinco ou seis pessoas esperando
para serem benzidas por ela e eu
também entrei na fila, pois, além da
vontade que senti de conhecer o poder
de suas orações, esperava de fato
sentir o efeito delas, pois, em minha
Figura 16: Dona Zilma, a rezadeira
infância convivi com essa crença,
influenciada por meus avós e ainda
hoje a conservo. E realmente, posso dizer que me senti mais “leve” com a reza, e, foi, a
75

partir daí, que comecei a conversar mais com Dona Zilma, a observar seu
comportamento no grupo, principalmente quando soube que era ela uma das
importantes personagens da terapia, pela transformação de sua vida e, principalmente,
porque foi a primeira pessoa a priorizar no ritual da sessão, a religião como forma de
cura.
Depois, ela se tornou ainda mais “reconhecida” porque, além de ter
superado a vivência da trágica morte do filho, venceu o diagnóstico de psicose, saindo
de um ciclo de internações psiquiátricas e hoje auxilia muitas pessoas na terapia.
Diariamente no Projeto, ela conta sua origem indígena e reza nas pessoas, atividade em
que consegue alguns trocados (dados espontaneamente). Em seus depoimentos nas
sessões e também nos jornais e revistas que a procuram, nunca esquece de frisar a
participação marcante do Adalberto e do Airton, em sua vida: “Eu era doente até vir me
tratar aqui com o Dr. Adalberto. Eu era doente porque tinha o dom de curar e não
sabia”. Adalberto, em uma das sessões em que ela estava presente, relembrou que antes
de chegar ao Projeto, “lá na comunidade, Dona Zilma era conhecida como “doida de
pedra”. Ele conta:
Ela vivia se internando nos hospitais, no Mira y Lopez, ela fugiu de lá,
mas quando chegou aqui, não olhei a doença dela. Um dia uma pessoa
passou mal na terapia, e ela disse que era um encosto. Ela perguntou
se podia rezar na pessoa. Eu disse: pode ir e ela foi lá, rezou e depois
disso as pessoas começaram a chamá-la de curandeira e a pedir que
ela rezasse em alguém. Desde esse tempo ela não precisou mais de
hospital.
Esse relato mostra a diferença de abordagem entre o modelo biomédico e a
terapia. No primeiro, a relação médico-paciente estabelecida tem implicações no
imaginário de ambos, médico e paciente, de modo que o primeiro, o médico, tem
historicamente o poder e a responsabilidade de estabelecer as regras do processo de
cura, enquanto o segundo, paciente, fica numa condição passiva e até de certa
dependência.70 Na terapia, essa estrutura de relação é questionada e, por vezes invertida
pelo processo de empoderamento, como acontece nesse exemplo em que Dona Zilma
reinvidica para si o poder da cura. Inverte a posição, de paciente, “doente mental” para
resgatar o poder da tradição dos curandeiros, o poder místico presente nas
representações sociais dos brasileiros, haja vista as origens indígenas das práticas
70 Os aspectos de hierarquia e poder embutidos nos diferentes modelos etiológico-terapêuticos e
especialmente no modelo biomédico e na terapia serão discutidos ao longo dos capítulos.
76
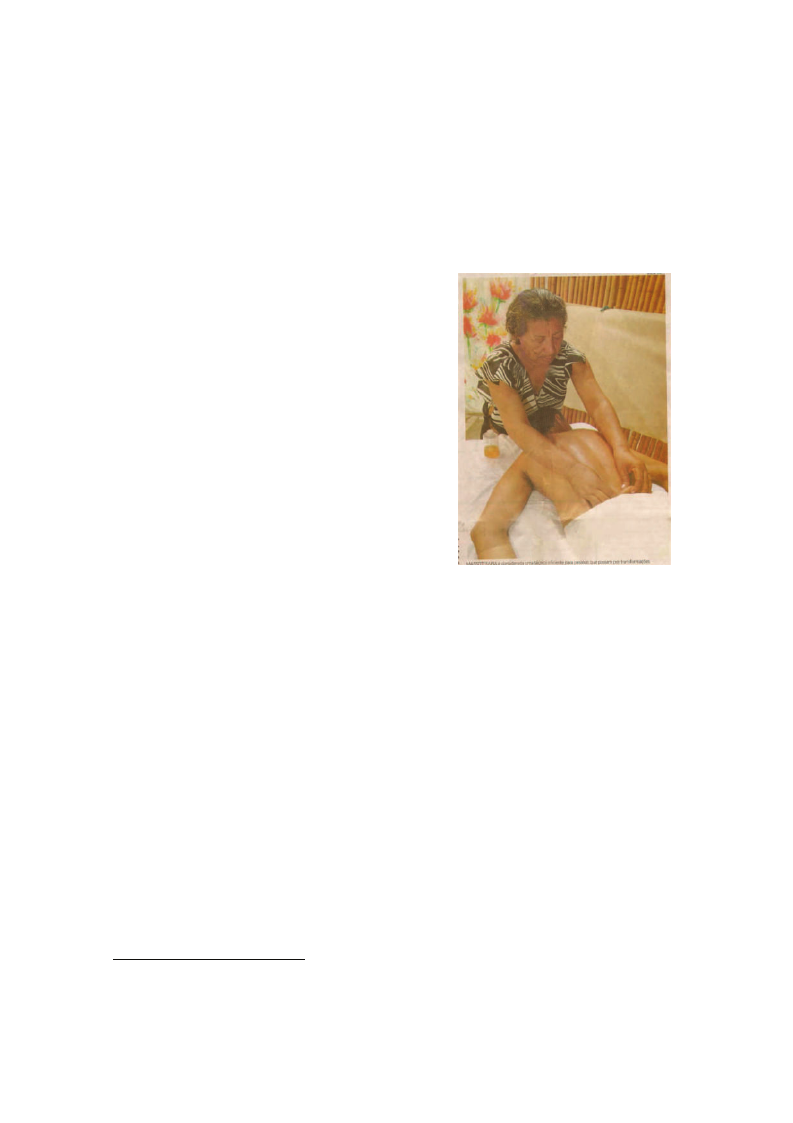
populares de cura no Brasil - colônia.71 A convivência com ela no âmbito do Projeto e a
observação de algumas de suas intervenções na terapia, como nesta que descrevo, me
confirmaram a importância da manifestação da religiosidade nas sessões.
Outro aspecto que a convivência com Dona Zilma me despertou foi sobre a
posição social das mulheres na terapia, cuja influência se dá não só pelo suporte afetivo
que elas oferecem, como também pelo poder de seus cânticos e rezas, que, como disse,
passaram a ser mais valorizadas na terapia depois
que ela chegou. Ao longo de minhas observações e
também em diversas entrevistas com mulheres,
percebi que o contexto ritual da sessão favorece a
fala e estimula a capacidade de superação dos
problemas cotidianos. Essa possibilidade,
certamente faz com que, a exemplo de Dona Zilma,
outras mulheres se sintam encorajadas a abandonar
atitudes culturais de submissão para assumir
posições de poder, preenchendo os espaços
organizacionais nas atividades do Projeto72 e
desempenhando uma importante função para a
Figura 17: Dona Francisca, massoterapeuta
eficácia terapêutica das sessões. Uma dessas
guerreiras que lutam pela vida, a sua e a dos outros é a “Dona Francisca”, Francisca das
Chagas Oliveira, 59 anos, casada, massoterapeuta. Quando veio conhecer a terapia, há
mais de quinze anos atrás, ela havia saído do Hospital Mira y López onde se internou
por diversas vezes, decepcionada com marido e filhos:
Eu ficava louca porque era espancada pelo marido, uns filhos usavam
drogas e outras eram lésbicas aí vendi a casa e comprei outra noutro
bairro, quando tava louca. Tentei suicídio quando ainda não conhecia
ainda o Projeto. Fui convidada e recusei de início, aí quando vim
conheci o Adalberto, fui bem acolhida e contei toda a história pra ele.
Ele diminuiu os remédios e participei ativamente da terapia, me sentia
em família. Eu aprendi que ‘Quem guarda, azeda. Quando azeda,
estoura. Quando estoura, fede’ A terapia é um desabafo onde você é
ouvida e fala, não é julgada nem criticada. Aprendi a escutar, me
valorizar, a amar a mim própria. Aqui eu renasci. Depois fui
convidada para ser massoterapeuta, fiz um curso que me trouxe amor,
71 A história da medicina popular no Brasil e suas relações com o modelo biomédico será tratada no
capítulo II.
72 Refiro-me a atividades voluntárias ou remuneradas que existem no Projeto como mutirões de limpeza,
trabalhos na farmácia-viva, e outras.
77

paz, tranqüilidade, passei a cuidar do outro.Quando eu trabalho nas
massagens toda preocupação é levada me faz sentir melhor. Não
guardar só para si.
O conceito de eficácia simbólica, de Lévi-Strauss (1967), permite que se
faça a hipótese de que nas curas obtidas por meio da terapia encontrem-se elementos
daquelas promovidas pelo psicanalista e pelo xamã, abordagens terapêuticas nas quais a
eficácia do ritual se dá quando um processo curativo é mobilizado a partir da estrutura
simbólica do “paciente”. O autor busca respaldo em Freud (1994) que afirma que as
perturbações psíquicas têm uma correspondência fisiológica, até mesmo bioquímica
denotando uma ligação concreta entre corpo e atividades psicológicas. De fato, na visão
Freudiana são os conflitos reprimidos que geram sintomas, por isso a psicanálise
trabalha para torná-los conscientes. D. Nelza, de 64 anos, solteira, antiga freqüentadora
da terapia, parece ter assimilado esses conceitos quando responde ao ser indagada pelo
motivo pelo qual continua participando há tanto tempo: “vim aqui tratar da depressão e
da artrite e não vou deixar de vir porque me sinto bem” [...] “a gente fala dos problemas,
melhora ”
A terapia também tem elementos semelhantes ao xamanismo. Nas práticas
xamânicas a cura depende da relação de crença entre o curador e o sujeito que o procura
em busca de ser curado. O ritual utilizado pelo xamã busca levar a uma reorganização
da estrutura psíquica a partir da resgate vivencial de um mito, de um aspecto da cultura
que é então reelaborado de uma outra forma. Como no caso de Rogério. A morte,
enquanto elemento da cultura, visto como algo definitivo, na terapia é trabalhada dentro
da perspectiva do mundo simbólico.
A música traz sua presença. As pessoas compartilham sua história que passa
a ser um evento simbólico que foi capaz de agregar as pessoas a seu redor, unindo
todos os participantes ali presente, numa mesma vibração emocional. A história dele e
de seus pais passam a fazer parte do repertório vivencial de cada um que se emocionou,
que tomou alguma iniciativa, passa a ser parte da história da própria terapia. Poderá ser
evocada outras vezes como símbolo. E como tal terá poder de resgatar esse momento,
de contribuir para unir as pessoas outra vez, em outra circunstância semelhante. Como o
filho de D. Zilma e ela também se tornaram elementos ritualísticos porque pertencem ao
repertório vivencial da terapia. D.Zilma já é quase um mito, é em si mesma um símbolo
78
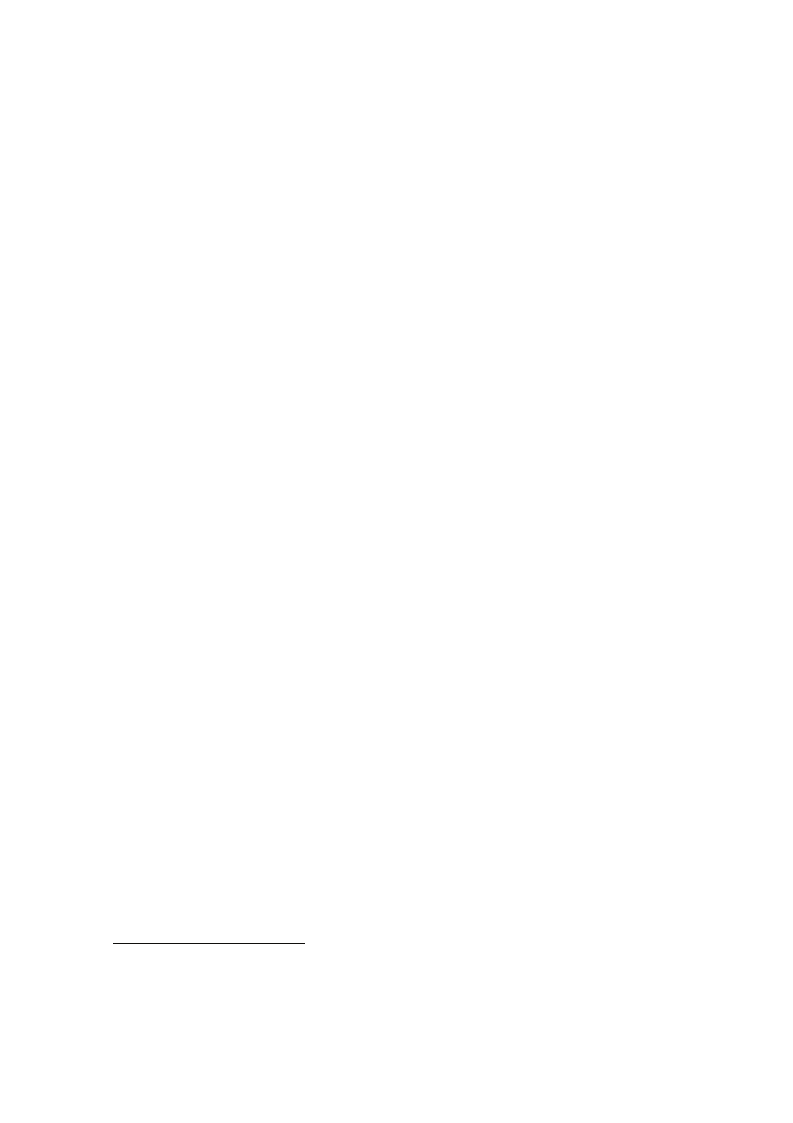
de transformação, uma xamã que cura com suas rezas, reunindo aspectos da dimensão
terrena ao plano divino.
Geertz (1989) diz que o símbolo é um elemento transmissor da cultura,
funcionando como fator de socialização, na medida em que incorpora os significados
socialmente construídos transmitindo-os historicamente. O sistema simbólico permite
que os seus traços culturais, e os conhecimentos socialmente construídos atravessem o
tempo, perpassando as gerações. Desta forma, a crença nas rezas de D.Zilma faz parte
do social, da cultura do Nordeste73 e se torna apreensível pelas outras pessoas como
algo real dentro de seu próprio sistema simbólico74. Há portanto, uma integração entre o
caráter social da eficácia do símbolo que produz a cura e sua porção interna, fisiológica.
Mauss(1974) em alguns de seus textos fala das relações simbólicas como bio-psico-
sociais.
Para Da Matta (1987, p. 158), a viagem xamânica é “um movimento
drástico em que, paradoxalmente não se sai do lugar.” Ele descreve a experiência
xamânica como “viagens” “para dentro ou para cima [...]” e afirma que as pessoas que
realizam essas viagens “são xamãs, curadores, profetas santos e loucos; ou seja, os que
de algum modo se dispuseram a chegar ao fundo do poço de sua própria cultura.” A
eficácia simbólica dessas práticas seria resultante da reativação e ressignificação de
conteúdos socialmente construídos e armazenados no psiquismo do sujeito. Com
relação à terapia creio que, como nesses métodos, ocorre uma mobilização de processos
inconscientes e recursos ligados ao processo saúde-doença, que emanam da experiência
cultural.
Nesse sentido, Lévi-Strauss (1967) deixa claro que a crença deve ser
compartilhada pelo grupo social ou comunidade da qual o paciente faz parte. Em
algumas situações citadas pelo autor, a família do “paciente” participa do ritual,
assumindo também um papel complementar na cura. Resumindo, os símbolos servem
como um ordenador da experiência, na medida em atraem e focalizam a atenção,
modulam a relação entre eventos no presente e no passado, e canalizam a experiência de
acordo com o contexto grupal. Isto torna os símbolos polissêmicos. Seus significados
73 A cura pelas rezas que remonta à época do Brasil Colônia é prática comum nas cidades do interior do
Nordeste Brasileiro.
74 Eu mesma, que nasci numa pequena cidade do interior da Paraíba, onde se usam muito as rezas, me
senti inclinada a entrar na fila das pessoas que esperavam pela reza dela, no dia em que a conheci. Meu
imaginário social, sobrepujando a racionalidade, admitiu de imediato a crença no poder da reza.
79

se multiplicam através da fusão contínua de informações que surgem enquanto o sujeito
constrói seu universo cultural e cognitivo.
No caso em foco, quando Dona Amélia escuta a música de sua igreja,
cantada por outras pessoas, sente que suas referências religiosas se tornam presentes ali
e são compartilhadas com o grupo. Sente-se identificada e valorizada por isto, que
imediatamente produz uma elevação na sua auto-estima e sensação de que não está
sozinha, de que encontrou seus pares, outras pessoas que têm suas mesmas referências
culturais.
Utilizando o modelo junguiano pode-se dizer que os elos do inconsciente
coletivo fazem com que se sinta pertencente de alguma forma àquele mundo. E, seja
qual for a teoria que se utilize para explicar o que acontece quanto à sensação de
pertencimento social e cultural, a realidade é que é algo fundamental para o bem-estar
do ser humano, tanto que diversos métodos terapêuticos preocupam-se com esse
aspecto, e, em especial a terapia comunitária, como o próprio nome já indica. Ali é
fundamental que a pessoa sinta-se à vontade para compartilhar os aspectos
significativos de sua vida. Segundo Helman (2003, p.170) “ A maneira como as pessoas
comunicam a dor- se é que o fazem- aos profissionais de saúde ou a outras pessoas
também pode ser influenciada por fatores sociais e culturais”. A dor inicialmente é um
“dado privado” o qual a pessoa pode revelar ou não em linguagem verbal ou não
verbal. “Quando isso acontece, a experiência e a percepção privadas da dor se tornam
eventos públicos e sociais: a dor privada se torna pública.(HELMAN, 2003, p.171). Os
fatores contextuais vão determinar se a dor se tornará pública e de que forma isso
acontecerá.
O momento da terapia, por exemplo é um contexto onde se estimula o
partilhar da dor. Existem garantias para isso. As regras de que não se deve julgar ou
interpretar são por todos conhecidas. A resposta dos participantes quando alguém deseja
compartilhar é algo relativamente conhecido por quem freqüenta já há algum tempo. O
fato de mostrar o sofrimento é sempre conotada positivamente. Até se agradece a quem
se dispõe a colocar na roda terapêutica o motivo que lhe tira o sono, o que está
preocupando. Então, a partir desses parâmetros conhecidos, as pessoas são encorajadas
a compartilhar mas, a decisão de tornar pública ou não a sua dor é de cada um. A cultura
transmitida a cada sessão é que falar é mais saudável que guardar as dores. Por esse
prisma, pode-se entender que, aquele que não fala que sente, poderá desenvolver
80

sintomas, ficar doente. “Quem guarda azeda, se azeda estoura...” dito isso em linguagem
comum, todos entendem. Quem aceita essa crença em geral, passa a falar mais de seus
problemas e a manifestar o que sente.E não é só falar. Outras manifestações também
aparecem, seja o choro, os gestos, expressões faciais, posturas faciais como assinala
Helman (2003, p.175) “todas adquirem significado a partir do contexto no qual
aparecem”.
A sensação de pertencer ao grupo e de saber como tudo funciona no ritual,
motiva a pessoa a falar, a expressar de alguma forma sua dor75. Cantar junto com o
grupo, por exemplo, é uma forma de se vincular a ele e assim permitir que as pessoas
lhe ofereçam apoio, e que a sessão atinja seu objetivo. A compreensão desse aspecto por
parte de Dona Amélia fica evidenciada no momento em que ela se esforça para
acompanhar o coro que naturalmente se forma. Ela demonstra claramente em sua
atitude que deseja cantar junto com os outros. Nessa hora, o vínculo grupal se estabelece
de tal forma que, até quem não sabia a letra, tentava acompanhar, acrescentando sua
parcela de contribuição afetiva, dando suporte e acolhimento. Faz-se o elo indispensável
à cura pela terapia.
Esses aspectos tornaram-se mais evidentes para mim nos momentos em que
saí da postura de observadora, entrando em contato com minha própria experiência, com
o que a trágica história vivida pelo casal me despertava. Só quando fechava os olhos e
chegava ao ponto de sentir a energia que estava circulando entre as pessoas, conseguia
perceber como se dá o efeito da terapia. A partir dessa vivência fui entendendo que os
efeitos terapêuticos só acontecem quando a pessoa consegue se envolver, quando ela de
fato participa. Foi graças a esse profundo envolvimento que Dona Amélia e o Sr.
Conrado, apesar do extremo sofrimento, conseguiram sair do mutismo inicial para
depois acompanhar todas as fases da terapia e dela se beneficiarem.
As expressões de amor e compaixão visíveis no rosto das pessoas trouxeram
conteúdos de experiência afetivo-intuitiva que serviram de base para que eles
elaborassem depois um raciocínio sobre o assunto, possibilitando uma releitura, mais
ampliada de sua dor. Quando escuta o testemunho de Dona Zilma e de Dona Amélia
identifica-se de forma mais concreta pelo fato de ter encontrado uma pessoa que
75 Fundamentando nos aspectos conhecidos e nos padrões ritualísticos mais ou menos previsíveis, o
participante enfrenta os riscos de tornar pública sua dor.
81

superou sofrimento semelhante ao seu.76 Vê-se na condição de comparar seu caso com o
de outra mãe, que, além de morar sozinha num barraco da favela, assistiu à morte
violenta do filho.
Se a outra mãe, que vivia em tão precárias condições psicológicas,
financeiras e sociais, conseguira sobreviver ao sofrimento, eles também poderiam.
Impressionados com o vigor e expressão de fé de Dona Zilma, Dona Amélia e Sr.
Conrado conseguem enfrentar a profunda tristeza que os mantinham alheios ao que
se passava ao seu redor e se dispõem a ouvir os relatos de outras pessoas que
também passaram por situações de perdas semelhantes e ali estavam contando a
história, ainda no momento da partilha. São depoimentos de pessoas que venceram o
desafio de perdas e construíram um saber baseado no senso comum e no processo de
aprendizagem instalado a partir da participação sistemática na terapia. Diante do
exemplo dessas pessoas, o casal abre novas perspectivas de análise de sua própria
situação, vislumbrando novas alternativas de enfrentamento do problema.
O caso de Dona Zilma serve para exemplificar como as mulheres da
comunidade, na maioria das vezes, são boas colaboradoras na hora da partilha. Isso se
demonstra tanto na disponibilidade em falar, quanto pela força de seu discurso que
talvez se deva ao fato de terem vivenciado e, muitas vezes, superado situações como
gravidez precoce, traições e abandono, ou carregam o peso de criar os filhos sozinhas,
dentre outras batalhas que elas enfrentam e que na terapia são contadas como rica
experiência de vida. Isto porque na terapia acredita-se que os melhores cuidadores são
as pessoas que mais sofreram. Tudo o que elas enfrentam capacita-as a construir e trazer
para a terapia um repertório de estratégias de sobrevivência.
O que se observa é que o aporte de conhecimento vivencial é um dos
fatores determinantes para que uma pessoa desfrute de prestígio no contexto da terapia.
Algumas mulheres que conheci nesse tempo de convivência, gozam de considerável
influência pessoal, por meio da qual controlam, de certa forma o ritual da sessão e
alguns aspectos da vida na comunidade. Esse valor é reforçado cada vez que elas se
expressam demonstrando um conhecimento verdadeiro da vida como aquele encontrado
no depoimento de Dona Zilma.
76 Muitas vezes, a terapia também pode auxiliar a pessoa no resgate de suas origens, trazendo aspectos da
vida no interior quando alguém indica chá de sabugueiro pra sarampo, ou fala no baião com torresmo, nas
surras que levava da mãe e a peleja de muitos que emigraram, e tentam sobreviver na cidade, enfrentando
nostalgia e a saudade do que lá deixaram. Os ditos populares, a linguagem cabocla, as músicas da igreja,
encontram ressonância afetiva no coração das pessoas porque falam das coisas que conhecem.
82

Dentro da premissa de que o conhecimento adquirido a partir da
superação do sofrimento é repassado aos outros na terapia, há também alguns
homens cuja participação tem sido marcante para o desenvolvimento do ritual. O
capítulo III aborda a história de vida de dois homens e duas mulheres, cuja
experiência e transformação, são dignas de apreciação. Um depoimento muito
contundente de um senhor de 63 anos é citado por Barreto (2000, p.78):
Me sinto arrasado. Acabo de perder meu único filho. Ele estava
doente, o médico queria operá-lo, mas eu era contra essa operação
porque tinha medo que ele morresse. O que mais me dói é que a
minha nora me enganou, levou ele pra operar e eu não tinha deixado.
Oh, meu Deus! Perdi meu filho e fui traído pela nora que me enganou
e, agora, estamos intrigados.
O autor refere que, a partir deste relato na sessão foram retiradas algumas
palavras-chave para constituir o que na terapia se chama de “mote”(ibdem, p.78). O
mote é uma palavra que serve para estimular a reflexão do grupo, na roda terapêutica, à
semelhança da palavra geradora do Círculo de Cultura. Na terapia é uma palavra que
tem força suficiente para reunir aspectos individuais e coletivos das dinâmicas internas.
Geralmente se refere a temas que suscitam a partilha de vivências psíquicas comuns. Se,
no contexto da educação popular a palavra “geradora” pode ser, por exemplo,
“tijolo”(FREIRE,1987), na terapia comunitária palavras como “medo”, “rejeição”,
“insegurança” podem identificar um sentido socialmente compartilhado pelo grupo, e
naquele momento favorecer a atuação do terapeuta ao colher elementos que levem a um
interesse compartilhado pelo grupo, o que vai potencializar o efeito das intervenções
terapêuticas.
Um exemplo de mote que surgiu na terapia realizada em 07 de julho de
2005 a partir de uma demanda colocada por George, de 37 separado há um ano e meio,
quando relata que a partir da separação passou a sentir um “vazio”. O terapeuta utilizou
a palavra como mote, indagando ao grupo: “Quem já sentiu um vazio e o que fez para
sair dele? ” Nessa sessão onde havia um total de 72 pessoas ( 53 adultos, 8 adolescnetes
e 11 crianças) eu selecionei 39 formas diferentes de enfrentar o vazio que foram
evocadas das experiências das pessoas presentes. Dentre essas citarei algumas elencadas
pelos participantes: “Coloco meu joelho no chão e rezo; trabalhando; sair pra não ficar
parada; se divertir; converso com alguém; fazer exercícios; leitura; pensar nos filhos e
em tudo que tenho; louvo ao Senhor; ver televisão; visitar os parentes;fazer compras;
83

tocar flauta; chorar, me trancar no quarto; fazer caminhada; ler a Bíblia; tocar violão;
pensar nos que sofrem mais que eu; telefonar pra alguém; escrevo poesia; pescar;cantar
hinos evangélicos; pesquisar na internet. ”
Cada pessoa descreve uma forma que já experimentou para superar aquele
tipo de problema. Entre a fala de um e outro, pode ser cantada uma música ou contada
uma história. Nesse dia, uma francesa que estava presente com sua flauta, foi convidada
a tocar e todos ouviram-na com atenção. Noutro momento foi cantada a música: “eu
tenho um amigo que me ama,(repete quatro vezes) que me ama com eterno amor; Nós
temos um amigo que nos ama, (repete quatro vezes) que nos ama com eterno amor.
Segundo Barreto (2005, p. 78) “O mote é a alma da terapia. Ele promoverá a
reflexão coletiva capaz de trazer à tona os elementos fundamentais que permitem a cada
um rever os seus esquemas mentais, seus conceitos e reconstruir a realidade.”: No
depoimento do Sr. Isaac, algumas palavras-chave podem ser retiradas para servir de
mote, como por exemplo, “Culpa”. A partir desta palavra pode-se perguntar ao grupo:
“quem aqui já se sentiu culpado?” “Perda”: “qual sua maior perda?” A questão da
“traição” pode gerar as seguintes perguntas: “Você já se sentiu traído de alguma forma?
O que mais dói numa traição?” O tema das relações familiares também pode ser
evocado: “Quem teve ou tem dificuldade de relacionamento com parentes?”
Como o mote presta-se a envolver um maior número das pessoas presentes,
o terapeuta pode aproveitar um determinado tema trazido pelo participante para fazer
questionamentos mais abrangentes, como o tema da perda de um ente querido, pode ser
ampliado para outros tipos de perdas, perguntando-se por exemplo: “E sobre outras
perdas, quem já perdeu algo importante e o que fez para superar essa perda?” A
exploração do tema por meio de perguntas mais amplas, abre o espaço para o diálogo,
facilitando a elaboração de uma gama de outras emoções, dores e sofrimentos que
emergem, dando oportunidade para as pessoas fazerem suas catarses.77 Além disso, esse
é um momento de grande aprendizado para o grupo no sentido de exercitar a reflexão e
o diálogo.
É preciso ressaltar que as histórias de domínio público e os provérbios
populares são importantes dispositivos para mobilizar sentimentos e percepções que
poderiam passar despercebidos. Seu Zequinha gosta de contar a história de um cavalo
que caíra em um buraco bem profundo e as pessoas jogavam terra sobre ele. Após
77 Na psicanálise, a palavra “catarse” significa liberação de conteúdos reprimidos do subconsciente por
meio da palavra ou da ação.
84

algum tempo aquela terra toda serviu para ele escalar e sair. Essa história mostra que
por vezes quando fraquejamos, cair num buraco pode ser ruim, e quando alguém ainda
“coloca areia”, pensando que vai nos soterrar, pelo contrário pode estar nos auxiliando a
nos fortalecer e aqueles obstáculos colocados podem ser até um trampolim para
alcançarmos o sucesso.
Dispositivos como esse são muito úteis na sessão porque, além de trazerem
para a terapia elementos culturais numa linguagem acessível, muitas vezes trazem
poderosas metáforas carregadas de sentido. Um desses provérbios muito utilizado nas
sessões para mostrar a importância de não guardar ressentimentos é: “Quem guarda
azeda, quando azeda estoura, quando estoura fede.” Há um outro bem sintético que faz
uma veemente crítica aos vínculos frágeis, inconstantes ou pouco duradouros: “quem
muito abraça, pouco aperta.” Existe também um bastante conhecido que alerta para os
riscos de não se tomar providências diante de uma situação: “Por falta de um grito se
perde uma boiada.”
Uma piada ou uma história engraçada podem também servir de recurso
alternativo no momento em que uma pessoa está em pleno choro ou está muito
depressiva. A introdução do bom humor para mudar o foco de sua atenção e desviá-la
do problema, possibilita a abertura a outras percepções. Já vi diversas vezes em sessões,
alguém contar um caso cômico envolvendo o tema que está sendo falado e quando
todos riem, a pessoa que está sofrendo e está sendo trabalhada, também se descontrai e
ri. Depois disso, a dinâmica da sessão pode tomar um novo rumo.
Uma vez, um rapaz que eu já havia visto várias vezes em outras sessões,
com crises depressivas, contou que havia tentado o suicídio porque a noiva o deixara
por outro e ele não se conformava. As pessoas tentaram em vão motivá-lo com
depoimentos e exemplos. Ele só chorava se sentindo vítima. Dizia que seu caso era o
pior de todos, que não conseguiria amar outra pessoa, que nada teria mais sentido e
coisas desse tipo. De repente, Maurício, um senhor que sempre vai às terapias e, que
gosta de chamar a atenção dos outros pelo senso de humor, pediu pra contar um caso lá
de seu interior, Juazeiro do Norte. E contou um incidente com “Seu Lunga”,
personagem de várias histórias que é um comerciante famoso na região do Cariri, por
ser muito direto em suas colocações.
Nesse episódio o “Seu Lunga” estava fazendo uma viagem a cavalo
acompanhado de um amigo quando, de repente, um vento forte tirou-lhe o chapéu da
cabeça, levando-o para longe. Ele não desceu do cavalo para buscar o chapéu, nem
85

sequer olhou para onde o vento o arrastara. Continuou a viagem naturalmente, deixando
para trás o chapéu preferido, que rolava na areia. O amigo, vendo que “Seu Lunga” não
ia voltar para resgatar o chapéu comenta: “Ei, Seu Lunga o senhor não vai mesmo
buscar o seu chapéu? E ele responde em seu estilo caboclo: “eu só quero quem me
quer”. As pessoas riram e o rapaz também fez ar de riso, dizendo “pois é, né?” E a
sessão tomou um novo rumo, com as pessoas falando sobre o tema sugerido na história.
Como vimos acima, com a intervenção de Dona Zilma, a manifestação da
espiritualidade também é um recurso eficaz porque permite o resgate de traços culturais
do grupo e aponta para uma dimensão que transcende a racionalidade. A palavra terapia
segundo Barreto (2005, p. 35) vem do grego “therapeia que significa acolher, ser
caloroso, servir, atender”. Mas, além desta, há outra acepção, uma dimensão sagrada
que possibilita as pessoas ressignificarem seu sofrimento e sua vida. Segundo o autor,
O processo terapêutico tem algo de profundamente sagrado na
medida em que permite às pessoas sairem do sofrimento sem sentido
para algo de novo, como se sai da morte para a ressurreição. São
inúmeros os testemunhos de pessoas que chegam com um grande
drama e saem com um novo olhar. (BARRETO, 2005, p. 35)
Para elas, a terapia “É um momento de transformação, transmutação, é um
espaço sagrado onde cada um reorganiza seu discurso e ressignifica seu sofrimento, de
acordo com uma nova leitura dos elementos que o faziam sofrer.”
É pelo fato de oferecer a possibilidade de transformar sofrimento em
crescimento, carência em competência, que a terapia se constitui num “espaço sagrado”.
De fato, tanto nas entrevistas como nas observações que fiz, vi que a natureza da terapia
está intrinsecamente ligada a questões de fé, embora nas sessões não se professe a
adesão a nenhuma crença determinada. A questão de conviver com as diferenças e a
abertura à diversidade são aspectos fundamentais na terapia desde sua origem, como
explica Adalberto:
A antropologia trouxe-me uma visão do universo cultural do homem.
Eu aprendi a compreender que toda cultura, todo indivíduo tem direito
à diferença, e que a cultura responde a um desejo maior do ser
humano: o de nutrir sua identidade. Ser diferente é a razão maior do
ser homem. Combater a diferença é um ato de dominação e de
empobrecimento da humanidade. (BARRETO, 2005, p. 12).
86

Considerando que o sistematizador da terapia adota o paradigma da
diversidade, é natural que no ritual sejam acolhidas as mais diversas manifestações
religiosas e culturais, de forma mais ampla.
Tenho visto que, nos momentos finais de todas as sessões são utilizadas
músicas do ritual católico, enquanto se formam dois círculos concêntricos e as pessoas
colocam-se umas de frente para as outras. Canta-se em uníssono, com as mãos
espalmadas: “Nossa comunidade será abençoada pois o Senhor vai derramar o seu
amor. Derrama ó, senhor, derrama ó Senhor, derrama sobre nós o seu amor.” As pessoas
que estão no círculo externo têm as palmas voltadas para baixo na intenção de transmitir
energia às do círculo de dentro que, com as palmas viradas para cima recebem energia.
Esses princípios de religiosidade católica são vivenciados por todos os participantes e
terapeutas, devido às fortes raízes da tradição católica do local. Em outro contexto, as
manifestações poderiam ser outras, de acordo com as crenças presentes no imaginário
das pessoas e dos grupos nos quais a terapia estivesse acontecendo. Esse é um aspecto
importante da terapia porque ela dá espaço à imprevisibilidade característica dos
fenômenos humanos.
Mas, de forma geral, ao longo do tempo, com a sistematização do ritual da
terapia, as manifestações religiosas vêm deixando de ser uma experiência apenas
intuitiva para se transformar em categorias de conhecimento que vão se constituindo em
ferramentas terapêuticas disponíveis. Nesse sentido, podem-se alternar, numa mesma
sessão o choro com o riso, os abraços e as preces. Combinados entre si, de diversas
maneiras, esses elementos podem facilitar o convívio na sessão, além de potencializar o
efeito terapêutico do ritual. O ato de compartilhar experiências e saberes vai permitindo
que uma crise possa ser vista sob outra ótica, com as diversas dimensões humanas, a
saber: social, psicológica ou espiritual, dentre outras.
E essas dimensões são compartilhadas na terapia, considerada assim como
uma pequena comunidade, daí o nome terapia comunitária.” Pela ótica de Adalberto, o
nome se refere ao fato de que as pessoas têm em comum os sofrimentos e a busca de
superação das dificuldades. Ele diz que essa palavra “comunidade” faz alusão à
abordagem da terapia, significando que ela não visa a solução de problemas, pelo
contrário, busca desconstruir o modelo de “salvador da pátria”, por meio do
estabelecimento de vínculos de co-responsabilidade entre as pessoas, na perspectiva da
teoria sistêmica que alimenta a crença na força da comunidade, do coletivo. Os
87

problemas emergem no grupo, na comunidade e, nessa instância também se encontram
as soluções.
De acordo com essa premissa, somam-se os pontos de identificações ao
mesmo tempo em que se mantém o respeito às diferenças. Nesse sentido, a terapia
estimula as pessoas a conseguir sua autonomia tanto em relação à doença como diante
de qualquer forma de dominação, ela preconiza o exercício da inserção social, e
funciona, inclusive quando os recursos familiares e as políticas públicas falham. Por
intermédio da ampliação da percepção de si e da ressignificação dos sintomas, ela
propõe: “A criação gradual da consciência social, para que os indivíduos tomem
consciência da origem e das implicações sociais da miséria e do sofrimento humano e,
sobretudo, para que descubram suas potencialidades transformadoras” (BARRETO,
2005, p. 36).
Finalmente, concluído o ritual, a sessão é dada por encerrada e tem início
um momento informal que, segundo Adalberto, favorece a “construção da rede social
de apoio”. As pessoas se abraçam livremente, se juntando aos pares ou em grupinhos,
estabelecendo conversas amistosas. É comum ver os sorrisos, os gestos informais, o
burburinho, como uma espécie de confraternização que tende a voltar a acontecer em
outros momentos, no cotidiano da comunidade.
Nesse momento, aquelas pessoas que durante a terapia se identificaram por
vivenciarem problemas semelhantes, em geral, se aproximam para demonstrar
solidariedade umas com as outras, procurando mais alguma forma de contribuir
reciprocamente para a superação das dificuldades. Por exemplo, mães que sofrem o
mesmo drama por terem um filho drogado podem estabelecer uma conversa sobre como
fazem para enfrentar essa ou aquela situação; alguém que perdeu o emprego
recentemente pode procurar um outro participante que está há mais tempo
desempregado, para entender como ele tem sobrevivido, ou se aproximar de alguém
que tem possibilidade de auxiliar na busca de trabalho; uma senhora que tem problema
de insônia, relacionada à menopausa se aproxima de outra da mesma faixa etária para
dizer que recursos tem utilizado e perguntar se a “amiga” conhece outras formas de
resolver esse problema. E assim, as pessoas podem compartilhar um pouco mais
diretamente seus problemas e conhecer mais estratégias de superação.
Quando Adalberto está presente na terapia, em geral, ele permanece no
local para atender às solicitações de receitas de medicamentos, fazendo
encaminhamentos ou simplesmente escutando alguém que o procura. Aquelas pessoas
88

que colocaram seu problema para ser votado e não foram escolhidas sentem-se à
vontade para procurar o terapeuta se desejarem um esclarecimento mais urgente ou no
caso de um encaminhamento para os serviços oferecidos no Projeto.
No final, após a conclusão da
terapia, é rotina haver uma apresentação
do grupo de teatro das crianças com temas
que de alguma forma tocam no assunto
tratado na sessão. Os textos são
produzidos em grupo com as crianças, sob
a coordenação de Seu Messias, que tem
cerca de 50 anos, é casado, tem três filhos,
Figura 18: Grupo de teatro, Messias, coordenador e desde que chegou ao Projeto, há mais de
do grupo (à direita)
dez anos, sempre desenvolveu, além do
teatro, outras atividades, inclusive é massoterapeuta. Em algumas destas atividades ele
recebia remuneração e em outras não, prestava serviço voluntário. Com o grupo de
teatro ele já foi à França por duas vezes. Ele conta como os textos são construídos:
Os textos são de vários temas. Trabalhos sobre o dia-a-dia certo? Eu
trago o passado pro presente, tá? E coloco um presente no passado...e
então é assim que eu escrevo meus textos. Eu vejo os acontecimentos,
ponho em prática, pra ser relatado, discutido...eu tô já com 850 textos,
porque desde o início, né, e espero um dia divulgar, pôr em prática,
em livro, alguma coisa, não importa o tempo. Eu vou construindo. Os
texto daqui a gente criemo aqui mesmo, juntos né, discutimo os
problema do dia-a-dia e colocamos à tona. Não só problemas, e sim
soluções e outras coisas boas, pra que a auto-estima se eleve.
Uma avaliação da sessão é geralmente feita pelo terapeuta e co-terapeutas
que se reúnem em um outro momento para analisar o desempenho da equipe durante a
sessão e também para analisar questionários que por vezes são aplicados no final da
terapia, aos participantes que apresentaram problemas para serem votados. Esses
questionários têm por objetivo o estudo da qualidade dos vínculos, a avaliação da auto-
estima e a necessidade de formação de rede de apoio social. A cada dois meses novo
questionário é aplicado às mesmas pessoas para observar sua evolução, segundo estes
parâmetros.
89

No sentido de deixar mais clara a ordem dos momentos do ritual acima descrito,
vou expor de forma mais sucinta as fases da terapia que são: 1. A fase de acolhimento;
2. A escolha do tema; 3. Identificação do grupo com o problema apresentado; 4.
Votação; 5. Contextualização; 6. Problematização; 7.Conclusão; 8. Avaliação.
Tempos/Fases da Terapia
1. Acolhimento
Após uma pequena dinâmica de tonalidade lúdica, para animar e descontrair
o grupo, o co-terapeuta, responsável por esse momento inicial da terapia comunica
quem será o terapeuta que dirigirá a sessão e esta começa com a palavra do terapeuta
comunitário cumprimentando o grupo. Algumas das regras da terapia como falar apenas
de si e não julgar, são anunciadas . A partir desse momento as pessoas já podem falar o
que lhes causa desconforto, o que o trouxe à terapia.
2. Escolha do tema
Neste momento, o terapeuta abre o espaço aos participantes com a
pergunta: Quem gostaria de falar? Algumas pessoas começam a se manifestar,
levantando a mão. Após a pessoa dizer o nome e explicar com poucas palavras suas
queixas, o terapeuta anota e passa a palavra ao próximo interessado em falar. Um pessoa
apenas será escolhida por votos do grupo para ser trabalhada naquela sessão. Se não for
votada o suficiente, poderá tentar novamente em outra sessão.
3. Identificação do grupo com o problema apresentado
Um momento de reflexão de alguns minutos. O terapeuta pede que as
pessoas se manifestem comentando qual dentre as situações trazidas pelas que se
colcocaram para serem trabalhadas mais lhe tocou e o porquê. Ao explicar os motivos
pelos quais votariam nesse caso e não naquele, as pessoas têm oportunidade de refletir,
a examinar pontos de identificação ou diferença com o caso proposto e se direcionar
para escolher o tema que mais lhe interessa, e será aquele no qual vai votar.
4. Votação
O terapeuta faz um breve resumo lendo o que anotou num bloquinho de
papel a respeito de cada caso apresentado, para auxiliar as pessoas a elegerem o caso.
90

Ele lê o nome da pessoa que pediu para ser visto seu caso, resume em poucas palavras,
por exemplo: “Quem vota em D.Alba, que a neta saiu de casa? Espera um pouco, conta
os votos e prossegue. E no George que foi abandonado pela esposa? Quando todos
tiveram oportunidade de ser votados, o terapeuta agradece àqueles que manifestaram
seus problemas no grupo. Em geral fica à disposição para conversar com essas pessoas
após o término da terapia.
5. Contextualização
A pessoa que foi mais votada tem alguns minutos para explicar melhor
os detalhes de seu sofrimento. As pessoas do grupo fazem perguntas para
esclarecimento do caso como o contexto em que surgiram os sintomas, a vida atual e o
passado da pessoa. A pessoa, ciente das regras da terapia, espontaneamente vai
respondendo todas as perguntas. Esse momento é destinado apenas à busca de
informações sobre o problema. O terapeuta lembra que se há grandes segredos a pessoa
não deve revelar. Só deve falar do que julgar pertinente para colocar no grupo.
6. Problematização/Partilha
É a fase mais profunda e rica de aprendizagem de experiência. A dor é
partilhada pelos membros do grupo e também as estratégias de superação. A pergunta
lançada ao grupo pelo terapeuta é: “Quem já viveu uma experiência semelhante e o que
fez para superar?”
7.Conclusão
Corresponde à fase da terapia na qual todos devem permanecer de pé,
abraçados, formando um grande círculo que balança de um lado para o outro,
lentamente. Quem assim o desejar pode compartilhar as impressões sobre a sessão de
terapia, respondendo à seguinte indagação do terapeuta: “O que eu aprendi hoje com a
história que foi trabalhada? o que posso admirar? qualquer participante pode manifestar-
se a respeito daquilo que mais lhe tocou, sobre o que aprendeu, que exemplos pode
levar pra aplicar em sua vida. Quando as pessoas concluem suas falas, em geral somente
algumas pessoas se manifestam, até mesmo devido ao fato de já se aproximar o término
da sessão.
91

Alguns minutos após é rotina a apresentação do grupo de teatro das
crianças do Projeto Quatro Varas, com temas pertinentes de alguma forma ao que é
trabalhado nas sessões de terapia.
8. Avaliação
Ao final de cada sessão, o co-terapeuta em geral aplica questionários78 de
avaliação aos participantes que apresentaram seus problemas com objetivo de estudo
sobre a qualidade dos vínculos, auto-estima e rede de apoio social.
Nesse capítulo procurei mostrar que, além de método de cura, a terapia
constitui uma experiência de aprendizagem, que permite a ressignificação do sofrimento
pela valorização do saber construído no cotidiano. No capítulo II estará em foco não um
personagem específico, mas a própria terapia. Tentarei explicitar o processo de se
desenvolvimento histórico e contar como ela deixa de ser uma experiência marginal e
anônima por ter começado numa favela para ser entendida posteriormente como uma
abordagem complexa e eficaz, na qual dialogam e se confrontam o conhecimento
popular e os saberes da medicina oficial.
78 Nos anexos encontram-se os questionários de avaliação dos efeitos da terapia com relação à construção
e manutenção de vínculos.
92

CAPÍTULO II – A HISTÓRIA DA TERAPIA COMUNITÁRIA
Se existe uma verdade, é que a verdade é um lugar de lutas.
Bourdieu
É meu intuito agora traçar um panorama histórico da terapia mostrando em
detalhes que ela nasceu no meio de um movimento social no bairro do Pirambu, em
1987 e como, no contexto de simplicidade ela vem se construindo coletivamente através
de uma verdadeira teia de vidas, idéias e sonhos, cujos fios, fins e objetivos se
entrelaçam.
2.1 A Terapia Comunitária – Uma Herança dos Movimentos Sociais do Brasil
Procuro neste capítulo relacionar o início da terapia comunitária com a
história dos movimentos sociais em saúde no Brasil e suas relações com a Igreja. E,
para entender a composição de seus traços culturais senti a necessidade de buscar o
período da colonização brasileira e as raízes das primitivas práticas de cura difundidas
no Nordeste. A partir daí, analisando sua trajetória me deparei com os vínculos que ela
estabelece com história e a evolução da Medicina no Brasil. Visando o aprofundamento
do estudo busquei o auxílio de Soares (2001) que realizou uma investigação das
representações e práticas populares de cura no Brasil, desde o período da colonização.
O autor identificou no imaginário da cultura dos índios brasileiros, saberes e
crenças permeados por uma cosmologia polissêmica, na qual as doenças significavam
manifestações de seres da natureza e as curas eram atribuídas aos efeitos das plantas e
aos poderes sobrenaturais das rezas. Quanto à medicina oficial, ele afirma que, na época
do Brasil Colônia, os profissionais da medicina não faziam falta para boa parte dos
habitantes, uma vez que “a doença e a cura possuíam significados específicos que
conduziam os enfermos a buscar outros caminhos para a preservação e o
restabelecimento da saúde, independentemente da ausência ou presença de médicos.”
(SOARES, 2001, p.417).
Uma mudança nesse panorama veio acontecer, a partir do séc. XVIII, quando,
por determinações legais de Lisboa, as questões relativas à saúde pública da Colônia,
começaram a ser normatizadas, ficando a cargo dos comissários enviados pela Coroa e do
Senado da Câmara Municipal. Ao final do séc. XIX, a Academia Nacional de Medicina
93
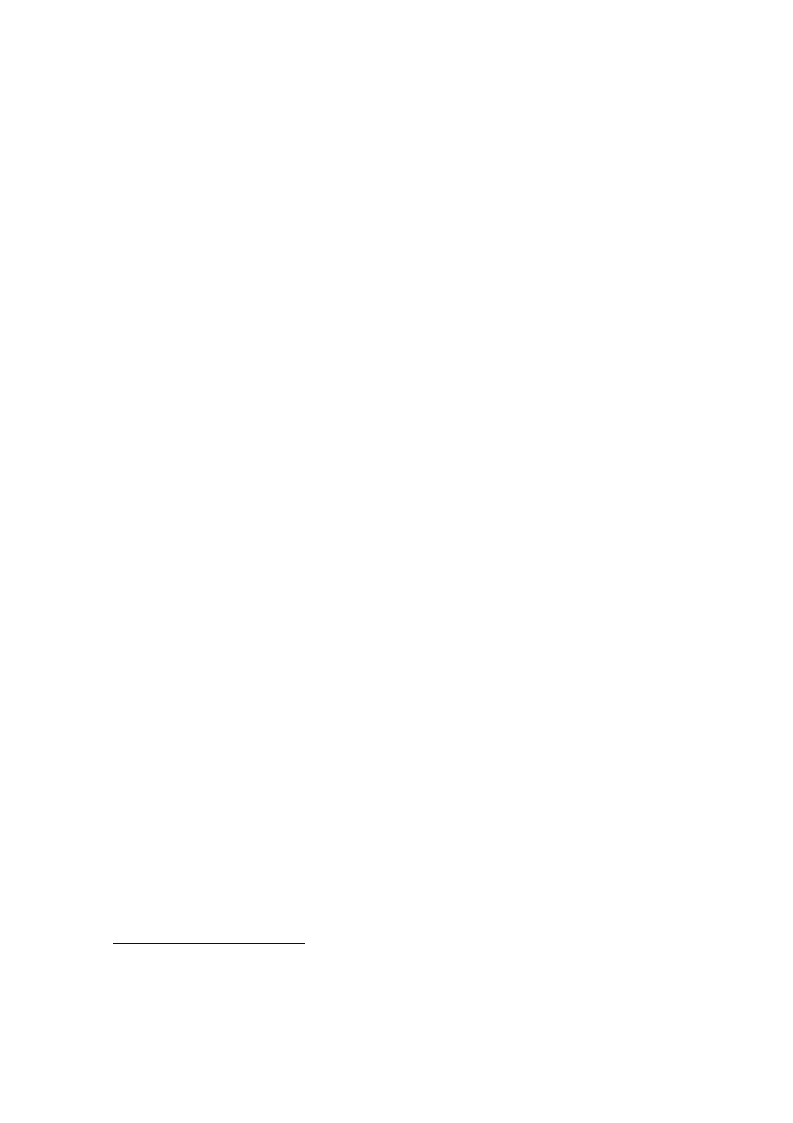
começa a travar verdadeira batalha contra os mezinheiros79 e curadores nativos na tentativa
de desacreditá-los junto à opinião pública, para “conseguir do Estado a repressão das
atividades terapêuticas consideradas ilegais em favor de sua ciência.” (SOARES, 2001, p.
417). Atendendo a uma solicitação do governo regencial, em 1830, a Sociedade de
Medicina nomeou entre seus pares, uma comissão para cuidar da transformação das
Academias Médico - Cirúrgicas do Rio de Janeiro e de Salvador em Faculdades de
Medicina, o que se concretizou em outubro de 1832.” (SOARES, 2001, p. 415).
A escalada de supremacia do modelo biomédico no Brasil acontecia ao mesmo
tempo em que se dava o fenômeno de insurgência da racionalidade científica na história da
humanidade. Era esse o momento em que a medicina ocidental contemporânea começava a
negar os aspectos socioculturais da doença e da cura, nutrindo o preconceito contra os
saberes populares, socialmente construídos que eram então entendidos como não científicos
e, portanto, desprovidos de validade.
No Brasil, essa concepção gerava dificuldades para a população, uma vez
que o sistema médico oficial além de oferecer acesso limitado, não atendia
satisfatoriamente às demandas existentes na população da época. Em um estudo
retrospectivo, Andrade, Pontes & Júnior (2000), afirmam que “A política do Setor
Saúde, desde o período colonial até a década de 1920, caracterizou-se por uma prática
médica fundamentada na visão privatista, que deixava em segundo plano a saúde da
maioria do povo brasileiro”. Além das práticas serem autoritárias e prescritivas, os
técnicos eram considerados os verdadeiros detentores de um saber que devia ser seguido
pela população, vista como ignorante pelos representantes dos serviços de saúde.
A partir de 1930, a ação estatal no Setor Saúde se concentra na construção
de um Sistema Previdenciário destinado às classes trabalhadoras mais organizadas
politicamente, em que as ações de caráter coletivo são esvaziadas em favor da expansão
da assistência médica individual (VASCONCELOS, 1998, p. 69).
Naquele contexto, algumas ações implementadas pelas políticas de saúde
vigentes80 eram meras campanhas voltadas unicamente para doenças infecciosas e
parasitárias, “como forma de substituir e justificar a não organização de serviços de
saúde bem estruturados” (Ibidem, p.69). Na década de 1940 houve um pequeno avanço
79 Mezinheiros são pessoas que aplicam remédios caseiros ou mezinhas (HOLANDA, 1975)
80 Como os trabalhadores assalariados urbanos formavam a base de sustentação do governo de Getúlio
Vargas, nesse período (1933) foram criados os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP) organizando
os trabalhadores por categorias profissionais; porém a assistência médica não era o foco principal dos
IAPs.
94
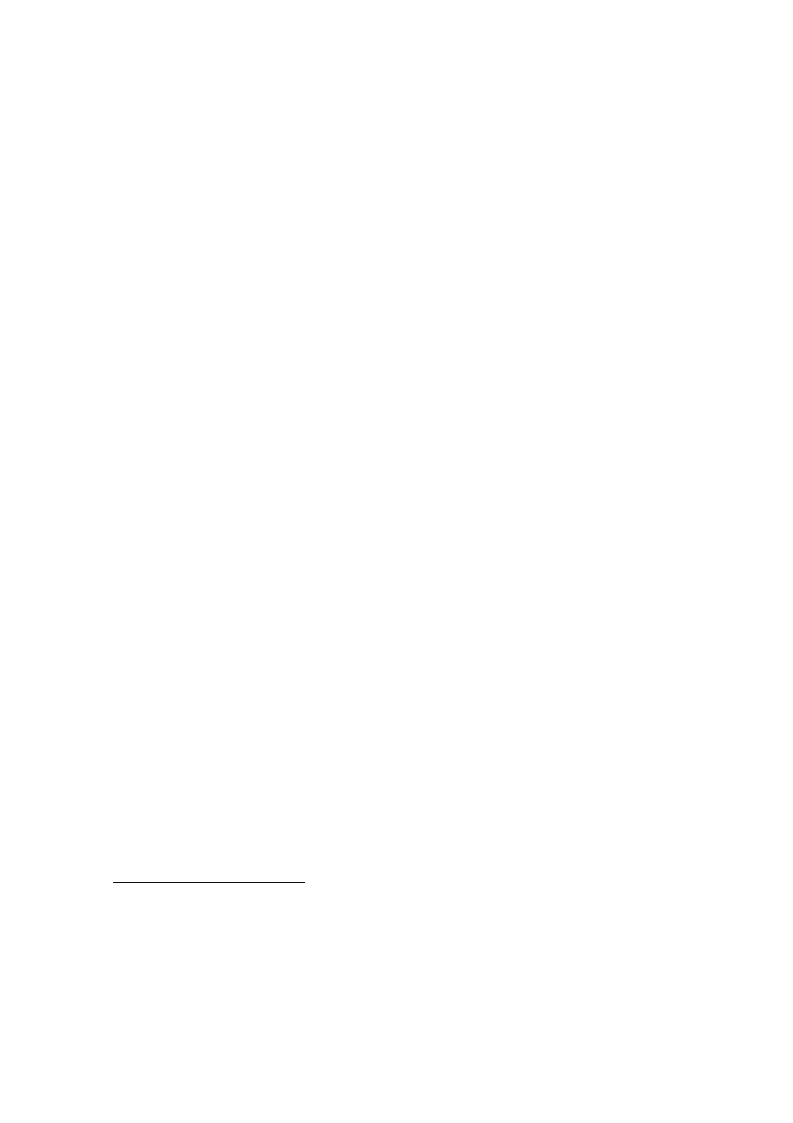
no sentido da descentralização das ações com a criação das Secretarias Estaduais de
Saúde, destinadas a trabalhar em favor da saúde pública, apesar dos graves problemas
de financiamento quando se tratava de investir nesse campo. Outro passo considerável
foi a publicação da Lei nº 1920, de 25 de julho de 1953, que institui o Ministério da
Saúde a partir do desdobramento do então Ministério da Educação e Saúde em dois
outros ministérios: “Saúde”e “Educação e Cultura.”81
Um retrocesso, no entanto, acontece em 1964, quando o golpe militar impõe
um regime que vai priorizar a expansão da economia em detrimento dos investimentos
em políticas sociais. Tal postura compromete o setor saúde que perde cada vez mais seu
espaço no cenário das políticas públicas. A atenção médica se volta totalmente ao
modelo hospitalocêntrico e aos cuidados individuais. A consequente agravação das
condições de saúde da população leva a uma intensa oposição ao Plano Nacional de
Desenvolvimento (PND) que beneficiava cada vez mais o setor privado da assistência
médica, destinando-lhe vultosos recursos oriundos do setor público. Com os partidos
políticos e sindicatos esvaziados pela pressão policialesca do governo, a população
procura formas alternativas de resistência, através da organização de movimentos.
A igreja católica, que conseguira se manter, de certa forma, imune à
repressão, começa a orientar esses movimentos, “possibilitando o engajamento de
intelectuais das mais diversas áreas” (VASCONCELOS, 1998, p.70). Em 1968, a
implantação do Ato Institucional n° 5 (AI-5), leva um número ainda maior de católicos
a se aliarem a grupos de esquerda na luta contra o regime militar e por mudanças nas
políticas de saúde. Nesse processo, algumas transformações foram ocorrendo, não por
iniciativa do Estado, mas graças à Teologia da Libertação, que, por meio das
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs)82 consegue envolver religiosos e leigos
utilizando o Evangelho como ponto de partida para a reflexão da problemática social.
Elas são ditas “comunidades” por se constituirem como uma reunião de pessoas que
vivem na mesma região e partilham a mesma fé. A palavra “eclesiais” refere-se à
ligação com a Igreja e “de base” significa que são compostas por pessoas pertencentes
81 A partir da segunda metade do Século XX, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) começa a
estimular a prática da medicina preventiva na América Latina, realizando seminários que reuniam
representantes das escolas médicas de diversos países. Essa integração foi fundamental para a difusão do
movimento preventista no Brasil.
Conteúdos atualizados a respeito dessa história estão disponíveis na internet, no site:
<http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/publicacoes/conass_ progestores/conass_25%20anos.pdf>. Acesso
em: 13 outubro de 2008.
82 Para aprofundamento no tema ver: Beto, Frei (1981) : O que é comunidade eclesial de base e Duhran,
E.(1984): Movimentos sociais, a construção da cidadania.
95

às classes populares. Localizadas na zona rural ou nas periferias das grandes cidades as
CEBs se organizaram em torno das paróquias através laços comunitários entre as
pessoas e com outras paróquias, formando comunidades maiores. Os grupos se reuniam
para leitura da Palavra de Deus, confrontando-a com a vida cotidiana. A discussão dos
problemas comunitários ocorria em conselhos ou assembléias, com ampla participação
dos membros da comunidade. Desta forma, as CEBs se tornaram importantes
catalizadores na criação de movimentos sociais e organização de suas lutas. No Ceará,
um dos pioneiros a trabalhar nas CEBs foi o bispo D. Fragoso que assumiu a Diocese de
Crateús, interior cearense em 1964. Ele desenvolvia a idéia de uma igreja popular83
(BARREIRA, 1992).
No Brasil, os movimentos apoiados pelas CEBs eram geralmente inspirados
na “Pedagogia do Oprimido”, de Paulo Freire. A partir deste referencial, os padres iam
reunindo, pouco a pouco, um verdadeiro exército de voluntários que passavam a atuar
junto aos setores populares com objetivo de fortalecer a dimensão pedagógica das ações
coletivas das escolas e dos movimentos sociais (SOUSA, 1996). As parcerias entre a
população menos favorecida, intelectuais e representantes da Igreja propiciaram o
surgimento de grande número de movimentos sociais. Muitos destes movimentos eram
constituídos de profissionais de saúde que, diante da falta de condições para exercer
dignamente seus serviços, resolviam abraçar os ideais da Teologia da Libertação que
procurava fazer com que os pobres, os índios, os negros, as mulheres e, de modo geral,
as categorias sociais subalternas, pudessem ocupar um espaço no cenário da Igreja e da
sociedade como sujeitos da história.
Os profissionais de saúde engajados nos movimentos deslocavam-se dos
grandes centros para morar nas periferias das cidades e no interior do país. O
aprendizado adquirido com as CEBs e a convivência com o cotidiano dos grupos
populares levavam-nos a abandonar o modelo médico vigente e começar a elaborar
experiências de atenção à saúde integradas à dinâmica social local (VASCONCELOS,
2001). Simultaneamente, eles se envolviam na luta pela redemocratização do Estado:
A participação de profissionais de saúde nas experiências de educação
popular a partir dos anos 70 trouxe para o setor saúde uma cultura de
relação com as classes populares que representou uma ruptura com a
83 Na década de 1970 a aliança com o bispo D. Aloísio Lorscheider de Fortaleza e o advento da Teologia
da Libertação, favorece a abertura de diversos trabalhos de comprometimento popular.
96

tradição autoritária e normatizadora da educação em saúde. (Ibidem.,
p.28)
Nesse contexto, a educação em saúde começa a se definir como um campo
de conhecimento que visa a “criação de vínculos entre a ação médica e o pensar e fazer
cotidiano da população.” (Ibidem., p. 68). Concomitantemente, “o método da educação
popular passa a ser um instrumento para a construção e ampliação da participação
popular no gerenciamento e reorientação das políticas públicas.” (VASCONCELOS,
2001, p.28). Essas conquistas começam pouco a pouco a interferir na medicina
preventiva oficial modificando indiretamente a forma de gerenciamento institucional.
Ainda no decorrer da década de 1970, o setor saúde começa a sofrer algumas
transformações, começando a modificar a forma de ver a população como passiva e
incapaz.
Um exemplo contundente da participação da igreja junto aos movimentos é
descrito por Feltran (2005, p.224) ao relatar a experiência do Movimento de Defesa do
Favelado (MDF) nos anos de 1977 e 1978 nas favelas da Zona Leste de São Paulo. O
autor descreve a importante participação do padre Patrick Clarke como um dos
fundadores e coordenador geral do movimento que tinha como meta central a
reivindicação por “direitos e contra a marginalização socioeconômica e cultural dos
moradores de favelas.” (Ibidem., p.225). Articulando-se sobre bases religiosas e
políticas, o movimento chegou a contar com a presença de Paulo Freire que havia
retornado recentemente do exílio. Ele auxiliou a formar monitores e trabalhar com as
“palavras geradoras” (FREIRE,1984) emergentes dos grupos. No caso de sua aplicação
no MDF, o objetivo da pedagogia freiriana era conhecer a mentalidade das pessoas da
favela e a partir daí planejar intervenções adequadas.
O método de atuação se baseava em investigar, nos discursos
proferidos pelos favelados, suas preocupações centrais, expressas,
vejamos pelas palavras que se repetiam em suas falas. As palavras que
proferiam os favelados revelavam o mundo, o cosmos que eles
habitavam, por serem elas reveladoras das percepções que faziam
sobre o mundo e sobre si mesmos (FELTRAN, 2005, p. 229).
Na opinião de Feltran (2005) essa pedagogia popular era bastante adequada
à prática movimentista, tanto por instituir o diálogo, como por articular
democraticamente os saberes formais e não-formais. Para ele era de fato, uma prática
política, uma vez que promovia o discurso democrático, ampliando o campo de atuação
dos atores no meio social.
97

No campo da saúde, a aliança com a Igreja católica permitiu aos
movimentos populares a reivindicação de melhoras nos serviços públicos e a
participação no controle das políticas, como se deu com o Movimento Popular de Saúde
(MOPS) de São Paulo que chegou a aglutinar centenas de experiências de outros
estados, o que permitia que prestasse assessoria técnica às demandas e iniciativas
populares, bem como a instrumentalização de trocas de conhecimento entre os diversos
atores e segmentos sociais envolvidos no processo. 84
Desta forma, enquanto os movimentos sociais buscavam influenciar os
rumos do setor saúde no Brasil, em vários países do ocidente, estudiosos e intelectuais,
começavam a questionar a abordagem biológica das doenças, opondo-se à visão
segmentar e especializada do ser humano (CASTIEL, 2004). Dentre estes, o
antropólogo François Laplantine (1973) faz severa crítica à tendência hegemônica da
medicina ocidental, defendendo a diversidade de modelos etiológico–terapêuticos. Ele
postula que há nas diferentes culturas, formas diferenciadas de compreender e tratar a
saúde e a doença. Afirma que, na verdade, no ocidente co-existem duas “medicinas
paralelas”: a primeira, baseada no empirismo e no paradigma mecanicista, que, vendo o
corpo como uma máquina, tem por objetivo consertar as peças danificadas, por meio
dos tratamentos cirúrgicos ou medicamentosos e uma outra que, fundamentada no
vitalismo, considera a percepção do homem como um todo indivisível, com uma
subjetividade que permite relacionar aspectos culturais às concepções da doença e da
cura (LAPLANTINE, 1992). Concepções inovadoras como essa tiveram importante
papel para o avanço nas políticas de saúde no âmbito internacional85.
E, enquanto novas propostas de atenção à saúde eram elaboradas em
diversos pontos do ocidente, a sociedade brasileira, ainda fragilizada pelos efeitos do
regime militar continuava convivendo com o sistema oficial de saúde autoritário,
84 A experiência do MOPS é ilustrativa para a compreensão da forma como surgiria, dez anos depois,
também num contexto de luta social na periferia de Fortaleza, a terapia comunitária, que traz em sua
metodologia, muitas semelhanças com o círculo de cultura84 e as idéias de Freire (1977,1984,1992,1986).
85 As idéias inovadoras contribuíram para a realização de eventos como o movimento realizado no
Canadá, em maio de 1974, do qual resultou o Informe Lalonde, um documento que veio definir para o
ocidente, novos determinantes da saúde, e introduzir o conceito de “qualidade de vida” nas políticas do
setor. Outro evento marcante para a implementação desses conceitos, a I Conferência Internacional sobre
os Cuidados Primários de Saúde, promovida em 1978 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em
Alma-ata,85 muito influenciou na continuidade das propostas e para a realização da I Conferência
Internacional sobre Promoção da Saúde, no Canadá, em 1986. Dessa conferência resultou a “Carta de
Ottawa”, que além de priorizar a noção de qualidade de vida, passa a exigir que o Estado estimule o
envolvimento das comunidades nas políticas de saúde.
98

tecnocrático e excludente86. Tal situação perdura ainda no início da década de 1980,
quando os recursos públicos utilizados pelo setor privado começam a se exaurir e este,
não mais conseguindo se manter às custas da antiga fonte de financiamentos, vê-se
forçado a buscar outras alternativas (POLIGNANO, 2001).
Diante dessa realidade, os partidos políticos, os movimentos populares e a
igreja se articulam de diversas formas para elaborar propostas de mudanças para as
políticas de saúde. A intensa vivência coletiva em torno das lutas inaugura um
importante momento no qual o exercício do diálogo e busca de identidade política
levam à conquista de novos espaços. Explica Feltran (2005, p.203-204):
Tratava-se da transformação da comunidade de periferia em
comunidade política, no sentido arendtiano. Tratava-se de ser mantida,
em diversos níveis, a validade das proposições dialógicas, do espaço
público para a disputa agonística, para o dissenso, para que se
elaborassem formas compartilhadas de convivência. Tratava-se de
manter o espaço em que cada um pudesse dizer ‘quem é’87.
A opinião de outros autores que se debruçaram sobre a questão dessa
transição democrática, (SCHERER-WARREN, 1993; GOHN,1989; TELLES, 1994) se
coaduna com a afirmação de Feltran (2005) de que foi um momento de conflitos entre
as diferentes maneiras de entender a própria política. Em sua percepção, existiam nos
grupos, duas tendências ideológicas principais “ uma baseada numa racionalidade mais
substantiva, emancipatória, focada nos sonhos coletivos e nos processos igualitários
dentro da comunidade” e outra “ focada nos interesses particulares, na obtenção da casa e
da infra-estrutura urbana.” (FELTRAN, 2005, p. 202). Os sujeitos sociais, ao se engajarem
no processo de participação e lutas definiam seus interesses e adquiriam consciência de
seu poder. E, à medida que iam compreendendo o sistema de dominação em que
viviam, começavam a desenvolver uma visão crítica que os orientava nas batalhas que
tinham que travar.
Foucault (2005, p.75) afirma que “onde há poder ele se exerce”, portanto, a
percepção do próprio poder, por parte dos atores sociais, fazia com que desejassem
exercê-lo. Desta forma, cada vez mais as lutas representavam uma dupla oportunidade:
acesso ao poder e aprendizagem de como agir de forma organizada. “Quando se luta
86 A maioria das iniciativas de mudanças propostas pelos movimentos sociais, aconteciam informal e
paralelamente às políticas do sistema oficial de saúde.
87 O autor se refere à teoria de Hannah Arendt (2001) cujas idéias serão apresentadas ao longo deste
trabalho.
99

contra a exploração é o proletariado que não apenas conduz a luta, mas define os alvos,
os métodos, os lugares e os instrumentos de luta.” (Ibidem., p.77).
Ressalte-se nesse período a atuação dos novos movimentos sociais
representados pelas Organizações Não Governamentais – ONGs, que tiveram um
relevante papel no fortalecimento do tecido social, atuando como catalisadoras do
processo de redemocratização do país.88 Em artigo recente Sônia Pereira (2008, p.14)
relaciona o papel das ONGs com os movimentos sociais e o Estado:
Sociedade civil e Estado, movimentos sociais e ongs são espaços
imprescindíveis para a efetividade dos direitos em nossa sociedade. O
discernimento das atribuições de cada um de seus atores, a
identificação de suas lógicas, a vigilância crítica e a autonomia dos
movimentos sociais podem ser ingredientes substanciais à cidadania,
palavra tão disputada nos tempos atuais (PEREIRA, 2008, p.14).
Graças a essas parcerias, já na década de 1980 novos movimentos foram
criados e com eles diversos mecanismos de participação, como associações, fóruns e
conselhos que fizeram acontecer importantes mudanças nas políticas públicas de saúde
como a criação em 1982, do Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde
(CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(CONASSEMS).
Polignano (2001) identifica como marco final do regime militar, o
movimento das “Diretas já” no ano de 1985 que culmina com a eleição, indireta de
Tancredo Neves para presidente. A partir daí, os movimentos ligados à saúde reúnem
seus anseios ao esforço participativo das parcelas desprivilegiadas da sociedade civil
para realizar uma grande mobilização nacional, por meio da qual são lançadas as bases
da Reforma Sanitária, na VIII Conferência Nacional de Saúde no Congresso Nacional,
em 1986. Nesse contexto de intensa mobilização política nasce, em 1987, na cidade de
Fortaleza, a terapia comunitária.
88 Daquele período até os dias de hoje o papel das ONGs na sociedade, sua responsabilidade nas ações e
celebração de parcerias com o Estado e com atores sociais merece discussão, principalmente quando se
trata da questão de que elas poderiam estar substituindo a função do Estado diante das demandas sociais,
ou neutralizando as possibilidades do confronto político.
100
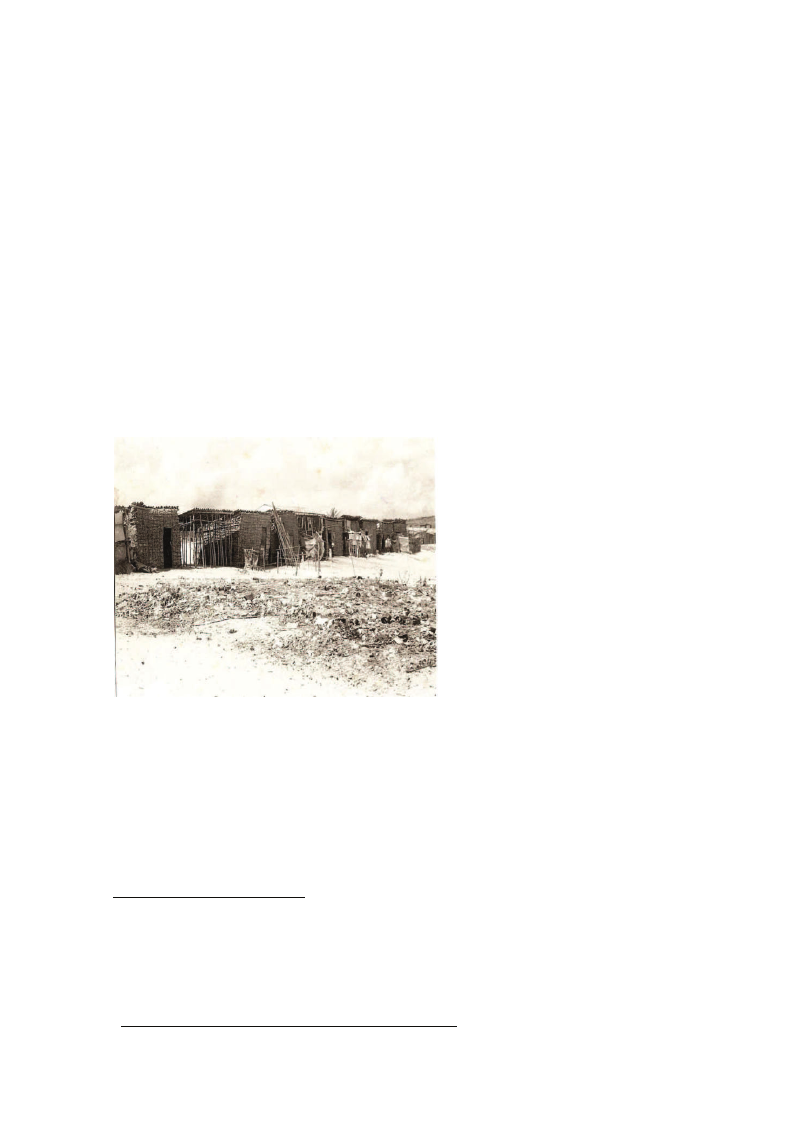
No intuito de descrever minuciosamente o movimento social que gerou a
terapia comunitária, tentarei fazer inicialmente um esboço que inclua o espaço e o
tempo em que ele veio germinar na areia fina das dunas do Pirambu.
2.2 Pirambu, Berço da Terapia Comunitária
Apesar de ficar a apenas três quilômetros do centro de Fortaleza, o bairro do
Pirambu é considerado zona suburbana, periferia. Isso talvez se deva ao fato de ter sido
inicialmente área de isolamento para os pacientes da Santa Casa de Misericórdia, área
na qual permaneciam as pessoas acometidas de varíola, numa epidemia “que dizimou
grande parte dos cerca de 100 mil retirantes abarrancados nos arredores da cidade,
expulsos do sertão pela seca de 1877-79.” (PONTE, 1990, p.3 in COSTA, 1999, p.11).
Com origem demarcada por volta
do ano de 1907, o bairro foi se
constituindo como uma favela que
abrigava além dos doentes, seus
parentes e um sem-número de
retirantes que abandonavam o
sertão,89 fugindo da seca. Dia após
dia, grandes levas de pessoas
chegavam ali e marcavam seu
espaço de forma emergencial e
Figura 19: Primeiros casebres do Pirambu - 1930
desordenada, sem nenhum
planejamento.
Desta forma, o Pirambu foi se caracterizando “como um ampliado bolsão
de pobreza, onde se encontravam os setores “do lado de lá” da paisagem urbana
oficial.” (COSTA, 1999, p.15). Carlos Martins de Oliveira, o Carlão, um dos
primeiros moradores do Pirambu ressalta em seu depoimento a origem do
preconceito que se nutria a respeito do bairro: “Porque, além de não ter nada, diziam
89 Devido ao intenso êxodo rural motivado pelas secas no interior do Estado do Ceará, naquele período,
Fortaleza chega a ultrapassar Recife em termos populacionais, tornando-se a segunda cidade mais
populosa do Nordeste, com 1.308.919 habitantes, cerca de 25% destes, aglomerados em favelas,
localizadas nas periferias. No início da década de 1980 existiam na cidade 147 favelas. Em 1985, o
governo do Ceará registrava 234. Em 1991, já eram 313. Hoje, segundo a Federação de Bairros e Favelas
de Fortaleza, esse número é de 661.
Autor Desconhecido. Nacional - Recife e Fortaleza, campeâs em número de favelas. Disponível em:
<http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=386538>. Acesso em: 16/10/08.
101
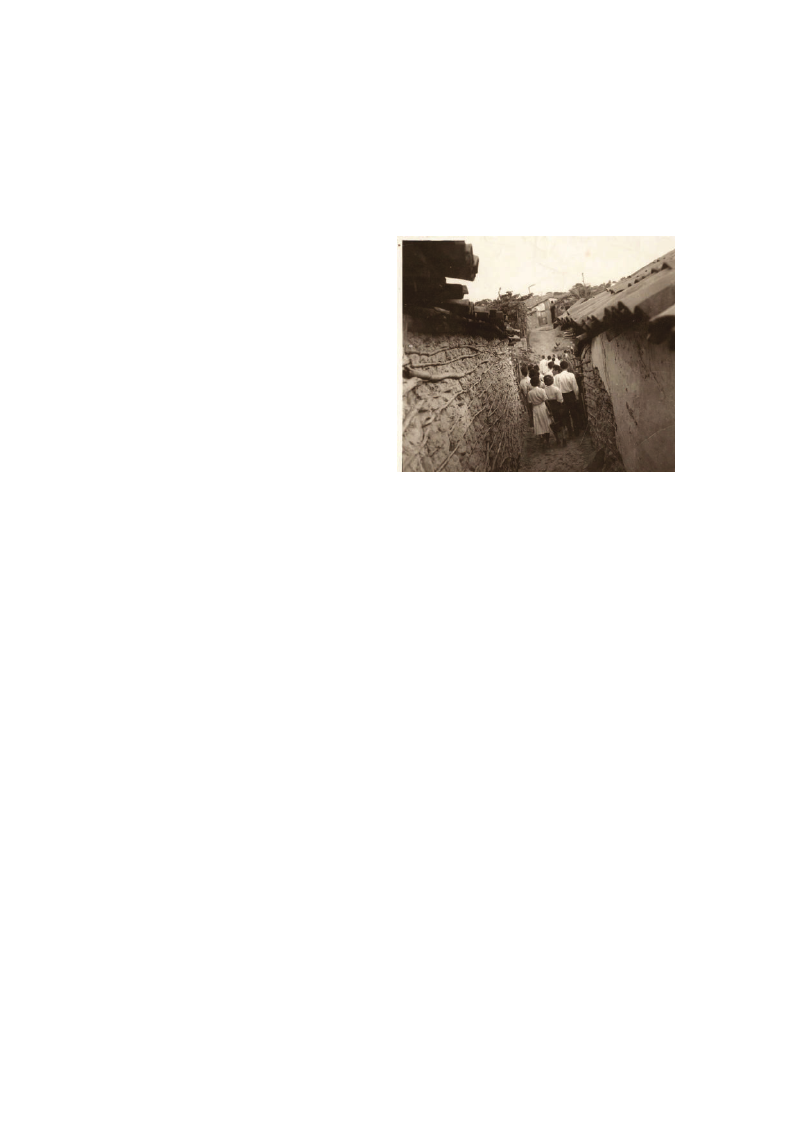
que aqui só se escondia o que não prestava, quer dizer, tudo quanto era de ruim
dentro de Fortaleza, vinha se esconder aqui dentro. Falavam que aqui só havia
marginalidade.” Apesar desse preconceito ser comum ao se referir a toda a periferia
de Fortaleza, o Pirambu ganhou destaque pela intensa miséria e pelo alto nível de
violência.
A exclusão social e a falta de
perspectivas eram os responsáveis pelo
sentimento de frustração e revolta dos
moradores, motivo pelo qual,
provavelmente o lugar tenha se tornado
palco de muitas lutas por ocupação de
terras e melhores condições de vida.
Para entender a situação de exclusão
vivenciada pela população do Pirambu
naquele período, utilizo a acepção de Figura 20: Travessa antiga do Pirambu
Escorel (1995) que denomina excluídos
“todos aqueles que independentemente de sua vontade, são expulsos do mundo
dominante, dos parâmetros e normas que regem as relações sociais.”
Ao tratar do fenômeno da exclusão, Feltran (2005, p.28) utiliza a
expressão “exclusão social” com o significado da “anulação da fala pública”
(FELTRAN,2005, p. 28). Para ele essa anulação da fala e da presença na sociedade é
causada, em última instância, pela exclusão política, entendida como “alheamento de
indivíduos e grupos inteiros do mundo”. A exclusão social, nesse sentido, está
relacionada à falta de acesso ao mundo público, à cidadania. Coadunando com o
pensamento do autor, Castel (1991) caracteriza a palavra “exclusão” como a ruptura
dos vínculos sociais, e Boneti (1998) como a exclusão do direito de participação na
vida produtiva.
Por este prisma pode-se entender que a sensação de exclusão social e
política foi responsável pelo surgimento de vários movimentos no Pirambu. O
preconceito contra tudo que viesse de lá perdurou até a década de 1930 quando
começaram a ocorrer pequenas mudanças motivadas pelo desenvolvimento do turismo
voltado para o mar. Desta forma, todas as zonas de praia da cidade passaram a ser mais
valorizadas, inclusive o Pirambu. Desta forma, a fase de estigmatização começa a entrar
em declínio e, no ano de 1940, tem início um processo de organização social dos
102
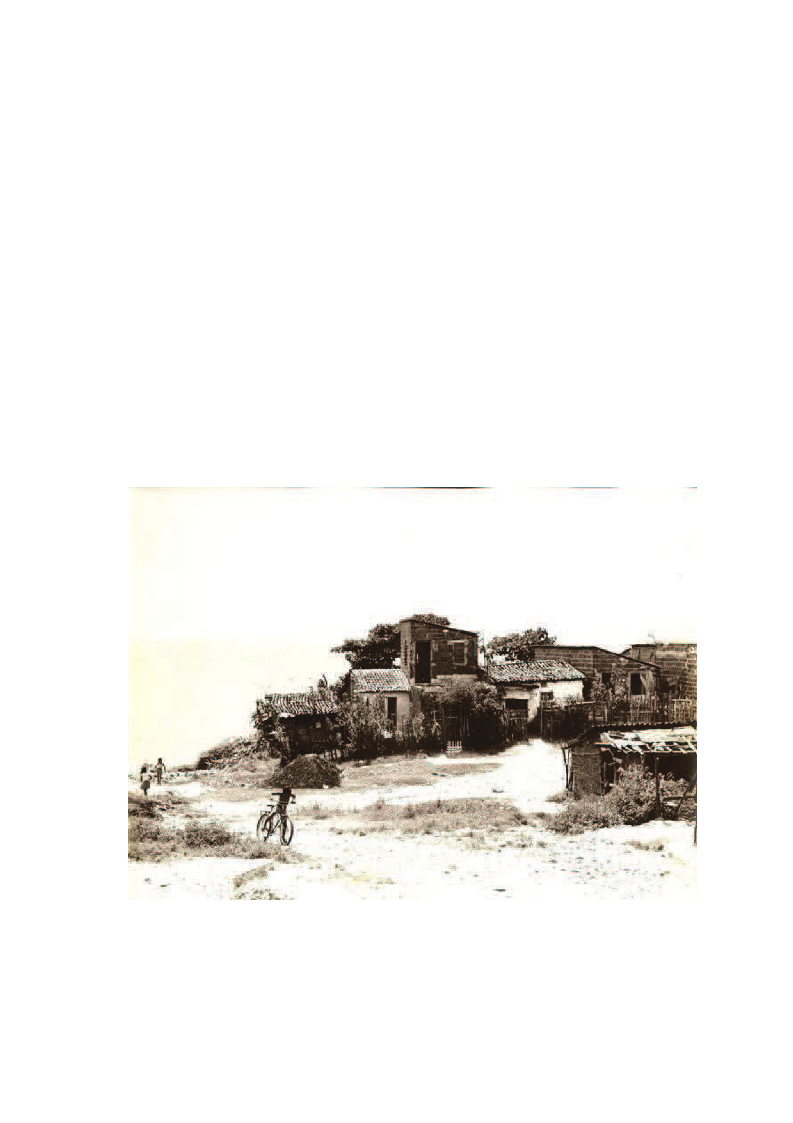
moradores para a conquista de moradia e a busca de uma identidade local. Francisco
Antonio Manjath, antigo morador do Pirambu, descreve a paisagem que encontrou ali
em 1958:
Quando eu comecei a conhecer o Pirambu, em 58, o Pirambu era um
bairro todo só de taipa, ali da Pasteur pra lá era casa de taipa,
tampadinha de barro e coberta de telha mas, aqui e acolá se
encontrava uma casinha tampada de molambo, coberta de papelão, e
da Themberg pra cá, só existia da Nossa Senhora das Graças. Prá lá,
para o mar, era o morro pelado, não existia nada. Da Pasteur pra
cá...só ia ter casa lá perto da Francisco Sá. Pra cá tudo era um
deserto, um morrão muito alto e capim plantado prá aproveitar
aquela erosão de areia, e mesmo assim, da Pasteur pra lá onde existia
as casinhas de barro, era só areia pura que a gente andava atolando
os pés até o meio da canela. O povo todo bem pobrezinho, humilde.
(Ibidem., p.14).
Figura 21: Construções sobre as dunas do Pirambu - 1958
103
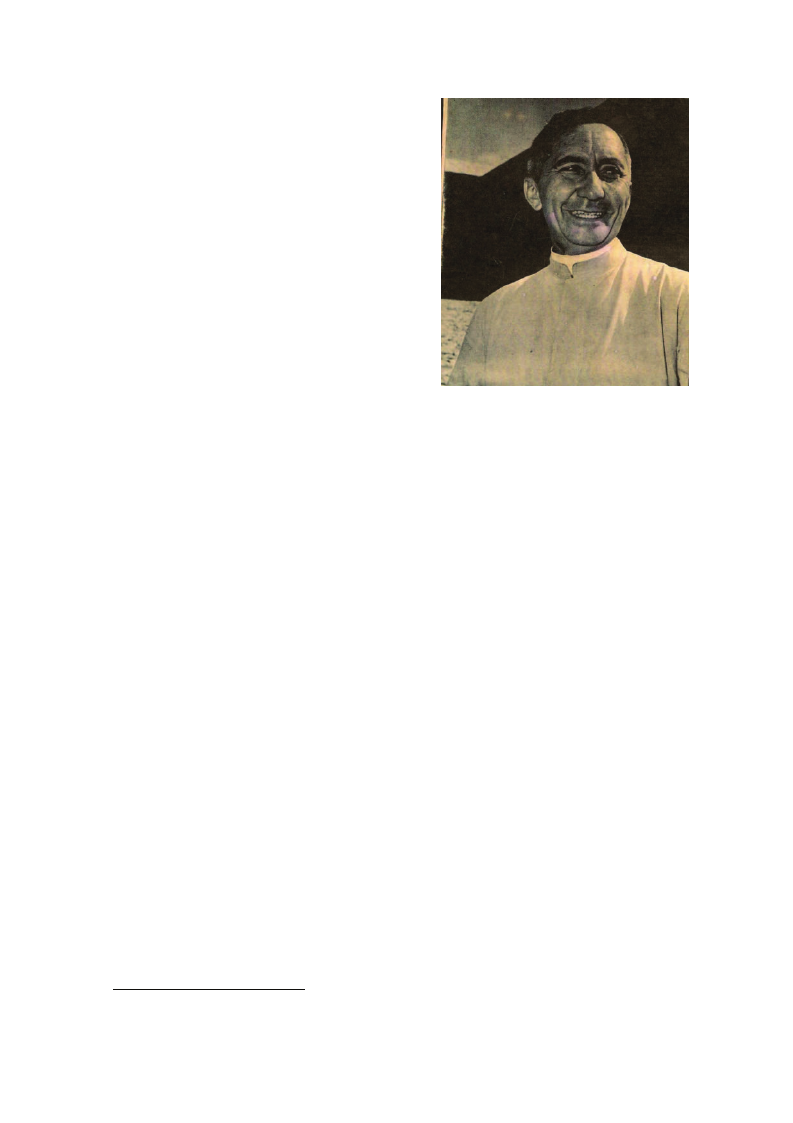
O ano de 1958 foi um marco
importante na história do bairro porque veio
residir ali o Padre Hélio Campos, que muito
auxiliou na intermediação de conflitos sociais,
por causa de sua influência na Diocese.90 Ele
conseguiu realizar no ano de 1962, a “Reforma
Social Cristã”, um dos movimentos mais
expressivos contra a expulsão de moradores
clandestinos que ocupavam as terras, à revelia
dos poderes públicos. Mais popularmente
conhecido como “A marcha”, o movimento foi
Figura 22: Padre Hélio Campos
preparado por cerca de dois anos, nas missas e
reuniões de quarteirão, pelas assistentes sociais e lideranças locais que se organizavam,
sob a direção do Padre Hélio. Carlos Martins de Oliveira, um dos participantes do
movimento afirma: “O que nós ganhamos de benefício através da luta e tudo que se tem
hoje no Pirambu, foi da Marcha prá cá, que antes realmente não tinha nada.”
(Ibidem.,1999,p.17).
Para que o movimento ganhasse maior fôlego, foram convocadas lideranças
de vários bairros de Fortaleza, e cada uma delas tinha que trazer ao Pirambu vinte
pessoas para participar da Marcha. José Maria Tabosa, presidente de um dos
movimentos que apoiaram a Marcha, a Associação das Entidades Comunitária do
Pirambu relata :
[...]O mínimo era 20. Aí nós tivemos: Papicu, Mucuripe, Jurema,
Parangaba, Monte Castelo, Barro Vermelho, que é hoje Antonio
Bezerra, Damas. Então, essas lideranças que vinham de lá pra cá,
representando esses bairros que eu falei, tinham uma obrigação de, no
dia da Marcha, no mínimo, trazerem vinte pessoas para reforçar os
que tinham aqui. Elas trouxeram muito mais, teve deles que trouxe
100 pessoas. (Ibidem., 1999, p.22).
E assim, reunindo a temática social com a ideologia cristã, “a marcha” sai às
ruas no dia 1º de janeiro de 1962 e, entre os momentos em que repetiam a frase nós
cremos no amor, as pessoas cantavam, todas juntas uma música que transformou- se no
hino do Pirambu:
90 Seu trabalho junto à comunidade tinha também por objetivo neutralizar a influência do Partido
Comunista no local.
104
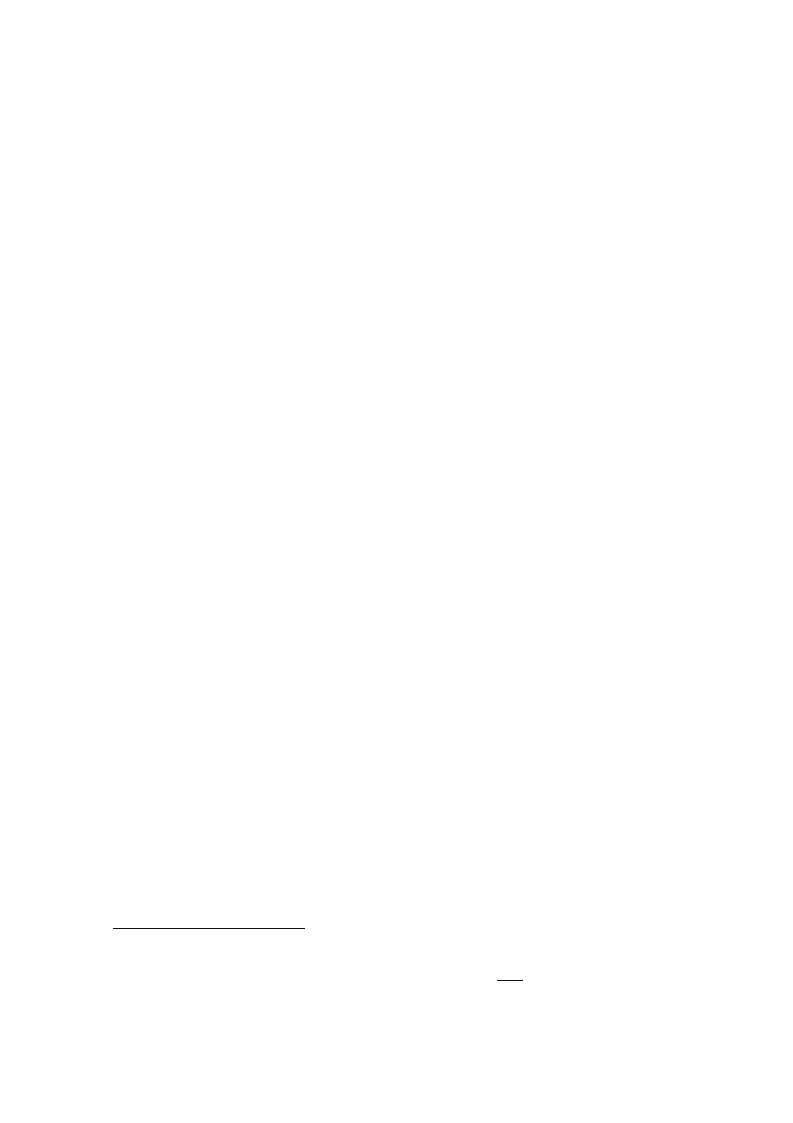
Vem ver oh! Fortaleza
O Pirambu passar
Somos pessoas humanas
Temos direito que ninguém pode tirar
Somos cristãos que não temem
O Cristo é o nosso ideal
É por Ele que todos faremos
A Reforma Social
Pirambu marchar
Pirambu marchar
Por um mundo melhor
Vamos lutar
(Gerardo Campos)
Na percepção de alguns dos participantes do movimento, a “Marcha” veio
abrir as portas do Pirambu, projetando o bairro como um dos pioneiros no cenário dos
Movimentos Sociais Urbanos de Fortaleza. A partir daí ganha maior destaque a
presença da Igreja, representada pela pessoa do Padre Hélio cuja importância é
assinalada por Geraldo Walmir Silva, um dos responsáveis pelo movimento:
A marcha teve muita coisa, muita coisa mesmo, parecia muita gente,
muita coisa estrangeira, muito dinheiro mesmo, tudo isso veio fábrica
de mosaico, o Padre comprou tudo isso e os responsáveis tomavam
conta. Foi, foi tudo isso, fizemos filme naquela época, ele passava
muito no cine São Luís, cine Diogo, passou uma semana. Era um
filme nosso, da Revolta Social Cristã. Foi o padre Hélio que deu esse
nome (COSTA, 1999, p.21-22).
Algumas frases utilizadas na marcha: “Não há reforma social, sem reforma
pessoal”, “Nós cremos no amor”, “Somos parte de Fortaleza”, “O Estado é para o
Homem e não o Homem para o Estado”, “Queremos transportes, luz e calçamento”,
“Queremos escola para os nossos filhos”, “Cristo é o nosso ideal”. É também graças à
Marcha que, em 25 de maio de 196291, o Presidente Tancredo Neves92 autoriza a
desapropriação de duas áreas de terra que passam a se reservadas para uso habitacional,
urbanização, abertura de vias e logradouros públicos. Vitorioso, o movimento consegue
legalizar a fixação de muitas das famílias do Pirambu. Barreira(1992, p.56) diz que “a
experiência do Pirambu, nesse sentido, é marcada, por um lado, pela resistência à
91 Ato institucional à Constituição Federal e no disposto em Decreto Lei Nº 3.365, de junho de 1941,
alterada pela Lei Nº 2.786, de 21 de março de 1956,
92 Após a renúncia do presidente Jânio Quadros em 25 de agosto de 1961 Tancredo Neves articulou a
instalação do parlamentarismo evitando que João Goulart fosse impedido de assumir a presidência por um
Golpe Militar. Foi primeiro-ministro entre 7 de setembro de 1961 e 26 de junho de 1962.
105

expulsão, fato que implica fixação e permanência na área, e de outro, pela tentativa de
urbanizar uma área inóspita, coberta por dunas e com poucas condições de habitação”.
No ano de 1964, toda a cidade de Fortaleza sofre com enchentes e de
desabamentos conseqüentes de um intenso período de chuvas. No Pirambu,
particularmente, muitas pessoas ficam desabrigadas e o Padre Hélio lança uma
campanha, conseguindo alimentos, recursos e prédios públicos para alojar
temporariamente 174 famílias. Cessadas as chuvas, ele inicia uma ação com apoio de
instituições nacionais e internacionais, visando a construção de um conjunto
habitacional para aqueles que tiveram suas moradias derrubadas. A partir dessa
iniciativa são construídas 129 casas nas quais os futuros moradores trabalham todas as
noites, em regime de mutirão.
No início da década de 1960 inicia-se um período de perseguição aos
movimentos populares e com isso, a participação da igreja sofre um retrocesso. Muitos
padres são torturados, expulsos do país ou transferidos de suas localidades, como
aconteceu com o Padre Hélio que teve de ir residir no interior do Maranhão, em 1968.
Depois disso, o Pirambu é dividido em duas comunidades cujos nomes são ligados à
igreja: Cristo Redentor e Nossa Senhora das Graças, que ficam, respectivamente, sob os
cuidados do Padre Caetano Minette de Tillesse e o Frei Memória, que instituem em
cada uma delas um conselho. Com essa divisão, o bairro perde muito de sua identidade
e parte de sua força de organização.
Assim, a década de 1970 se inicia sem notícias significativas de
movimentos até meados de 1976, quando novas formas de luta se esboçam em todo o
país. Até esse momento, o Pirambu vinha esperando para retomar seu lugar como
terreno fértil para a emergência de movimentos, isso porque dois importantes fatores ali
se conjugavam: as necessidades prementes da população que sofria grandes privações e
a existência de lideranças prontas para se manifestar. Chegado o momento,
desencadeiam-se lutas específicas por educação, saneamento, e outras, em sua maioria
encaminhadas pela entidade “União dos Moradores da Rua São Cura D’Ars”, que
surgiu entre 1975 e 1976, tendo como primeiro presidente um operário de uma
pequena indústria de móveis, o Sr. José Lopes de Macedo, “Seu Zequinha.”93
93 Sua trajetória de vida e a relação estreita que estabeleceu com a terapia comunitária serão apresentadas
no capítulo III.
106
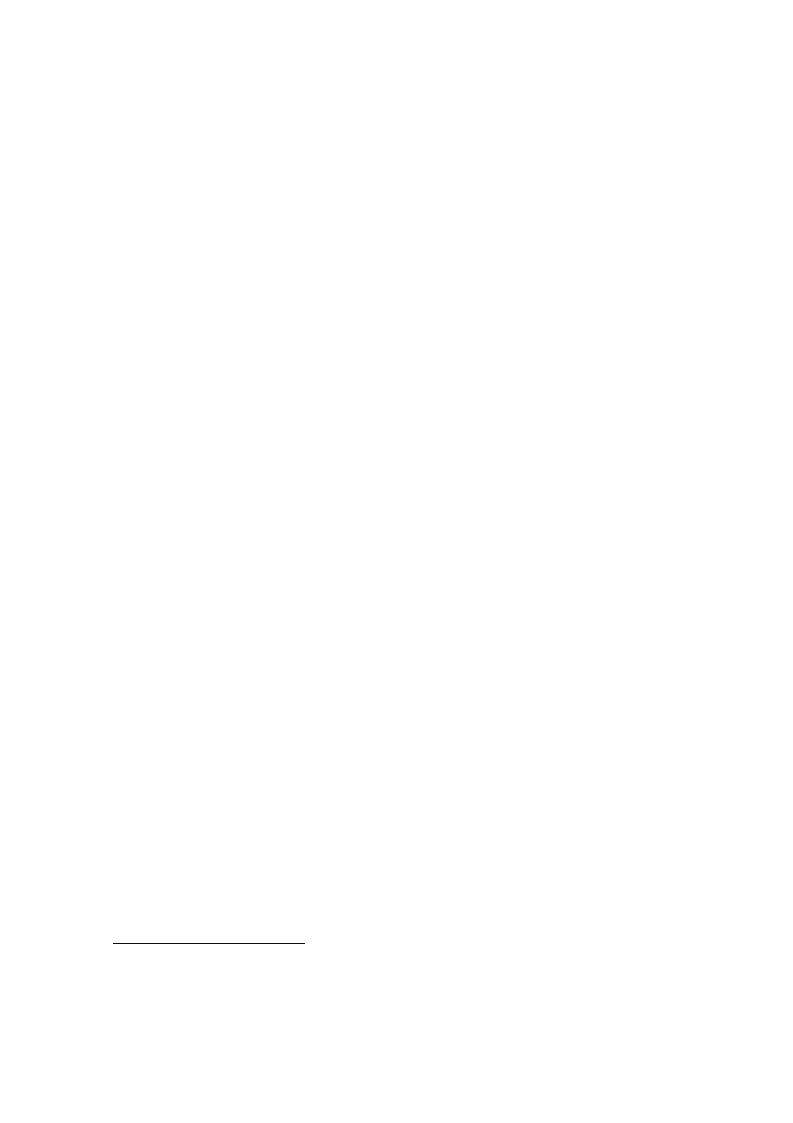
Na efervescência de um desses movimentos motivado por confrontos de
posse de terras, tem início em meados de 1987, as primeiras reuniões da terapia
comunitária. Para explicar como se deu o alvorecer da terapia farei um pequeno relato
do movimento que a precedeu.
2.3 Movimento de ocupação: A origem da comunidade
Airton Barreto, Advogado da Arquidiocese, 57 anos, morador do Pirambu
desde o princípio da década de 1980 me relatou numa entrevista que, em meados de
1985 estava havendo um conflito social no Pirambu, por conta do fechamento da
“Cimpelco”, uma fábrica de beneficiamento de couro. Os antigos operários, na tentativa
de reaver seus direitos, procuraram o sindicato e, como os donos declararam a falência,
alegando que não tinham como indenizá-los, os bancos credores proibiram a entrada de
pessoas nas dependências da fábrica. Cobiçada por um grande número de posseiros, a
área de terra era alvo de muitas disputas.
A polícia foi chamada e os operários, sentindo-se injustiçados resolveram
invadir, retirar todos os equipamentos e construir suas casas no local, o que produziu
grande tumulto. Davi Florêncio94 que era criança na época e presenciou a cena diz que
ainda lembra: “As pessoas entraram e fizeram uma limpeza. O que restou foi uma caixa
d’água. Ao redor dela as pessoas foram formando uma comunidade, a ‘Cimpelco’, ainda
hoje é assim, só que foi se ampliando. ”
Muitas famílias se dirigiram ao local e começaram a construir suas casas. A
polícia vinha e derrubava. Havia confrontos com tiroteios e bombas de gás. Diante da
gravidade da situação, a Arquidiocese de Fortaleza resolveu implementar uma ação em
defesa dos direitos humanos que mobilizou, além de membros da igreja, muitas pessoas
da sociedade civil que vieram prestar socorro às famílias.
Aquele foi o momento em que surgiu um personagem fundamental para a
história da terapia comunitária e da Comunidade Quatro Varas: o Padre francês Henry
Le Boussicaut95 que hoje tem aproximadamente 87 anos de idade e mora na França.
94 Parte da historia de Davi foi relatada por ele no capítulo I.
95 O Padre Henry fundou o movimento Emaús no Pirambu, ligado ao Emaús Liberté, criado por ele. O
movimento, que defende ideais de liberdade é um desdobramento do Movimento Emaús que existe em
mais de 40 países e que foi criado pelo padre francês Abber Pierre, muito famoso na França por sua
prática social.
107
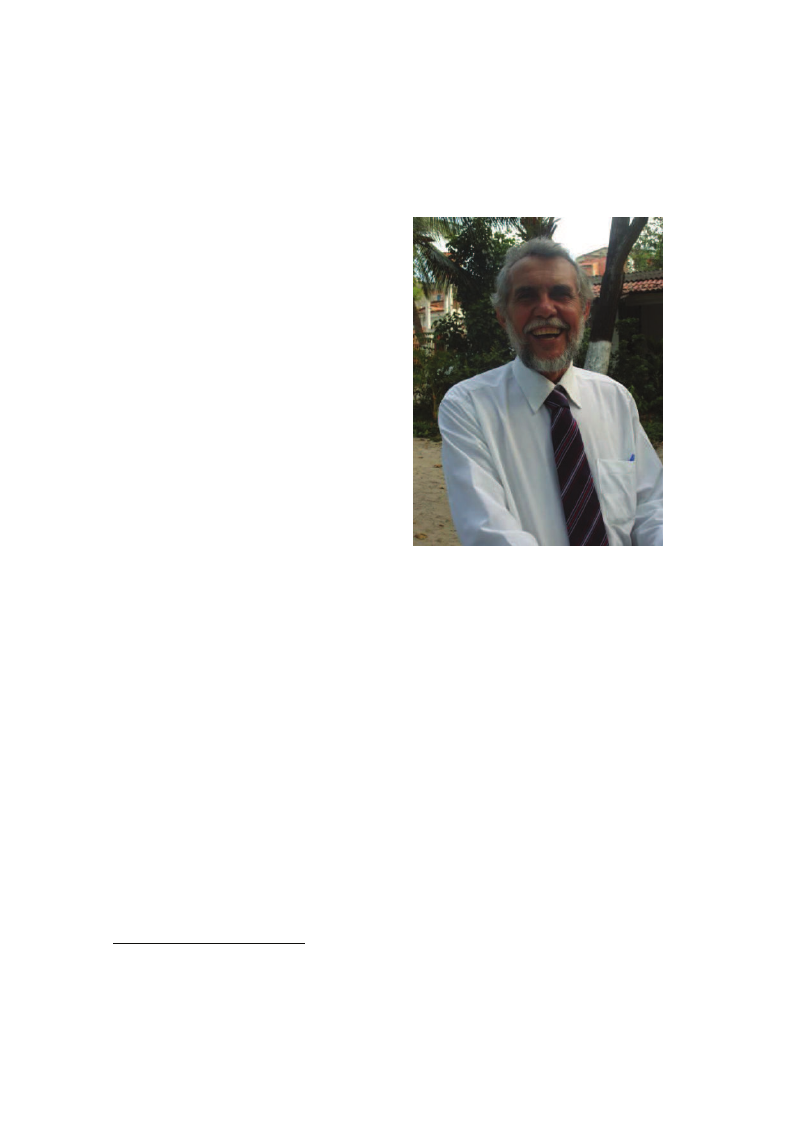
Airton conviveu de perto com Padre Henry96, durante os dois meses em que o hospedou
em sua casa, e foi tempo suficiente para que o padre ficasse totalmente engajado no
movimento do qual veio surgir a terapia comunitária.
Quase todas as pessoas com
quem conversei sobre a origem da terapia,
reconhecem a participação do Padre
Henrique como de fundamental importância
para que se tenha originado a terapia e a
própria comunidade Quatro Varas. Airton
que participou de todo o processo, e esteve
presente até antes de seu início, foi enfático
em reafirmar na mais recente entrevista que
me concedeu, no dia 9 de outubro de 2008
que “sem ele, Padre Henrique, não existiria
o Projeto Quatro Varas nem a terapia”. As
palavras de Airton soavam fortes como Figura 23: Airton Barreto – 9 /10/2008
realidade que vivenciara, fazendo-me quase
“ver” as cenas que buscava na memória. Começou com a história de sua vinda para
morar no Pirambu, à beira da praia, nº 66, da travessa São José, no fim da Avenida
Pasteur.
Isso foi por volta de 1981, seis anos antes de ser criada a terapia. Ele deixara
a casa dos pais que residiam num local mais central, ali mesmo, no Pirambu, para viver
a experiência de morar sozinho, junto aos pobres. Por este motivo escolheu uma casinha
de taipa, num dos lugares mais perigosos que conhecia. Era estudante de direito,
participava dos grupos da igreja em sua paróquia e trabalhava como estagiário na
arquidiocese.97 Um dia, foi solicitado para levar o teólogo Leonardo Boff, para visitar os
trabalhos da Arquidiocese no Pirambu e no trajeto comentou sobre o desejo de partilhar
o mesmo espaço geográfico dos chamados “favelados”. Ele então deu a Airton a
quantia de 100 dólares para que comprasse a pequena casa e pudesse vivenciar essa
96 De agora em diante, vou me referir a eles neste trabalho pelos nomes de Airton e Padre Henrique, como
são conhecidos no Pirambu.
97 Sua dedicação à igreja fazia parte da tradição familiar, especialmente por parte de sua mãe, D. Isa, uma
forte referência na paróquia a qual freqüentavam.
108

experiência. Depois de alguns meses, outros jovens ligados à igreja resolveram ir morar
com ele, chegando ao número de nove.
Finalizando essa parte, assume um tom mais solene e começa a falar do
Padre Henrique, que chegou ao Brasil no ano de 1985 para conhecer aquele que diziam
na Europa, ser um dos países mais pobres do mundo e participar da experiência das
Comunidades Eclesiais de Base no Brasil. Pretendia iniciar por uma comunidade rural,
a Diocese de Dom Fragoso, seguidor da Teologia da Libertação, na cidade de Crateús-
CE. Durante a estadia, teve necessidade de trocar moeda francesa pela brasileira, e
rumou para Fortaleza, em busca de um banco para fazer o câmbio. Na mesa do gerente,
que coincidentemente era uma amigo Airton, Jorge Diógenes, havia uma poesia. O
Padre leu e disse que faltava uma palavra. O gerente perguntou “e qual é a palavra?
Amor?” Ele respondeu “ falta a palavra: Justiça!” Airton faz um gesto para denotar a
ênfase com a qual o padre dissera: Justiça! E continua:
O Jorge disse: você quer conhecer um amigo meu que mora na favela.
Por que o Jorge fez a ligação? Porque ele me conhecia. Eu não era de
partido nenhum, mas era preocupado com os problemas da
comunidade. Lá do banco ele levou o padre na arquidiocese, no meu
trabalho. Quando me viu o padre disse: é possível estar convosco na
favela? E saí com ele na mesma hora para minha casa.
Na primeira semana o Padre Henrique adoeceu e ficou muito debilitado
mas, logo que se recuperou começou a conversar com os jovens que moravam com
Airton. Olga, que vinha acompanhando a situação da fábrica passou a lhe contar tudo o
que via lá. Num dado momento, o Padre Henrique se dirige a Airton: “ por que a polícia
está batendo nessas pessoas? Eu quero ir lá”. Ao vê-lo ainda convalescente, e sabendo
como o conflito se acirrava a cada dia, Airton tenta dissuadi-lo: “Padre não vá lá não, lá
é só peia, bomba de gás, essas coisas” . O padre reage, com veemência: “então lá é que
é meu lugar.” Airton faz um parêntese no relato, para falar de como foi construindo a
admiração que ainda hoje nutre pelo padre Henrique.
Interessado que era pelas questões sociais, o Padre começou a ir todos os
dias à área de ocupação, munido da enxada para auxiliar as pessoas na construção das
casas. Em poucos dias passou a ser conhecido como Padre Henrique:
Quando a polícia batia nos pobres ele dizia: Por que bater nos pobres?
eles não têm casa pra morar. A polícia pensava duas vezes antes de
bater em alguém na frente dele. E quando a polícia um dia queimou
109

uma casa, ele disse vamos levantar a casa. Em dois meses ele criou
laço com a comunidade.
Segundo Airton, ainda em 1985, quando Maria Luiza Fontenele assume a
prefeitura de Fortaleza, e resolve todas as ações de terra que estavam pendentes. Procura
os bancos, negocia, encaminha tudo pela prefeitura. “Ela conseguiu aqui a
desapropriação. A polícia parou de perseguir as pessoas. A luta paralisou e a
comunidade ficou tranqüila”, diz Airton, respirando para recomeçar a contar mais uma
parte da história:
2.4 O nome da comunidade: Quatro Varas
Quando o conflito paralisou, as pessoas continuaram as construções porém, de
forma mais tranqüila. Continuavam, no entanto, se reunindo e dando continuidade ao
movimento, que agora se organizava para reivindicar ao poder público o atendimento
das necessidades da comunidade. Um dia realizou-se no local da antiga ‘Cimpelco’ uma
grande assembléia. Diz Airton que havia mais de 500 pessoas, todas sentadas no chão,
inclusive ele e o Padre Henrique:
Alguém fez a proposta de criar essa comunidade aqui. As pessoas
formaram uma diretoria e alguém apresentou a proposta: Já que temos
uma comunidade formada, uma diretoria com presidente, secretária,
deve ter um nome, como vamos chamar agora, que antes era
Cimpelco? Como era muita gente, um grita de lá: comunidade estrela!
outro grita, esperança! Aí, alguém se dirige ao Padre Henrique: Padre,
o senhor não mora aqui mas todo dia vem pra cá. Diga que nome o
senhor acha melhor. E ele foi logo no concreto: Quatro Varas! Uns
riram porque destoou dos outros nomes: estrela, esperança. Ele disse:
estive em Crateús trabalhando com os camponeses (ele não estava lá
celebrando missa, nem cantando não, estava com os camponeses,
trabalhando), um camponês disse pra mim: ‘Um velho estava no leito
da morte e antes de morrer estava com os quatro filhos. Ele pediu a
cada um que trouxesse uma vara. Juntou as quatro varas e pediu ao
filho mais velho pra quebrar ele não conseguiu. Ele disse: essa é a
herança que deixo a vocês’. E “Quatro Varas”98 ficou sendo o nome
da comunidade que vai da rua seis companheiros até a rua imperatriz.
No outro lado é a Comunidade terra prometida.
Resolvido o problema do nome, os membros da nova comunidade Quatro
98 A comunidade Quatro Varas conta com população de cerca de 12.000 habitantes e é uma dentre as 110
comunidades organizadas do Pirambu. Disponível em : <www.4varas.com.br/histórico.htm>.Acesso
em:13/10/08
110

Varas continuaram trabalhando e se organizando. Airton e Padre Henrique
participavam de todas as reuniões. Um dia, o Padre Henrique decidiu ir embora e falou
a Airton: “me leve pra rodoviária. Eu vim aqui só trocar um dinheiro. Eu não tinha
planejado” Nesse momento Airton já fala com um tom de voz mais brando, como se
quisesse me dizer que estava com saudades:
Aí, eu fui deixá-lo na rodoviária e fui pra minha casa. Depois de um
mês foi que eu vim aqui, caminhando, de chinela, com uma bolsa a
tiracolo. Carro não entrava aqui a não ser que colocasse bucha de
coco. As famílias migravam pra cá e faziam roças de verdura. Era
assim tudo verde. Cada um tinha uma nesguinha de terra que eles
plantavam. Não tinha casa aqui não. Aqui tinha cultura, horta.
Comecei a lembrar dos meus amigos que tinham ido embora. Cada
um que casava ia embora. Eu também ia ter de casar, ter filhos. Eu
vim, sentei numa pedra achando esse espaço bonito, vendo o mar.
Aí eu comecei a chorar. E pensar numa coisa chamada liberdade. E
nessa hora um pensamento muito forte no Henry Leboussicault:
Aquele homem plantou uma árvore aqui e essa árvore precisa ser
cultivada. O caroço foi plantado. Precisa ser cultivado. O Padre
tinha ido embora. Eu tinha liberdade. Eu saí com a sede de morar
aqui e fui procurar uma casinha pra trocar na minha.
Airton deixa a pequena casa da rua onde morava há quase
cinco anos e compra uma menor ainda, de taipa, na comunidade Quatro Varas.
Escolhera o local mais baixo, por ficar próximo aos roçados e à beira do mar. Lá em
cima ficava o local onde as pessoas estavam construindo casas, formando a
comunidade.
2.5 Dos direitos humanos à terapia comunitária
Observando que o movimento continuava, que todos os dias
chegavam pessoas em busca de um lugar pra morar e que haviam outras lutas se
organizando no sentido de encaminhar os diversos problemas que surgiam Airton
resolveu comprar um “quartinho”, próximo à área da fábrica e ficou atendendo às
pessoas.
Não era aqui, era lá em cima, lá onde tinha a associação da
comunidade Quatro Varas. Tinha lá as pessoas que participavam
desse movimento, não era eu não. Eu disse na reunião: Vou atender
aqui todo dia de manhã. E comprei um quarto que era quatro metros
por quatro e mandei o Robson, um vizinho, pintar uma mão e botar
o nome ‘Direitos humanos’. A imprensa veio pra inauguração e
fizeram a matéria com a manchete ‘A 4ª Vara no Pirambu’, mas não
111

era isso não, eu é que ia trabalhar pelos direitos humanos para a
comunidade Quatro Varas.
Por ser advogado da arquidiocese, morar no Pirambu há anos, atuar
diretamente ao lado dos movimentos, Airton era bastante conhecido. “Quando eu era
jovem eu me escondia pra não dizer que eu era do Pirambu. Eu negava. Depois quando
eu me aproximei da igreja e vim morar aqui, aí foi diferente” diz Airton. Tinha de fato
muitos vínculos com as pessoas dali e estas, ao saberem que ele havia se mudado para
morar na comunidade logo começaram a levar à sala dos direitos humanos diversos
tipos de demandas. Começaram pelas denúncias ainda relacionadas com a situação da
fábrica, uma vez que os antigos patrões tentavam enganar ou perseguir os ex-
empregados que tentavam regularizar sua situação. Uns estavam presos ilegalmente,
outros tentavam tirar documentos, conseguir trabalho, etc. Airton se dispôs a prestar
auxílio jurídico aos posseiros com relação a documentação dos lotes e nos casos em que
havia violência e prisões ilegais.
Nesse processo, outros problemas também apareciam, como o sofrimento
decorrente das relações familiares conturbadas, em que as mulheres eram
freqüentemente agredidas pelos maridos, além de situações geradas pelas péssimas
condições de vida. “Nesse espaço eu atendia todas as pessoas com afeto. “Tínhamos
mais de duas mil pessoas cadastradas com foto e tudo”, lembra Airton. Em pouco
tempo, o trabalho resultou na criação do “Centro dos Direitos Humanos do Pirambu -
Amor e Justiça”, que originou um movimento social, posteriormente vinculado ao
movimento Emaús. Ele continua:
E de tanto que eu atendia à comunidade vinham pessoas com
problemas psicológicos. Então eu dizia por exemplo: Qual o problema
da senhora? Ela começava a chorar e no choro dizia. ‘Eu saí de casa
querendo colocar meus três filhos em cima da cama e tocar fogo sai
do interior e estou aqui passando fome’. Eu mordia a língua pra não
chorar. Outro dizia minha vontade ‘é entrar nesse mar e não voltar’. E
a senhora? ‘Eu bati nesse menino, dei-lhe uma pisa porque disse que
ia roubar porque dormiu sem jantar e acordou sem café’. Que
conselho o senhor tem para dar a esse menino? Vinha casos de
epilepsia e foram agravando os casos. A Olga que trabalhava comigo
disse: tu não tem um irmão médico? Manda pra ele. E eu fiquei
mandando.
E assim, gradativamente, Airton foi organizando um sistema informal de
encaminhamento de consultas, que logo se divulgou na comunidade. Os pacientes eram
112
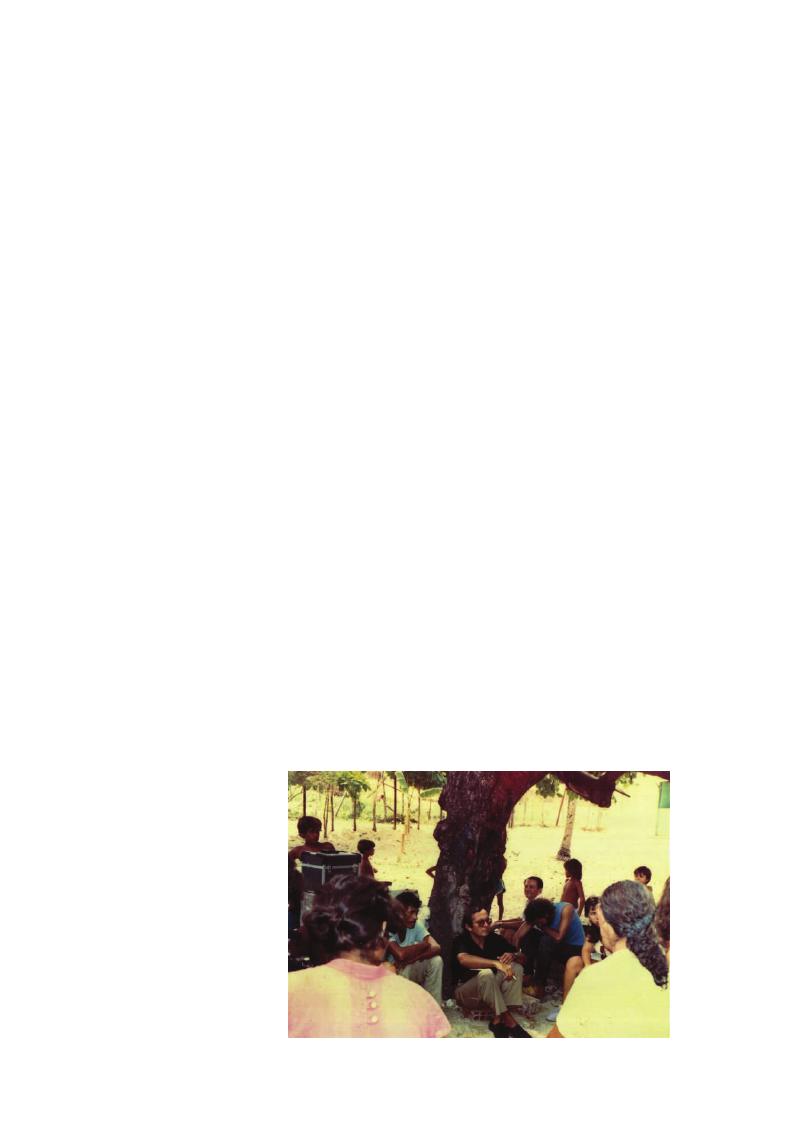
atendidos no ambulatório de psiquiatria onde Adalberto ministrava aulas práticas para
os alunos da Faculdade de Medicina da UFC. Ao perceber que a demanda estava
aumentando, Adalberto resolveu telefonar para Airton: “Um dia ele ligou pra mim e
disse ‘em vez de tu mandar as pessoas eu vou lá. Tu vai olhando se tiver um caso de
depressão, de alcoolismo ou droga. Tu vai juntando. Aí eu vou um dia e atendo”.
Airton passa a organizar durante a semana. Os casos que gostaria de mandar
ao hospital, ele pede pra vir na quinta-feira à tarde. Adalberto iria atender na própria
comunidade, com os alunos. De fato, para ele, que concluíra Doutorado em Psiquiatria e
Antropologia, não era difícil perceber que muitos daqueles distúrbios eram
conseqüências do caos que as pessoas estavam enfrentando. Na realidade, os sintomas
estavam associados ao sofrimento diante da perseguição policial e política que agravava
a instabilidade em que viviam. Adalberto pensava que uma forma melhor de auxiliá-las,
ao invés de medicalizar seus dramas e prescrever receitas, era ouvi-las em seu próprio
contexto, conversar com elas sobre seus problemas.
Foi então marcada a primeira quinta-feira. A reunião foi realizada na
pequena sala do Centro dos Direitos Humanos do Pirambu, onde Airton
normalmente atendia à comunidade. Estavam cerca de trinta e seis pessoas contando
com Adalberto, Airton, as pessoas da comunidade e uns dez alunos. Para facilitar o
diálogo, Adalberto me contou numa entrevista que logo de início ele utilizou a
linguagem coloquial, dizendo que o motivo de estar ali, junto com as pessoas da
comunidade, era aprender com elas. E a atividade continuou a ser realizada todas as
quintas-feiras, atraindo cada vez um maior número de pessoas.
Em algumas semanas, a sala já não comportava o número de participantes.
Passaram a se reunir sob um cajueiro que havia num terreno, em frente à sala dos
Direitos
Humanos.
Perceberam então que,
apesar de terem atingido
um razoável nível de
organização,
não
dispunham de um local
adequado para a
realização das sessões da
terapia. Ao tomar
Figura 24: Uma das primeiras sessões da terapia – 1987 -
113
Adalberto ao centro.
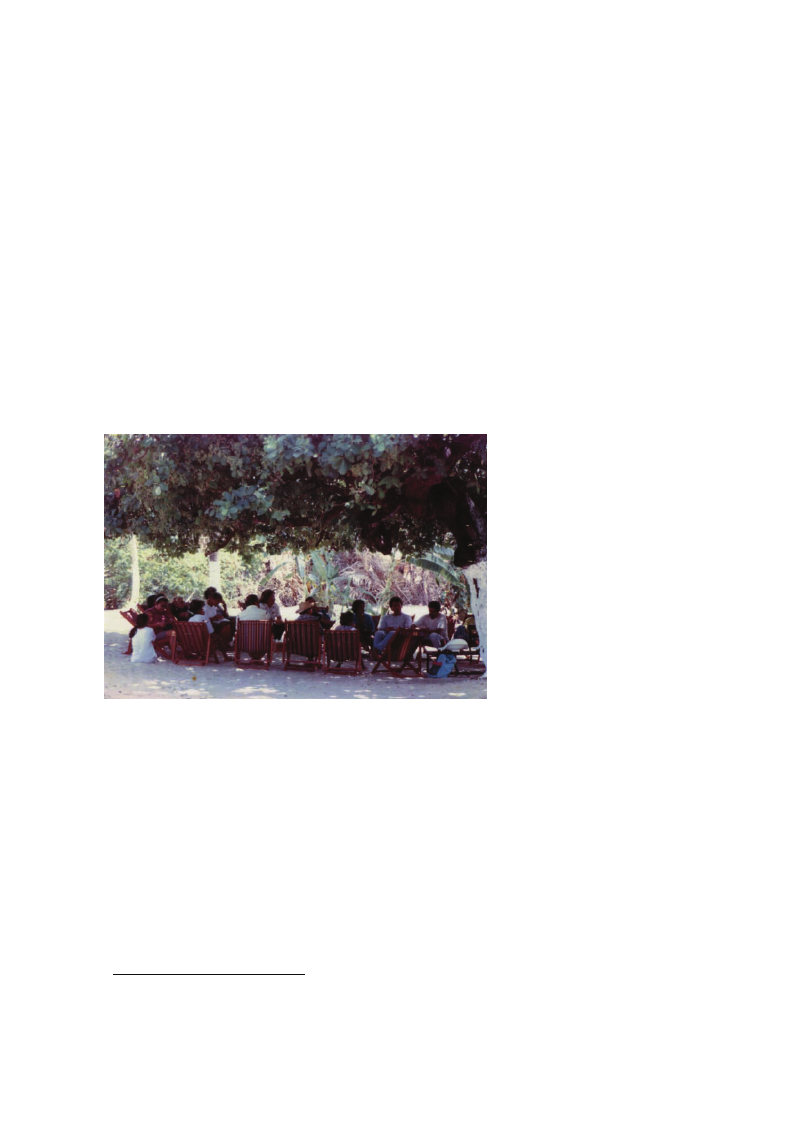
conhecimento do problema, o dono do lote onde ficava cajueiro, resolveu colocá-lo à
venda. Coincidentemente, naqueles dias, viera conhecer a terapia, uma psicanalista que
Adalberto conhecera durante o doutorado, o francês Dr. Michel Boussat, presidente da
Associação “Psiquiatria sem Fronteiras” que realizava parcerias com instituições de
países do terceiro mundo. Sensibilizado com o trabalho e vendo a necessidade de um
local para a terapia, ofereceu uma doação equivalente a 4.000 dólares, para a compra do
terreno. A partir daí, as rodas de terapia comunitária passaram a ser realizadas à sombra
do cajueiro, onde as crianças costumavam brincar. Talvez por isso elas permaneciam
sempre por perto quando os participantes que se reuniam sentados em círculo, no chão.
Os únicos objetos de apoio que tinham eram pedras e troncos de árvores colhidas na
rua, que serviam de assento.
Figura 25: 1ª Sessão de Terapia com cadeiras doadas-1988
As cadeiras
foram
adquiridas
posteriormente, no ano de
1988, por doação da
senhora Eridan Mendonça,
uma líder comunitária.
Essas mesmas cadeiras de
lona listada passaram
longos anos a acolher as
pessoas e compor o cenário
do ritual da terapia.
Em todo esse processo, a Profª Cristiane Feneon ressalta o relevante papel
de Airton para a aceitação inicial da terapia por parte das pessoas da comunidade.
Segundo ela, seria difícil a terapia comunitária acontecer se Adalberto tivesse chegado
sozinho como doutor, psiquiatra, com saberes acadêmicos, para propor uma forma de
tratamento alternativo na favela. Para ela, foi Airton quem primeiro abriu o caminho,
preparando as pessoas, conversando com elas, fazendo uma espécie de mediação
cultural que viabilizou os primeiros contatos99. “Foi ele que ‘indicou’ Adalberto para as
99 O fato de Airton ser advogado da arquidiocese foi um fator que também contribuiu para a adesão das
pessoas à terapia, uma vez que ela já tinham vínculos entre si nas atividades da igreja e também por conta
do trabalho de Airton pelos direitos humanos.
114
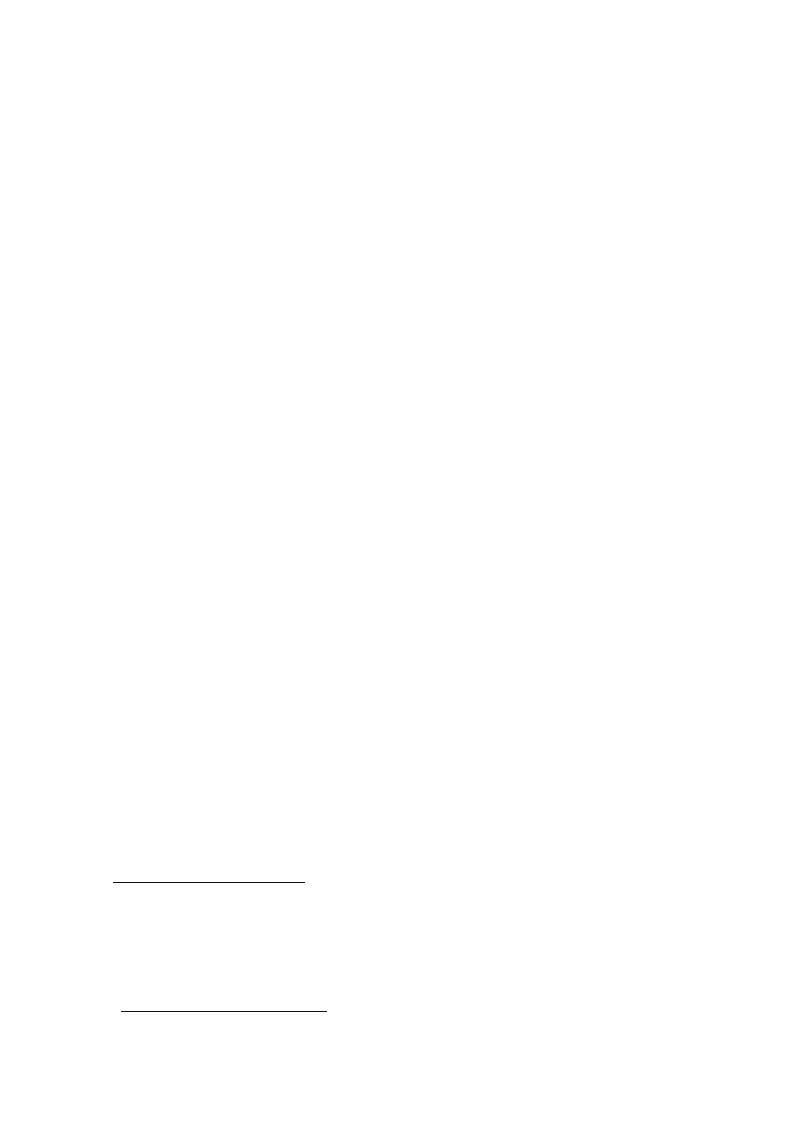
pessoas que já o conheciam e confiavam em seu trabalho.” Ela diz que chegou a essa
conclusão ainda naquele contato inicial, na primeira terapia:
Ao final do dia perguntei ao Adalberto. Como você começou aqui?
Como o povo da favela aceitou você? E aí ele me contou toda a
história do Airton, todo o trabalho de Airton, seu irmão. Se o Airton
não faz a ligação com tudo aqui, se não era ele que convidasse as
pessoas para a reunião, o psiquiatra não conseguia jamais. Imagine
como uma pessoa analfabeta da favela podia aceitar falar com um
psiquiatra, da universidade. Airton já morava lá, já estava há cinco,
seis anos, acho que desde 1982. E acho que foi por isso que o trabalho
progrediu e acho que Adalberto também é de acordo. Isso foi em
1987.
Com a continuidade da terapia, Adalberto foi criando vínculos mais fortes
com as pessoas, passando a freqüentar a comunidade vários dias da semana, também
para orientar alunos em aulas de campo da disciplina de saúde comunitária. Motivava-
os a visitarem as famílias, realizarem pesquisas e ações voluntárias como palestras e
orientações de higiene.
A partir deste envolvimento, em 1988, ele propõe ao Departamento de
Saúde Comunitária da UFC, a criação de um Projeto de Extensão, que recebeu o nome
da “Quatro Varas”, consolidando assim o vínculo da comunidade com a
Universidade100. Novas parcerias surgiram desde então, o que permitiu em certos
momentos ampliar a área do Projeto e realizar diversas ações que vieram beneficiar a
comunidade.
Nessa época a sociedade civil brasileira firmava parcerias com os
movimentos sociais, especialmente alguns ligados à área da saúde chegando a levar suas
reivindicações até a Assembléia Nacional Constituinte, que, em 1988, promulga a nova
Constituição brasileira. Ela traz como importante avanço no campo da saúde, o artigo
196 101 a noção de saúde como direito de todos e dever do Estado. Finalmente, um texto
constitucional elaborado no Brasil confere à saúde coletiva um lugar de destaque,
colocando-a como foco da responsabilidade do Estado e exigindo deste o
100 Logo em seguida, foi criado o Movimento Integrado de Saúde Mental Comunitária – MISMEC, que
veio ampliar ainda mais o alcance do Projeto, diversificando e aprofundando as ações em saúde.
101 O SUS foi criado pela Constituição Federal em 1988 e regulamentado pela Lei nº 8.080/90, chamada
Lei orgânica da Saúde e Lei nº 8.142/90 que torna obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão.
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Disponível em:
<www.projetodiretrizes.org.br/vol6.php>. Acesso em 29/03/2006.
115

estabelecimento de políticas adequadas à realidade da população. Esse artigo levou à
criação do Sistema Único de Saúde (SUS), em Lei Nº 8080, de 19 de setembro de 1990,
importante acontecimento para o processo de institucionalização da terapia.
O SUS foi inspirado em três princípios, sendo que os dois primeiros, o da
“universalidade” e “eqüidade”, visam garantir o acesso de todas as pessoas aos serviços
de saúde, independentemente de sexo, raça, renda e ocupação. O terceiro, o princípio da
integralidade inclui a preocupação com as diversas necessidades do indivíduo, somando
trabalho, habitação, bem-estar social e espiritual, elementos que compõem a abordagem
holística do ser humano.102 Apesar de abrir perspectivas de inovações no Setor Saúde,
mudanças significativas só poderiam ser efetivadas no Brasil quando houvesse a
ampliação e articulação dos serviços anteriormente existentes, uma vez que para colocar
em prática os três princípios era necessário fazer reformas amplas e construir espaços
adequados às formas de atendimento alternativas ao modelo biomédico.
Nesse período, o Brasil passou a viver um impasse porque, se por um lado
o SUS representava uma abertura a novas abordagens como a terapia comunitária, por
outro, sua consolidação iria depender de mudanças concretas na gestão das políticas e
dos recursos, além da participação ativa dos atores sociais, processo que,
necessariamente, levaria algum tempo para acontecer de fato. Como então a terapia,
uma abordagem recente e inovadora, emergente da favela, chegaria a se inserir no novo
sistema que ainda estava por se consolidar?
Tentando responder a essa pergunta, recorri a Paludo (2001, p. 80), cujas
idéias me auxiliaram a entender o que acontecia nos primeiros momentos de
implantação do SUS. Era nesse contexto que estava surgindo a terapia. Ele defende o
pressuposto de que o confronto com o sistema dominante envolve relações culturais,
políticas e econômicas e que qualquer iniciativa nesse sentido demanda a construção de
um espaço contra-hegemônico que não deve ser dissociado “do movimento das forças
políticas que disputam.”
E é exatamente isso que fez Adalberto, ao criar a terapia num momento de
mudanças políticas como aquele final da década de 1980. Quer seja de forma
consciente ou intuitiva, ele toma uma atitude contra-hegemônica , do ponto de vista
social e cultural quando diz que vai à favela em busca de compreender a problemática
102 Kell (2007) afirma que palavra integralidade no contexto do SUS pode ser entendida como uma crítica
à visão segmentada e reducionista do modelo biomédico e abertura à abordagem do ser humano, social,
cidadão, através de políticas voltadas para a saúde e não somente para a doença.
116

das pessoas em seu contexto. Sua atitude confronta os pressupostos medicina oficial e
ensaia uma nova proposta, baseada em outros parâmetros, menos técnicos e mais
humanísticos.
Ele me disse em um de seus relatos que, logo de início não tinha muita
clareza sobre a experiência que estava fazendo:
Na época eu não sabia o que eu ia fazer... eu vinha com o conceito
biomédico da doença, da patologia. E aos poucos eu fui me dando
conta de que a maioria das queixas que se falava lá eram sofrimentos,
eram dores da alma e sofrimento não se pode psiquiatrizar nem
neurotizar. Para entender o sofrimento é preciso a escuta, o
acolhimento, é de apoio que essas pessoas precisam. Eu fui me dando
conta de que eu não podia usar as mesmas armas, o mesmo arsenal
que eu trazia da universidade.
Neste momento, prefere não se colocar como um “salvador da pátria”, e sim
como alguém que vai à comunidade para aprender, valorizando o contato com a cultura
popular:
foi muito importante para mim, esse primeiro encontro com essas
pessoas lá na favela.[...] Trata-se sobretudo da cura da alienação em
que vivem as pessoas em contextos de exclusão social e a cura passa
pela inserção e a valorização do indivíduo e de sua cultura.
Agindo assim, abre mão da perspectiva tradicionalmente instituída na
relação médico–paciente, plasmada no modelo autoritário. Já na primeira sessão de
terapia, tenta estabelecer uma relação horizontal. Em uma de nossas entrevistas ele
lembra que disse aos membros da comunidade, naquela ocasião: “Nós não viemos aqui
para curar vocês, viemos pra nos curar de nossa alienação universitária”. Suas palavras
significam que renuncia ao poder técnico do médico e ao status de professor
universitário, reconhecendo que as pessoas detinham um conhecimento próprio,
emergente de seu cotidiano. Apesar da formação acadêmica, Adalberto não desconhece
a fala dos grupos populares, nem os considera como saberes incompletos ou
insuficiente (BRANDÃO, 1997).
A primeira coisa foi compreender que eles sabem também. Que o
meu PhD... a gente chega achando que estudou dizendo, “eu sei!”mas
eu fui descobrindo, por exemplo, que quando uma mulher disse: ”eu
resolvi minha insônia fazendo o suco do capim santo” e me deu a
receita, eu fui pesquisar o capim santo e descobri que ele faz parte da
farmácia viva da Universidade e que tem propriedades
tranqüilizantes. Então a fitoterapia tem seu valor em relação aquilo.
117

Outras questões do quotidiano eu comecei a rever. Escutando eles eu
me escutava. E eu fui vendo as teorias e fui questionando.
A terapia questiona e enfrenta o modelo biomédico, desde seu
princípio, começando sob um cajueiro. Isso aconteceu provavelmente porque Adalberto
antes de ser médico, foi um migrante, conviveu com as crenças de cidade do interior
cearense, é de família católica e acredita no poder da religiosidade. Desde o curso
médico já se conflitava quando era obrigado a optar pelo modelo “científico”. Além
disso, morou no Pirambu durante a adolescência, participou dos movimentos da igreja.
Ainda quando estudante de medicina, organizou e coordenou durante o período de 1970
a 1974, um movimento social chamado “Centro de Estudos do Menor e Integração na
Comunidade (CEMIC) que visava integrar à comunidade crianças e jovens de risco.
Observando sua trajetória de vida pode-se perceber que é natural que compartilhe dos
valores e crenças dos participantes da terapia. Para compreender um pouco mais a
fundo suas motivações, procurei analisar um trecho de entrevista recentemente
realizada, em 23 de setembro de 2008, na qual ele mostra a influência de suas próprias
raízes culturais, no processo de elaboração da terapia:
Eu nasci em Canindé, cidade do sertão cearense, que recebe um
milhão e quinhentos mil romeiros por ano, e esses romeiros quando
vêm à igreja pagar suas promessas, eles trazem cada um, um ex-voto
que é a representação da doença, uma forma de agradecimento por
alguma graça alcançada. Então meu primeiro contexto foi um
contexto mágico-religioso, onde eu vivia vendo todos aqueles
romeiros, trazendo seus ex-votos, agradecendo ao santo por alguma
graça alcançada.
Essa experiência foi um fator facilitador de seu diálogo com as pessoas da
comunidade e o reconhecimento do valor da cultura popular. Por outro lado, a aceitação
da terapia pela comunidade foi favorecida quando as pessoas perceberam a
sensibilidade de Adalberto à situação de privações que elas viviam: “quando comecei a
terapia comunitária, quando cheguei na favela, eu pensei: o que eu vou fazer aqui, eu
não tenho remédio pra dar, o povo não pode comprar, o que é que eu vou fazer?” A
percepção da grave situação de privação econômica vivida pelos moradores do
Pirambu, motivou-o a se afastar ainda mais da prescrição de remédios e outras condutas
que eram manifestações de dominação econômica e científica. A partir das percepções
que nutria nesse sentido, entrou num processo de reflexão profunda a partir do que
118
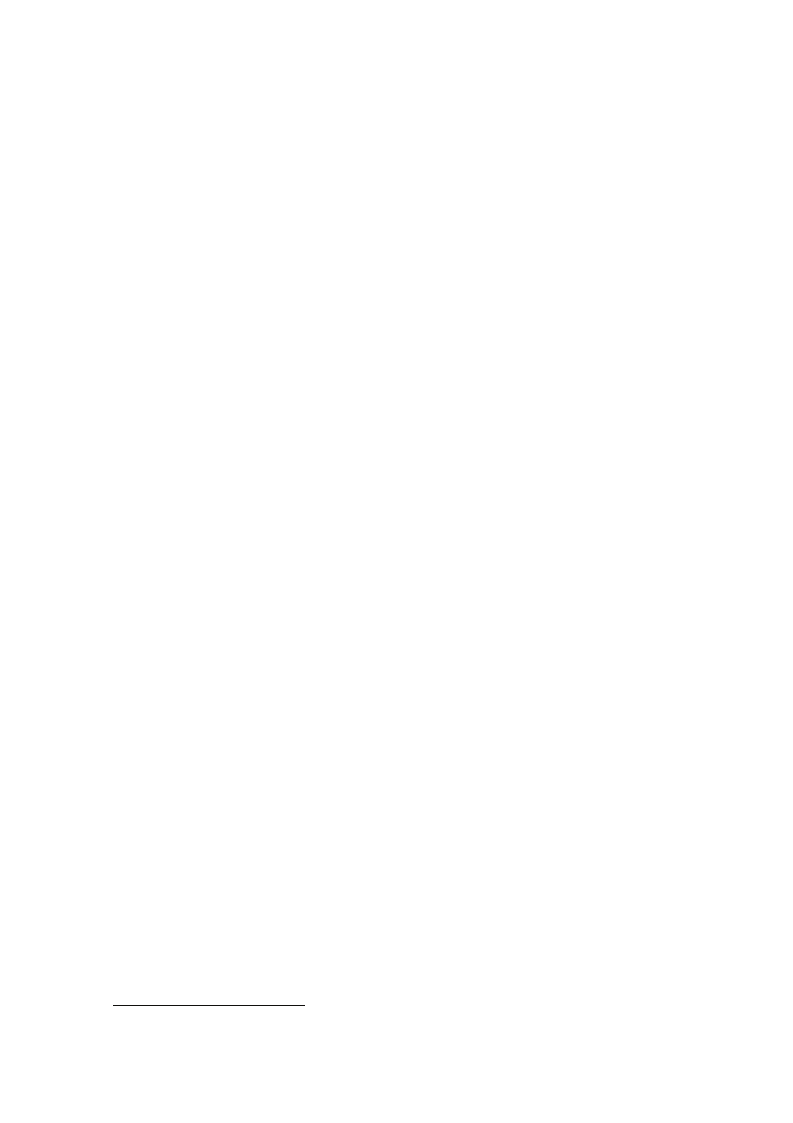
sentia nas primeiras sessões. E assim ia mudando de atitude:
Pra eu não querer ser o salvador da pátria, eu fui vendo, aprendendo,
cada vez que eu terminava uma terapia dia de quinta-feira. Eu
chegava em casa arrasado, cansado, quebrado, não tinha nem
condições de ler, nem de estudar porque era um choque do que eu via
com as teorias e eu queria que houvesse choque, mas um choque
criativo, não um choque de um modelo contra o outro, pra destruir,
mas para compreender. Então eu fui vendo que eu tinha as minhas
dependências de teorias, e toda convicção é uma prisão. Eu só posso
me abrir ao outro se eu tiver dúvidas. Então eu fui lançando questões
pra refletirmos juntos no grupo.
Pode-se perceber que uma postura contra-hegemônica permeou a terapia
desde seu princípio. Isso se demonstra também no esforço de Adalberto pela construção
de uma relação de igualdade entre os sujeitos. Ressalte-se aqui seu contato anterior com
as idéias de Paulo Freire (1987), conforme foi discutido no capítulo I. E foram essas
idéias, a história de vida e o modo de ser Adalberto que conferiram à terapia um
aspecto diferencial, em relação a outras modalidades terapêuticas: apesar de ser um
método sistematizado por um intelectual, ela não foi concebida a partir deste
referencial, e sim, de uma perspectiva coletiva, entremeada com elementos simbólicos
de sua própria experiência e da comunidade onde ela nasceu.
Leonardo Boff (2003, p.8)103 diz que Adalberto “ascendeu a todos os graus
da evolução cultural até a escala mais avançada da crítica e do pensamento europeu,
sem entretanto perder ou renegar suas origens.” Ele conta como renunciou,
naturalmente, ao poder instituído pelo saber acadêmico:
Teve um pouco da intencionalidade, mas eu nunca pensei em criar um
modelo que um dia eu iria ser conhecido, não me interessava ser isso
ou aquilo... essa necessidade de aparecer, coisa que eu nunca quis foi
estar na frente brilhando, é uma coisa que eu não tenho.
Na verdade, segundo Adalberto, os dois títulos de doutorado obtidos na
Europa vêm referendar a terapia, “validando o discurso do índio, porque eu voltei mais
brasileiro do que fui”.
Assumindo essa perspectiva, ele descreve como foram se estabelecendo os
elementos constitutivos da terapia, a partir do conhecimento cotidiano e também das
103 Prefácio do livro: “O índio que vive em mim”, de Adalberto Barreto e Jean-Pierre Boyer (2003).
119

teorias científicas104 que, aos poucos, foram se entrelaçando, enquanto o ritual se
estruturava:
Ela foi crescendo na medida em que nós fomos sentindo a
necessidade de estruturar. Ela foi sendo feita com o fazer. Como uma
pesquisa ação. Então a gente foi estruturando o acolhimento,
estabelecendo as regras, vimos que como tinham muitos casos
apareciam dez casos tínhamos de escolher apenas um... porque
escolher apenas um... aí a gente criou aquele momento da escolha do
tema... qual desses temas mais me tocou... aí eu fui vendo que na
realidade não se escolhia um tema importante a gente se escolhia ao
se escolher um tema porque eu só reconheço o que eu conheço...Tem
algo da psicanálise também, porque fui vendo pela psicanálise que eu
só reconheço o que eu conheço. Se a maioria votou na depressão, só
votou na depressão quem conhece a depressão então eles têm algo a
falar. Isso eu fui estruturando pouco a pouco, quando fui entendendo
“não, não têm uma escolha por decisão racional. A pessoa pensa, o
mais importante foi aquela história dali por isso, por isso...” não é
uma escolha teórica, uma justificativa não implicada. Era porque
aquela história tinha algo a ver com a pessoa que escolhe. Fui vendo
também que isso era mais que uma escolha, que nós estávamos
preparando para a democracia. As pessoas aprenderem a dizer: “eu
voto em tal pra presidente, por quê que eu voto nele?”e eu pedia pras
pessoas falarem porque votaram “porque eu acho que o que ele tá
dizendo tem a ver com...” então tem também um lado pedagógico das
escolhas, das pessoas compreenderem que a gente para escolher os
nossos candidatos, os nossos políticos, nós precisamos justificar
nossas escolhas...
Ao longo desse processo, observa-se que, além da psicanálise, que
fundamenta a questão da implicação do sujeito na escolha do tema a ser trabalhado,
Adalberto demonstra a influência Freiriana nos aspectos democráticos na terapia. O
ideal humanístico e libertário de Freire (1997) manifestam-se desde o período
embrionário da terapia, dado que Adalberto tomara contato com a obra do autor na
década de 1970, quando cursava teologia no seminário, ao mesmo tempo em que
cursava medicina.105 Ao ser indagado por mim numa entrevista, com relação à
influência das idéias de Paulo Freire na elaboração do ritual da terapia ele diz o
seguinte:
a terapia comunitária é uma síntese de toda a minha formação que
inclui conceitos de filosofia, teologia, além dos conhecimentos
médicos, psiquiátricos, antropológicos, adquiridos nas diversas
104 As bases teóricas que fundamentam a terapia foram citadas na introdução deste trabalho.
105 Naquele período ele já desenvolvia trabalhos sociais no Pirambu, tendo criado o Centro de Estudos do
Menor e Integração na Comunidade, trabalho que funcionou de 1970 a 1974.
120

formações que fiz. A dimensão pedagógica da terapia tem influência
de Paulo Freire sim, mas só vim me dar conta disso depois de três ou
quatro anos de trabalho, quando comecei a sistematizar o suporte
teórico para ministrar um curso de formação em terapia comunitária
patrocinado pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB). Esse curso surgiu porque a coordenadora da pastoral da
criança na época, Dra. Zilda Arns Neumann viu minha apresentação
num congresso e me convidou. Aí deu-se início ao curso de formação
de terapeutas comunitários”. 106
O caráter de humanização percebido no pensamento de Adalberto encontra
semelhança nas idéias de Freire (1984, 1987, 1997), que muitos anos antes se empenhou
no esforço de entender as necessidades das classes populares. Freire, no Círculo de
Cultura, procura desenvolver um método pedagógico centrado no discurso e no
universo cultural dos oprimidos. Identifica no discurso dessa classe palavras
mobilizadoras que facilitam o processo de ensino-aprendizagem, possibilitando uma
leitura de mundo que leva à autonomia. Adalberto, por sua vez, diante da necessidade
de desvendar na fala dos participantes da terapia conteúdos expressivos de seus
conflitos psicossociais, elabora uma estrutura ritual através da qual emergem elementos
do imaginário coletivo.
Um outro aspecto em que a terapia se aproxima da proposta freiriana é
quanto ao desenvolvimento da consciência crítica, à politização do homem. A respeito
da teoria política na obra de Paulo Freire, Apple e Nóvoa ( 1993, p.63 ) comenta:
“o processo de conscientização opera predominantemente como
parte e parcela dos fatores subjectivos para a mudança social. A
conscientização torna mais claro o caminho para uma
compreensão crítica da situação de opressão e o modo de a
ultrapassar. Esta consciência crítica emerge num contexto
específico de contradições sistêmicas e luta de classe, e portanto
na radicalidade das classes populares.” [...] essa consciência
implica então, inequivocamente, a intenção de transformação
radical do sistema político”. [...] nos escritos de Paulo Freire a
educação era concebida como um fator instrumental para ajudar
o homem e a mulher a reflectirem sobre a sua vocação
ontológica como pessoas, ou seja, para ajudar a criar uma
consciência crítica da sua realidade.
106 Essa foi a primeira e mais importante atividade para a multiplicação da terapia porque possibilitou a
formação de centenas de terapeutas, provenientes de diversos estados do Brasil que passaram a praticar e
divulgar a terapia em seus locais de origem.
121

Assim como em Freire (1987) é também propósito da terapia comunitária
promover a humanização através do desenvolvimento da auto - consciência e da
percepção da situação de dependência, qualquer que seja ela. Nos pressupostos da
terapia, a identificação do sofrimento e a busca de superação é o primeiro passo para o
despertar de uma consciência mais ampla. Consciência de estar no mundo e reger seu
próprio caminho. Estes serão os temas dos próximos capítulos. No capítulo 3 tratarei da
ressignificação do processo saúde-doença e auto-gestão de itinerários terapêuticos. No
quarto capítulo abordo a questão do desenvolvimento do ser político através da terapia
comunitária.
Até aqui, procurei demonstrar as peculiaridades do nascimento da terapia no
Pirambu e seu desenvolvimento no emergir de um movimento social nas lutas
travadas na favela e também suas relações teórico-filosóficas com o método da
educação popular de Freire (1987, 1997). A seguir, vou explicitar outros aspectos
importantes para o processo de implantação da terapia como política pública,
focalizando algumas das dificuldades enfrentadas.
2.6 A Terapia Comunitária torna-se Política Pública
No decorrer de dois anos de existência da terapia comunitária, ocorrem no
Brasil importantes mudanças no setor saúde, no tocante à área da saúde mental. No
plano político, por exemplo, após uma luta de vários anos, pela reforma psiquiátrica, o
Senado Federal, aprova o projeto de lei Nº 3.657, em 1989, que inicia a desativação dos
complexos manicomiais, substituindo-os por serviços abertos e centros de convivência,
com terapêutica multidisciplinar. Pouco depois, o estado do Ceará se posiciona
ativamente diante da reforma com a publicação da lei estadual de 29 de julho de 1993,
que levou à implantação de vários Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em diversas
cidades do interior e na Capital, Fortaleza. Enquanto nos CAPS as equipes
multiprofissionais tentavam implementar as primeiras inovações no sentido de trabalhar
numa abordagem mais preventiva e integrar os pacientes à comunidade, continuavam as
demandas da população menos favorecida por espaços e experiências de curas
alternativas. Nesse contexto, a terapia comunitária continua seu processo de
desenvolvimento.
122

Acontece que, apesar de ter se iniciado num período em que ocorriam as
mudanças políticas descritas acima como a promulgação da nova Constituição em 1988
e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990 a terapia não encontra, de
início, apoio por parte das autoridades gestoras, além de enfrentar preconceitos por
parte da classe médica e da academia, que não a reconheciam como prática científica.
Isto porque, como mencionei anteriormente, sua simples existência significava um
desafio à eficácia e ao poder do modelo biomédico instituído.
Para aprofundar essa questão, busquei luz no pensamento de Foucault
(2005, p.25), quando faz a pergunta: “quem exerce o poder? Onde o exerce?” O autor
parte dessa indagação para refletir sobre o fato de que a noção de “classe dirigente” não
é muito clara nem muito elaborada. E que “dominar”, “dirigir”, “governar”, “grupo no
poder”, “aparelho de Estado”, etc. constituem um conjunto de noções que exige maior
análise, vez que, para ele o poder é algo difuso e por demais complexo [...] “Ninguém é
propriamente seu titular; e, no entanto, ele sempre se exerce em determinada direção,
com uns de um lado e outros do outro; não se sabe ao certo quem o detém; mas se sabe
quem não o possui”. (FOUCAULT, 2005, p.25),
A reflexão de Foucault (2005) sobre o poder incide sobre a questão das
dificuldades de implementação da terapia dentro do sistema de saúde dado que, se por
um lado, a terapia não parecia possuir poder algum, em seu início, uma vez que ela não
era nada mais que uma experiência incipiente, ainda por se definir enquanto método
terapêutico, por outro, incomodava o fato de um grupo de favelados, liderado por um
médico idealista e seus alunos, se reunirem debaixo de um velho cajueiro para discutir
problemas da vida na periferia e com isso conseguirem bons resultados. Nesse contexto,
apesar do número crescente de participantes e interessados que se agregavam
diariamente à proposta da terapia, ela se deparava com o desdém de uma medicina, que,
além de consagrada pelo caráter “científico”, estava historicamente condicionada a uma
forma de atendimento elitista e voltada para o combate à doença ao invés de uma visão
preventiva.
Quem, com “um certo” status econômico ou intelectual, se interessaria por
um método como a terapia comunitária? Pelo contrário, ao invés de apoiar, a classe
123
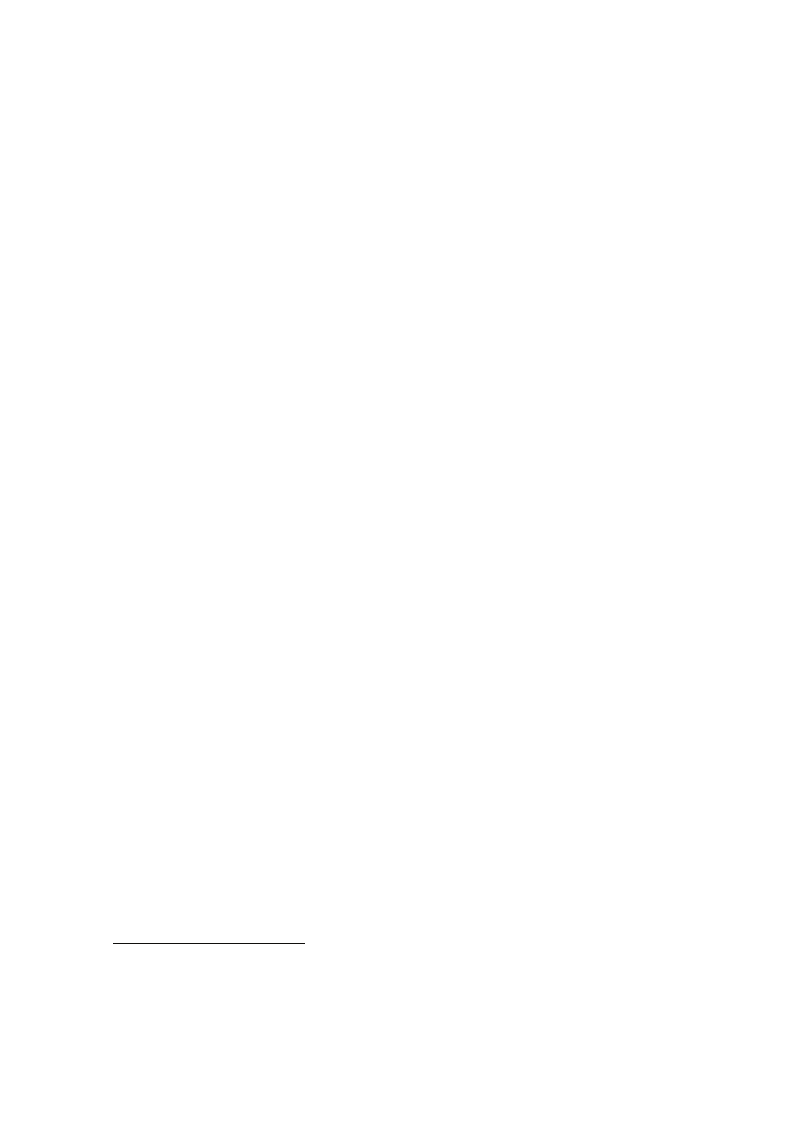
média e alta (incluindo gestores de saúde e alguns representantes da academia) de início
a receberam com indiferença ou, em alguns casos, ofereceram-lhe resistência.107
Participei da organização de alguns eventos realizados em Fortaleza, como
congressos e jornadas na área de psiquiatria, alguns inclusive com o tema da Reforma
Psiquiátrica, cujo debate se intensificou entre o final da década de 1980 e o início dos anos
1990. Nessas oportunidades, a terapia comunitária não era sequer citada. Vejo que parte da
antipatia, aparentemente gratuita, derivava do preconceito advindo da tradicional marca de
autoritarismo presente na sociedade brasileira e, conseqüentemente, da história da Medicina
no Brasil. No Brasil colônia havia um pequeno número de médicos, formados na Europa,
cujos serviços eram reservados apenas aos membros da corte e autoridades militares. O
restante da população recebia os cuidados dos cirurgiões barbeiros, boticários e parteiras,
autorizados a preparar alguns medicamentos, curar ferimentos, e fazer pequenas intervenções
cirúrgicas. Quando chegaram os negros, estes recorriam, muitas vezes, às crenças de seus
antepassados, evocando, para a cura, as forças espirituais (SOARES, 2001).
Desta forma, a dominação social e política, fomentava o autoritarismo do
modelo biomédico, instituído pelas academias de medicina, cujo poder emanava da
racionalidade científica que impregnou a civilização ocidental a partir do século XIX.
Era portanto, compreensível que, no alvorecer da terapia no Ceará e no Brasil, as classes
dominantes se negassem a somar esforços no sentido de sua oficialização, uma vez que
fazia parte de práticas de medicina popular, com as quais a elite não se identificava.108
Apesar dela ter surgido em 1987, num momento bem próximo à criação do SUS (1990),
a medicina oficial ainda se revestia com o poder do saber científico medicocêntrico.
Este modelo constituía obstáculo à emancipação do ser humano, uma vez que seus
pressupostos determinavam que cabia ao médico a gestão dos problemas de saúde do
paciente e, portanto, se opunha ideologicamente à terapia, por ser uma prática
libertadora.
Pode-se assim compreender porque nem o poder econômico representado
pela sociedade burguesa, nem o poder científico inculcado na medicina oficial,
poderiam valorizar uma proposta terapêutica emergente de um movimento social. No
caso da terapia comunitária, havia um agravante: o fato dela ter se originado na favela
107 Por outro lado, o caráter auto-sustentável do projeto despertou sempre muito interesse de ONGs e
Associações comunitárias que vinham em busca de conhecer como se dava a gestão comunitária e a
sustentabilidade dos recursos.
108 As formas como a terapia enfrenta o desafio de promover a inserção social, por meio do
desenvolvimento da dimensão política do ser humano será discutida no Capítulo IV.
124

do Pirambu, uma das áreas mais marginalizadas de Fortaleza. O preconceito contra a
terapia atingia também Adalberto que, como ela, tem em sua história a “marca”, de sua
origem vinculada ao Pirambu. Pertencente a uma família de retirantes que veio em
busca de moradia como todas as outras, ele conseguiu entrar para o seminário e cursar
medicina. Chegou a ir à França, fez doutorado. Poderia ser reconhecido nesse aspecto,
mas, ainda é visto por outros colegas de origem social mais elevada sob o estigma de
imigrante desvalorizado. Talvez por isso, quando não creditavam valor à terapia, essa
reação não se limitava a ela, apenas, mas ao seu sistematizador e porta-voz, Adalberto.
O comportamento dessas pessoas do meio acadêmico, proveniente de classes
burguesas, faz parte de uma visão de mundo preconceituosa que resiste a aceitar a
cultura e os saberes populares, bem como, os veículos não convencionais de
transmissão de aprendizagens nas sociedades de classes.
Brandão (1997) analisa o sistema de comunicação simbólica através do qual se
dá a transmissão intencional de saberes numa coletividade humana. Ele se refere às
formas primárias de aprendizagem que ocorrem, por exemplo, na atividade tribal ou em
núcleos familiares em fase de organização da vida societária. O autor demonstra que,
através dessas formas de aprendizagem que precedem à organização escolar, a
circulação de bens simbólicos entre os membros de um mesmo grupo social produzem a
cultura.
Na visão do autor, a evolução econômica e social dos grupos promove
transformações em seus sistemas de organização. Começam a surgir novos critérios e
padrões que vão plasmando de forma diferenciada a estrutura da sociedade, suas classes
e a relação entre elas. O setor da educação é um dos primeiros a ser mobilizado, no
sentido de ser posto a serviço da classe dominante que passa a se legitimar como
portadora de uma cultura “erudita”, entendida como expressão legítima da sociedade
inteira, que é contraposta à cultura dita “popular”. Por essa ótica, a divisão da sociedade
em classes, a partir de critérios econômicos, é responsável pela cisão de princípios e
valores que passam a orientar diferentes padrões educativos e formar diferentes sujeitos.
Esse processo tende a consolidar as diferenças entre classe com base nos valores da
cultura hegemônica que, a partir do domínio das estruturas de poder, desqualifica e
desvaloriza os elementos criativos da cultura popular, a qual pretende anular. Com esse
propósito considera-a inconsistente e difusa ao contrário da cultura erudita,
sistematizada, especializada e portanto legitimada. Registra Brandão que as
125

comunidades primitivas vivem à margem desse processo, de modo que em sua cultura
não se produzem distinções dessa natureza.
As idéias de Brandão (1997) permitem fazer um paralelo com a percepção
de Andrade (2006, p.61) quando analisa a relação de desigualdade existente entre o
conhecimento científico da medicina oficial e o saber popular. Na opinião do autor, o
jogo social conduz a posições relativas, nas quais a chamada medicina complementar,
baseada em saberes não-formais, ocupa posição de inferioridade, lutando “para
conquistar um capital social mais significativo”.
Valla (2000, p. 12) afirma que as dificuldades de compreender o discurso
das classes populares em sua essência estão mais relacionadas à incapacidade de
aceitação de uma cultura autônoma e original dessas classes, do que, propriamente, ao
seu conteúdo, por parte das classes dominantes. No caso, os sujeitos que falam não são
considerados a partir do que falam, mas seus discursos são subentendidos pelo prisma
de suas condições sociais e culturais, tais como, tipo e local de moradia, aproximação
maior ou menor do poder aquisitivo tomado com padrão subliminar. Daí porque
Adalberto não foi, de início aceito, porque trazia uma proposta construída
coletivamente, a partir do conhecimento de pessoas oprimidas.
Os argumentos de Valla (2000) reforçam a idéia de que a “crise de
interpretação” das falas das classes populares é mais um desdobramento da concepção
estratégica das classes favorecidas sobre estas classes, como se não tivesse capacidade
de criar uma cultura e expressá-la adequadamente. Dessa forma, a classe hegemônica
rotula a outra de passiva e apática, gerando uma cadeia de deduções sintomáticas que
dificultam a comunicação e conseqüentemente, a compreensão do discurso das classes
subalternas.
Enquanto era essa a realidade do setor saúde no Brasil, em países que já haviam
avançado em suas mudanças, onde vigorava uma concepção mais ampla do processo saúde –
doença, Adalberto era solicitado a apresentar a terapia como importante proposta inovadora.109
Nesse mesmo período em que sofria o descaso e a incompreensão em seu próprio habitat,
obtinha êxito em suas participações em eventos em países da Europa e nos Estados Unidos da
109 Em 1998, o Projeto Quatro Varas ganhou o primeiro prêmio internacional de 30.000 dólares da “The
Conservation Foundation” submeteu o Projeto ao ‘Children’s Summit Fund” organizado pela “Disney
Magazine” em cooperação com a UNESCO. O dinheiro do prêmio foi investido na infra-estrutura do
projeto, ampliando duas atividades voltadas para crianças e adolescentes em situação de risco.
126

América (E.U.A.).110 Surgia a demanda por cursos de formação em terapia comunitária em
alguns países. Em 2000, Adalberto foi convidado a participar de uma mesa-redonda no
encontro da UNESCO, onde deveria falar sobre a relação da terapia comunitária com a
saúde no Século XXI em Paris. No mesmo período, foi convidado para fazer a palestra de
abertura do congresso anual da Academia Americana de Terapia Familiar e, assim,
participou de diversos eventos. Há seis anos Adalberto viaja anualmente para formar
terapeutas comunitários em Grenoble na França, com apoio do Instituto de Formação de
Trabalhos Sociais e do Instituto de Formação em Cuidados de Enfermagem, e há quatro
anos realiza cursos de formação na Escola de Altos Estudos Sociais de Genebra, na Suíça.
Nessas idas e vindas de intercâmbio científico, fez muitos contatos e
construiu grandes amizades no exterior, o que vêm auxiliando a levar a terapia além das
fronteiras do Brasil. Hoje, a Associação Européia de Terapia Comunitária, com sede em
Genebra, trabalha para implementar a terapia nos programas europeus de saúde pública,
pelo enfoque da inclusão social e em defesa de uma visão multicultural nas práticas de
saúde. Existem unidades de terapia comunitária na França, Suíça e Itália.
Estimulada pelas novas
experiências, em 2007, veio conhecer o
projeto Quatro Varas, a Dra. Margareth Chan,
diretora da Organização Mundial de Saúde,
acompanhada do Secretário de Saúde do
Estado do Ceará, Luiz Odorico Andrade
Monteiro, do Reitor da UFC Ícaro de Souza
Moreira, além de outras autoridades. Os
avanços que a terapia comunitária têm
conseguido no exterior, nos últimos anos,
aceleraram seu processo de reconhecimento, Figura 26: Autoridades no Laboratório do Projeto
Quatro Varas
também no Brasil. Nessa dinâmica, o Projeto
110Inclusive alguns destes trabalhos resultaram em publicações em periódicos científicos nacionais e
internacionais: 1. O Manual do Terapeuta Comunitário, subsídios ao trabalho nas áreas de educação e
saúde comunitária, com cerca de 250 páginas, em uma linguagem simples e adaptada para uso
comunitário; 2. Un Psychiatre Dans la Favela. Livro sobre a prática etno-psiquiátrica na Comunidade de
Quatro Varas. Colection les empecheurs de penser en rond - septembre 1995 Paris; 3. L’indien qui est
en moi. Livro sobre a busca de identidade do pesquisador através de seu trabalho em uma favela e seus
estudos na Europa- Paris fevereiro de 1996. 4. Do sertão à favela: da exclusão à inserção social. Livro
de arte, Francês/Inglês/Português, com 190 páginas de desenhos coloridos, relatando os dramas, vitórias
das famílias dos imigrantes que fogem da seca. Ilustrado com os cartões do atelier de desenho do Projeto
Quatro Varas. Ed. VT, Fortaleza 1999.
127

Quatro Varas recebe estagiários de vários estados do Brasil, bem como de outros
países. São estudantes de universidades brasileiras e estrangeiras, ou voluntários
desejosos de conhecer a terapia ou colaborar em um trabalho de cunho social.111
Os avanços da terapia comunitária enquanto processo de ensino-
aprendizagem podem ser compreendidos de acordo com a concepção de Schön(2000)
com relação a uma prática reflexiva na educação. O autor chega ao entendimento de
que uma boa formação demanda esse permanente voltar-se sobre si mesma, que é
refletir sobre a ação, como prática constante. A prática reflexiva gera o perfil do
reflective practitioner que o autor define como o profissional que se torna capaz de
articular o conhecimento tecnológico à arte de fazer bem aquilo que é a sua atividade.
Pode ser caracterizado como um talento para perceber, na prática, a dinâmica dos
processos de aprendizagem, identificando a natureza de cada problema e traçando um
quadro de estratégias referentes a cada aspecto das situações vivenciadas.
O autor defende a idéia de que um sistema individual de aprendizagem
sendo flexível, é auto-atualizável, pela reflexão em ação. Dessa forma, a aprendizagem
incorpora elementos da prática refletida.112 Pode-se fazer um paralelo entre o
pensamento de Shön (2000) e a proposta da terapia, no sentido de que ela foi plasmada
em processos de construção/reconstrução a partir da prática e da experiência não só por
parte de Adalberto, mas também do coletivo que participava. Ele refletia sobre as
demandas que iam surgindo, elaborava intervenções. E, à medida que as
experimentava, ia sistematizando definindo o ritual. Paralelamente essa prática
sistematizada tornava-se um novo campo de conhecimento a ser transmitido. E como se
daria a multiplicação da terapia enquanto método de abordagem? Como ela poderia
além de ser praticada, ser aprendida e ensinada?
Para a compreensão desse processo, até a institucionalização da terapia
comunitária como política pública, retomo a história do que acontecia com ela no
decorrer da década de 1990, no Brasil. Essa institucionalização tem relação direta com
os avanços políticos relacionados à ação dos movimentos sociais de todo o país. Um
avanço conseguido foi o fato destes movimentos terem começado a participar na
111 Há inclusive apartamentos mobiliados para hospedagem dessas pessoas que visitam ou desejam
permanecer algum tempo desenvolvendo pesquisas sobre a terapia ou realizando outras atividades no
Projeto.
112 Ele atribui ao sistema de aprendizagem essa natureza dinâmica e as características que marcam as três
últimas décadas do século XX, período em que as idéias de Schön começaram a ser tomadas como
referência para os profissionais da educação, também no Brasil.
128

gestão do espaço estatal e na definição de políticas públicas, inclusive e de forma
decisiva, na área da saúde. Nesse processo, os movimentos se reorganizaram e
passaram por muitas mudanças. No início da década de 1990, ao invés de aparecerem
como antes, sempre de modo conflitivo, eles passaram a interagir com o Estado, ao
mesmo tempo em que começam a realizar ações junto à sociedade civil. Isso aconteceu
porque, apesar de alcançarem algumas vitórias com as lutas, nem sempre conseguiam
efetivar suas propostas nos novos espaços conquistados. Passaram então a buscar as
parcerias e a co-gestão de políticas públicas. (FELTRAN, 2005).
Os movimentos foram em grande parte responsáveis pela construção de
um sistema co-participativo envolvendo Estado e Sociedade. Isto porque, aos poucos,
eles vão abandonando as ações reivindicatórias para ampliar a abrangência de seu lado
político. Os debates adquirem maior riqueza participativa e profundidade política e
surgem, a partir dessa pluralidade, outras lógicas que se estendem ao Setor Saúde,
ampliando o espaço para o debate público e a participação popular.
Não se pode negar a influência e o papel dos movimentos sociais na
abertura desses espaços, que representaram a possibilidade de construção de direitos e
cidadania, especialmente no que tange ao setor saúde. Cria-se a perspectiva do diálogo
e da convivência com a diferença, fator indispensável para a instalação da política, no
sentido proposto por Nogueira (2001, p.32): “A admissão de que existem pontos de
vista variados, cada um com sua dose de verdade e merecedor de idêntico respeito”.
Contextualizando, pode-se considerar que os movimentos fizeram com
que pensamentos dialógicos ganhassem espaço e adquirissem eficácia, de forma a
orientar uma luta “centrada nos debates, nos campos já abertos historicamente, na
gestão de espaço públicos não estatais, etc, para que não se percam.” (FELTRAN,
2005, p.341).
Nesse contexto de mudanças e de instituição de alianças, após quase vinte
anos em que o Prof. Adalberto vinha divulgando a terapia em todo o Brasil e no
exterior, a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), decide realizar uma parceria com
o Projeto Quatro Varas, financiando, no período de 2005 e 2006, um projeto de
pesquisa-ação113 com objetivo de fazer uma experiência piloto de implementação da
terapia comunitária de forma mais ampla no Brasil. Através desse projeto seriam
treinados 720 terapeutas para atuarem com a terapia comunitária no SUS. Envolveram-
113 Relatório Técnico Científico sobre o Impacto da Terapia Comunitária como Recurso de Prevenção e
Atenção na Comunidade. Convênio SENAD/ MISMEC-CE/ UFC- Nº 16/2004.
129
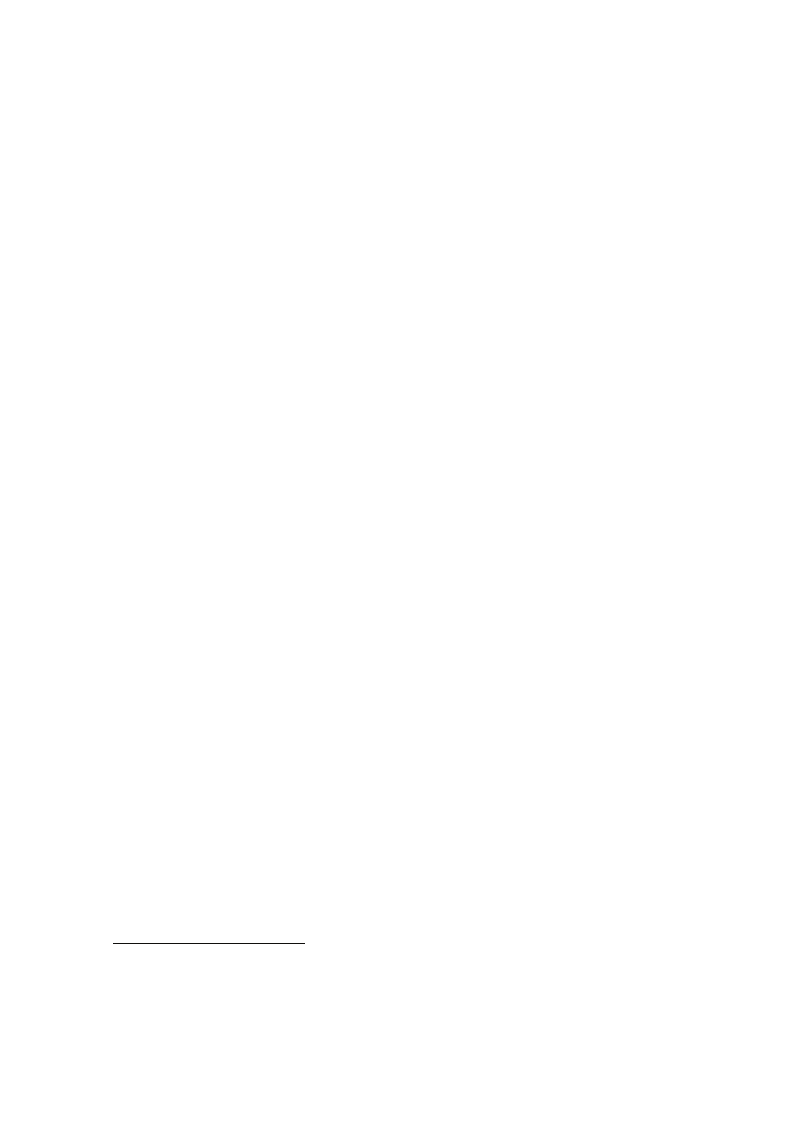
se diversas categorias de pessoas, a saber: participantes, terapeutas comunitários em
formação e formadores. O projeto, realizado em 12 dos 36 pólos formadores
selecionados entre os estados do Brasil permitiu a análise qualitativa de 12.000
questionários investigando as transformações pessoais e a construção de vínculos a
partir da experiência da terapia. Ao final do processo, concluiu-se que a terapia
comunitária promove direta ou indiretamente a prevenção do uso do álcool e de outras
drogas, o exercício do auto-cuidado e a valorização dos recursos culturais, oferecendo
ainda estratégias de empoderamento pessoal que contribuem não só para a promoção da
saúde, mas também para a busca de autonomia.
A pesquisa revelou que os problemas que mais apareceram, foram, organizados
em 14 categorias, a saber: 1) Conflitos familiares, 2) Alcoolismo, 3) Drogas, 4)
Estresse, depressões, 5) Conflitos em geral, 6) Abandono, 7) Violência, 8) Depressão,
9) Trabalho, 10) Rejeição, 11) Prostituição, 12) Transtornos psiquiátricos, 13)
Discriminação, 14) Outros. Esses dados indicam que a terapia comunitária trabalha com
sete dos dez fatores determinantes da saúde preconizados pela OMS114: as
desigualdades sociais, o estresse, a exclusão, o trabalho, o desemprego, as dependências
e o apoio social. Além disso, o estudo indicou que, apesar dos participantes
investigados terem freqüentado apenas oito sessões, sentiam-se mais encorajados a
entender seu problema como aprendizado, tomando consciência do seu próprio valor e
de suas possibilidades. Muitos despertaram para a necessidade de aprimoramento
pessoal e profissional, e alguns para a busca de ajuda nos serviços públicos de saúde, no
próprio grupo ou na comunidade.
No final de 2007 o Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, ficou muito
impressionado ao tomar conhecimento dos resultados da pesquisa principalmente o fato
de que 88,5% dos problemas apresentados encontraram solução na própria terapia
comunitária e apenas 11,5% das queixas precisaram ser encaminhadas para a rede
oficial de atendimento médico. Em segundo lugar, chamou-lhe a atenção o fato de que
as alternativas apontadas nas rodas de partilha, eram todas acessíveis à comunidade,
como por exemplo: uso de chás, caminhada, leitura, escrita, praia, música, massagens,
114 A Organização Mundial de Saúde - OMS considera hoje que os agravantes sociais e psicossociais são
responsáveis pela maioria das doenças e causas de mortalidade. São dez os fatores apontados pela OMS
como “determinantes da Saúde”: As desigualdades sociais: O estresse, situações vividas na primeira
infância, a exclusão social, o ambiente do trabalho, o desemprego, a falta de apoio social, as
dependências, a alimentação e o transporte
130
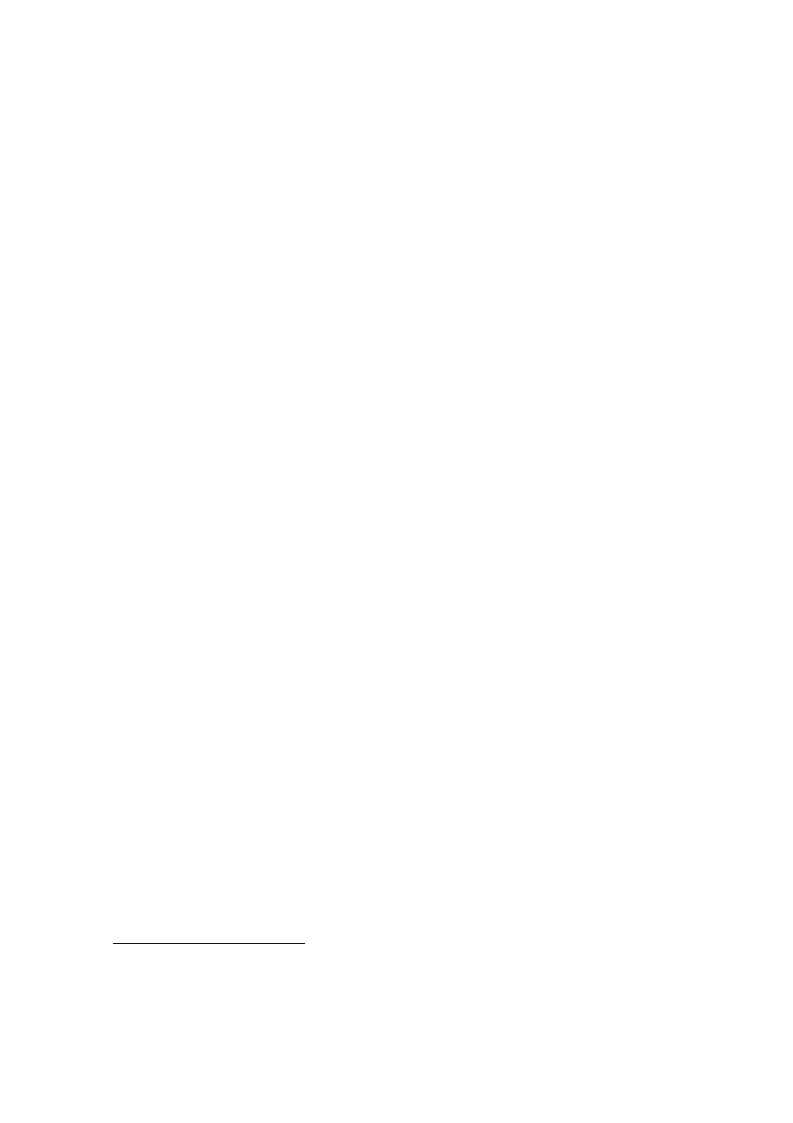
práticas religiosas, dentre outras115. Resolveu então convidar Adalberto para uma
conversa e, a partir desse e de outros contatos, foi assinada uma portaria incluindo a
terapia comunitária como política pública do SUS, estabelecendo-se de início um
convênio (Nº 3363/2007) entre o Ministério da Saúde, Secretarias estaduais e
municipais de Saúde e o MISMEC – UFC, com o apoio da Fundação Cearense de
Pesquisa e Cultura. O objetivo era de capacitar profissionais do SUS a trabalharem com
a terapia comunitária.
Para fazer parte do convênio, foram selecionados 15 pólos de formação,
dentre os 36 existentes no país, sendo oferecidas 70 vagas para cada um. O total de
1005 vagas foram distribuídas entre todos os estados e municípios, priorizando locais
que atendem um maior número de pessoas por meio do Programa de Saúde da Família
(PSF). O projeto já está em vigor, com a realização do primeiro módulo do curso em
agosto de 2008. O objetivo é implantar a terapia de forma ampla e geral, nos postos do
PSF, em todos os recantos do país. Só no Rio de Janeiro está prevista para 2009 a
formação de 40 turmas de terapia Comunitária, com apoio da Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ) em parceria com a UFC e a Associação Brasileira de Terapia Comunitária
(ABRATECOM).
Em entrevista recente a Profa. Henriqueta Camarotti, criadora do MISMEC
–DF116 em Brasília e uma das coordenadoras da ABRATECOM pude esclarecer como
se dá esse processo de formação, quem tem acesso, perfil de candidatos a terapeutas,
dentre outras questões:
Na nossa formação Mismec-DF, hoje já na 9ª turma em 2008, temos
inúmeras situações de alunos que chegaram a formação via sua
participação nas Rodas de TC nos inúmeros locais do DF.Nas turmas
de formação há uma maioria de pessoas pagantes como profissionais
de saúde e outras áreas, mas também se incluem participantes de rodas
de Tc que pleitearam bolsas para a formação e portanto, não pagantes.
Na maioria pessoas sem nível superior de formação ou profissão da
área de saúde. Segundo os critérios da Abratecom, podem ser
formadores as pessoas que tenham completado o Curso de Formação
em Terapia Comunitária e também do Cuidando do Cuidador, além de
estar atrelado a um Pólo formador credenciado pela abratecom. Não
115 A importância desta abordagem reside também no fato de que, no atual momento, a OMS recomenda
que os países em desenvolvimento utilizem seus próprios recursos nas políticas de saúde. Além disso, é o
momento também em que o SUS vem buscando a desmedicalização do processo saúde-doença através de
formas contextualizadas e de atender às demandas da maioria da população brasileira.
116 Em Brasília-DF funcionam 39 rodas de terapia e um pólo formador.
131

há restrição quanto a questão da escolaridade, classe social ou
condição de ser paciente ou profissional de saúde117.
Ela diz que muitos dos formadores são pessoas que chegaram à terapia como
pacientes de saúde mental, e que após algum tempo de participação nas sessões, fizeram
a formação e hoje fazem parte da professores. Como psiquiatra e militante da saúde
mental, na luta anti manicomial, ela assim se coloca:
tenho muito claro em mim que essa separação paciente-profissional,
recebedor-doador é um conceito ultrapassado. Penso que a grande
parte do conhecimento de um trabalho de saúde mental está nessa
integração com os usuários e familiares, Assim sinto e ajo nas
instituições públicas e privadas por onde ando.Desde que conheci a
terapia comunitária tenho me encantado com a fluidez desses papéis.
Digo mais, a substância do conhecimento que temos sobre a terapia
está nos interstícios da prática e logicamente isso se passa na relação
EU-TU citando Buber. Venho também da formação da Gestalt terapia
e pra mim é muito forte o conceito buberiano da relação pessoa-
pessoa e não EU-ISSO.
Desta forma, a Terapia comunitária tem tomado uma forma muito ampla,
assumindo características diferenciadas conforme as particularidades culturais das
regiões onde ela se realiza. Ela afirma: “A terapia não perdeu logicamente a ligação
com a fonte que é o Adalberto, mas tem muitas aquisições que sido feitas nos vários
pólos formadores”
A terapia vem assim, despertando interesse das autoridades gestoras do
Setor Saúde por se constituir em um método terapêutico facilmente adaptável às
condições locais e regionais dos serviços de saúde, bem como por ser exeqüível por
qualquer profissional engajado no SUS. Como política pública, ela beneficia a
população, cujas demandas nem sempre podem ser atendidas na abordagem do modelo
biomédico, e, por outro lado, também promove a desmedicalização das práticas em
saúde, e utilização de recursos emergentes do próprio contexto, segundo orientação
117 Cita o exemplo de D. Marieta que chegou à terapia pelo curso de agente da Paz promovido pela
cidade da paz. Quando soube que haveria o curso de formação para terapeutas ele pleiteou uma bolsa.
Era moradora da Ceilândia, pessoa simples, vinha há alguns anos fazendo um trabalho de apoio
comunitário na periferia de Brasília por conta própria. Quando conheceu a terapia ficou absolutamente
maravilhada pois era o instrumento que ela precisava para dinamizar um trabalho que ela já fazia
espontaneamente.E ela conseguiu seu objetivo. Em todas as turmas há uma percentagem de 20 a 30 % de
pessoas proveniente dos grupos, comunitários, militantes de ONGs etc.que fazem o curso sem nenhum
ônus.
132
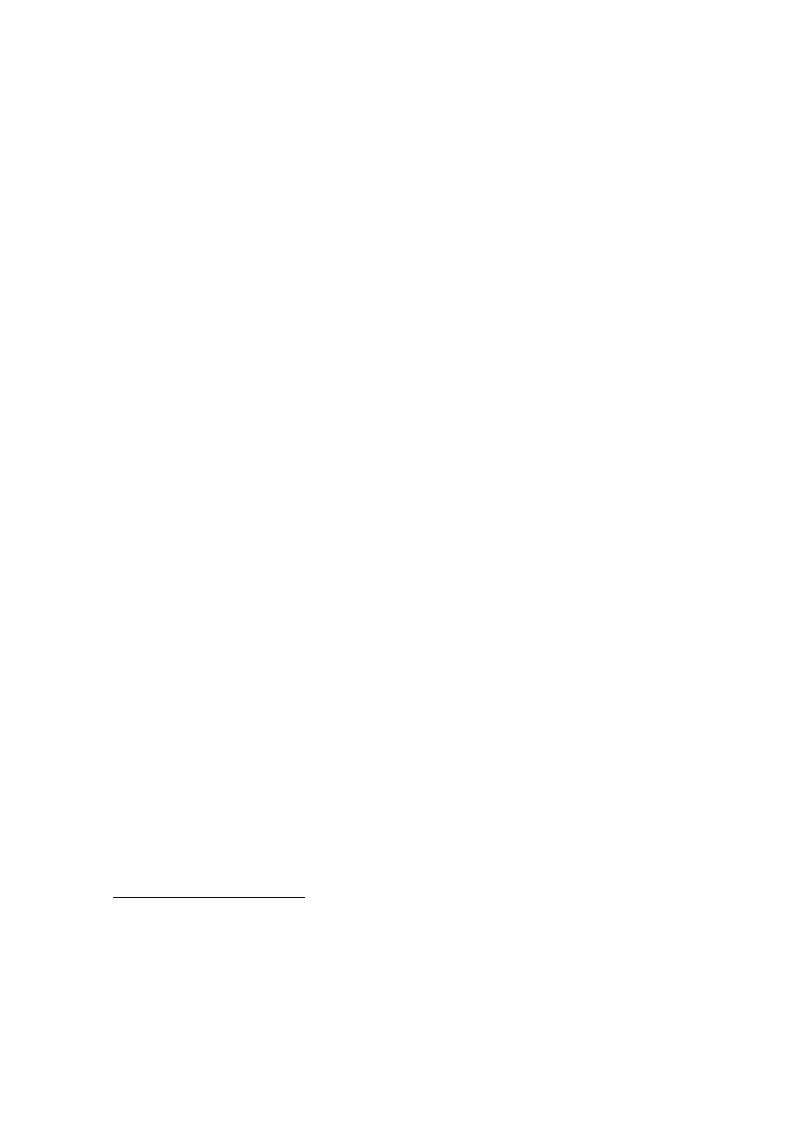
atual da OMS, especialmente para os países do terceiro mundo e países em
desenvolvimento.118
Além dessa formação destinada aos profissionais do SUS, quem desejar
fazer a formação em terapia comunitária pode se inscrever em qualquer um dos pólos
formadores espalhados pelo país, com endereço disponível no site
www.abratecom.org.br. O preço dessa formação, varia entre R$ 900,00 e R$
1.400,00119 de acordo com a região e as condições estipuladas pela equipe
organizadora, sob supervisão da ABRATECOM. Este valor pode ou não incluir
hospedagem, translado e material pedagógico. O curso também tem formatos diversos,
mas, de forma geral, consta de 360 horas, distribuídas em 4 módulos de 40 horas,
realizados em um hotel, em regime intensivo, e intercalados por intervalos de 45 dias,
em que os participantes devem realizar 80 horas de terapias nas instituições onde
trabalham. Ao longo desse tempo são marcadas 8 supervisões, de 15 horas cada,
somando 120 horas, no total.
Hoje, em Fortaleza, a terapia é praticada pelo SUS, na comunidade Quatro
Varas e em mais três núcleos onde há também diversas atividades terapêuticas,
organizados de forma semelhante ao Projeto Quatro Varas. Esses núcleos localizam-se
localizados nos bairros de Conjunto Palmeiras, Granja Portugal e Bom Jardim. Neste
último, há uma ONG, que coordena um centro de formação de terapeutas120, inspirado
no Projeto do Movimento de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim- MSMCBJ,
que funciona desde 1996. O responsável é o Padre e psiquiatra, Rino Bonvini que
coordena também o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ali existente. No Brasil,
existem oficialmente, registrados na ABRATECOM, mais de duzentas unidades de
terapia comunitária, além dos 36 pólos formadores.
Apesar dos questionamentos que o tema da terapia comunitária pode
despertar não se pode deixar de enfatizar o que sua proposta tem apontado para outros
caminhos. Por exemplo, quanto à questão de desestabilizar formas antigas de
abordagem formal e humanização das práticas em saúde. Como vimos em relação a sua
similaridade com a proposta de Paulo Freire, a terapia, de fato não é um conhecimento
118 No período de 5 a 8 de agosto de 2008 a III Mostra de Saúde da Família, promovida pelo Ministério da
Saúde, reuniu cerca de 8.000 profissionais do PSF. Nos quatro dias do evento foram realizadas rodas de
terapia pela manhã e à tarde. Cada sessão programada para acolher 50 pessoas sentadas nas cadeiras
chegou a reunir até 120 pessoas, sendo que muitas delas insistiam em participar, mesmo tendo que sentar-
se no chão.
119 Valores referentes ao ano de 2008.
120 No Bom Jardim vivem 170 mil pessoas das quais cerca de 30% estão abaixo da linha de pobreza.
133

novo, ela se sustentado em linhas teóricas preexistentes e constitui uma construção
constante de conhecimento socialmente compartilhado. Isso se reflete em sua prática.
Adalberto sistematizou uma metodologia que reúne diversas linhas e tendências. Desta
forma ele criou uma forma de chegar as pessoas.
134
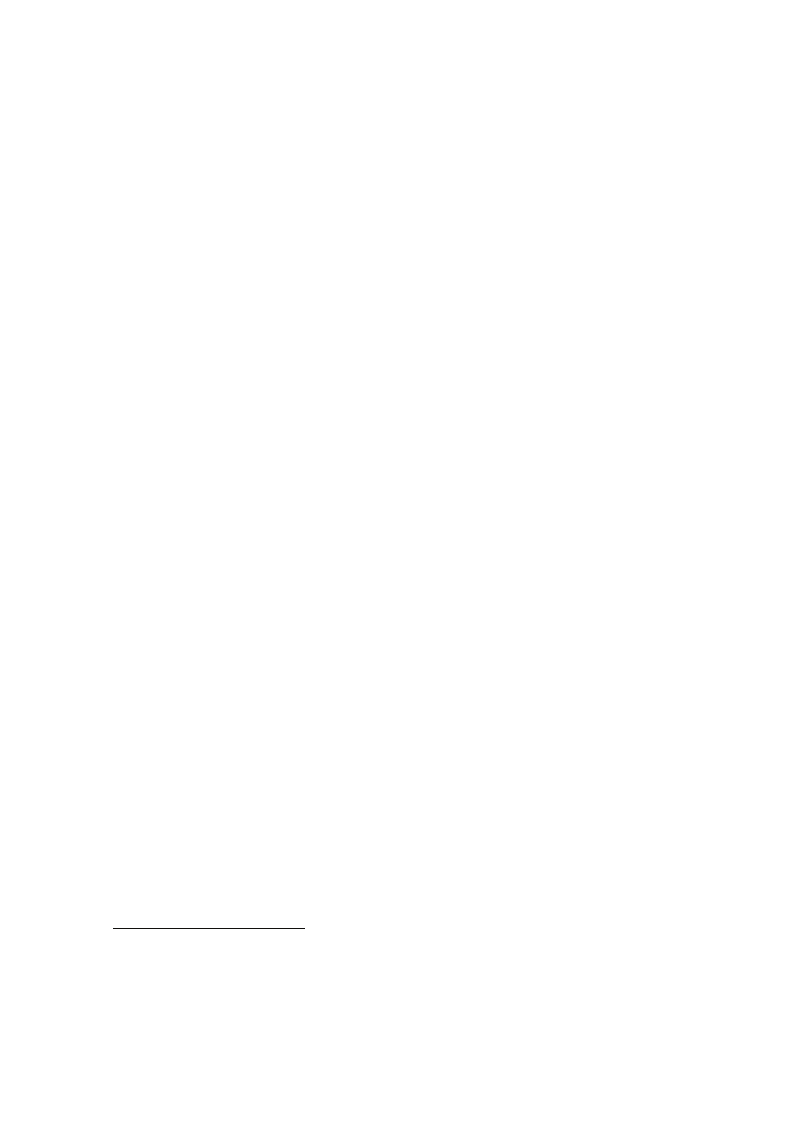
CAPÍTULO III – DE PACIENTE A TERAPEUTA: A RESSIGNIFICAÇÃO DO
PROCESSO SAÚDE-DOENÇA E EMPODERAMENTO NA TERAPIA
COMUNITÁRIA
O grande desafio para um homem da ciência é o de
aproveitar o calor gerado pelo choque das diferentes
percepções.
Adalberto Barreto
Meu esforço maior nesse capítulo faz-se no sentido de explicitar as
dinâmicas internas através das quais o indivíduo pode ampliar suas concepções a
respeito do processo saúde-doença, e, ao mesmo tempo, desenvolver sua autonomia. A
autonomia é entendida aqui, mais especificamente, como a superação da dependência
do modelo biomédico que ao determinar práticas prescritivas exerce poder sobre o
indivíduo, limitando suas possibilidades de auto-gestão. O objetivo é discutir o processo
através do qual a terapia promove a ressignificação do sofrimento, e o redirecionamento
do itinerário terapêutico para uma busca de desenvolvimento pessoal que leva à
conquista da cidadania.121
3.1 Seu Zequinha: “eu aprendi uma experiência: a gente só aprende a nadar
caindo n’água, né?”
A terapia comunitária é uma abordagem que considera o homem um ser
complexo e ao mesmo tempo singular, cuja trajetória de desenvolvimento envolve a
combinação de inúmeros fatores, como: constituição física, estrutura familiar, nível
socioeconômico, escolaridade, crenças, hábitos e valores que se combinam ao longo de
um lento e minucioso processo no qual ele evolui de um estado de imaturidade
psicoafetiva até a condição de indivíduo adulto. Ao longo dessa jornada, o homem se
121 Devido à opção de construir uma etnografia da terapia, detalhando aspectos terapêuticos do ritual,
fez-se necessária uma adaptação das normas técnicas, no sentido de permitir que as falas dos
participantes sejam colocadas no corpo do texto, integradas ao material colhido do diário de campo, as
observações e análises que me suscitaram. Serão colocadas segundo as normas técnicas padronizadas para
esse estudo, apenas as citações dos autores consultados.
135
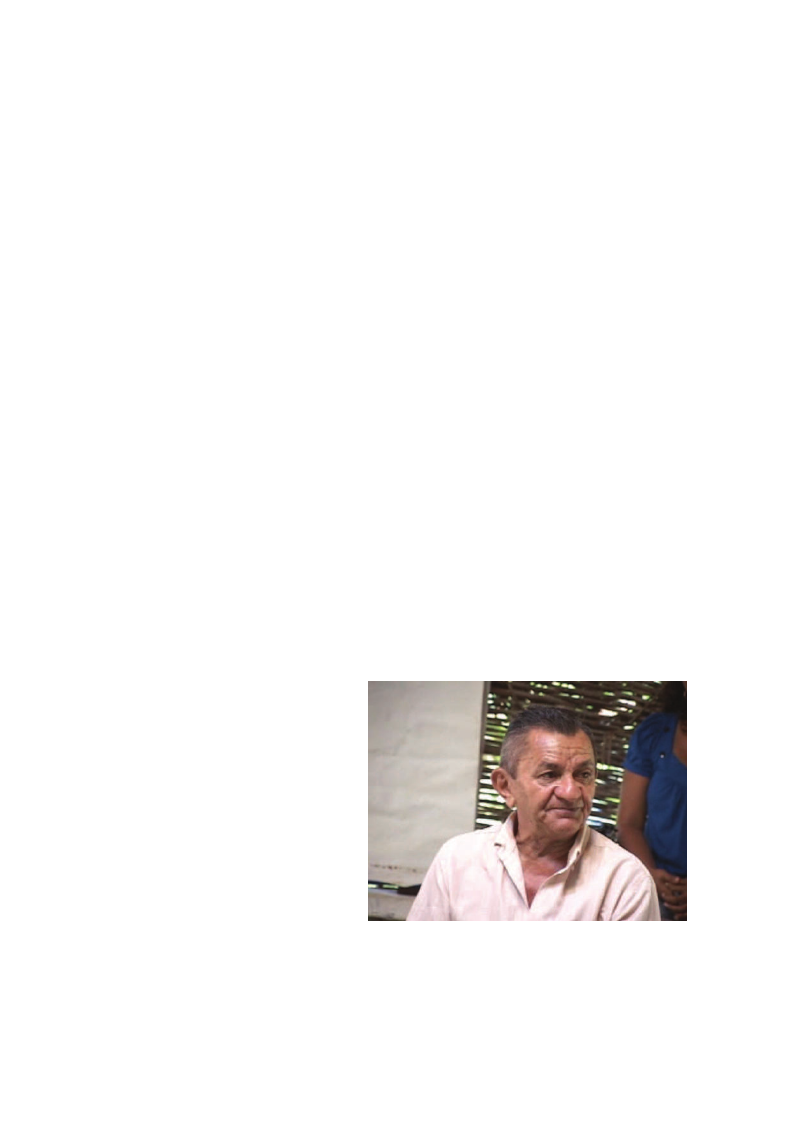
depara com seus limites e potencialidades diante dos enigmas que envolvem a vida e a
morte. É a problemática do adoecer que muitas vezes o leva à terapia. Chegam vários
tipos de demandas, desde estados pré-clínicos, nos quais existe apenas a sensação
subjetiva de desconforto, até quadros de doenças bem definidas e sintomas já instalados.
Vou tentar demonstrar aqui que alguns dos sujeitos que buscam a terapia,
encontram mais que um simples método popular de cura, iniciando um itinerário
terapêutico que começa com a reforma do próprio eu, do modo de ser e perceber o
mundo. Tomarei por base a história de quatro “pacientes” que ressignificaram seus
sintomas em um novo projeto de vida, para explicitar de que forma a participação na
terapia, além de ter auxiliado no restabelecimento da saúde, constituiu uma
oportunidade de ampliação de vínculos e desenvolvimento da capacidade de tomar
decisões, e assumir responsabilidade pela própria vida, o que, em última instância
representa um passo rumo à autonomia.
Seu Zequinha é o primeiro dentre os quatro personagens cuja trajetória vou
apresentar neste capítulo. Eu o vi pela primeira vez em setembro de 1996, numa de
minhas idas ao Projeto Quatro Varas, no Pirambu, quando desenvolvia um trabalho
voluntário. Ele estava coordenando uma sessão de terapia da qual eu não recordo muitos
detalhes, mas lembro que percebi nele um homem de coragem, com capacidade de
liderança e bem articulado. Quando iniciei a pesquisa de campo e passei a freqüentar
mais as sessões da terapia, vi que ele dirigia a maioria delas, alternando com Adalberto
e outros terapeutas.
Ele tem um jeito de
caboclo. Estatura baixa, cabelo liso e
preto, penteado para trás. A camisa
de cor clara, com mangas longas
arregaçadas ou dobradas até o meio
do braço, faz com que pareça sempre
disposto a entrar na terapia como um
lutador entra no ringue, ou o
cirurgião que pega o bisturi para
iniciar uma cirurgia. Tem energia de Figura 27: Seu Zequinha
sobra e é muito criativo e, ao mesmo
136

tempo, transmite sabedoria nas rugas de expressão que desenham em seu rosto o
sofrimento acumulado ao longo da vida.
Minha percepção a seu respeito foi se construindo na convivência durante os
períodos em que passei a freqüentar assiduamente o Projeto, em 2004, e, em todo o ano
de 2005, durante a pesquisa de campo, quando o entrevistei algumas vezes. Sua história,
em alguns aspectos, é semelhante à de outros terapeutas comunitários que chegaram a
Quatro Varas como pacientes e, por meio da terapia, conseguiram saltar para fora do
círculo de dependência do modelo biomédico, encontrando novas formas de superar suas
dores e conflitos.
Seu Zequinha me auxiliou a responder algumas das perguntas fundamentais
para os objetivos deste estudo: que importância atribuem à terapia as pessoas que
investem nela a ponto de se tornarem terapeutas? Ao chegar à terapia, que soluções
procuravam para enfrentar a dor e a doença? Por qual motivo, após a melhora dos
sintomas, continuaram freqüentando as sessões? Que respostas encontraram para suas
demandas? Até que ponto a terapia as estimulou a lutar pela cidadania, a defender seus
ideais e valorizar suas crenças?
Mas, não é só por isso que ele comparece aqui, abrindo este capítulo e sim
porque, dentre os muitos terapeutas que conheci, ele se diferencia pela profundidade das
situações-limite que venceu, do sofrimento que cruzou desde a infância, como ele
mesmo diz: “muitas vezes eu me sentia alheio, não tinha nem vontade de viver porque
era tanto sofrimento, principalmente pelo que passei, que inclusive eu tentei três
suicídios, porque eu não me sentia gente.” Pobreza e abandono, migração forçada pela
seca, desemprego, internações psiquiátricas, não conseguiram impedir que construísse
uma vida pautada no trabalho honesto e uma corajosa trajetória política com a criação
de um importante movimento social no bairro do Pirambu.122 A somatória de todos
esses aspectos tornou-o o terapeuta comunitário mais conhecido do Projeto Quatro
Varas. E, ainda hoje, quer faça chuva ou sol, todas as quintas, às duas da tarde,
impreterivelmente, lá está ele, bem composto e à disposição para iniciar a terapia, com
alma e coração, dando continuidade a uma história que começou na Serra do Sozinho,
entre as cidades de Santana e Nova Olinda, na parte mais árida da região do Cariri.
122Até 1975 só havia no Pirambu Conselhos Comunitários e Comissões de Conciliação. Seu Zequinha foi
o primeiro a organizar um movimento, em 1976, sendo também o primeiro presidente. (COSTA: 1999,
p.31)
137

3.2 “Eu não aprendi nada em livro, aprendi com o sofrimento, peia, decepção e
a vontade de vencer.”
José Lopes de Macedo, Seu Zequinha, nasceu em 1942, numa família de
agricultores. Encontrou privações reais em sua vida: “quantas vezes eu e meus irmãos
chorava pedindo farinha seca pra comer e não tinha?” E, além das dificuldades
materiais, outros dramas atravessaram sua infância, começando pela mãe que não era
uma pessoa carinhosa. O pai, a quem era mais apegado, faleceu quando tinha oito anos.
No ano seguinte, a mãe se casou com um homem violento e que não gostava dos filhos
de outro marido, “ninguém podia contestar o que ele dizia.” Aos quatorze anos de idade,
após vários confrontos com a mãe, que não o compreendia, sentiu-se rejeitado e tentou o
suicídio pela primeira vez: “Eu tinha muito desgosto porque eu nunca tinha visto minha
mãe fazer carinho em meu pai, apesar de que eu me lembro dele muito pouco, sentado
no colo dele. E eu falei e ela me bateu bastante, e aí eu fiquei com desgosto, e não sabia
outra forma de resolver, e ao invés de resolver o problema, eu queria me matar. Ai eu
subi pra cima de uma mangueira bem alta e quando eu cheguei em cima, eu gritei:
"mãe, mãe, mãe!" Ai ela falou: ‘ que é?’, aí eu falei: olha aqui, aí eu pulei bem do olho
da mangueira e saí me batendo numa galha e noutra. E o que foi que eu ganhei ainda?
Ganhei uns arranhão, fiquei com um problema no braço e levei uma pisa.”
Nem chegara aos quinze, quando o padrasto o expulsou de casa, com total
anuência da mãe: “Me botou de casa pra fora e minha mãe deu inteiramente apoio a
ele.” Aos dezesseis anos, teve de ir embora, devido à seca de 1958 que assolava o
interior do estado, forçando centenas de pessoas a migrar para Fortaleza. “Eu peguei o
ônibus em 58 e escapei assim como um animal. É eu escapei e muita gente escapou,
outros morreram, não resistiram...” Como a maioria dos migrantes, enfrentou
primeiramente a fome e o desamparo e, depois, o desemprego. Em 1964, quando já
trabalhava numa fábrica de móveis, resolveu se casar e, no final do ano de 1966,
comprou uma casinha de taipa na Rua Cura D’Ars, no bairro do Pirambu.
Nessa casa teve início o capítulo político de sua vida, que coincide com um
período de muitas crises emocionais que o levaram a conhecer os sinistros recantos dos
hospitais psiquiátricos. Mas isso não aconteceu de forma repentina e, sim, após anos
seguidos de penúria na favela, de afastamento de suas raízes sertanejas, e quando
138

chegou a ponto de não poder mais manejar as máquinas na fábrica de móveis onde
trabalhava. “Quando eu ligava a máquina eu me assustava. Ia prum canto e começava a
chorar... Então, o José Vidal, dono da fábrica, disse, olha, você tá com muitos
problemas...” Insistindo para que fizesse um tratamento, o patrão que nunca sequer
perguntou o motivo de sua angústia, nem sabia o nome de um só parente dele,
reclamava que “não podia trabalhar assim doente”.
Temendo perder o emprego, caso pedisse uma licença, rejeitava a idéia de
procurar o serviço de saúde, reagindo com agressividade diante do patrão, que, num dos
vários desentendimentos que tiveram, resolveu lhe “dar as contas”. “Aí eu fui pro
médico e ele falou que eu tinha que me internar. Tive umas três vezes internado, no
Hospital São Vicente de Paula, no Nosso Lar e no Hospital Mira Lopez.” Porém, não
aceitava o fato de continuar em acompanhamento no ambulatório para “doentes
mentais”. Logo que saía do hospital, parava de tomar os remédios, experimentava
tratamentos naturais com ervas, ia à rezadeiras, sem resultado. Desempregado e com os
problemas se agravando, tinha muitas recaídas, voltando sempre aos cuidados médicos.
A casa que comprara ficava numa rua sem calçamento, não tinha luz
elétrica, nem água encanada. Num daqueles períodos de intervalo em que estava fora do
hospital, tentando conviver com os sintomas, resolveu levar aos vizinhos a idéia de
fazer reuniões para discutir a situação da falta de luz. “[...] foi nós que inventemo lá na
rua... E eu comecei a conversar com os moradores pra nós arranjar luz e resumindo, nós
fizemo um teste, com duas pessoas: todo mundo com a mão em cima da bíblia: Quem
recuar é traidor. De duas passou pra quatro, de quatro pra oito. Aí nós se encamiemo,
sem nós saber, sem saber se expressar, mas nós queria é luz. Aí fomo na Coelce, era
umas 150 pessoas. Quando chegou lá, aquela multidão de gente entrou. Aí um senhor
disse: “É uma invasão, chama a polícia”. Quando a polícia chegou, nós já tava era
longe. Aí nós fomo no jornal O POVO, no outro dia, foi o prato do dia: ‘Coelce nega
receber o povo do Pirambu’. Nós já tinha feito reivindicação antes e eles só diziam: não,
não, não. Quando nós levemo os 150, a coisa mudou, com dois dias chegou os poste. Aí
a gente se empolgou.”
Emociona-se ao falar no assunto, assumindo um ar distante como se diante
dele passassem cenas de um filme épico, cheio de heroísmo. Algumas lágrimas brotam
das profundas lembranças daqueles momentos em que buscava vencer a doença,
distraindo-se com a luta do dia-a-dia. Entre uma e outra dessas batalhas consigo mesmo,
139

ele tentava organizar o movimento “União dos Moradores da Rua São Cura D’ars.” Isso
foi em meados de 1976. “Eu era altamente nervoso, mas junto com os outros, a gente
conversava e eu comecei a ir esquecendo dos problemas e vendo outras coisas pra
resolver. A coisa começou a clarear, porque eu comecei a lutar com várias pessoas,
ouvir novas idéias...” Gestava-se aí o embrião do processo de mudança pelo qual iria
passar posteriormente, até se transformar de paciente em terapeuta, na terapia
comunitária. Mas, antes de falar sobre isso, vou narrar a história de sua iniciação no
campo da política, porque foi, também, graças a essa experiência de liderança, que Seu
Zequinha se tornou o excelente terapeuta que é hoje.
No começo do movimento “União dos Moradores” as reuniões tinham por
objetivo reivindicar luz elétrica, depois veio a luta pela água e depois por outros
melhoramentos para a Rua Cura D’Ars. Com as vitórias sucessivas, a perspectiva de
luta foi se ampliando e a participação de Seu Zequinha tornando-se mais significativa
tanto para ele quanto para a comunidade. Para continuar assumindo a liderança, ele
tinha de se inteirar de outros movimentos que ocorriam na cidade, dialogar com
instituições, enfrentar autoridades. Nessa trajetória, foi aprendendo muitas coisas,
desenvolvendo as noções de cidadania e democracia, que expressa em metáforas: O
homem, ele deve olhar não para o pé da árvore, mas olhar para a floresta. E a única
saída para o nosso povo é a organização, é a terra, é a luta pela vida e pela liberdade. Eu
consegui uma vivência, uma experiência que eu acho que o mundo é muito bonito pela
experiência que eu consegui. Eu passei a deixar de ver uma árvore, eu passei a ver pelo
menos uma parte da floresta.
A ascensão política do Seu Zequinha é semelhante à de tantos outros
habitantes das periferias das grandes cidades brasileiras, nos anos finais do século XX.
Quase todos foram personagens que se engajaram em movimentos populares para
enfrentar a terrível situação de desigualdade imposta pela vida urbana, como foi o caso
do homem do povo, chamado Damião123, citado por (FELTRAN, 2005, p. 122). De
forma semelhante à que ocorreu com o Seu Zequinha, Damião descobre “o mundo
público” por meio da atuação no movimento 1º de Maio, entre os anos de 1993 e 1994,
em Carapicuíba - São Paulo.
O movimento teve início como luta de terras e por questões de moradia.
Não tendo onde morar, Damião entrou em contato com a política. As reuniões foram
123 Damião é uma das lideranças do movimento social na periferia de São Paulo
140

aos poucos modificando a concepção que tinha de si e a análise que fazia do mundo.
Até então, muitas coisas que lhe pareciam uma situação individual, como o fato de não
ter emprego e moradia, passam a ser percebidas como um problema compartilhado por
muitos, sendo, portanto, de âmbito mais geral. A participação no movimento político
lhe permitiu vislumbrar a problemática sob nova perspectiva. Deu-se conta de que,
como ele, tantos estavam sem teto, não porque fossem simplesmente incapazes, mas
porque havia algo maior determinando isso. “Havia algo na sociedade que empurrava as
pessoas como ele à condição de sem-teto. A política abria-lhe outra dimensão de
entendimento, até então também desconhecida.” (FELTRAN, 2005, p. 121).
Assim como Damião e tantos outros, Seu Zequinha, quase sem perceber, ao
se aproximar da política adentra um cenário vivo, no qual se torna um ator-social. O
problema da luz elétrica, motivação inicial, transporta-o para questões mais amplas, no
âmbito dos direitos sociais, do mundo público. E foi em pleno curso dessa trajetória que
ele chegou ao Projeto Quatro Varas. A forma como ele veio a conhecer o Projeto e o
desenvolvimento que teve na terapia, demonstram a importância da “iniciação política”
para a mudança no foco e na abrangência de sua percepção, para o alargamento de seus
objetivos iniciais que, a partir da terapia, são substituídos por outros mais amplos.
Em vários de seus depoimentos, como é o caso do depoimento do Zequinha,
pude observar que, partindo da questão das necessidades de sobrevivência imediata, a
política acrescentou a visão de um universo social ao qual passou a ter acesso e que o
levou a lutar pelos interesses comunitários. “Nós criamo uma rádio comunitária, a
primeira. Foi nós que criamo. Fui levar pros outros estados o incentivo, ensinar como
era que se criava. E era jornalista lá em casa e era num sei o quê...” Suas realizações
assumem a partir daí, um caráter de maior alcance social como, por exemplo, a criação
de uma outra sede para o movimento União dos Moradores, chamada de Projeto de
Ocupação de Menor, que se destacou nacionalmente, levando-o a viajar freqüentemente
a São Paulo, Brasília e Salvador. “Só em Salvador eu fui 29 vezes,” ele diz. Na
seqüência, ele realizou diversos encontros com temas referentes à violência urbana e,
numa destas oportunidades, Seu Zequinha convidou Adalberto Barreto para ministrar
uma palestra. Começou aí uma forte amizade entre eles. “Fizemos o 1º. Encontro de
Violência Urbana no Brasil. E nós fomo deixar 2500 cópias dum documento que nós
fizemo dumas reivindicações. Levamo daqui pra Brasília, numa Kombi para entregar
em sindicatos, igreja e etc. passamo 22 dias vendo o Congresso, a parte do Senado, na
CNBB, na Cárita.”
141

Com o poder que começava a experimentar, seu grupo foi se tornando uma
referência entre os movimentos sociais do Pirambu, o que não se deu sem confrontos
ideológicos e perseguições políticas, algumas delas, por parte da igreja. “Aí começou a
surgir problema: nós se reunindo e o padre Caetano. Era proibido a gente se reunir,
quando a gente dava fé a polícia chegava e acabava com as reuniões. Nós tentamo
incentivar o padre pra nos apoiar e um dia o padre veio. Reunidos no meio da rua, com
uma mesa e um cartaz escrito: “Bem vindo padre Caetano!”. Ele disse: É um gesto
muito bonito, mas tenham cuidado no Zequinha, porque o Zequinha tem umas atitude
de comunista! Ah, rapaz! Era coisa que eu tinha mais medo na minha vida, era
comunista, porque o que eu aprendi foram as piores coisas. Aí o pessoal disse: Ai você
era comunista e estava me enganando? Seu cabra safado! Aí pronto! Pararo o
movimento, me derrubaram, ficaram me batendo, um quebrou meus dentes. Aí eu fiquei
como morto, eles pensavam que tinham me matado. Eu morando assim bem pertinho.
Eles não me bateram mais porque tavam certo de que eu tava morto. O padre ficou
olhando e depois saiu. Eu não vi mais nada, eu sei que quando eu me acordei atordoado,
vi aquele grupo de gente: Ele tá vivo! Ele tá se mexendo! Aí eu me levantei, quando eu
cheguei em casa minha esposa disse: Meu Zequinha, você me enganando todo esse
tempo e você era comunista? Não vou querer morar mais com você, não. Maria não faça
isso comigo, eu tô lutando por luz para a nossa rua. Isso foi em 77. Aí eu fiquei em casa
e os pessoal passava e jogava pedra: “Aqui mora o monstro!”. Jogava pedra na porta,
em cima da casa. Aí eu fiquei numa situação difícil.”
Depois de três dias “lavando com vinagre e água de sal e a cara toda
deformada”, Seu Zequinha foi à arquidiocese, esclarecer que não era comunista,
explicar como era o movimento que liderava e o que queria. Desfeito o mal-entendido,
obteve apoio de um dos padres que forneceu dinheiro para a construção da sede. Depois
de algum tempo, o padre Caetano também aderiu à proposta, aliando-se a ele, que foi
então convidado a auxiliar no trabalho que a igreja vinha realizando no Pirambu. A
partir daí, segundo ele, Airton que, antes, também o perseguia, começou a trabalhar em
conjunto. “Porque o Airton vivia com o padre Caetano, e quando eles viram esse
movimento, aí o Airton começou a fazer também um trabalho, né... Começou a aparecer
gente e criar associação,” e assim outros movimentos e grupos foram se organizando,
apesar da repressão política.
142

Trilhava agora com naturalidade o caminho da vida pública, experiência
que, segundo Feltran (2005, p. 123) modifica a forma estabelecida de ver o mundo, “faz
o indivíduo questionar-se, traz incertezas e bem-estar, balança o que havia antes de
valores e cria referenciais novos. Emancipa.” Similarmente ao que ocorreu com
Damião, Seu Zequinha. “Nesse momento passa a fazer parte de um mundo novo, mais
ampliado. Escapa do lugar e da mudez previamente oferecidos a todos os pobres.” (Id-
Ibidem, p. 123). Encontra a liberdade que sempre almejou. Essa liberdade de participar
do mundo é vista por Rancière (1996) como uma das virtudes humanas. Uma virtude
que se manifesta quando o homem se faz presente por meio da fala, quando ele passa a
ser contado como um sujeito pertencente à sociedade.
Considerando-se que a sociedade é feita de parcelas e que, cada homem é
visto como um cidadão somente quando detém uma parcela de algo socialmente
valorizado como, bens, status, poder, quem não as tem é como se não contasse como ser
social. É excluído, um “sem-parcela” termo criado por Rancière (1996, p. 24). Ele diz
que existe então uma parcela da população que não detém parcela de nada, e, portanto,
faz parte da “parcela dos sem-parcela.” Para Rancière, a liberdade é uma virtude que
permite a essa parcela da população que não tem nada, fazer parte da comunidade,
porque detém a liberdade, uma virtude que é um atributo de todos que pertencem à
sociedade. E isso se torna possível graças a liberdade de expressar-se por meio da fala,
pois esta passa a ser considerada uma “virtude comum, permite aos homens que não
tomavam parte em nada identificar-se com o todo da comunidade política mediante a
parcela (pertencente) dos sem parcela.”(Id-ibidem, p.24) É desta forma que as pessoas
que não têm bens ou títulos, “esse amontoado das pessoas de nada, torna-se povo, a
comunidade política [...]” A partir de quando utiliza a fala, o sujeito que antes, por não
ter nada, não pertencia à sociedade, pode opinar e decidir em assembléia, passando a ser
também um cidadão.
Rancière (1996, p. 38) relata um conto de Ballanche124 o qual diz que,
durante o período áureo do Império Romano, em que somente os patrícios contavam nas
decisões políticas por dominarem o uso da palavra, os plebeus, que não tinham esse
domínio, em geral reivindicavam seus direitos na luta corpo-a-corpo. Certa vez, alguns
desses plebeus se reuniram e, ao invés de armar trincheiras e preparar uma guerrilha,
124 Ballanche, “Formule générale de tous lês peuples appliquée à l’ histoire du peuple romain”, Revue de
Paris, setembro de 1830, p.94.
143

fizeram o que não se esperava deles: agiram como se fossem patrícios. Reuniram-se
para falar, consultaram o oráculo, escolheram representantes, rebatizando-os e, após
algum tempo, já assumiam atitudes civilizadas, semelhantes àquelas dos patrícios,
“comportaram-se como seres que têm nome”.
E assim, a partir da mudança no modo de se comportar, “descobrem-se, ao
modo da transgressão, como seres falantes, dotados de uma palavra que não exprime
simplesmente a necessidade, o sofrimento e o furor, mas manifesta a inteligência”.
Criam um lugar numa ordem simbólica da comunidade dos seres falantes, numa
comunidade que ainda não tem efetividade na ‘civitas’ romana,” (RANCIÉRE, 1996, p.
39). E assim organizam um espaço no qual falam como os patrícios, de modo que a
dominação destes não teve mais fundamento. Naquele momento, o Senado Romano,
composto de um conselho de velhos sábios se reúne e conclui: “já que os plebeus se
tornaram seres de palavra, nada mais há a fazer, a não ser falar com eles.” Para os
patrícios eles não contavam até então, porque não faziam parte da cena política, não
opinavam nas assembléias e por isso não eram reconhecidos seus direitos. Um patrício
certa vez chegou a dizer a um plebeu: “a desgraça de vocês é não serem.” Depois de
terem descoberto o uso da palavra, os plebeus de “mortais” que eram, tornaram-se
“homens”, passaram a tratar dos assuntos que diziam respeito ao destino coletivo.
Vivendo um processo semelhante de transformação de sem-parcela
(favelado, doente mental, retirante) a membro da comunidade política (líder de um
movimento), Seu Zequinha conquistou mais um espaço público ao ser convidado para
uma reunião, no Projeto Quatro Varas que ainda estava se estruturando. Sempre que fala
nesse assunto, ele não deixa de enfatizar: “Eu fui convidado pras Quatro Varas pelo Dr.
Adalberto. Foi ele que me convidou.” Importa o fato de Adalberto, médico, pertencente
a uma categoria socialmente reconhecida, ter percebido e valorizado sua capacidade.
Tal fato era a confirmação da nova identidade social que adquirira com a liderança
política, que vinha enriquecer a antiga identidade de caboclo, retirante, favelado e,
substituir o estigma de ex-paciente psiquiátrico.
Depois desse primeiro contato, como era de seu feitio, passou a dedicar-se à
causa do Projeto Quatro Varas, chegando a ser convidado, em 1993, para o cargo de
administrador. Porém, sentiu que, para desempenhar esta nova função com eficiência,
teria de deixar a liderança do movimento União dos Moradores. E foi o que fez,
decidindo dar mais um passo em direção à sua vida.
144

3.3 “Apanhei tanto de chicote que aprendi a dançar o xote!”
Em uma oportunidade, perguntei ao Seu Zequinha como percebia todo esse
processo que o levou até a terapia, e ele me pareceu convicto de que nada disso havia
acontecido por acaso. Uma coisa foi levando à outra. Como administrador do Projeto
Quatro Varas, coordenava muitas das reuniões da diretoria, em parceria com Adalberto.
Fazia questão de participar de quase todas as atividades ali desenvolvidas, apesar da
saúde debilitada, que o levou depois a aposentar-se pelo INSS. Dentre essas atividades,
priorizava a terapia, porque, além de representar uma nova possibilidade de buscar a
saúde, atraía-o também pela perspectiva de poder falar de suas vivências, e colaborar
com os outros. Nos momentos de partilha, trazia sua rica experiência de vida, que ali era
valorizada.
Gostava de contar como saiu dos tratamentos psiquiátricos, comparando
com o que encontrara na terapia. Ressaltava o fato de que, enquanto num ambulatório
médico formal seus sintomas seriam anotados num prontuário e resultariam numa
prescrição médica, na terapia comunitária eles davam início a uma longa conversa, em
que todos podiam falar e compartilhar das mesmas dores: a saudade do interior, o
desemprego, as incertezas da vida. “Como eu disse, fui vendo a situação dos outros. Eu
comecei a notar que tinha gente pior do que eu. E de cada problema que eu via tirava
uma lição.”
Em várias sessões ele também se colocava, pedindo ajuda para abordar
algum problema recente ou antigo, trazia trechos de sua vida, se questionava. Em uma
das sessões em que eu estava observando e fazendo anotações, no momento da partilha
ele descreveu como foi trabalhada uma antiga mágoa que há muito tempo o limitava,
levando-o a revoltar-se contra Deus e contra a mãe. “A situação veio à tona em uma
sessão, em que o mote era: ‘qual é sua maior mágoa? Aí eu falei: Eu tenho duas
mágoas, uma é com minha mãe e outra mágoa é com Deus. Eu tinha tanta raiva de Deus
que quando, eu começava a falar, eu me tremia assim e chorava. Porque na minha
cabeça, nessa época eu pensava o seguinte, que Deus não era Deus dos pobres, era Deus
só dos ricos, porque um ficava pensando como era que ele ia viajar para outro país e, eu
queria me deslocar para um canto, não ia porque era descalço.
Enquanto um decorava a casa, eu tinha dificuldade de encontrar um pedaço de
145

papelão para meu filho se deitar em cima. Aí eu achava que Deus era mau, era Deus dos
ricos. E eu passei a não acreditar nele, num certo tempo. Aí vê as coisas como é...
Minha mãe, eu tinha mágoa porque ela me batia tanto, batia, batia que só soltava
quando eu caía...”
Ele conta que a mágoa que guardava em relação à mãe foi elaborada no
momento em que um jovem psicótico que estava na terapia voltou-se para ele e disse:
“Seu Zequinha, eu sou sua mãe, como é que o Sr. quer que eu lhe dê amor, se eu nunca
recebi? Eu só fiz sofrer eu não posso lhe dar o que eu não tenho. Como é que eu posso
lhe dar amor, se eu nunca recebi amor? Aí eu caí na realidade. Eu compreendi, nessa
hora, porque era que a minha mãe era dessa forma. Ela não podia me dar o que não
tinha, porque a vida dela ainda foi pior do que a minha. Na época do carrancismo. Aí ela
não tinha amor pra me dar. Isso eu fui entender na terapia comunitária.”
Querendo me aprofundar um pouco na questão do insight, depois da sessão,
perguntei a ele: em que essa terapia contribuiu para a saúde do senhor? E ele me disse:
“Ela mudou minha visão de ver as coisas. E com a auto–estima, com algumas
explanação do doutor Adalberto, quando ele diz que a grande pobreza da pessoa não é
ele não possuir bens, mas sim uma pobreza que tá internalizada, com essas coisas eu
comecei a pensar que eu era que imaginava o negativo.” Ele se referia à Terapia da
auto-estima que freqüentou durante muito tempo, paralelamente às sessões da terapia.
Essa busca de outras abordagens como massoterapia, fitoterapia e outras oferecidas pelo
Projeto, foi introduzindo em seu universo conceitual novas referências sobre a saúde,
das quais, pouco a pouco ele foi se apropriando: “Então, eu comecei a pensar... O
Adalberto dava explicações assim de auto-estima, e nisso eu ia tirando lição. Teve
pessoas que conseguiam e teve outras que não. Mas, eu tava muito atento, e tinha muita
vontade de vencer, então, cada palavra que ele dizia, eu analisava e chegava à conclusão
de que muita doença era eu que criava com os meus pensamentos negativos.” A terapia
comunitária aprofundava sua experiência e direcionava o itinerário que o levaria cada
vez mais à compreensão de si mesmo.
Além do bem-estar que as sessões lhe proporcionavam, pela ressignificação
dos traumas da infância, também despertavam nele o desejo de se libertar de vez dos
riscos do adoecer psíquico. Queria também, no campo da saúde, desenvolver a
autonomia e a liderança, que já havia adquirido na política: “Eu tava aposentado... E,
por problemas, eles me aposentaram... E, alguns exames que fizeram, né, inclusive com
problema na cabeça, chamado sinusite crônica, né, aí eles me aposentaram. Já tinha uma
146
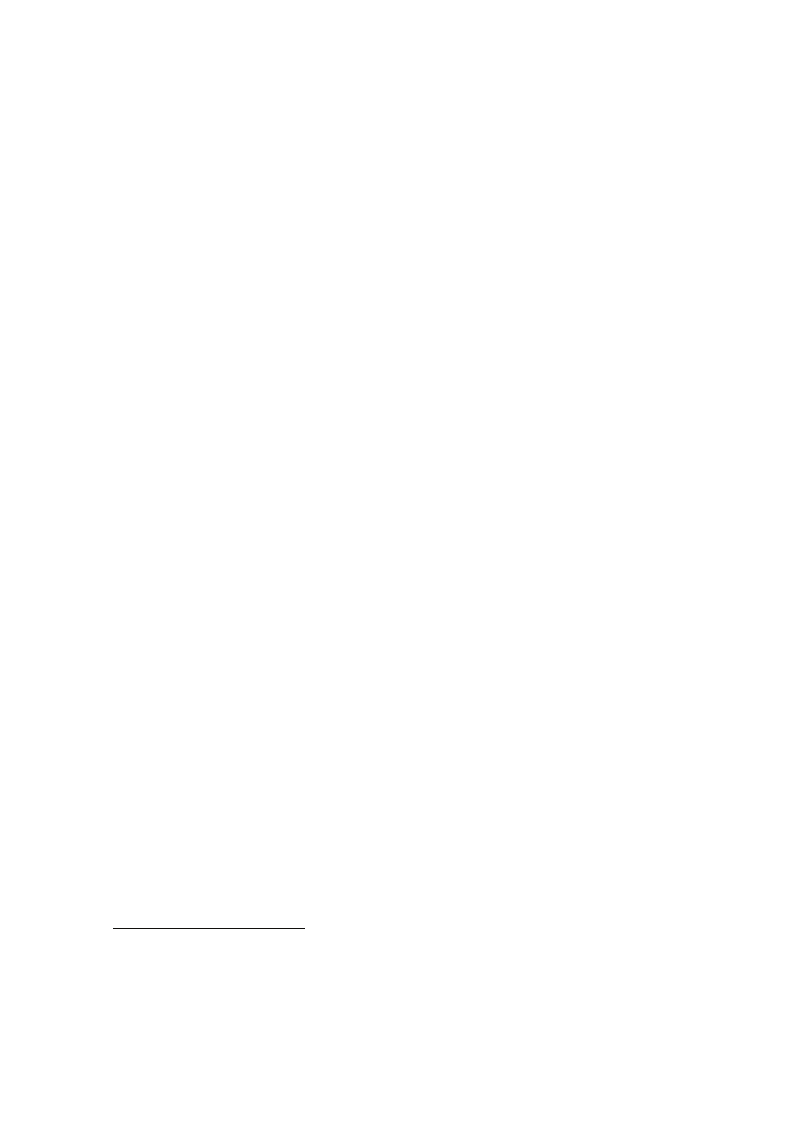
experiência de reunião ali da União dos Moradores da São Cura D’ars, aí com essa
experiência e eu vendo ali, eu achei que dava pra mim, devagarzim, ir aprendendo.”
Firme nesse propósito, não faltava sequer uma sessão. Passei a ir toda semana
procurando um trabalho comigo mesmo. E, ao mesmo tempo em que elaborava seus
próprios dramas, adquiria cada vez mais habilidades para manejar o grupo.
A capacidade de liderança desenvolvida na vida política e o conhecimento
da natureza humana, retirado de sua própria história, e das inúmeras outras que ouvia a
cada sessão, somando-se à autoconfiança que se confirmava no desempenho das
funções que exercia no projeto, conduziam-no ao papel de terapeuta, que foi assim se
definindo. “Aí depois eu consegui uma certa credibilidade. Lá vinham as pessoas
procurando conversar comigo, contando as suas dores. Antes e depois da terapia as
pessoas me procuravam, ainda hoje é assim”.125
Com o tempo, se dispôs a substituir Adalberto na direção da terapia, quando
este precisava viajar para divulgar o Projeto em outros estados. “Eu aprendi uma
experiência, a gente só aprende a nadar caindo n’água, né? Sem cair n’água e
impossível se aprender a nadar. E eu comecei a tentar... Como é que a gente vai
aprender sem fazer as coisas? Só vendo os outros fazer? Então eu comecei a fazer
porque já tinha uma certa prática de reunião. Sempre o Adalberto tá viajando, mas ele
vai tranqüilo porque sabe que as terapia acontece.”
Procurando não perder a humildade característica das pessoas sábias, diz
que sempre continua a aprender e quando o comparam a Adalberto, ele argumenta:
“Mas eu não concordo quando alguém diz que a terapia comunitária comigo é melhor
do que com o Dr. Adalberto! O Dr. Adalberto é psiquiatra, sabe que ele tem os grito
dele, mas ele é um terapeuta de 1ª. linha.”
E continua dirigindo sessões muito bonitas, cheias de clareza e senso de
realidade. Para ele, os modos de interação da terapia se identificam com a forma de
relacionar-se com as pessoas do Movimento União dos Moradores. Na terapia ele re-
encontra mais um canal para sua fala e o exercício da política, no sentido de
transgressão e luta. Ali, naquele contexto, a luta pela independência do modelo
125 Disse que quando chegou ao Projeto também se interessou pelas plantas medicinais, o que lhe conferiu
maior popularidade. Sua competência como raizeiro estendeu-se ao bairro onde mora, inclusive visitei sua
casa em uma das entrevistas e ele contou como atende as pessoas que o procuram. “Eu tenho 41 tipo de
planta aqui no quintal daqui de casa. Eu tenho mais planta medicinal aqui do que o Projeto Quatro Varas.
Aí eu faço algumas garrafadas para úlcera, gastrite, para câncer, faço essência, faço xarope. Aí eu já sou
um pouco conhecido por aqui.”
147
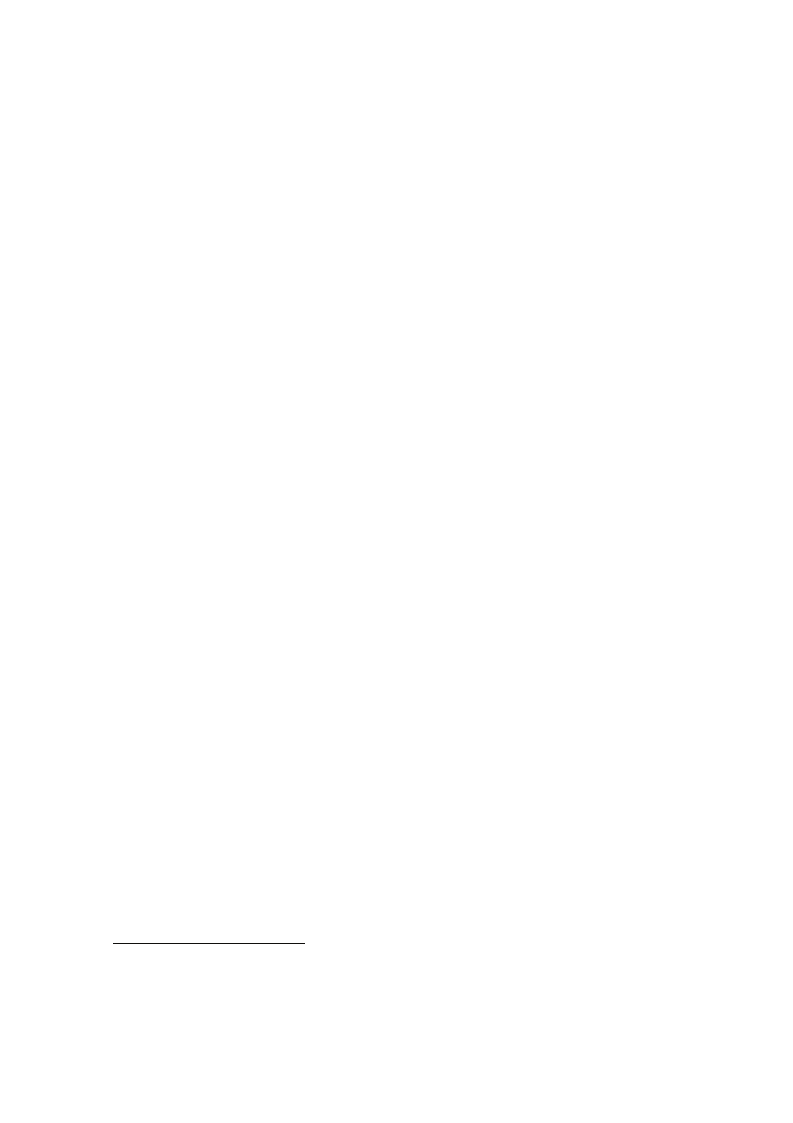
biomédico, seus diagnósticos e prescrições. Foi para ele muito confortante perceber que
a sessão de terapia também era organizada, em alguns aspectos, de forma semelhante ao
movimento do qual fazia parte.
E, enquanto se desenrolavam as lutas pelo processo de redemocratização do
país, os movimentos sociais iam se modificando, e Seu Zequinha, por sua vez, também
redimensionava sua prática política. Encontrou facilidade em adequar-se à metodologia
utilizada na terapia, e interessou-se em trilhar o caminho do autoconhecimento.
Começou a aprofundar-se na percepção de si e dos outros.
Gradativamente visualiza com maior clareza as diferenças entre as pessoas,
inclusive entre ele e Adalberto. Entende que, apesar de comungarem da mesma origem
sertaneja, de partilharem muitos momentos na terapia e alguns papéis na convivência
dentro do Projeto, Adalberto teve como aspectos diferenciais a formação acadêmica e a
falta de uma iniciação política. Ele não sentiu na pele o suor da luta. Portanto, Seu
Zequinha vê a importância do título de Adalberto, mas, reconhece em si mesmo, o valor
do saber adquirido com a experiência política. Tenta desta forma manter um cordial e
constante diálogo, baseado no respeito às individualidades: “Ele me tem um respeito
muito grande e eu por ele. Tem vez que eu digo: Dr. Adalberto não é por aí não. Porque
tem vezes que ele dá uns gritos lá em pessoas. Eu digo, o senhor tem uma missão a
cumprir.”
A crença de Seu Zequinha no posicionamento democrático de Adalberto
permite que lhe faça o contraponto, deixando claro seu ponto de vista: “quando tem uma
coisa que não concordo com ele, eu chego e digo pra ele.” Um outro aspecto relevante é
que Seu Zequinha não deseja salvaguardar o poder de coordenar a terapia apenas para
si, muito menos monopolizar o lugar da liderança. Ao invés disso, mostra que se sente
satisfeito quando percebe que novas pessoas chegam à terapia interessadas também em
aprender. Ele entende que a troca de saberes é importante para o processo de
crescimento das pessoas, para o seu próprio processo e também para a continuidade da
terapia.126 “Isso faz com que eu aprenda também e desenvolva. Porque não é bom ser
126 Hoje, para dirigir a terapia, é necessário ter o curso de formação, oficializado pela ABRATECOM. Os
detalhes de como funciona esta formação se encontram descritos no Capítulo 2. Qualquer pessoa que já
freqüenta há algum tempo a terapia e conhece os momentos do ritual pode, no entanto, fazer a abertura e
também contribuir durante a sessão.
148

centralizado só por um não ou dois. E quando faltar? Quem é que dirige? Tem vezes
que eu peço a outras pessoas pra dirigir.”
Desta forma, Seu Zequinha vem aliando à competência, o desenvolvimento
da consciência crítica e a prática da ética, conforme preconiza Paulo Freire (1997, p.
37): “A necessária promoção da ingenuidade à criticidade não pode ou não deve ser
feita à distância de uma rigorosa formação ética ao lado sempre da estética. Decência e
boniteza de mãos dadas.” Conhecendo a arte do diálogo, ele traz para a terapia a
consciência de ser inacabado e a necessidade de estar sempre crescendo, conforme as
idéias de Paulo Freire sobre o “inacabamento do ser humano” (FREIRE, 1997, p.55).
O autor diz que a inconclusão do Homem é própria da experiência vital. Onde há vida,
há inacabamento. “Mas só entre mulheres e homens o inacabamento se tornou
consciente” (p.55) porque a linguagem, a cultura, a comunicação do ser humano, em
níveis mais profundos e complexos do que o que ocorre com os animais, possibilitam a
“espiritualização” do mundo, o desenvolvimento da capacidade de comparar, de decidir,
de romper. Estas capacidades permitem a intervenção no mundo, inscrevendo mulheres
e homens como seres éticos.
E é por essa ótica que proponho seja vista a terapia: como um lugar de
encontro e de transformação do homem. Se assim não fosse, o Seu Zequinha não
conseguiria continuar desenvolvendo o papel de ator social, de homem público. Na
verdade, a terapia fez com que ele se tornasse ainda mais consciente de seu próprio
poder, aprofundando a visão de si mesmo e de seu agir, por meio da re-elaboração e
ressignificação de traumas e experiências de vida. Foi dedicando-se à busca de
compreender o processo saúde-doença e transformando sua trajetória de sofrimento em
potencial de ajuda aos outros, que ele chegou a se tornar um terapeuta.
Processo semelhante ao seu foi objeto de um estudo realizado por Andrade
que revelou alguns elementos envolvidos no processo de transformação de pacientes em
terapeutas:
O processo de autocuidado e transformação pessoal do futuro
terapeuta constitui trajetória que se confunde com seu treino
profissional. O que predomina, em muitos casos, é que antes – e ao
longo – do preparo do curador, ocorre também que envolve a lida com
enfermidades e uso de determinados tratamentos. De fato, o
progressivo treino profissional avança na proporção em que uma
transformação pessoal segue curso. Esta transformação, segundo os
terapeutas, é resultado direto de experiências pessoais que levam ao
conhecimento de si, à mudança de valores e ao aprofundamento do
método (ou métodos) (ANDRADE, 2006, p. 104).
149
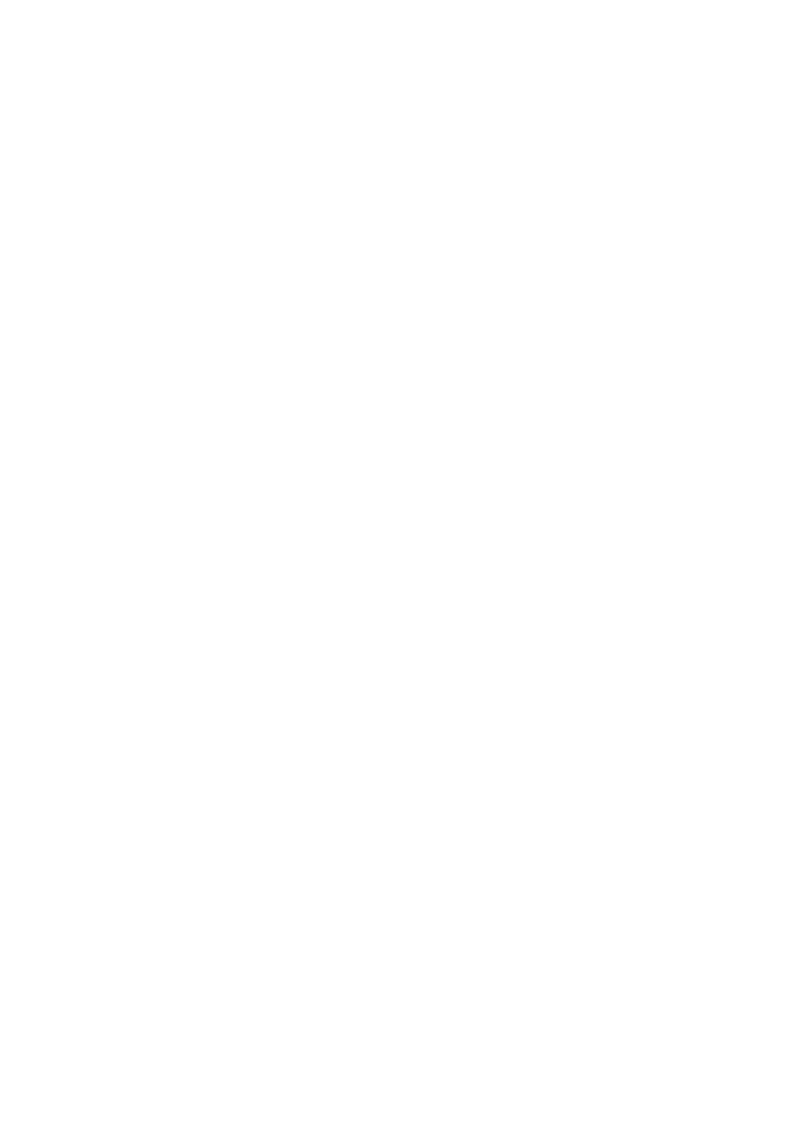
Como se pode observar, um itinerário terapêutico que começa a partir de um
episódio de doença, pode resultar num percurso de transformação de paciente a curador.
E, não raro, neste percurso, podem surgir acontecimentos que interferem favorável ou
desfavoravelmente em seu andamento. Em alguns casos, surgem dificuldades que se
interpõem na trajetória do sujeito, provocando o “afloramento de certas fragilidades
emocionais” que, por vezes levam à busca de respostas mais profundas para tais
questões de forma que muitos dão ênfase “à vivência pessoa” dessas crises,
valorizando-as por considerarem-nas um “impulso para a transformação”. Dificuldades
dessa natureza apresentaram-se também na trajetória do Seu Zequinha, por exemplo,
certa vez que teve de enfrentar uma situação de confronto consigo mesmo, após oito
anos de vivência na terapia, quando inclusive já compartilhava com Adalberto a
coordenação de algumas sessões. Naquela ocasião, seu equilíbrio emocional foi
colocado à prova, mas, a autoconfiança adquirida na terapia e a experiência de
cidadania, desenvolvida na luta política, auxiliaram-no a enfrentar a tendência ao
suicídio.
3.4 “Eu vou é lutar!” O empoderamento como estratégia de sobrevivência
Ele havia renunciado à coordenação da diretoria do Movimento “União dos
Moradores” desde 1993, para assumir o cargo de administrador do Projeto Quatro
Varas. Acontece que a diretoria que o sucedeu, quando ele deixou o movimento,
resolveu, no decorrer do ano de 2001, vender uma das sedes. “Tinha uma pessoa lá,
raivoso, que achava quando eu fui entregar a direção, que eu tinha que entregar a ele (e
eu não podia, só podia entregar pra outra pessoa através de eleição), ficou com raiva e
disse que eu tinha vendido e tava foragido, saiu isso na televisão [...] Ai eu fiquei muito
triste, chorei bastante, passei a noite sem dormir. Aí, eu escrevi algumas coisas, mesmo
errado, sem eu saber fazer pontuação, aí comprei um veneno e preparei num copo, isso
foi em 2001, eu já casado a segunda vez, tendo uma filha, por nome de Ana Clara, ela
tinha quatro anos. Ai eu fui lá bem devagarzinho, peguei ela nos braços e levei lá pro
meu quarto, aí acordei ela e disse, minha filha, eu quero que você dê apoio à sua mãe,
que o papai vai morrer. Já com o veneno preparado no copo. Aí ela disse: não, papai,
150

não morre não se não tu não vai comprar meu pão de manhã, nem vai pra Ceasa. Aí, eu
peguei o copo e taquei no chão e disse, eu vou é lutar!”
Acusado de vender a sede do movimento que criara e ao qual se dedicara
honestamente, por vários anos, Seu Zequinha foi atingido naquilo que mais prezava,
“porque feriu a coisa que é a minha riqueza, e o que eu tenho, a minha palavra. Porque
ninguém, minha jovem, é obrigado a dizer nada. Mas quando disser tem que cumprir,
nem que custe a vida! Me doeu muito.” Vinha vencendo os sintomas à medida que sua
palavra era ouvida e apreciada na terapia e, repentinamente, como uma flecha que
lacerasse o peito de um índio, recebe a notícia, por meio de um telefonema de
Adalberto, que saíra uma manchete no jornal com uma agressão pública ao seu nome. A
pessoa que ele mais prezava no Projeto trazendo aquela notícia de ter vendido a sede e,
ainda por cima, fugido com o dinheiro. Visualizava seu nome manchado no jornal onde
antes circulavam as notícias de suas conquistas! A dor de ver seu caráter questionado
publicamente invadiu-lhe o espírito como um torpedo.
O que mais pesava era o risco de as pessoas conhecidas duvidarem dele.
Essa possibilidade produzira uma chaga em sua alma, nocauteando-o. Preferiria tirar a
própria vida a suportar um agravo à sua idoneidade política, pois foi por meio dela que
definira seu lugar na comunidade. Sentiu-se lançado em um caos emocional, ao ver
caindo por terra os valores que trazia desde a infância e que aperfeiçoou laboriosamente
a cada luta.
Perguntei por que chegara a ponto de pensar em suicídio se já freqüentava a
terapia há tantos anos. Por que não havia lembrado de tudo que já ouvira em tantas
sessões? Ele me interrompeu, gesticulando, indignado: “Sim, eu me lembrei, mas tem
coisas que é muito forte, principalmente a cultura que a gente aprendeu lá no interior, de
ser honesto, de morrer se for possível. Por exemplo, em 58 eu só faltei morrer de fome e
eu sabia onde tinha de comer. Na casa de meu padrasto tinha saco de fava, carga de
rapadura, caixão de farinha, mas o camarada morria de fome e não triscava no que é
alheio! A gente aprendeu isso.”
Não suportando a desmoralização, ele saiu do equilíbrio emocional que já
durava anos e, por pouco não cometeu o suicídio. E, por que isso não aconteceu? Que
recursos ele encontrou dentro de si para controlar o impulso autodestrutivo e apostar na
vida? Ele me explicou que, de imediato, lembrou do ensinamento da terapia de que
todo sofrimento faz parte do processo de aprendizagem: “Passa muito tempo pra gente
ir aprendendo. A gente vai aprendendo muito é com os erros, com as quedas e com as
151
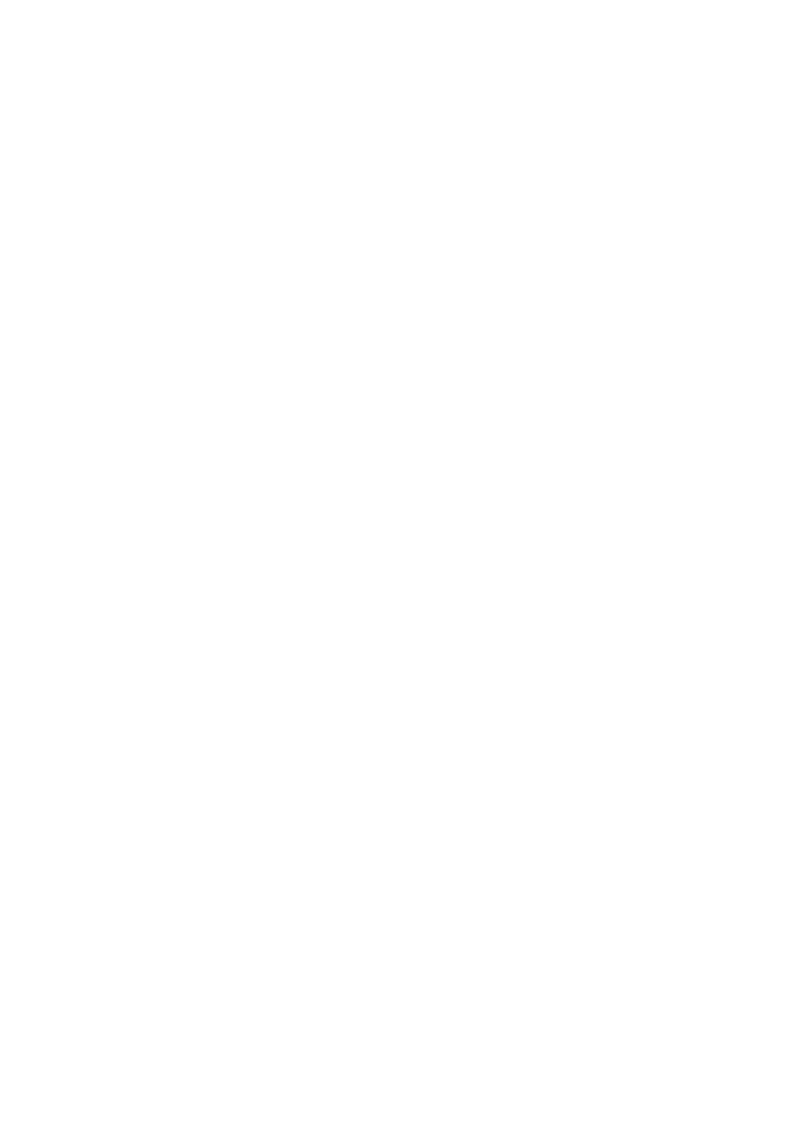
dificuldades. Se as coisas só for coisa boa, ninguém não aprende não. [...] a gente vai
amadurecendo e vai saindo daquela, aprendendo a resolver a situação. Aprendendo a
matar o problema, e não o camarada morrer no lugar do problema.” A frase final de sua
fala: “Aprendendo a matar o problema”, apresenta uma metáfora representativa que
contribuiu com a decisão mais acertada entre morrer ou viver.
Em seguida ele disse que foi salvo pela responsabilidade de cuidar da filha,
no momento em que ela argumentou: “Quem vai comprar o pão, quem vai pra Ceasa?”
Naquele instante, recobrou a identidade social, seu papel de pai, a prática da cidadania
que tanto apregoara. Firma-se em seus princípios e se re-empodera tal qual um lutador
vencido que recuperasse as forças e retornasse ao ringue. A superação da morte
demonstra o resultado da soma de duas forças: o poder adquirido na luta política e a
aprendizagem da terapia que o levam a pensar em “matar o problema ao invés de (...)
morrer.”
Essa dupla aprendizagem se reflete na mudança de atitude. Da posição de
fuga à atitude de luta. Resgata seu bios politikos e faz oportunas as palavras de Arendt
(2001, p. 15), quando diz que o “idioma dos Romanos - talvez o povo mais político que
conhecemos – empregava como sinônimos as expressões ‘viver’ e ‘estar entre os
homens’ [inter hominis esse], ou ‘morrer’ e ‘deixar de estar entre os homens’ [inter
homines esse desinere].” Segundo a autora, a ação é atividade política por excelência e,
portanto, a natalidade e não a mortalidade é que pode constituir a categoria central do
pensamento político.
Desafiado pela crise, Seu Zequinha renasce com maior vitalidade. Sente-se,
a partir daí muito mais vitorioso por ter superado outra vez a si mesmo. Até hoje ele
continua ocupando seu lugar na terapia, espaço onde continua re-elaborando aspectos de
sua vida, ao mesmo tempo em que, cada vez mais se empodera.
Segundo Carvalho (2004), a idéia do empoderamento do ser humano tem
raízes nas lutas pelos direitos civis, no movimento feminista e na ideologia da ação
social presentes nas sociedades dos países desenvolvidos, a partir da segunda metade do
século XX. O conceito entra no campo da psicologia comunitária na década de 1980 e,
por volta dos anos 1990 passa a ser utilizado pelos movimentos que buscam afirmar o
direito da cidadania sobre diversas esferas da vida social entre as quais a prática médica
e a educação em saúde.
A inexistência do vocábulo na língua portuguesa permite que a tradução seja
aplicada a muitos sentidos, dentre estes o verbo “emancipar”, que significa, ‘tornar
152

livre, independente’. A acepção a que me refiro no caso do Seu Zequinha guarda esse
sentido de emancipação do sujeito que, vivendo uma situação de sofrimento, começa
um processo de busca por sua autonomia. O empoderamento adquirido na terapia se
manifesta em decisões e atitudes mais assertivas para a manutenção da saúde e da
qualidade de vida. No caso do Seu Zequinha expressou-se também no sentimento da
responsabilidade social.
Carvalho afirma que o empowerment envolve as dimensões intrapsíquica,
inter-subjetiva, familiar, comunitária e étnico-cultural, demandando a intermediação de
coletivos e grupamentos sociais. A idéia que venho defendendo nesse estudo é que o
empoderamento conquistado na terapia não acontece num plano individual, pelo
contrário, envolve a relação dinâmica dos diversos fatores implicados na vida em
comunidade, destacando-se entre estes o desenvolvimento de uma identidade social
baseada na autoconfiança, autopercepção positiva, na aquisição de senso de
pertencimento ao grupo e formação de redes de solidariedade.
Isso significa que o simples fato de participar da terapia, melhorar a auto-
estima, e compartilhar experiências com os outros participantes não é suficiente para
que haja o empoderamento do sujeito. Faz-se necessário que ele coloque em prática o
aprendizado da terapia, em suas relações cotidianas, na família e na comunidade em que
vive. Desta forma, enfrentando o desafio de lidar com a realidade, o participante pode
verificar se de fato está se empoderando e, ao mesmo tempo expandir os efeitos da
terapia à forma de uma rede. A temática da formação de redes sociais por meio da
terapia, será discutida no item 3.9.
Observando o caso de Seu Zequinha, pode-se concluir que seu processo de
crescimento e aprendizagem social teve início no Movimento Social União dos
Moradores, quando a auto-imagem de pobre e excluído é, aos poucos, substituída por
uma identidade socialmente reconhecida pelos seus pares, uma identidade política. Na
terapia ele se reempodera, fortalecendo mais sua auto-estima e seu conceito de
identidade quando, além de superar a doença, adquire mais uma função de poder,
capacitando-se a exercer o papel de curador e competente terapeuta comunitário,
similarmente a um xamã que tem poderes para transitar entre o mundo físico, material e
a dimensão divina, inatingível para tantos outros.
Depois que começou a dedicar-se mais a essa função, o cargo de
administrador do Projeto passou a ser desempenhado por Neves, um artista popular,
cujo talento na arte do desenho impressiona a todos que o conhecem. Esse talento e
153
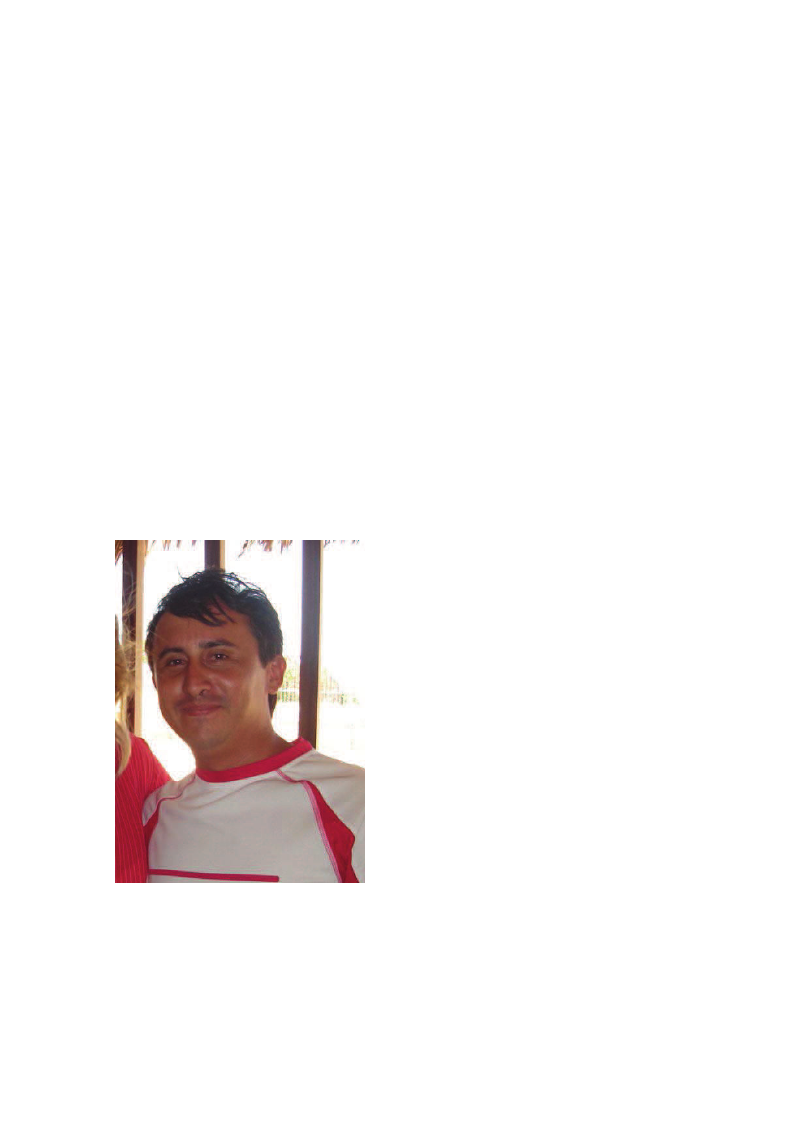
também uma grande capacidade de liderança foram desenvolvidos no âmbito do Projeto
Quatro Varas e, graças à terapia comunitária, motivo pelo qual ele comparece aqui,
como exemplo de empoderamento, ao lado do Seu Zequinha.
3.5 Neves: O Resgate das Raízes Culturais
Quando pisei a primeira vez na sede do projeto Quatro Varas em março de
1995, fui convidada a conhecer a oficina de desenho de Neves que estava, naquele dia,
repleta de crianças e havia também uns cinco ou seis jovens. Semelhante o Seu
Zequinha, ele também chegou à comunidade vindo do interior do estado. Também veio
a se tornar um terapeuta comunitário mas, em alguns aspectos, sua trajetória de
empoderamento se diferencia. Refiro-me ao fato de Neves ter se aproximado da terapia,
a partir da admiração que nutria pela pessoa de Adalberto, que também tem raízes
nordestinas. Esta identificação colaborou para o engajamento de Neves na terapia e o
desejo posterior de se tornar um terapeuta.
Diferentemente de Seu Zequinha
que, quando chegou ao Quatro Varas, já vinha
de uma experiência de afirmação de sua
identidade, a partir das vitórias conseguidas na
atividade política, Neves chegou lá ainda
muito jovem, sem ter tido ainda oportunidade
de desenvolver uma identidade social
significativa. O fato de ser filho de um
alcoólatra comprometeu desde cedo sua auto-
estima. Sentia-se triste e “sem motivação pra
nada”, preferindo isolar-se do convívio com as
pessoas. “[...] porque filho de alcoólatra numa
comunidade pobre, o pessoal diz “tal pai, tal
Figura 28: Neves
filho”, ninguém acredita, é um desacreditado,
não é conhecido nem pelo nome, é “o filho do
bebim lá” e isso é uma referência muito forte.”
O que ele descreve como ‘referência’ pode ser entendido aqui como o
conceito de identidade, conforme definido por Dias (1994). Segundo o autor, essa
154

identidade é um construto psicossocial que tem como alicerce as primeiras relações
afetivas, na matriz familiar e que vai se estruturando gradativamente nos demais
ambientes onde a criança cresce, de acordo com os estímulos recebidos. Nessa
perspectiva, a cada fase de seu desenvolvimento, o indivíduo vai criando uma
representação das interações com o ambiente e uma “noção de eu” vai se delineando em
contornos cada vez mais nítidos, como um “conceito de identidade”.
Essa idéia remonta à teoria da formação dos conceitos em Vigotsky (1979),
na qual o autor postula que as aquisições afetivas e cognitivas que o sujeito vai fazer ao
longo da vida, serão impregnadas pelos valores culturais presentes no contexto que o
rodeia. A construção do conceito de identidade é um processo que passa por
reformulações no decorrer do tempo, à medida que o sujeito vai criando e re-criando as
representações de si mesmo. A impressão que tem de si mesmo vai determinar suas
respostas às situações da vida de modo que, se houve dificuldades com relação ao
desenvolvimento da auto-estima, provavelmente o desempenho social será prejudicado.
Isto porque o fato de não acreditar em si, muitas vezes faz com que desista de lutar, ou
não consiga realizar seus objetivos. A repetição de experiências de fracasso vai minando
as possibilidades de novas realizações, como aconteceu com Neves, que se sentia
incapaz antes de chegar à terapia.
Eu só vim conhecer melhor os pormenores da trajetória de Neves após uma
longa conversa que tivemos no dia 17 de fevereiro de 2006. Antes disso, ele sempre me
pareceu uma pessoa cuja vida transcorrera sem maiores problemas. Aos 33 anos, com
aparência simples e bem cuidada, ele tem uma presença muito agradável. Os olhos são
claros e os cabelos lisos, chegando até os ombros quando ele deixa crescer, de vez em
quando. Sua voz é geralmente mansa. Quando não está resolvendo coisas do projeto, ou
aborrecido por algum motivo, ele costuma falar com pausas e reticências, o que lembra
um monge recém-saído da meditação. Além de ler bastante e demonstrar conhecimento
em diversos temas, ele aprendeu francês com alguns pesquisadores que desenvolveram
trabalhos no projeto. Por isso, quando há visitantes da França, ele é chamado para
traduzir as terapias. Com o domínio do francês, que conseguiu ao longo do tempo, já
dirigiu sessões na cidade de Grenoble, na França. Quando solicitado, ele vai representar
o Projeto em reuniões com outras instituições e também ministra palestras a respeito do
Projeto e da terapia comunitária.
Nessa entrevista, ele descreve alguns detalhes de sua vida, dentre estes, que
cursou até a sétima série e está na comunidade desde os oito anos de idade. “Somos de
155

Jijoca, na época município de Acaraú. Meu pai estudou pouco, só o primário, mas
gostava de ler e cantar cordel. Trabalhava na agricultura e na política, como cabo
eleitoral. Minha mãe era dona de casa, mas no interior, as mulheres também mexem na
parte da agricultura. Meu pai viajava muito e minha mãe é quem cuidava mesmo da
gente. Éramos quatro filhos. Aqui em Fortaleza nasceram mais duas. Nós viemos morar
no projeto, numa época que tinha umas posses de terra. Ali era só dunas. Aponta para
um dos lados do Projeto. Eu era ainda criança quando conhecemos o Airton e
normalmente, quem mora no Pirambu conhece o Airton.” Ele auxiliou a família de
Neves a conseguir local para morar, além de tentar organizar o lado profissional do pai
que, como alcoólatra, encontrava dificuldades de adaptação. Todos os dias cedia o
espaço em frente à sua casa, um dos poucos locais sombreados de árvores, para as
crianças brincarem. “Eu cheguei a ir muitas vezes para a casa dele. Eu gostava do
espaço”. O contato com Adalberto se deu um pouco depois, já na adolescência. Apesar
da timidez, ficava de longe, a observar a terapia. “[...] As primeiras vezes que vi o
Adalberto atendendo foi debaixo desse cajueiro, que fica ao lado do laboratório. [...]
ainda hoje ele até tem problema de cupim, mas a gente não derruba ele porque é um
patrimônio histórico. No começo era uma questão mais de admiração que eu tinha pelo
Adalberto. Achava bonito o jeito que ele falava. Antes eu tinha medo, porque ele era o
doutor e eu era menino, gostava muito de subir nas goiabeiras, subia nas árvores e
ficava olhando. Dona Geralda me expulsava dali. O Airton já era mais popular, e o
Adalberto era o “dono”, né? Eu tinha medo dele depois que soube que ele era
coordenador. Coisa de criança mesmo. A primeira vez que fui falar com ele, ele estava
todo de bermuda, todo à vontade, me chamou pra conversar, me deixou falar, e tudo. Ai
eu comecei a gostar do jeito dele falar.”
Neves tinha dois irmãos que auxiliavam na terapia, um gravando as sessões
e o outro como digitador. Este último, quando soube que haveria um grupo de auto-
estima para filhos de alcoólatras da comunidade, convidou Neves para ir com ele.127 “A
função dessa terapia com os filhos de alcoólatras era de ver alguns dons que as pessoas
tinham pra estimular e recuperar a auto-estima. A Dra. Mirian reunia os jovens para
conversar sobre problemas que não eram só alcoolismo. Como tinha muitos
adolescentes, falava de violência, drogas, lá rolava muito isso... E a questão da
sexualidade. Era todo sábado, pela manhã. A terapia com o Adalberto sempre foi na
127 O grupo foi coordenado pela psicóloga Mirian Ribalta, que trabalhava do Centro de Estudos da
Família, a clínica particular onde Adalberto atendia.
156

quinta-feira, mas a nossa era no sábado. [...] E eu, fui pra nada, e foi muito imprevisível
o que me aconteceu de eu tá até hoje, e ter ficado tanto tempo nas Quatro Varas.”
Apesar de freqüentar o grupo, Neves não se entrosava com os meninos de
sua idade. Percebendo-se como vítima do destino, pensava que a vida não lhe ofereceria
jamais uma chance e, assim, quando, porventura surgia alguma oportunidade de
trabalho, ele a ignorava e logo depois, se arrependia por “não ter ido à luta”. Sentia-se
culpado e incompetente. A auto-estima baixa gerava um círculo vicioso que impedia o
fluxo natural do desenvolvimento. Enredado em pensamentos autodepreciativos, tinha
fortes crises depressivas, durante as quais se isolava, chorando sozinho. A maior parte
do tempo evitava relacionar-se com as pessoas, imaginando que elas não o aceitariam.
Tinha quase certeza que os coordenadores do Projeto não concordariam que ele
desempenhasse nenhuma função, com os irmãos, que já haviam conseguido trabalho.
Observando que as pessoas procuravam Adalberto mais reservadamente,
quando tinham algum problema, resolveu também ir procurá-lo. Esperou durante algumas
semanas até que um dia, tomou coragem, chegou de mansinho para conversar com ele.
Começou dizendo como se sentia injustiçado pela vida, por ter aquele pai, etc, etc. “Eu
falei, falei, falei, e ele ficou só ouvindo e depois ele disse “você já falou muito das merdas,
– a expressão que ele usou na época. Agora diga uma coisa que você acha legal, que todo
mundo acha bonito. Aí eu falei: “eu desenho. Ele perguntou: “Você gosta?”. “Eu gosto”.
Ele disse: “Pois é, pronto, tá resolvido, surgiu um desenhista! Falar de besteira é muito
fácil. Tem que valorizar é o lado bom. Você conhece outras pessoas que desenham?”.
“Conheço”. Então indiquei os meninos que desenhavam e ele disse: “a idéia que a gente
tem é de formar um atelier”.
Alguns dias depois, Adalberto propôs que levasse aos jovens do grupo da auto-
estima a idéia de desenvolverem uma atividade de entretenimento com as crianças da
comunidade, para facilitar a participação das mães na terapia comunitária. E assim fizeram.
“Isso começou na quinta-feira porque as mães vinham pra terapia e as crianças
atrapalhavam muito. Aí a gente levava os meninos pra um espaço lá na praia. Aí tava
dando tão certo que o pessoal pediu nas férias pra gente fazer uma colônia de férias com as
crianças. Nessa colônia de férias, a gente notou que as crianças gostavam muito de
desenhar. Então surgiu o atelier de desenho”. Por conta dessa atividade, Neves passou a ir
mais vezes ao Projeto, e, como ficava por ali, ao redor da palhoça onde se realizava a
terapia, de vez em quando, ficava ouvindo as falas, ou entrava rapidamente durante a
sessão, sob pretexto de chamar seu irmão que estava gravando.
157

Em uma das vezes em que entrou, percebeu o clima de descontração e
acolhimento, resolveu então ficar para assistir à sessão. Sentiu-se identificado com alguns
dos temas que as pessoas trouxeram, com a linguagem comum, gostou das histórias que
Seu Zequinha contava e começou a freqüentar outras vezes. Com o tempo passou a ver que
a terapia era um ambiente de cura, porém diferente de uma consulta médica: “No
consultório médico tem o birô, o médico tá ali, na cadeira dele, na posição de que é o cara
que você vai. O médico passa o remédio. Dependendo do sintoma, se a pessoa tá com
insônia, com ansiedade, tem determinado produto que serve pra isso, então ele passa um
psicotrópico. Isso é comportamento de médico. Isso é aprendizagem da universidade. Essa
maneira de botar todo mundo pra sentar, no meio do círculo ali, todo mundo falar, se sentir
à vontade, eu não acho que veio da universidade, não. É coisa do Nordeste mesmo, da
gente. No sistema que Adalberto criou, o terapeuta não vai dar a solução. Vai se ver no
grupo se tem um chá, isso já é mesmo uma coisa nossa, de ser acolhedor.”
Em seu discurso Neves faz um contraponto entre o conhecimento da
universidade e o saber popular, evidenciando as diferenças que aprendeu a observar a
partir do relacionamento mais próximo com intelectuais que visitam o Projeto e outros
que freqüentam a terapia. Numa de nossas entrevistas, ainda em fevereiro de 2006,
resolvi aprofundar um pouco essa questão, perguntando se ele achava possível o diálogo
entre o saber popular e o científico na terapia. Ele se manifestou da seguinte forma: “O
saber universitário, ele é importante porque tudo na vida tem que ter técnica. Porque nas
Quatro Varas você convive com todo tipo de gente: um analfabeto, gente que vem de
comunidade indígena, do interior, aí vem gente que veio de outro país, ou de outro
estado, e estudante de medicina, universitário, médico, professor.” Em seguida criticou
o saber universitário que, em sua visão não prepara as pessoas para lidar com as coisas
práticas da vida (provavelmente estava comparando com a terapia): “O único erro que
eu acho, eu vejo que tem gente que faz anos de universidade e não tá preparado pra
nada. Se ele estudou pra medicina ele só age como médico.” Ao referir-se aos médicos,
ele parou um pouco ao lembrar de Adalberto, e recomeçou a fala, mudando o tom da
voz, que passou a ficar mais solene: “O que diferencia o Adalberto: pra mim tem
psiquiatras e tem o Adalberto. É que ele foi além. Ele não perdeu as raízes dele, de ser
homem nordestino...”
Naquele momento, apesar de perceber a mudança em seu semblante, eu não
havia observado a forma como expressou o conteúdo das palavras finais: “Ele não
perdeu as raízes dele, de ser homem nordestino...” Depois, analisando mais a fundo, me
158
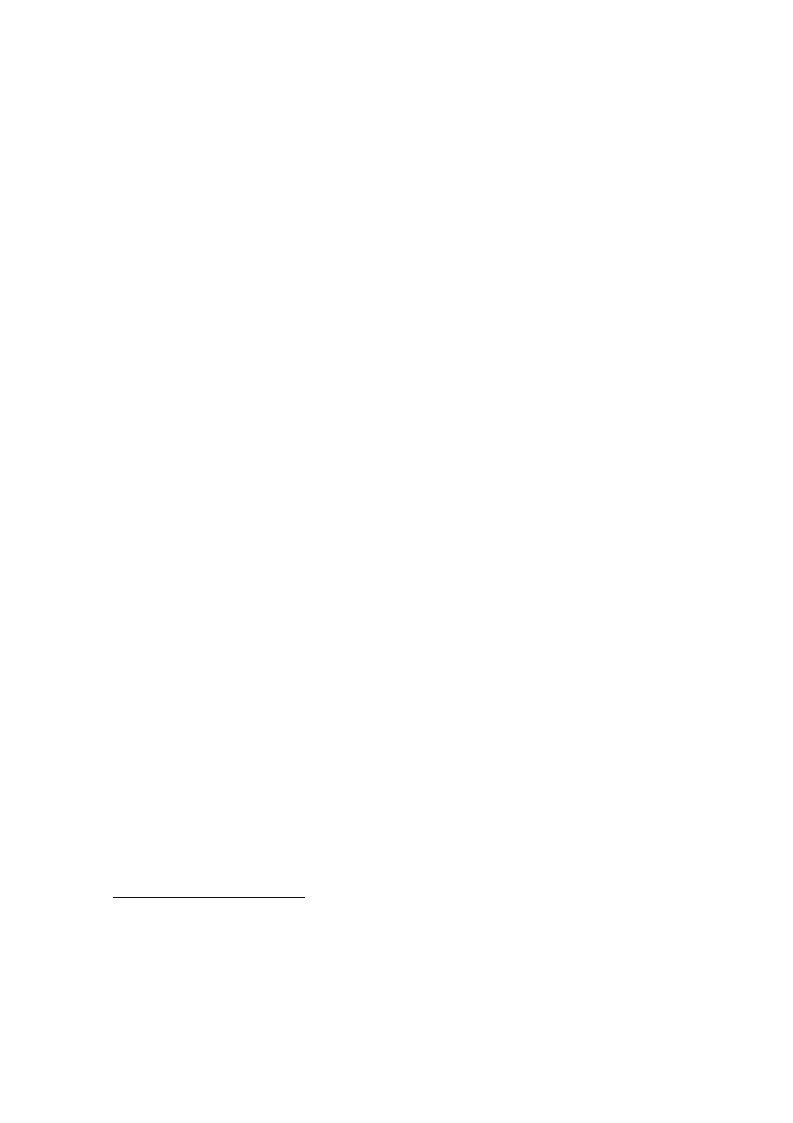
dei conta da importância que essas palavras tinham para ele. De fato, Neves só se
aproximara deAdalberto por perceber nele um psiquiatra diferente, que valorizava suas
“raízes nordestinas”. Observara o modo simples de vestir, o jeito coloquial de falar, e o
fato de apreciar as crenças, as comidas, e até as histórias de “trancoso” 128 do nordeste.
Portanto, se um médico famoso, com doutorado na França dava importância às coisas e
à gente do Nordeste, valorizando sua origem nordestina, ele, Neves, como nordestino,
também deveria se considerar importante.
Compartilhar as mesmas “raízes nordestinas” com Adalberto agregava um
valor à sua identidade. Neves acreditava também que Adalberto era um médico
diferente por haver estudado antropologia. Esse conhecimento certamente fizera com
que entendesse melhor a cultura do povo nordestino “(...) o conhecimento da
antropologia129 ajudou muito porque é pra estudar a cultura, não é? Se ele não tivesse
estudado antropologia ele jamais teria chegado perto disso.” Conversei com Adalberto,
há poucos dias indagando a respeito desse assunto e ele me respondeu que, de fato, sua
estadia na França contou muito porque viu experiência em etnopsiquiatria, e isso o
auxiliou a ver a importância das diferenças e a possibilidade de conviver com elas. “Ser
diferente não é melhor nem pior, a antropologia me mostrou que quem eu sou passa
pelo que eu creio, o que eu falo, o que eu visto então, para mim importa é que eu nasci
em Canindé, cidade do sertão, que recebe um milhão e quinhentos mil romeiros por ano,
e desde criança eu via esses romeiros trazerem cada um, um ex voto que é a
representação da doença, uma forma de agradecimento por alguma graça alcançada.
Então meu primeiro contexto foi um ambiente mágico-religioso. Morei também um
tempo, numa pensão que era de meu avô, João Neco Barreto. E eu via aqueles romeiros
que se hospedavam lá e que falavam desse santo que curava, que salvava, que era
milagroso, então eu ia vendo São Francisco salvando tantos pecadores... e eu quis ser
como São Francisco.” A convivência com a fé que ao mesmo tempo salva e cura, o
contato com grande quantidade de romeiros, a origem nordestina de Adalberto parecem
ter sido fatores preponderantes na construção do modo de ser da terapia, muito mais que
o fato de estudar antropologia, que, com certeza, também contribuiu.
128 Trancoso elaborou um livro chamado Contos de proveito e exemplo, publicado em Portugal no
século XVI, com historias que falam de lendas e mitos do folclore. Estas histórias compunham os relatos
orais que o povo construía acerca de algumas figuras e fatos considerados marcantes na História Ibérica,
129 Adalberto fez a pesquisa de doutorado com o tema dos ex-votos e seus significados nos itinerários
terapêuticos do Nordeste. Enquanto esteve na França escreveu, em parceria com um médico/antropólogo
Jean - Pierre Boyer, o livro l’Indien qui est em moi: itinéraire d’um psyquiatre brésilien. Depois, esse
livro foi editado no Brasil com o título “Um índio que vive em mim”.
159

Para Neves, no entanto, a proposta democrática da terapia tinha mais relação
com a formação de Adalberto na França, que fazia dele um médico especial. “Uma das
coisas que me chamou atenção nas primeiras terapias é que o Adalberto era o médico, e
fiquei procurando. Ele estava lá no meio do povo. Ele sempre fez essa coisa circular, de
todo mundo ficar se olhando, no mesmo nível.” Vale ressaltar que alguns aspectos da
terapia são fruto da experiência de Adalberto como seminarista e do contato que teve
com a Teologia da Libertação, em que circulavam as idéias de Paulo Freire.
Neves observava Adalberto nas menores atitudes e valorizava cada vez mais
a terapia, identificando-se com as manifestações culturais que apareciam nas sessões
como as histórias, os provérbios e as músicas populares. Depois de um certo tempo,
começou a aceitá-la como método terapêutico, pensando que, como outros se
beneficiavam, ele também poderia aprender a superar sua tristeza. E assim, começou a
participar de mais e mais sessões.
Escutando repetidas vezes o relato de pessoas com problemas semelhantes
ao seu foi se dando conta de que um de seus problemas principais era a auto-estima,
termo que, segundo ele, aprendera na terapia. Percebeu que sempre associara seu
fracasso pessoal ao fato de ser filho de alcoólatra, e que desde a infância imaginara para
si mesmo uma vida sem perspectivas. Encorajado pelo espaço de escuta e a atitude de
não-julgamento, aos poucos foi sentindo o desejo de compartilhar as percepções que
estava alcançando. “Antes eu era só observador, depois, aprendi a falar.” E, sempre que
se colocava, recebia do grupo algum incentivo e novas leituras por parte de pessoas que
viviam dores como as suas, mas que as enfrentavam de modos diferentes. E assim,
assimilando outras formas de se ver, começou a desenvolver um pensamento reflexivo,
autocrítico, que permitiu a ressignificação dos sintomas antigos e a redefinição de seu
conceito de identidade.
A transformação interior se tornou mais perceptível para ele quando foi se
sentindo capaz de identificar seu mal - estar, e buscar alternativas para resolvê-lo. “O
que me ajuda é que eu compreendo o que eu sinto e eu sei procurar ajuda quando
necessário, eu sei quando eu devo procurar diretamente o Adalberto: quando já é uma
coisa mais médica.” Quando a tristeza estava muito intensa, nas crises de choro e nos
dias de desânimo, “procurava o Adalberto como médico” e, não deixava de freqüentar a
terapia.
Embora sabendo que a terapia não tinha a solução pronta para o problema,
buscava-a como um espaço para refletir. Continuava tentando descobrir o que os
160

sintomas estavam revelando e esperando encontrar ali novas estratégias para superá-los.
“A terapia é mais pra abrir um espaço para a reflexão. Você só vai se livrar do problema
se você compreender. A função da terapia é a pessoa compreender o que está sentindo,
o porquê.” A palavra “reflexão” no discurso de Neves, corresponde ao conceito
psicanalítico de insight, geralmente traduzido para o português como compreensão
interna, apreensão, visão súbita, discernimento, perspicácia. No âmbito da terapia pode
também ser entendido conforme é utilizado na língua inglesa, como “a capacidade de
entender verdades escondidas, o ato ou o resultado de alcançar a íntima ou oculta
natureza das coisas e também como percepção intuitiva.”
E assim, tentando desvendar sua verdade interior, por meio da reflexão,
Neves ia se deparando com o sentido oculto em seus sintomas, o que diminuía o poder
que tinham sobre ele. A partir de um dado momento, não mais se via aprisionado pela
doença, pelo contrário, sentia-se capaz de enfrentá-la. “Eu sei como fugir da tristeza...
Porque a depressão é você se prender; se você se trancou, se fechou, tchau... Você tem
que tá sempre procurando... E a terapia me ajuda muito nisso. Eu vou lá, tem o grupo,
né?” A sensação de pertencer ao grupo foi aumentando gradualmente, à medida que
reencontrava as pessoas toda semana, na terapia e também nas atividades do Projeto, às
quais passou a se dedicar cada vez mais intensamente.
Casou-se aos dezenove anos, mas o casamento não deu certo... “Um
casamento que me deu quatro filhas (ele ri). A gente antes namorava, ela ficou grávida e
ficou na casa da mãe dela. Depois ela me deixou e depois a gente voltou e foi morar
com minha mãe. E não tava dando muito certo. Aí no projeto tinha uma casa aonde era
o atelier, que eu já tinha morado com os meninos e passei a morar lá dentro. Ela não
gostava, não se envolvia. Só queria saber de dinheiro e eu tinha um sonho que era ver
aquilo ali crescer, já tinha começado ali, queria me afirmar como desenhista no Projeto
e foi mais uma questão de que eu queria mesmo. E eu admirava muito a maneira que o
Adalberto trabalhava.”
Sua motivação para lutar em prol do crescimento do Projeto pode ser
entendida de duas formas: primeiro porque, trabalhando lá, estaria seguindo os passos
de Adalberto, com quem se sentia identificado, como mais um nordestino que venceu.
Em segundo lugar, a admiração que nutria por ele, até certo ponto, compensava o
desencanto da história de seu pai, que ao chegar à favela entrou em decadência,
entregando-se à bebida.
161

Desta forma, o contato com Adalberto, e com a terapia, além dos papéis que
vinha desempenhando nas atividades voluntárias do Projeto estimulavam-no a enfrentar
a tendência à autopunição, substituindo a imagem de vítima pelo reconhecimento de seu
próprio poder, como ele afirma: “Não é só dizer... ‘ai, porque eu sou um coitado’... um
pobre coitado, sou culpado.” Descobre com o tempo que a terapia, é também um espaço
para se falar de coisas boas: “[...] um princípio básico da terapia é que lá é pra falar dos
dramas, das dores, mas ninguém vem só falar dos dramas e das dores, vem falar das
vitórias, das conquistas, das coisas boas.” E, acreditando na possibilidade da vitória foi
superando o medo do fracasso. O aumento da autoconfiança encorajou-o a desenvolver
mais ainda suas potencialidades, como a habilidade no desenho, que o tornou conhecido
e permitiu que exercitasse a liderança, coordenando por muito tempo a oficina de arte-
terapia com adolescentes. “Eu convidava, tinha muitos meninos que desenhavam a aí já
ficavam comigo no atelier de desenho, era muita gente da comunidade que participava.”
Mas, para Neves, sua maior glória foi se sentir capaz de dirigir a terapia:
“algumas vezes o Seu Zequinha gosta muito de me elogiar que eu tenho uma
capacidade. Ele me bota de surpresa: eu queria o Neves para conduzir a terapia, e eu
como tenho problema desde criança, de aceitar que eu sou realmente capaz, eu num
digo mais não, nem que eu fique suado, quando eu tô fazendo a terapia eu me tremo,
mas eu vou até o final. Me lembrando das técnicas que é para fazer, vou me lembrando
dos passos e vou fazendo que não sou eu que vai conduzir, é o grupo que vai dar as
pistas. As pistas é o que vai acontecendo”. E assim, confiando em si e também na
solidariedade que via a cada terapia de que participava, foi nutrindo o sonho de se tornar
um terapeuta, até que um dia, enfim, tomou a decisão: “Eu que pedi para fazer o curso,
foi uma pessoa que me indicou, mas eu decidi. Foi um padre lá, um residente em
psiquiatria que veio fazer um trabalho aqui nas Quatro Varas. Ele disse: Neves, por que
tu não faz o curso de terapia comunitária? É porque eu te vejo participando das terapias,
tu age como terapeuta sem ser reconhecido como tal, suas intervenções são muito boas,
eu sinto que tu compreende o estilo da terapia comunitária... Tem de praticar. Você tem
um dom de usar a técnica da terapia, tu usa com os meninos aqui, com o pessoal que
chega pra receber, tu tem que fazer esse curso. Ficou aquele negócio aí eu pedi ao
Adalberto: - Adalberto, eu falei com o padre e eu realmente tenho interesse eu quero
fazer.”
Ele ressalta o momento da terapia chamado ‘conotação positiva’ quando
cada participante diz o que guardou da sessão: “... eu sempre faço questão de falar
162

porque eu sei que é importante aquilo ali, a pessoa vê que errou não é porque é burro
não, é porque é incrédulo, num é porque é mau não, é porque é um ser humano; e o ser
humano erra. Errou às vezes por falta de informação, fez a coisa certa na hora errada.”
O conceito de identidade que tinha anteriormente moldado com base na culpa, é
substituído por outro, plasmado na perspectiva compreensiva e libertadora da terapia.
Firmado na força das próprias raízes, ele vai construindo aos poucos, sua
cidadania. Falo de cidadania, não apenas no sentido de uma participação nas instituições
formais da sociedade, mas pelo ponto de vista de que o homem simples pode conquistar
autonomia e voz a partir dos saberes que vai construindo ao longo da vida. Utilizo aqui
a noção de “homem simples”, definida por Pereira (2002) em sua tese de doutorado, de
acordo com a visão de José de Souza Martins para quem o homem simples é o homem
comum, personagem anônimo das pequenas e também das grandes cidades. Ela cita o
autor: “todos nós somos esse homem que não só luta para viver todo dia, mas que luta
para compreender um viver que lhe escapa porque não raro se apresenta como absurdo,
como se fosse um viver destituído de sentido”. (MARTINS, 2000, p. 11).
A autora alerta para a necessidade de cada ator social conquistar seu espaço
de participação na sociedade, de uma forma sua, singular, quando diz “Para cada ator
em cena, um significado é sugerido. ’’ Ela adverte que, se há entraves e impedimentos e
certamente há, os setores dominados devem “criar ou inventar novas formas de
expressão política”. Essas formas criativas de expressão, a meu ver estão diretamente
relacionadas à conquista da autonomia e, alimentada pela busca da liberdade e dos
direitos. Bobbio (1992, p.22) fala que não é suficiente buscar os direitos, descobrir quais
são. Para ele é necessário buscar fundamentos que possam garantir o seu exercício:
Mas também essa busca dos fundamentos possíveis [...] não terá
nenhuma importância histórica se não for acompanhada pelo estudo das
condições, dos meios e das situações nas quais este ou aquele direito
pode ser realizado. [...] O problema filosófico dos direitos do homem
não pode ser dissociado do estudo dos problemas históricos, sociais,
econômicos, psicológicos inerentes à sua realização. (BOBBIO, 1992,
p.22)
Ao final de sua fala lembra que a garantia do direito é relativizado para
adequar-se às condições contextuais do sujeito. E, muitas vezes, segundo afirma Pereira
(2002, p.11) “são incontáveis as adversidades que ocorrem para que a participação não
se efetive” [...] São dificuldades que, de alguma forma, contribuem para a passividade e
o descaso de muitos cidadãos e com o destino coletivos. No caso de Neves, houve
163

adversidades e ele as enfrentou de forma corajosa e criativa. Lembrando agora suas
palavras de enfrentamento: “e eu como tenho problema desde criança, de aceitar que eu
sou realmente capaz, eu num digo mais não, nem que eu fique suado, quando eu tô
fazendo a terapia eu me tremo, mas eu vou até o final”.
Depois da coordenação da oficina de arte, passou a exercer diversos papéis
importantes para a comunidade, como o gerenciamento da Farmácia Viva, e depois, a
administração geral do Projeto. A trajetória de Neves demonstra como uma pessoa que
chegou à terapia com uma auto-imagem negativa, pode ressignificar sua história de
vida, a partir de uma nova leitura da realidade, que o empodera, mudando inteiramente
seu modo de viver.
Outro caso que ilustra o poder transformador da terapia é o de Dona
Cleinha, uma senhora de sessenta e cinco anos, que antes de conhecer o projeto Quatro
Varas, freqüentava o ambulatório de psiquiatria do Hospital São Gerardo, em Fortaleza
e hoje se considera uma “apoiadora da terapia”.
3.6 Dona Cleinha: O poder da simpatia
Qualquer visitante do Projeto
Quatro Varas certamente vai se deparar com
Dona Cleinha. Sempre sorridente, ela jamais
nega um abraço afetuoso ou deixa de
perguntar carinhosamente “como você está?”
Além de simpática, ela é mais um exemplo
de uma excelente terapeuta comunitária, que
superou o estigma de “doente” que a
acompanhava desde que nasceu.
Como se diz no sertão, ela “teve
a pouca sorte”, de ter nascido em plena seca,
na cidade de Senador Pompeu, no interior do
Ceará. É a sétima filha de uma família de Figura 29: Dona Cleinha
agricultores vitimados pela fome, que, como
tantas outras, teve que migrar de sua cidade, como retirantes. Com apenas um mês de
nascida e bem doentinha, ela chegou a Fortaleza, indo se abrigar com os pais e os seis
164

irmãos na casa de uma conterrânea, que morava na favela do Pirambu. No mesmo dia,
seu pai, lembrando que havia prometido ao padre Hélio que Cleinha seria sua afilhada,
resolveu ir com a menina nos braços até a paróquia que este dirigia. Lá chegando,
procurou o padre dizendo que viera para marcar a data do batismo e também para pedir
um emprego. Olhando o bebê com ar de dúvida, o padre comenta: “Mas, vi falar que
essa menina já morreu”... E como meu pai era muito grosso disse “seu filho duma égua
se ela tivesse morta ou viva você ia deixar de ser padrinho?” Dito isso, ele deu meia
volta, deixou a menina em casa e saiu nervoso, em busca de trabalho.
Ela diz que seu pai era mesmo “assim grosso” mas enfatizou que era um
“bom marido, muito trabalhador, até quando se envolveu com uma outra mulher. Uma
mulher bem pobrezinha. Quando meu pai começou a ter amizade com ela, ela começou
a viver bem, andar arrumada, às custas de meu pai, né? Mas isso durou pouco. Meu pai
ficou muito doente.” Depois desse relacionamento, ele teve diversos problemas de
saúde que, segundo ela, os médicos não conseguiram resolver.
Vendo a situação se agravar a cada dia, pediram auxílio a um amigo que
“levou ele a um senhor que era macumbeiro. Nós éramos sempre muito católicos. E eu
tinha até medo dessa história de espiritismo, mas, daí ele melhorou e estava quase bom
quando ele chamou minha mãe, abraçou, acariciou e disse que sentia muito que estava
partindo e disse pra chamar meu irmão que era muito danado e aconselhou meu irmão
pra ele ser bom e disse pra minha mãe que ela não merecia o que ele fez e que estava
partindo por causa daquela sujeita que tinha feito bruxaria pra ele. Ele começou a
vomitar um bocado de porcaria, de coisa estranha. Ele chorava abraçado com minha
mãe, pedindo perdão. Depois que ele morreu meu irmão que tinha dois anos, começou a
dizer que via meu pai. Um dia ele disse a minha mãe: “sonhei com papai, ele vem me
buscar”. E no outro dia ele morreu afogado.” Depois de contar toda essa história, ela
olha pra mim, como se estivesse se justificando, pelo fato de todos no Projeto saberem
que ela faz parte da renovação carismática: “Eu sou muito católica, mas eu acredito
nessas coisas, tá entendendo?”
Essa experiência vivida na infância foi significativa para que ela depois,
pudesse compreender a diversidade religiosa que aparece na terapia. Digo isso por ter
observado em sessões nas quais surgiam histórias envolvendo espíritos, feitiços, “essas
coisas”, ela era uma das pessoas mais interessadas, prestando atenção ao assunto, e
acolhendo todas as manifestações com a maior naturalidade.
165

Continuando o relato de sua vida ela disse que, após a morte do pai, sua
mãe casou com um rapaz cerca de doze anos mais novo do que ela. “Todo mundo dizia
que ele queria se fazer com a mamãe porque ela trabalhava muito, tinha um situação
melhor e ele era de família mais humilde. Meus irmãos eram rançosos com ele, mas eu
não, era sempre assim risonha e ele dizia pros amigos dele que eu era a “cachorrinha da
casa”.” Apesar da adversidade em que teve de viver depois da morte do pai, suportando
a hostilidade dos irmãos e as ironias do padrasto, ela ainda conseguia ser “risonha”,
característica que até hoje a identifica.
O que me levou a trazer aqui Dona Cleinha, após ter falado do Seu
Zequinha e do Neves, foi por ela ter sobrevivido a tanta aridez em sua vida e também
ter conseguido, por meio da terapia, ultrapassar as dores e somatizações para ser uma
das terapeutas mais acolhedoras que conheci! Ela superou os fantasmas das doenças que
trazia desde a infância, como as crises de asma, e os traumas dos maus-tratos dos
irmãos. “Minha família era muito ruim comigo, não minha mãe, mas meus irmãos me
judiavam muito.” A marca da fragilidade a perseguia até na escola, onde não conseguia
um desempenho satisfatório. “Eu sentia muito tremor, muitas agonias, muita coisa
absurda. Ia pra escola ficava lá morrendo, me acabando e voltava chorando. Só sei que
estudei até a quinta série, e já foi assim, depois de grande.” Longe de atingir bons
resultados no estudo, principalmente por não contar com o apoio da família,
vislumbrava um destino sombrio à sua frente.
A crença familiar de que era incompetente para desempenhar qualquer
papel social impregnava sua personalidade, gerando uma sensação terrível de
inadequação: “Eu vivia muito constrangida.” Sentindo-se incapaz, tentava conviver
com a indiferença da mãe que aceitava com naturalidade o padrasto chamá-la de
“cachorrinha da casa”, além de permitir as agressões físicas e as brincadeiras de mau
gosto dos irmãos. E assim, temendo sofrer mais ainda quando a mãe morresse, logo que
chegou à adolescência, resolveu sair de casa para se casar. “E quando conheci o
benzinho, meu marido, aí eu deixei de estudar para me casar, sair de casa, porque meus
irmãos me judiavam, diziam nomes comigo, que eu não era filha da mamãe e era bem
desagradável. Uma tia disse que não era pra eu me casar porque eu era muito doente.”
Ela queria fugir de tudo aquilo, principalmente da interferência desconfirmadora da tia,
que costumava colocar obstáculos em seu caminho.
Estudiosos da antropologia médica (HELMAN, 2003; UCHOA, E. &
VIDAL, J. 1994) afirmam que as concepções culturais do contexto influenciam as
166

crenças sobre a causa das doenças, e também os comportamentos que as pessoas adotam
frente a elas. Pode-se ver no caso de Dona Cleinha, que o mito familiar de que ela era e
sempre seria doente foi moldando seu conceito de identidade, determinando seu jeito de
ser. Sentindo-se frágil e desamparada nas repetidas crises de asma, cresceu com medo
de tudo, achando que morreria a qualquer momento sem que ninguém viesse socorrê-la.
Às vezes pensava consigo que os irmãos a rejeitavam por ter nascido numa
época de fome, e que sua chegada fora um peso para a família que já era numerosa e
desfavorecida. Sentia-se culpada e por isso aceitava com resignação quando os irmãos
diziam que ela não era filha de sua mãe. Além de palavras de desdém, eles,
simbolicamente a excluíam com atitudes. E foi, complementando a atitude deles, que
ela resolveu sair cedo de casa, por intermédio do casamento, imaginando deixar livre o
espaço que ocupara até então. Por outro lado, fizera um bom vínculo afetivo com o
esposo que passou a cuidar muito bem dela. “Então eu casei e melhorei um pouquinho.”
O casamento representou uma primeira possibilidade de mudança em seu
conceito de identidade, uma vez que ela passou a conviver com valores diferentes
daqueles que existiam em seu núcleo familiar. A família do esposo lhe proporcionava
algo que nunca tivera: afeto e cuidados com sua saúde. O novo contexto modificou a
percepção que tinha de si mesma e também o que esperava das pessoas. A partir do
momento em que se sentiu amada e confirmada, desejou desempenhar um papel social
adulto.
Casou-se com esse intuito, e, no entanto, apesar do esforço, não conseguira
assumir as funções de dona de casa como gostaria, pois começara a ter crises nervosas,
as quais tentava curar por meio da fé, dedicando-se à igreja. “Fiz a renovação
carismática e melhorei um pouquinho.” A participação nos grupos de oração e o apoio
das pessoas, motivaram-na a realizar alguns trabalhos voluntários que traziam períodos
de serenidade, que se alternavam com as crises psíquicas, que sempre voltavam.
O esposo a levava muitas vezes ao ambulatório de psiquiatria do Hospital S.
Gerardo, principalmente por conta dos delírios e das idéias de perseguição. “Eu via
vultos, e quando eu estava deitada com o benzinho, eu via quando uma pessoa chegava,
aí me puxava dos braços do benzinho e me batia. Eu dizia: bem tu tá me puxando. Eu
tava acordada, não era dormindo não.” Além do tratamento formal, a família do esposo
começou a levá-la a um centro espírita. Lá disseram que era médium e que deveria
‘desenvolver’, mas não aceitou a idéia, porque tinha medo de ser castigada caso fosse
contra a tradição católica de sua família de origem. “Eu nunca quis esse negócio não.”
167

Ela disse que foi a vários médicos diferentes, mas, para alguns dos sintomas “os
medicamentos e as consultas não adiantavam. O que mais me atrapalhava era as
agonias. Eu podia estar onde estivesse, aí ficava, “vou morrer, vou morrer”. Eu vivia
doente. Todo médico dizia que era nervo, era nervo e eu vivia me acabando. E chegava
a pensar: vou ficar bem velhinha desse jeito?”
E foi só depois de algum tempo na terapia que Dona Cleinha realmente
chegou a confrontar a antiga percepção de si mesma, como ela reconhece: “ficar boa
mesmo foi aqui no projeto.” E um dos elementos que mais contribuíram para a
ressignificação do processo saúde-doença foi a religiosidade. A abertura à diversidade
religiosa favoreceu a integração de dois aspectos que em sua história eram fontes de
conflito interior: o fato de vir de uma família tradicionalmente católica e, ao mesmo
tempo, acreditar em fenômenos de cunho espiritualista, principalmente depois de
conviver com a família do marido: “Eu sou muito católica mas eu acredito nessas
coisas, tá entendendo? Depois eu me casei e meu sogro era espírita. Eu tinha muito
medo de andar na casa dele, dessa história de espiritismo.” A perspectiva espírita trazia
novas nuances à compreensão de seus problemas, possibilitando alternativas de
tratamento, como ocorreu na ocasião em que teve ameaça de aborto: “Aí perdi meu
primeiro nenê e depois na segunda gravidez fiquei em tratamento, abortava, não
abortava. Meu sogro mandou me levar no centro espírita. Como eu tava muito doente
tive de ir. Lá disseram que eu tava com um encosto de uma mulher que tinha morrido de
aborto e ela, enquanto não me levasse, não ia sossegar. Aí eu fui e fiquei boazinha. Aí
eu tenho de acreditar nessas coisas, né? Eu acredito porque se passaram comigo.”
E assim, durante muitos anos, convivera com os sintomas, oscilando entre
as duas tendências religiosas, não sem algum conflito. Até que, num dado momento em
que estava se dedicando mais às atividades da igreja católica, ouviu falar do projeto
Quatro Varas, por intermédio de uma nora que conhecia Dona Isa, a mãe de Adalberto e
de Airton, que também era muito ligada à igreja. “Minha nora disse pro meu marido: “O
filho da Dona Isa chegou da França. Ele é um bom médico, psiquiatra. E eu não queria
ir de jeito nenhum. Demorei foi muito. Aí depois foi que eu descobri que tinha isso
aqui, e eu vim não foi nem pelo Dr. Adalberto. Quando eu cheguei aqui encontrei o
Airton. Eu sempre fui muito apaixonada pelo Airton, desde a igreja.” De início veio
conhecer o Projeto relacionando-o às atividades da igreja. Resistiu muito à idéia de
freqüentar a terapia, e quando veio, mantinha-se calada e reticente. “Eu tomava
diazepan e um bocado de remédio, depois vim pra terapia, mas eu nunca contava meus
168

problemas.” Não aceitando a idéia de passar por um processo terapêutico, vinha às
sessões porque gostava de ver as pessoas e cantar as músicas católicas que já conhecia.
E quando algum dos participantes relatava algo envolvendo a crença em
espíritos, bruxarias, “essas coisas”, ela se mostrava bastante interessada e, embora não
se manifestasse, sentia vontade de falar sobre o tratamento de seu pai na umbanda e
também de suas experiências com o espiritismo kardecista. Com o tempo percebeu que,
na verdade, na terapia não havia apenas aquelas duas tendências religiosas que
conhecia. Lá apareciam pessoas com outros credos e concepções místicas, o que a
levava a abrir-se a outras perspectivas, enquanto lidava com o desejo de participar mais
ativamente do ritual.
Decidiu que falaria apenas de seu lado espiritual, porque compartilhar os
dramas de sua vida era algo muito difícil. Sentia uma espécie de calafrio só de pensar
em expor em público o tema de suas doenças, apesar de que muitas pessoas da
comunidade já haviam presenciado as crises de “agonias” que, para ela, eram um
mistério que nenhum médico conseguira decifrar.
O receio de trazer seus problemas à terapia relacionava-se à presença do
“Dr. Adalberto”, que, sendo psiquiatra lhe lembrava um passado que, se ela pudesse,
excluiria de sua vida. “Eu estava freqüentando, mas não tinha intimidade com o Dr.
Adalberto.” Percebendo isso, ele pensou em um recurso alternativo para fortalecer o
vínculo dela com o Projeto. “Um dia, ele falou pra Francisca, que organizava o curso de
massagem, pra me chamar. Aí a Dona Francisca foi falar com a Elismar que era a
professora do Curso. E ela disse que não podia entrar mais porque já tinha passado a
primeira viagem. Aí a Francisca disse: “o Dr. Adalberto disse pra colocar ela”. Aí a
Elismar me disse “Você vai ter de correr atrás pra acompanhar”.” A capacitação era
uma oportunidade e, ao mesmo tempo, o desafio de dar mais um passo rumo à sua
autonomia. Inscrever-se no curso seria a prova de que poderia superar os sintomas, e
acreditar nas potencialidades que desde a infância haviam sido minadas.
Adalberto apostava que a experiência de sentir-se capaz, iria contribuir para
que Dona Cleinha ressignificasse o papel de doente. A autoconfiança iria agregar novos
elementos ao seu conceito de identidade, reforçando a auto-estima, fator essencial para
se construir uma trajetória de empoderamento. Isso poderia acontecer para Dona
Cleinha, não fosse o fantasma da doença que, dias antes dela inscrever-se no curso,
volta a aparecer, sob forma de somatizações.
169

Como uma espécie de sabotagem do inconsciente, surgiram fortes dores em
sua coluna, e ela associou-as ao fato de ter sofrido um traumatismo, há alguns anos...
“Porque eu tinha sofrido um acidente antes de entrar no projeto e tinha um disco
achatado e aí o médico disse que eu ia fazer outra cirurgia. Logo quando eu estava bem
no projeto!... E chorava. Só quem sabia disso era uma das massoterapeutas daqui.”
Temendo que comentassem com a coordenadora do curso e a impedissem de participar,
sofria sozinha temendo a frustração de fracassar mais uma vez.
Não conseguia tirar da memória a expressão fria do ortopedista dizendo:
“Uma pessoa de sua idade, num caso desse é fundo de rede.” Aquelas palavras giravam
em sua mente, com a força de uma profecia, anunciando que as dores a perseguiriam
pelo resto da vida. Sentia-se culpada por ter causado prejuízo, nascendo numa época de
tantas privações, e ainda por cima, doente! Lembrava o pai contando sobre o padre
Hélio que a imaginara morta. “Essa menina não tinha morrido?” Outra hora, via o
sarcasmo no rosto da tia rindo quando contara que ia se casar. Mas, não dera alívio a
todos saindo de casa? Agora percebia que mesmo deixando tudo pra trás, ainda assim
não conseguia se sentir livre para viver, nem com direito a ser feliz. Agora que estava
gostando de participar da terapia e vislumbrava uma remota perspectiva de
transformação, não queria retroceder!
Passava os dias pensando no assunto, sem, no entanto, conseguir decidir
nada. Resolveu que na próxima terapia iria colocar o assunto para que o grupo a
ajudasse a tomar uma decisão e ficou a semana inteira se imaginando como uma
massoterapeuta. Mas, quando chegou a quinta-feira, durante a sessão, não conseguiu
abrir a boca. Não teve coragem de tocar no problema. Decepcionada consigo mesma,
logo que terminou a sessão, dirigiu-se depressa àquela massoterapeuta em quem
confiava e que estava presente na terapia, para dizer que não estava se achando em
condições de fazer o curso. Ouvindo-a com atenção, a amiga pegou em sua mão e a
encorajou, recordando com ela alguns momentos da sessão em que houve relatos de
atitudes de superação, como uma senhora que havia vencido a síndrome do pânico, e
outra moça que, apesar da deficiência visual acentuada, conseguira emprego. Lembra
das experiências positivas que vivenciaram juntas no Projeto, quando Dona Cleinha
mostrou capacidade de aprender diversas coisas. Finalmente, ressalta a intenção positiva
de Adalberto que intercedeu por ela, acreditando em seu potencial.
Rejeitando a idéia de continuar se vendo como uma pessoa deficiente,
resolveu se inscrever no curso e, para provar a si mesma que realmente era capaz,
170

começa a fazer as tarefas de casa. “E aí eu fui varrendo casa e levando minha vida.”
Voltou-se muito mais às atividades no Projeto, entendendo que sua busca de autonomia
estava ligada a essa participação. Mais do que nunca, queria se tornar dona de seu
destino. Não faltou mais a nenhuma sessão de terapia e, ao concluir o curso, passou a
fazer parte do grupo de massoterapeutas que atendia à comunidade.
Modificou também sua atitude em relação a Adalberto, considerando-o
agora diferente dos psiquiatras que conhecera anteriormente. Geralmente, ele falava o
linguajar do povo e sempre valorizava o fato delas terem coragem de colocar seus
dramas em discussão. Percebendo com maior nitidez, que, na terapia, não existia a
barreira que via antes na relação médico-paciente, sentiu-se impelida a falar de si. E
como um gato que estivesse à espreita, calculava o momento em que daria o salto de
trazer seus medos à terapia, para serem confrontados. Uma mudança na percepção de si
foi se processando, e, em pouco tempo, ela já estava usando a palavra na sessão. “Eu
sempre era só de baixar a cabeça e chorar. E hoje não tem mais isso. Aí você imagina,
né? Hoje eu digo mais ou menos o que estou sentindo, o que eu quero.” Começava a
identificar seu próprio eu, a diferenciar-se da prescrição familiar de ser frágil e incapaz.
Adalberto130 explica como se dá na terapia o processo em que a pessoa
começa a compreender a si mesma. “Isso exige que as pessoas comecem a pensar, a se
implicar, a participar, a tornar-se sujeito, a compreender as coisas e o mundo em que
vivem.” Seu pensamento coaduna com as palavras de Freire (1997, p59), quando fala da
responsabilidade de cada um com sua própria história: “sei que a minha passagem pelo
mundo não é predeterminada, preestabelecida, que o meu ‘destino’ não é um dado, mas
algo que precisa ser afeito e de cuja responsabilidade não posso me eximir. A História
em que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de
possibilidades e não de determinismo.” Há similaridade entre as palavras de Freire e a
proposta da terapia de despertar o sujeito para a responsabilidade de mudar sua própria
história. E, de que forma isso acontece?
No caso de Dona Cleinha foi como um lento despertar. De início, vinha à
terapia por insistência do esposo, permanecendo quieta e voltando para casa com a
sensação de que seu caso não tinha jeito. Pouco a pouco, de forma quase imperceptível,
começou um processo de mudança interior. À medida que via o esforço das pessoas
buscando entender o que sentiam, passou a vislumbrar a possibilidade de também
130 Tratamos desse assunto em correspondência por e-mail do dia 18 de janeiro de 2008, quando
Adalberto estava com o pessoal do Projeto Quatro Varas em uma turnê na França.
171
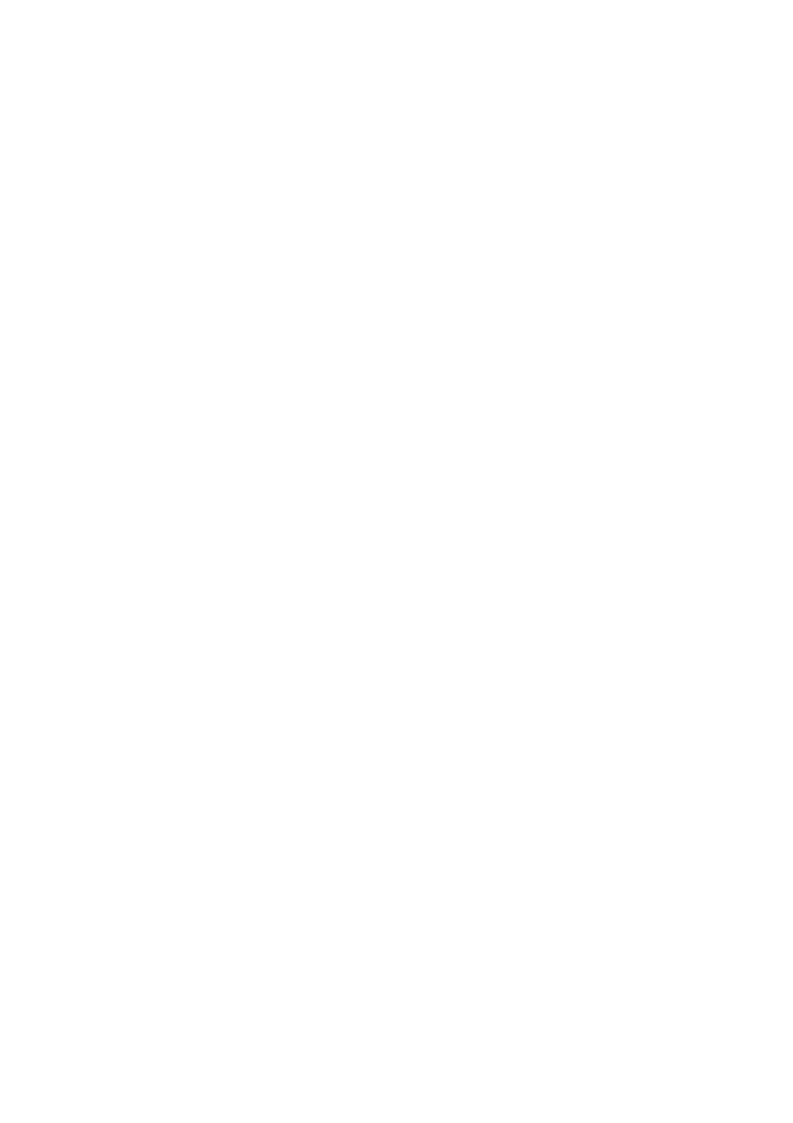
compreender os seus sintomas. Pensava muitas vezes em casa, na frase que é dita em
todas as sessões: “quando a boca cala os órgãos falam”. Perguntava a si mesma, o que
aconteceria se continuasse calando sobre seus problemas. Concluía que o silêncio não a
levaria a decifrar o porquê de suas “agonias”. Se os sintomas eram de fato uma forma
de linguagem, como ouvia falar na terapia, no seu caso, eles também deveriam
significar algo ou seriam simplesmente uma espécie de sentença?
Precisava elucidar essas questões, principalmente agora que as dores na
coluna haviam reaparecido, exatamente quando pensava em se capacitar para ser
massoterapeuta. Pela primeira vez desconfiava do que estava sentindo. A aprendizagem
da terapia fazia-a questionar se o agravamento do quadro seria de fato por conta de uma
doença incapacitante ou se os sintomas estariam, na verdade, denunciando o medo de
enfrentar o desafio. Começou a perceber o poder que a doença sempre teve sobre suas
decisões e, desta vez, tentou se ver de forma diferente. Enfrentando as dores e o
prognóstico apontado pelo médico, criou a possibilidade de se tornar regente de sua
própria história. Ao assumir a função de massoterapeuta inaugurou uma fase produtiva
em sua vida: “Antes eu não tinha coragem pra nada e agora que eu estou tendo que dar
os dois expedientes, eu me acordo, faço o meu almoço, tomo conta de tudo. Quem faz
tudo sou eu mesma. E numa boa. Isso é uma das coisas que mudou. Outra é porque
estou mais ativa mesmo.” A consciência da própria mudança confere um novo sentido à
sua existência, alargando o caminho de seu desenvolvimento.
Em nossas conversas, ela não deixou de ressaltar a importância de
Adalberto nesse processo, pois, foi graças a uma intervenção dele que resolveu encarar
diante do grupo, o seu maior medo: o medo de morrer quando tinha aquelas “agonias”.
“Na hora da partilha, nesse dia eu contei das agonias. Aí o Dr. Adalberto, que parece
que olha pra gente e sabe das coisas, né, ele virou assim pra mim e disse “você sabe que
não morre, se tivesse de morrer já tinha morrido”. Aí fui noutro mundo e voltei, mas
graças a Deus, foi um remédio.” Aquelas palavras causaram-lhe forte impacto,
principalmente a afirmação: “você sabe que não morre.” A constatação aparentemente
óbvia de que se tivesse de morrer já tinha morrido, fizeram-na lembrar das inúmeras
vezes que sentira as “agonias”, e que estas não tiveram maiores consequências.
As duas intervenções tocaram o âmago de seu imaginário, atingindo a antiga
marca da doença, que invadira sua mente, desde que soube que o padre havia dito “ouvi
falar que essa menina já tinha morrido”. Até então vivia como se sua presença não
contasse no mundo. Nesse momento, para ela, Adalberto, tal qual um xamã, desfaz o
172

“feitiço” com a proposta da verdade que ela já confirmara várias vezes, nas idas e
vindas dos hospitais, e que, no entanto, não se dava conta: aquelas “agonias” não tinham
o poder de matar. E aquela proposição ficava reverberando em sua mente: “Você sabe
que se tivesse de morrer já tinha morrido.” Ao sair da sessão, continuou refletindo,
inclusive nos momentos de suas orações. Se de fato estava viva, se não ia morrer por
conta das “agonias”, o que a impediria de exercitar sua competência? Esse foi o
pensamento de que passou a se ocupar daí em diante.
Decidiu reservar parte do tempo que dedicava à igreja, para auxiliar nas
atividades do Projeto, e, especialmente para participar da terapia. Experimentando um
pouco mais de seu próprio poder, a cada dia, atendia mais pessoas que a procuravam
como massoterapeuta, como conselheira espiritual e também durante as sessões, quando
passou a ter um papel muito importante no acolhimento das pessoas. Desta forma, pelo
próprio esforço, Dona Cleinha adquire um poder geralmente “detido por uma classe
dominante definida por seus interesses” (FOUCAULT, 2005, p. 76). Ela reconhece esse
poder, manifestando em seu discurso: “Eu apóio a terapia. Me vejo dessa maneira. Lá
na igreja eu sou bem envolvida. Mas as pessoas de lá dizem que depois que eu passei
aqui pro Projeto, eu passei a ser outra pessoa, eu mudei pra melhor. Meu marido diz que
mudei pra melhor, meu filho diz que mudei pra melhor.”
Um dia perguntei a ela como, sendo tão sensível, aceitava o modo
contundente como Adalberto fala, de vez em quando. Ela me disse: “Eu aprendi com ele
a transformar minhas merdas em crescimento.” E o que é “transformar merda em
crescimento”? perguntei. Ela respondeu com toda a convicção que já adquirira: “É a
gente passar por dificuldades e não ficar aí se entregando. Ir pra frente. Saber que a vida
continua.” Para dar um exemplo de como se percebe diferente do que era antes, ela
conta como reagiu a um grande estresse vivido durante uma cirurgia do marido, quando,
de repente, soube que houve uma complicação: “Ai, Jesus. Na hora mesmo eu pensei:
Meu Deus se eu não estivesse nesse projeto...foi há uns dois anos. O benzinho se operou
do coração e ficou com problema, uma úlcera e teve de fazer uma raspagem. Quando
ele fez a raspagem, ele desmaiou. Eu vi o benzinho morrendo. A boca emboloada, os
olhos revirando. A enfermeira mandou eu ir chamar o médico. Eu disse : ‘não. Eu vou
ficar com o meu marido’. Eu tinha certeza que ele ia partir. E naquele momento eu fui
forte. Se fosse noutro momento eu tinha dado o maior escândalo. Eu não nego não. A
primeira coisa que eu me lembrei foi do Projeto. E fiquei ali segurando as pontas. Fosse
173
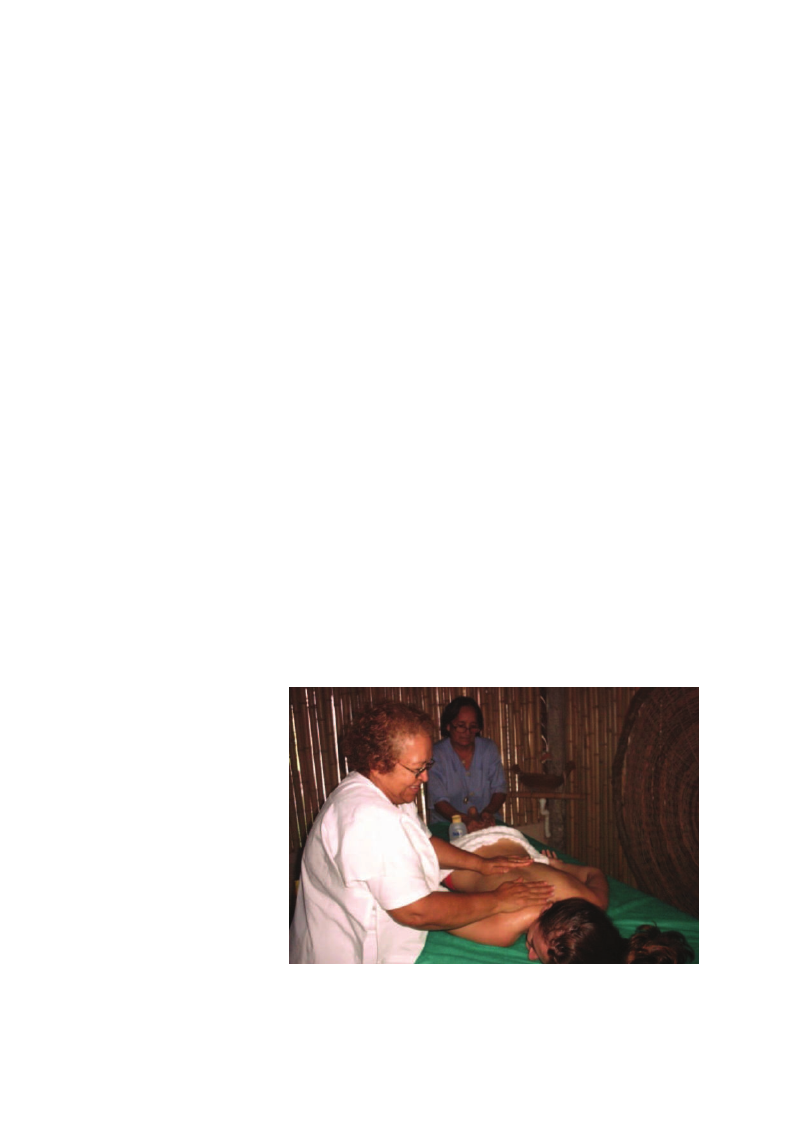
o que fosse, eu fiquei ali do lado dele. Não saí de perto dele. Eu estava disposta ao que
fosse mesmo.”
Depois, continua falando de sua transformação, citando como exemplo o dia
em que enfrentou, junto com o marido, uma situação de assalto: “estávamos dentro do
carro, um rapaz bem novinho botou o revólver no ouvido do benzinho. E eu aqui assim
“Jesus, Jesus”, foi um negócio assim sério. E graças a Deus a gente deu só os relógios e
o dinheiro. E quando saíram o benzinho queria matar o fulano. Na hora eu passei mal,
tive de ir pro hospital e fiquei mais ou menos uma semana não legal. Depois eu
enfrentei. Aqui eu vejo pessoas que passam por isso ficarem doente muito tempo pra
sarar e eu foi só uma semana. Isso é coisa do Projeto. Eu vejo aqui como é que as
pessoas ficam e penso. Será que eu sou diferente?”
Em várias sessões de terapia a que assisti, vi Adalberto utilizar essa
metáfora de “transformar merdas em crescimento”. Por meio dessa simbologia, ele
propõe a ressignificação de experiências negativas em potenciais de luta, em
realizações, como ele explica: “a merda é matéria-prima pra gente transformar em
estrume que vai fazer as plantas crescerem e dar flores e frutos.”
Outra metáfora que ela aprendeu e que sempre traz nas sessões de terapia é
baseada nos elementos da natureza. “Antes de conhecer o Projeto eu comparava a vida
com o mar, com seus altos e baixos e depois aprendi com o Dr. Adalberto que nós
somos como a lua: quarto crescente, minguante, lua cheia e lua nova e a gente tem que
se aceitar quando a gente está quarto minguante. Tem que saber conviver, não é aceitar,
é aprender a viver com as
dificuldades,
e
transformar aquelas
dificuldades numa coisa
boa.” A representação
simbólica das fases da
lua auxilia na percepção
das mudanças cíclicas
que ocorrem na mulher, e
também mostra o
dinamismo próprio da Figura 30: D. Cleinha, exercendo a função de massoterapeuta
vida. E assim,
174

aprofundando as transformações pelas quais vinha passando, Dona Cleinha resolveu, no
ano de 2006, fazer o curso de formação em terapia comunitária. Continuou sua trajetória
de empoderamento, tornando-se oficialmente terapeuta. Hoje ela dirige sessões também
em outras comunidades, levando a proposta da terapia.
Seu Zequinha, Neves e Dona Cleinha mostraram que, por diferentes
caminhos, pode-se ressignificar o processo saúde-doença e construir uma trajetória de
empoderamento, por meio da terapia. Segundo Adalberto, o sujeito dá o primeiro passo
nesse processo quando redimensiona o seu sofrimento, comparando-o com o de outras
pessoas. Em seguida, vai decodificando a linguagem dos sintomas, por intermédio da
troca de experiências e das várias leituras que a terapia proporciona. As novas
percepções auxiliam a pessoa a libertar-se da culpa, substituindo a visão
autodepreciativa e o peso dos diagnósticos médicos, pela autonomia na gestão de seu
itinerário terapêutico. Assumindo atitude mais independente, o sujeito amplia suas
possibilidades de ação em busca da cura e vai se capacitando a auxiliar outras pessoas,
de modo que, a partir da vivência continuada na terapia, e com o treinamento adequado,
qualquer pessoa pode se tornar um facilitador. Por intermédio da freqüência sistemática,
o participante pode capacitar-se a dirigir sessões de terapia comunitária.131 Surge daí um
novo ator social, o “terapeuta comunitário”.
Esse foi o caminho trilhado também por Fabiana, uma jovem que chegou à
terapia na adolescência e, aos 28 anos, já é considerada uma excelente terapeuta.
3.7 Fabiana: “Quando termina a terapia, a pessoa sai com a mala cheia de
caminhos...”
Além dos três personagens anteriormente citados como exemplos de
transformação, há mais uma pessoa que se destacou entre todos os entrevistados pela
força de superação que a acompanha desde a infância e a adolescência. O que
impressiona em Fabiana é a capacidade que ela demonstrou de se desenvolver
satisfatoriamente, amadurecendo desde cedo, apesar de, ou até mesmo por ter
encontrado condições de vida muito adversas.
131 Este processo de aprendizagem deu origem a um programa de capacitação que hoje se tornou política
pública incorporada pela Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD, e implantada em quase todos os
estados do país.
175
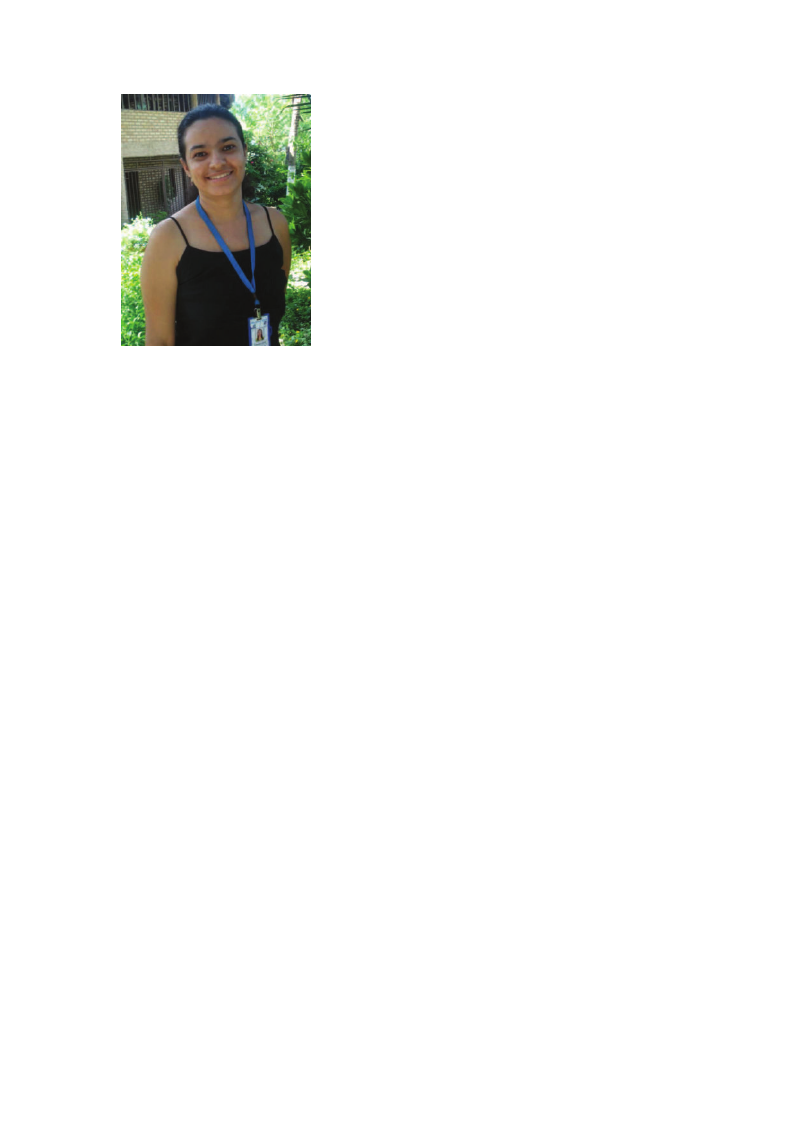
Seu caso é um exemplo de “resiliência”,
conceito que foi descrito na introdução (p.18) e que
será aqui utilizado para trabalhar as categorias
emergentes em sua trajetória de paciente a terapeuta. A
teoria da resiliência que servirá de base para analisar os
caminhos que ela trilhou na terapia começou a ser mais
largamente estudada, a partir da pesquisa sobre
estresse, que tomou corpo nas três últimas décadas.
Com o aprofundamento dos estudos nessa área, a noção
Figura 31: Fabiana
de resiliência passa a ser relacionada a novos conceitos
emergentes no campo das ciências humanas e da saúde
como o “senso de coerência e controle da vida.” Para a psicologia, a resiliência é uma
habilidade humana que modifica a resposta de uma pessoa a um determinado perigo, a
fim de obter um resultado mais satisfatório. Analisando o caso de Fabiana pode-se
observar que a terapia comunitária pode funcionar como um contexto propício ao
desenvolvimento da resiliência, principalmente por meio do fortalecimento de vínculos
e formação da teia social.
No presente estudo venho argumentar que a terapia comunitária funciona
como um contexto propício ao desenvolvimento da resiliência, por meio do
fortalecimento da auto-estima, da ressignificação do processo saúde/doença, da
formação de vínculos e construção de redes de apoio social. Fabiana descreve tudo isso,
em poucas palavras: “Pra mim, é isso que faz bem... Você começa a falar e você começa
a internalizar em você as suas próprias convicções, e quando termina a terapia, a pessoa
sai com a mala cheia de caminhos. Seguir, ou não, vai depender dela. Esses caminhos
vêm dos participantes, dos componentes da terapia, dos terapeutas que conduzem a
terapia, tá entendendo? Então assim, eu acho que, no caso, essa mala, ela sai cheia, né,
desde o primeiro momento até o fim, que é aquela história daquela roda, que é a
partilha...” Fabiana, começou a se beneficiar da terapia antes mesmo de se dar conta
disso, uma vez que sua mãe frequentava o Projeto e a terapia, e lá trocava experiências,
buscando orientar-se em como lidar com a filha.
Ela conta que nasceu ali mesmo na Comunidade e conheceu o Projeto ainda
criança, por intermédio de sua mãe, Fátima Maria Quirino, filha de Antonio Quirino,
um baiano, caminhoneiro, que ela chamava de “vô baía”. Ele viajava muito para dar
estudo aos sete filhos, dentre estes, Fátima, a mãe de Fabiana, que se tornou professora
176

e acabou se envolvendo com um pernambucano, que viera trabalhar como
impermeabilizador em Fortaleza. Fátima só veio saber que ele havia deixado esposa e
filhos no interior de Pernambuco, depois de estar irremediavelmente envolvida com ele.
Muito romântico e envolvente, logo cativou a moça que, muito jovem, pensava em
ajudá-lo a deixar o alcoolismo, motivo pelo qual “vô baía” não aceitava o
relacionamento.
Apesar disso, namoraram algum tempo, até que Fátima engravidou e
Fabiana nasceu. “Ele era um bom pai. Minha mãe suportou tudo pra não dar satisfação
aos pais dela porque eles não queiram. Então ela morava com eles, mas quando eu nasci
minha mãe veio para o Pirambu. Eu tive tudo até os três anos, mas depois as coisas
começaram a piorar. Ele bebia demais e era muito ciumento. Quando eu ia completar
sete anos, no dia 22 de janeiro, aí um sábado antes, ainda me lembro, no dia 15 de
janeiro eles foram pra uma festa e ele veio batendo nela. Ela veio apanhando da festa até
em casa. Ela era míope, usava óculos, aí ele quebrou os óculos na cara dela, ela ficou
sangrando. Aí ela começou a reagir e fui chamar a tia Bia que morava no quintal e
conseguimos separar os dois, mas ela já tava toda deformada. Depois minha mãe teve
um enfarte e passou três meses no hospital. Eu vinha da Barra do Ceará, sozinha, de
ônibus, com sete anos. Depois ela ficou se tratando. Dava aula em casa, mas vivia mais
no hospital do que em casa. Ele bêbado, em cima da cama, o dinheiro não aparecia. Era
só mulher e bebida. Eu trabalhava pra comprar comida.”
Aos 11 anos, Fabiana já ganhava algum dinheiro, entregando almoço para
funcionários das construções que naquela época proliferavam no Pirambu. “Minha mãe
investia tudo em pagar um colégio particular. Eu estudava sem livro, mas nunca saí
reprovada. Pra brincar eu ia pra casinha azul do projeto, ali era tudo areia. A praia é
meu ponto fraco. Em 92 pra 93 eu tava de 12 pra 13 anos e meu pai queria aprontar, aí
eu disse pra minha mãe: ou ele ou eu. Ele teve de sair de casa, querendo ou não. Mas,
no fundo ela amava ele.” Depois desse período, Fátima conseguiu emprego em uma
ONG, chamada ACAMP, que era coordenada por uma francesa, amiga de Adalberto.
Lá, exercia a função de educadora num trabalho com meninas de rua. Como já conhecia
o Seu Zequinha ali mesmo do Pirambu, desde a época do movimento “União dos
Moradores”, falou com ele para trazer à terapia comunitária, um grupo de meninas. E
ficou vindo semanalmente com elas, para participar da terapia. “Minha mãe vinha com
o grupo dela, aí fazia a terapia e levava pra mim, porque eu tava insuportável. Aí minha
mãe vinha toda quinta-feira. Então, ela me levava pra terapia.” Fátima buscava na
177

terapia, uma forma melhor para lidar com as dificuldades que estavam surgindo na
adolescência de Fabiana. “Quando ela tava bem, ela conseguia me suportar, tá
entendendo?” Com 12 anos, Fabiana já namorava e, revoltada com o pai, criava
problemas dentro de casa. “aí, ela vinha pra cá, através do Seu Zequinha, quando eu
tava em crise, né, assim de revolta, ... Ela já tinha isso dela de ser uma pessoa muito
doce, muito dinâmica, muito eclética e a terapia veio só fortalecer o que ela já tinha...
Veio aflorar o que nela já era nato.”
Freqüentar mesmo a terapia, Fabiana só veio no momento em que enfrentou
uma forte crise depressiva. “Quando eu tava com quinze anos, tinha acabado de
terminar o primeiro grau, tava com a cabeça cheia de sonhos, né, e engravidei. Então eu
peguei uma depressão muito forte, porque eu rejeitei na primeira instância a gravidez,
eu rejeitei demais, porque eu queria era estudar, o meu sonho na época era fazer direito,
tanto que quando tem alguma coisa de confusão aqui no projeto de confusão, de
delegacia, eu digo é comigo! Tá entendendo? E é comigo mesmo. Pois é, porque eu
gosto dessas histórias. Até porque, pra você não ser enganado, porque quando você
conhece é difícil alguém querer lhe passar a perna. Quando você diz: não é assim, é
assim. A pessoa chega, olha assim diferente, ’ ah! Então eu não posso enganar’, porque
aí ela sabe o que eu tô falando.”
Suas palavras descrevem bem como, na realidade, ela é. Digo isso porque
convivi com ela em todos esses anos de contato com o Projeto e sempre observei
atitudes de uma pessoa muito forte, disposta ao trabalho e sincera, quando fala. Assume
posição de liderança e por isso está sempre coordenando alguma atividade. Os cabelos
encaracolados, eu nunca os vi soltos, porque ela os prende, amarrando para trás, como
se isso a deixasse ainda mais eficiente, ou apenas para combinar com a calça jeans e a
blusinha de malha, muito simples, que parecem nunca sair da moda. Para mim ela já
definiu um jeito de ser: é aquela pessoa prática, que ‘resolve tudo’. E não foi à toa que
recebeu o cargo de administradora há alguns anos e por muito tempo não conseguiu
transferi-lo para ninguém. Não aparecia no Projeto um substituto que fosse capaz de
fazer o que ela faz. Recentemente, uma equipe externa foi contratada para exercer sua
função e ela optou pela coordenação da Casa da Cura, enquanto conclui sua faculdade.
Então, a Fabiana que eu vejo, parece uma pessoa que já nasceu grande, não
teve infância e nunca parou um dia sequer para ficar sem fazer nada. Mas, o sofrimento
que se viu até aqui, não foi tudo. O fato mais marcante de sua vida, que ela me contou
em nossa penúltima entrevista, se deu no momento em que decidiu contar para a mãe
178
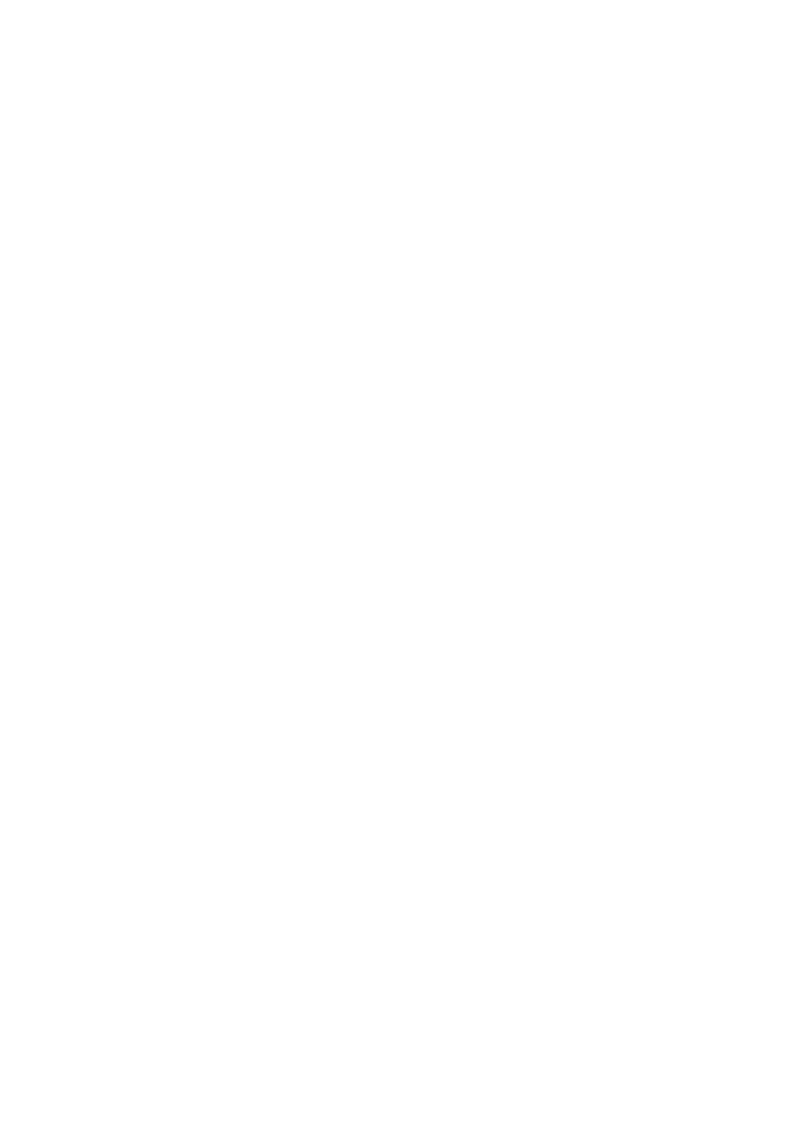
que estava grávida. “Isso foi inesquecível.” Diz apenas essas três palavras e começa a
chorar como se mergulhasse instantaneamente no passado. Parei um momento, tentando
decifrar o significado daquelas lágrimas, que eu não pretendia provocar. Não me
arriscava a imaginar que sentimentos nossa conversa teria evocado. Na verdade, me
surpreendi ao ver que ela, que é sempre destemida, e que estava há poucos minutos tão
falante, se emocionasse assim.
Sem saber se deveria dizer algo, decidi aguardar que ela mesma rompesse o
silêncio, o que veio a acontecer logo que ela percebeu minha atitude de espera. Ainda
com a voz meio embargada, ela enxuga os olhos na manga da blusa e retoma sua forma
habitualmente firme de falar: “É, porque a minha mãe confiava muito em mim, como eu
também confio em todo mundo. Porque até prova em contrário todo mundo pra mim é
bom. Aí, eu engravidei.” Então, por isso viera o choro. Lembrava da surpresa que
causara à mãe. Em plena situação de separação, com dificuldades financeiras, a filha
ainda estudante, Fátima parecia que ia desmaiar... “Cadê coragem de dizer a ela?”
Interrompe outra vez a história para falar de um período anterior, quando ainda menina
sofria ao lado da mãe, os problemas causados pelo alcoolismo do pai. “Eu, filha única,
meu pai batendo nela, a gente botou ele pra fora de casa. Teve uma hora que eu tive que
tomar posição e dizer, mãe, das duas uma, ou a senhora aceita ele ou eu, em casa. Eu
tinha doze anos na época. Uma criança ter que dizer isso pra uma mãe... Na época pra
ela foi duro. Então ela teve de se posicionar, porque eu não agüentava mais ela
apanhando, a gente passando necessidade e ele sem fazer nada.”
Aliara-se à mãe, comprometendo-se a trabalhar. Faria o impossível para
libertá-la! “Então, eu trabalhava, porque com doze anos eu já dava aulas, tá
entendendo, pra ajudar minha mãe, e trabalhava também pra ir deixar almoço em
construção. Pra quê? Pra não faltar o da panela em casa. Então, eu não tinha pra onde
correr, ou eu me virava, ou me virava, tá entendendo?” Vinha tentando, com muito
esforço, manter sua palavra e sustentar o peso das mudanças que ela mesma provocara,
quando percebeu que estava grávida... “E eu sem querer que aquilo fosse verdade, e
sendo. Ai chegou um belo dia que disse, eu não posso mais esconder. Aí eu pensei, eu
vou ligar pra ela e vou dizer por telefone. Aí eu liguei pro trabalho dela e disse, mãe, eu
tenho uma coisa pra falar pra senhora. Aí comecei a tentar falar, né. Aí a voz não saía. É
porque eu tentava falar e não conseguia. Ai eu desliguei o telefone. Era telefone
público. Aí eu fui pra casa. Não deu meia hora ela chegou atrás. Quando chegou ela
disse: diga o que você tem pra me dizer. Porque ela já desconfiava, né, mãe é mãe. Aí,
179

eu... “Não, deixa eu botar o almoço...” Porque ela era minha mãe mas quem cuidava
dela era eu, porque, antes dela morrer ela tinha tido um ataque cardíaco fulminante, ela
tinha tido um enfarte, ela tinha uma angina, então ela tinha uma saúde delicada. Por isso
que eu tinha cuidado com a reação dela...”
Aprendera com a mãe a ser empática. Cuidavam uma da outra. “Eu que
fazia a merenda pra ela levar pro trabalho, era eu que arrumava casa, eu que lavava
roupa... Eu que fazia tudo! Da minha mãe eu sou filha única, né? Então era assim, Deus
por nós duas, eu por ela e ela por mim.” Fabiana estava apreensiva, mas tinha que dar a
notícia. “Aí eu botei o almoço e a gente começou a almoçar, sentada de frente uma pra
outra. Ela sentada numa cadeira e eu num banco, porque a nossa casa era muito simples.
Aí quando eu comecei a comer, ela soltou a colher e disse, vamos, diga o que você tem
pra me dizer.” A experiência do diálogo que a mãe exercitava na terapia e praticava com
ela em casa, desde criança, era o que sustentava a relação naquele instante. As duas
estavam ali, unidas por um laço de amizade, pela sinceridade construída nos dias em
que a dura realidade era tudo que tinham, e que foi o estímulo à resiliência de Fabiana.
Os elementos básicos para a construção da resiliência foram identificados
por Fonagy (1994). Os autores afirmam que o desenvolvimento da resiliência depende
da qualidade das primeiras relações do indivíduo na família. Ela nasce de um diálogo no
qual a pessoa possa ser confirmada, vista e respeitada pelo que ela é. E era esse tipo de
diálogo que Fabiana e Fátima cultivavam. Confiavam uma na outra e a prova disso é
que, apesar das dificuldades criadas pela gravidez, Fabiana não consegue esconder por
muito tempo de sua mãe e esta, por sua vez, não lhe nega o apoio necessário, assumindo
uma atitude de aceitação incondicional: “Aí ela me disse uma frase que marcou a minha
vida pra sempre, ela disse, seja o que for que você vai me dizer, você nunca vai deixar
de ser minha filha. Seja o que for... Diga. Aí ela disse isso, e aí eu comecei a chorar.”
Talvez Fabiana tenha chorado ali à minha frente, se transportando ao momento em que
chorara no passado. E as lágrimas não eram apenas de remorso por causar dor à sua
mãe, ela também chorava com saudade do aconchego da mãe, do companheirismo que
elas tinham, em qualquer situação.
Nem mesmo a inconveniência da gravidez impedira Fátima de auxiliar a
filha, facilitando a comunicação: “por mim, eu sei você está grávida. E ela me ajudou,
porque aí desentalou o nó na minha garganta. Aí eu arrodeei a mesa, me abracei com ela
e comecei a chorar. Eu em pé e ela sentada. Aí ela abraçou já na minha barriga. E aí foi
quando eu chorei mesmo. Quando eu chorei ela foi e disse assim, eu sei que você tá me
180

dando o maior presente da minha vida, eu sei que você tá me dando uma neta. E olhe
que eu tava com poucas semanas de grávida. Aí ela me desarmou assim de tal maneira...
Olha, aquilo ali... Meu Deus do céu, foi assim um negócio. Nessa época ela já tava
vindo pro Projeto.”
Associando a atitude compreensiva da mãe ao fato dela freqüentar a terapia,
Fabiana começa a se questionar por que até então não a acompanhara às sessões, apesar
dos convites que ela sempre lhe fazia. “E eu nunca vim pra terapia aqui, nunca na minha
vida eu tinha vindo pra esse Projeto. E ela vinha. Me chamava e eu dizia, eu não sou
doida pra ir pra terapia. Eu não sei se ela chegou a falar aqui... Eu acredito que ela já
tenha falado alguma vez aqui de mim. Porque a terapia não tem um tema, né? Das
experiências... Às vezes não tem aquele mote que roda? Numa daquelas vezes com
certeza ela falou, não sei se no meu caso. Eu sei que nela, ela se sentia trabalhada,
porque ela tinha uma mansidez muito grande... Isso... Pra poder me suportar, tá
entendendo? Aí pronto, até que a Bia nasceu.” Desde então, Fabiana passou a
reconhecer a importância da terapia em sua vida e valorizar também a presença do Seu
Zequinha, que já conhecia Fátima e já vinha auxiliando a ela e à filha há bastante tempo.
Logo que soube do que estava ocorrendo, ele procurou estar mais próximo
das duas, visitando, telefonando ou mesmo por meio de recados. “O Seu Zequinha é
uma pessoa muito assim, amiga, ele gosta de ajudar mesmo.” Ele fazia a ponte entre
elas e o Projeto Quatro Varas. “E sempre o Seu Zequinha ligava pra minha mãe pra
saber como é que a gente tava... Então, eu tenho o Seu Zequinha como um pai. Seu
Zequinha era um pai.” Esse relacionamento assegurava o transitar de Fabiana da
adolescência para o mundo adulto, no momento em que as conseqüências da gravidez
somavam-se aos desafios que já eram muitos, a começar pelo pai que não a deixava em
paz... “Meu pai já tinha se separado mas bebia cachaça, e ia pra minha casa fazer zoada,
era aquela novela.”
Por sorte, a imagem negativa do pai era pouco a pouco substituída pelo
vínculo com o Seu Zequinha, por quem nutria crescente admiração. Ciente da
necessidade de estar por perto, ele se dedicou a conseguir um trabalho fixo para Fabiana
no Projeto. “Meu marido ainda tava desempregado, desde a época do casamento, eu
com a nenê, e dando aula particular três expedientes, e tinha que lavar fralda, fazer um
monte de coisa e aquilo ali me cansava, e não recompensava. E nisso eu dizia ao Seu
Zequinha, eu dizia a todo mundo que eu queria era trabalhar. Até que um dia de sexta-
feira o telefone lá de casa tocou. Quando eu atendi ao telefone era o Seu Zequinha.
181
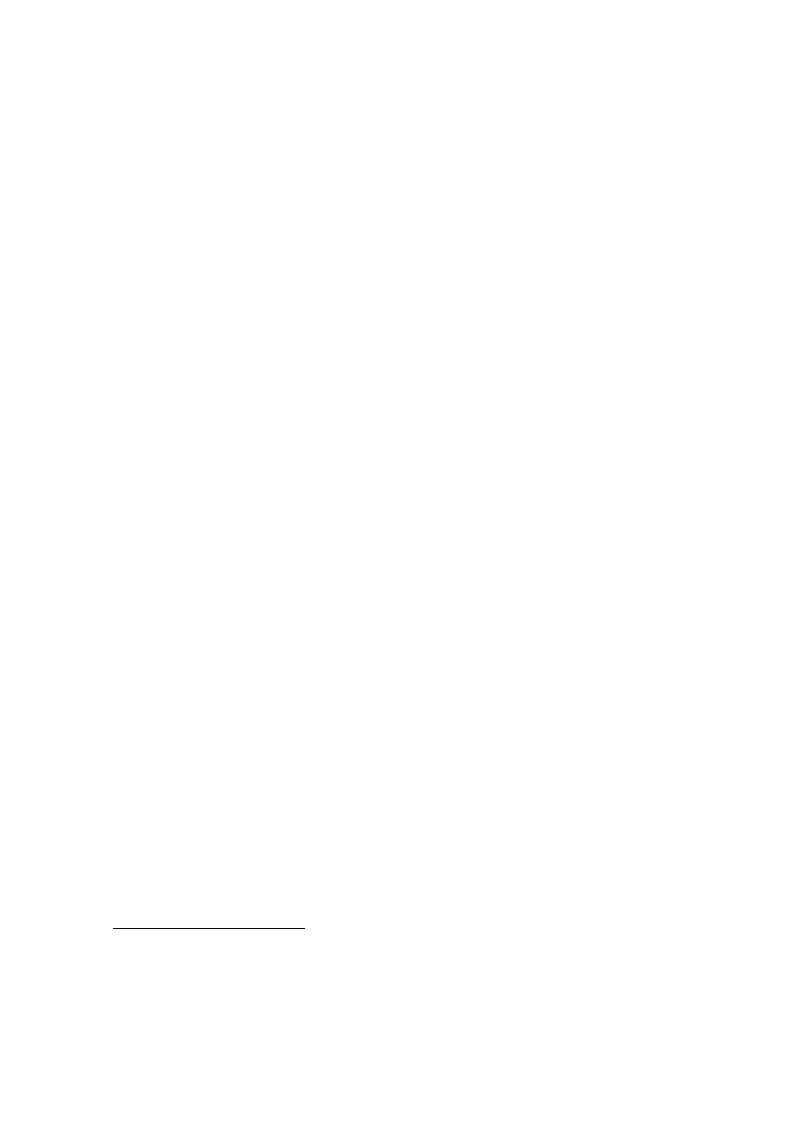
Minha jovem (tudo nele é minha jovem), você ainda quer trabalhar? Eu disse, com
certeza, seu Zequinha. Aí ele disse, é porque lá no Projeto Quatro Varas surgiu uma
oportunidade pra uma pessoa e eu me lembrei de você. Você aceita fazer uma
experiência? Eu disse, quando é que eu começo? Ele disse, na segunda. Na segunda eu
cheguei. Ai eu entrei, encontrei seu Zequinha, e fomos lá na casa da cura, achei aquilo
ali a coisa mais linda do mundo.”
Estudiosos da resiliência afirmam que ela se desenvolve por meio das
várias arenas sociais que o indivíduo percorre, desde a família, até o contexto social
mais amplo, que inclui a escola, os relacionamentos na comunidade e o ambiente de
trabalho. Pesquisas recentes informam que, quanto mais essas arenas se conectam
umas com as outras, mais fácil é para o sujeito ver a vida como algo coerente e cruzar
as intempéries que se interpõem em seu caminho. A conexão entre os diversos
contextos132 onde a pessoa vive, facilita a formação de um circuito de relações que
conferem sentido à sua vida, especialmente em fases de transição, como aconteceu
com Fabiana, que, além de estar atravessando dificuldades no período da
adolescência, vivenciara uma gravidez que a lançou repentinamente no mundo adulto.
O fato de ter conseguido um emprego no Projeto133, onde sua mãe era
bastante considerada, foi muito positivo. Conhecendo o ambiente desde os seis anos de
idade, quando brincava, à beira da praia, sentia-se mais tranqüila para começar a nova
experiência profissional. Disse então para si mesma que trabalharia ali a vida inteira.
“Eu nunca tinha vindo aqui depois que era o Projeto, aí eu disse, ai meu Deus do céu, eu
vou morrer aqui. Eu sempre dizia na minha cabeça que o meu primeiro emprego ia ser o
primeiro e o único, que eu não ia tá rodando de galho em galho. Isso foi numa segunda,
dia 27 de outubro de 96.”
Na terça pela manhã, foi chamada para uma reunião de rotina com os
funcionários e voluntários do Projeto. Nesse dia conheceu Adalberto, de quem já ouvira
falar muitas vezes. “Quando eu cheguei aqui que eu vi o doutor Adalberto de Paula
Barreto, menina, eu tremi nas bases. Eu era fã da criatura. Ele toda quarta-feira dava
entrevista na Maísa Vasconcelos. Eu achava ele, como se diz hoje, o cara! Ai quando eu
vi “o cara” na minha frente. Quando eu peguei na mão do homem, a minha mão ia
132 A terapia comunitária insere-se como contexto de mediação no sistema ao qual a pessoa pertence.
Estimulando os vínculos e a formação de redes, ela favorece a construção da identidade, o
desenvolvimento de papeis sociais e a conquista da autonomia.
133 Quando soube que o Seu Zequinha conseguira para ela um emprego fixo no Projeto, ela nem ficou
muito surpresa, pois já havia solicitado a todas as pessoas de seu círculo de amizades que a avisassem
sobre qualquer oportunidade que surgisse.
182

assim... (faz o gesto de tremer a mão) valha, meu Deus do céu, o doutor Adalberto
Barreto! Aquele deslumbramento, né. Aí eu vi a criatura de chinela, com uma calça
assim, todo povão... Eu disse, valha esse homem existe! Ai pronto, né. Aí participei da
reunião, dali começou a mudar. Porque foi o primeiro contato que eu tive com ele, aí na
quinta-feira eu já vim pra terapia.”
O trabalho no Projeto veio fortalecer o vínculo com a terapia comunitária,
que se resumia às informações passadas pela mãe. Freqüentando semanalmente, ela
conheceu novas pessoas, fazendo amizades com algumas jovens e também com adultos
que a incentivaram a participar de outras atividades terapêuticas no Projeto. “Aí eu fiz a
terapia do renascimento. Menina de Deus, eu fui lá no útero da minha mãe, tá
entendendo, aí eu entendi todo o amor que a minha mãe tinha por mim... Eu renasci
mesmo, né, porque eu me senti nascendo, senti aquele monte de mão em cima de mim,
tá entendendo, foi a coisa mais linda do mundo. Dali, naquela dia, eu descobri que eu
tinha que nascer, porque aquela Fabiana que era agressiva, que era difícil de conviver,
tinha que nascer de novo pra mim poder aceitar as minhas coisas, né, que aquilo ali era
só meu, ninguém tinha culpa. Eu não tinha que descontar em ninguém.” Como se pode
observar, outras modalidades de abordagem que existem no Projeto, de certa forma,
complementam a terapia, aprofundando questões relacionadas à gênese dos sintomas, ao
sofrimento existencial. Nessas experiências surgem percepções que podem ser levadas
para a terapia.
“Na terapia eu comecei a trabalhar isso de quando alguém vinha pra mim
com alguma coisa, eu já agia assim, porque a minha mãe era muita mansa. Hoje em dia
eu ainda tenho problemas, ainda, de coisas que minha mãe fazia. Minha mãe deixou um
vizinho colocar três janelas pro lado da nossa casa... Tá entendendo? Hoje não. Eu
chamei o vizinho e disse, ou o senhor tira ou então nós vamos conversar noutro canto.
Não deu dois dias, ele tampou as janelinhas dele, botou uma gradezinha e ficou só o
combogó. Tá entendendo? Então é assim, como ela era tão boa que ela não dizia não,
era eu que tinha que fazer isso...” Apesar da omissão da mãe causar-lhe sofrimento, por
outro lado, estimulava sua resiliência quando, forçada a reagir no lugar dela,
desenvolvia a habilidade de se defender, e até de “atacar” caso fosse necessário.
Após alguns meses de terapia, analisando seus comportamentos, Fabiana se
deu conta de que a força e a altivez foram importantes em determinada fase de sua vida,
mas, percebeu que, dali em diante, poderia encontrar uma nova forma de ser, mais
ecológica para suas relações pessoais e profissionais. Para isso, a resiliência indicou que
183

deveria começar compreendendo porque se desenvolvera daquela maneira, por que
tinha “defeitos”. “Eu descobri isso, aí eu comecei a trabalhar em cima disso, né. Foi na
terapia que eu também aprendi a conviver com os meus defeitos, pra não deixar que os
meus defeitos sejam meus inimigos. Porque eles não são meus inimigos. Os meus
defeitos são meus, eles não são meus inimigos, tá entendendo?”
Fabiana demonstra sua resiliência no modo como age no gerenciamento de
sua vida, nas mudanças adaptativas que precisou fazer. Então, se por um lado,
experiências traumáticas como o confronto com o pai, a doença da mãe, a gravidez,
fizeram com que desenvolvesse a habilidade de enfrentar barreiras além de suas
possibilidades, por outro lado, levaram-na a uma postura rígida, que comprometia sua
auto-estima, sempre que tomava uma atitude desmedida. A agressividade que a fazia
sentir-se segura no contexto em que vivia anteriormente, já não era tão funcional para o
novo momento. Portanto, aquilo que antes funcionava como um recurso proveniente da
resiliência, no atual contexto, e também graças à resiliência passa a ser percebido como
um defeito.
A partir dessa mudança de foco proporcionada pelas inúmeras reflexões e
o diálogo estabelecido na terapia, Fabiana redimensiona o valor da força e da
imposição, buscando alternativas, por exemplo, na relação com o cônjuge. “A questão
da convivência, no caso de você conviver com outra pessoa. Sempre eu pego meus
exemplos e coloco lá na minha casa. Meu marido tem um jeito de ser, eu não sou igual a
ele. Então, eu não gosto de zoada, eu detesto zoada... Assim, gosto de zoada mas nos
momentos certos. Ele já é diferente. Tudo que faz, se ele abre o portão é com força, se
vai colocar um rádio é no volume máximo, até a descarga do carro ele fura pra poder
fazer mais zoada... E eu já não sou assim. E aqui, eu aprendi a conviver com esse meu
defeito, porque, quem não gosta de zoada sou eu, ele gosta, tá entendendo, então eu tive
que aprender a não colocar no outro o que eu gosto. Eu tenho que fazer a minha parte.
Então assim, quando eu vejo que tem zoada eu penso, ele gosta, ele pode, agora é a vez
dele. A terapia ajuda a compreender que o outro tem o mesmo direito que eu tenho. E
muitas vezes a razão tá até mais com ele do que comigo.” E assim, na terapia, Fabiana
foi desenvolvendo a flexibilidade característica das pessoas resilientes.
A busca de modelos mais flexíveis é apontada como condição indispensável
para uma melhor adaptação social do ser humano na arena pós-moderna que se
caracteriza por mudanças rápidas nas estruturas tradicionais e nas funções das
instituições sociais que vêm sofrendo rupturas ou se transformando. As perdas de
184
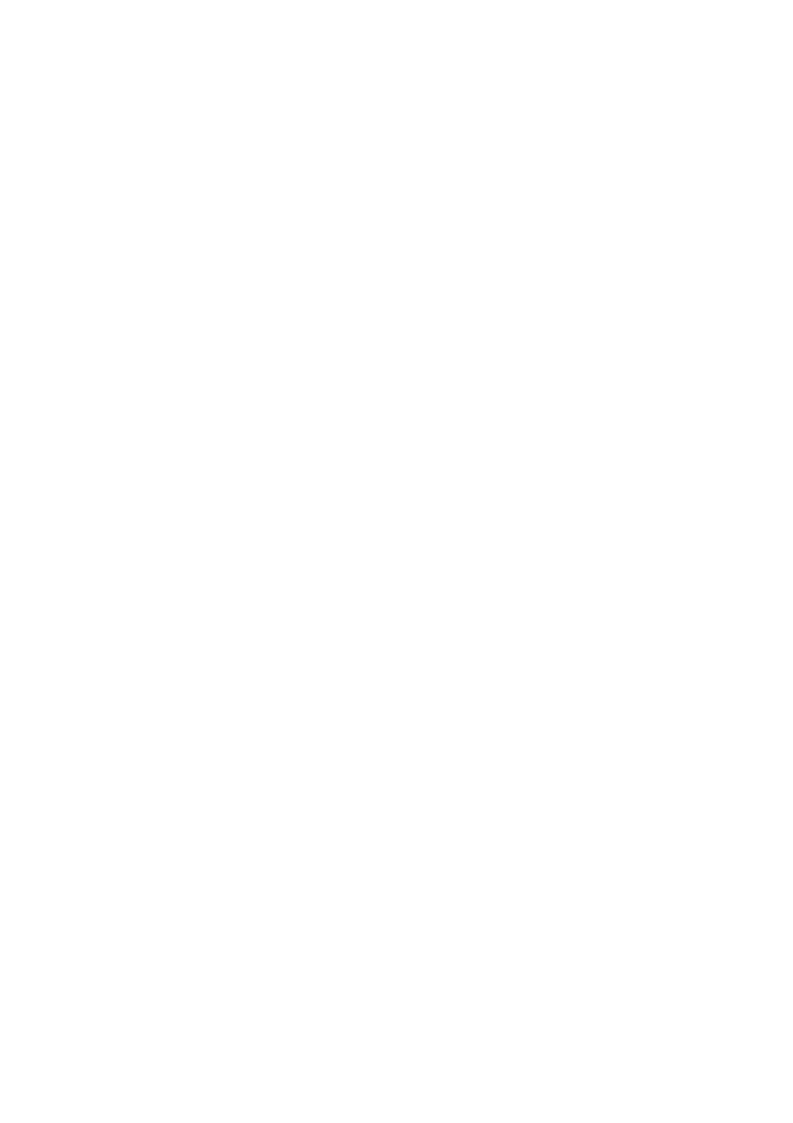
vínculos, o desemprego, a exclusão, fazem com que pareçam cada vez menos coerentes
as relações humanas diante dos novos fatores que entram em cena, como os sistemas de
mercado, meios de comunicação e a nova tecnologia informatizada que jogam em
posição de vantagem diante das habilidades e dos valores humanos.
Rutter (1987) e Antonovsky (1978) propõem um modelo de resiliência
pautado no “senso de coerência”, uma habilidade a ser desenvolvida, quando o mundo
não mais se encontra coerente. Eles chamaram de “modelo salutogênico” pelo fato de
diminuir os riscos do estresse, pela coerência na escolha e no uso de recursos
diversificados, que devem ser flexíveis e amoldáveis a qualquer situação.
Tomando por base a história de Fabiana e vários depoimentos que colhi
durante a pesquisa de campo, cheguei à conclusão de que a terapia estimula e fortalece a
resiliência, por meio do desenvolvimento desse “senso de coerência”, indispensável
para a tomada de decisões mais assertivas. As trocas de experiências que ocorrem nas
sessões levam à reflexão sobre formas inadequadas de reagir, ao mesmo tempo em que
oferecem novos recursos e conduzem à busca de alternativas. No caso de Fabiana
encontra-se um exemplo disso, quando, no começo do ano de 2002, durante uma sessão,
ela resolveu não mais trabalhar no Projeto. Percebeu o próprio desejo de experimentar
outro tipo de atividade profissional, e também de ampliar seu círculo de amizades,
conhecer novas pessoas.
Durante uma das entrevistas que tivemos, ela citou esse fato, lembrando
também o que havia dito no dia em que assumira o seu primeiro emprego, no Projeto,
quando teve a intenção de ficar trabalhando ali para sempre. Ela me justificou a
mudança de opinião dizendo que, naquele tempo passado, era ainda muito jovem e
estava vivendo problemas com o pai, ao mesmo tempo em que enfrentava a doença da
mãe e ainda por cima, o drama da gravidez. Naquele momento de extrema dificuldade,
não vislumbrava outras opções, o trabalho viera como uma benção. Imaginou-se
dedicando a ele toda a sua vida. “Eu falei no começo, né, eu dizia que aqui o projeto
seria o meu primeiro emprego e o último, e não foi assim.” Com o tempo, a partir da
participação na terapia, foi se preocupando menos com sua sobrevivência e mais com a
necessidade de aprofundar a compreensão da vida.
Quando a mãe, que vivia sob seus cuidados, veio a falecer, ela percebeu
mais claramente que, além do trabalho, tinha outras necessidades, como gozar sua
liberdade, cuidar de si e explorar mais seu potencial. “Eu fiquei de 96 até 2002, quando
185

a minha mãe faleceu, e pedi pra sair, porque eu tava cansada, eu tava estressada, eu
queria algo mais, que aqui na época não me oferecia.” Sua mente resiliente levava-a a
avaliar dinamicamente os novos fatores que surgiam, à luz da experiência adquirida na
terapia.
Fabiana agiu conforme previsto num estudo realizado por Antonovsky
(1978), no qual o autor demonstra que o sujeito resiliente atualiza suas decisões, a partir
nas circunstâncias que vai vivenciando a cada momento, de modo que, quanto mais
desenvolvida sua resiliência, melhor ele utiliza os recursos que tem à sua disposição
para administrar a vida adequadamente. Segundo essa ótica, para a pessoa resiliente,
apenas a existência de recursos não é suficiente, é importante saber como e quando
utilizá-los.
A meu ver, a terapia comunitária aumenta o grau de resiliência por diversos
mecanismos: primeiro ampliando a quantidade de recursos tanto internos, pela reflexão
e questionamento da auto-imagem negativa, quanto externos, por meio da troca de
experiências; em segundo lugar, promovendo o uso adequado destes recursos
estimulando o exercício da escolha e a autonomia na tomada de decisões. Além disso,
ela treina a resiliência, à medida que, a cada sessão, o participante aprende algo e coloca
em prática, no seu viver cotidiano. A terapia amplia a resiliência auxiliando o sujeito a
formar uma visão mais positiva de si, a ponto de poder construir um novo projeto de
vida, como se deu com Dona Cleinha e Seu Zequinha. Também por meio do resgate dos
traços culturais como ocorreu no caso de Neves e do desenvolvimento das diversas
dimensões humanas, fato que se vê na história de Fabiana. Como se observou em todos
os casos analisados, a teia de relações que o indivíduo vai tecendo em torno de si, por
intermédio da terapia, funciona como sustentação, apoio e suporte social da resiliência
ali construída.
Para Fabiana, a terapia possibilitou o aprofundamento do conhecimento de
si e de suas potencialidades. Por isso, após algum tempo em que vinha questionando o
regime e natureza do trabalho que desempenhava, examina resilientemente o grau de
satisfação pessoal e profissional que obtivera até então. Utiliza a flexibilidade e o senso
de coerência para pensar em novas alternativas. Resolve seguir seus próprios
parâmetros. “E foi importante essa minha saída daqui. O doutor Adalberto não queria
que eu saísse, tomei atitude, por que eu sou assim, quando eu quero não tem quem
segure, eu vou me embora mesmo, aí fui embora. Eu saí daqui em março de 2002.”
186

Buscando a rede de amigos, que adquirira na terapia, conseguiu outro
trabalho. “Eu saí daqui, e já fui batalhar, com as amizades, né, e aí consegui entrar na
Telemar.” Com a experiência antiga de “se virar” na vida, e a autopercepção mais
positiva agora que tomara a decisão que julgara correta, consegue realizar
satisfatoriamente seu intento. “Aí com um mês eu fiz a prova do SINE134, fiz a seleção,
que o SENAI135 tava fazendo, passei nas provas... Aí comecei a trabalhar. O meu sonho
era trabalhar pra conhecer mais pessoas, e eu fui pro lugar certo. Porque na Telemar
todo dia você trabalha com uma pessoa diferente do seu lado, né, porque é uma bateria
de vinte computadores, e muda de supervisor, e muda de horário e assim, é um lugar
que você conhece realmente muita gente, e era tudo que eu queria. Era tudo que eu
sonhava. Só que quando eu cheguei lá não foi nada daquilo que eu queria. Porque eu
sou uma pessoa que não paro num canto só, eu gosto de movimento. Daí então assim,
eu tou aqui agora, já, já eu vou prali, já tem outra coisa pra fazer, né... Ai, lá eu passava
das oito da manhã até as duas da tarde na frente do computador, recebendo ligações de
reclamações, de parcelamentos, de um monte de coisas...Entrei em abril e em julho
aquele negócio já começou a me angustiar porque eu não gostava de ficar o dia inteiro
parada, aquilo ali tava me enlouquecendo.”
Outra vez, a percepção aguçada nos anos de terapia, denuncia o mal-estar
interior, sinalizando que deveria escutar a voz vinda do corpo que lhe dizia para evitar a
formação de sintomas. Examinou o assunto sob todos os aspectos que conseguia
vislumbrar, começando pelas condições de trabalho: “Eu trabalhava de segunda a
segunda, se chegasse um minuto atrasada era descontado no contracheque... Eu tinha
que sair de casa duas horas antes, porque eu moro aqui no Pirambu, perto da igreja do
Cristo, né, e tinha que ir a pé pra poder pegar o Borges de Melo...”
O assunto é levado à reflexão na terapia: Então assim, na terapia, eu pensei
“eu não mereço isso”. “Eu mereço coisa melhor”. Sua resiliência fazia com que
percebesse que não deveria mais sofrer e sim providenciar nova mudança. “E mais
uma vez eu comecei a plantar”. A capacidade de autogestão e a assertividade que vinha
experimentando levou-a a procurar mais uma vez os seus amigos. Graças aos vínculos
que sempre fortalecia e também por ser conhecida pela competência, logo encontrou
nova oportunidade... “Quando foi em setembro, antes do feriado do dia 7, uma amiga
minha me ligou e disse: Fabiana tu ainda quer sair da Telemar? Eu disse: só se for
134 Sistema Nacional de Empregos (SINE)
135 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
187

agora. Ela disse: tem uma oportunidade pra ti lá onde meu marido arranjou emprego, o
gerente vai precisar de uma secretária, tu não topa?” Sem titubear, tomou a decisão de
ir. “Eu disse, na hora!” E, de imediato, foi tomando as providências necessárias. “Aí fui
pedir as contas. Ai cadê minha supervisora querer me dar minhas contas? Fabiana, eu
não tenho um motivo pra lhe demitir, você não chega atrasada, você é cem por cento e
eu não tenho como lhe demitir.”
Desafiada pela argumentação da chefe, persistiu na decisão de escutar sua
voz interior, e não ceder ao desejo de outra pessoa: “Eu disse, Rejane, não tem disso
não, pois me dê minha cartinha que eu faço a minha demissão agora mesmo.” Nesse
momento ela sentiu que tinha nas mãos, o poder de resolver o que fosse necessário para
realizar seu objetivo. “Assim eu fiz, a punho, tem que ser a punho o pedido de
demissão. Em dois dias eu tava demitida da Telemar. Aí passou o feriado, e, na
segunda-feira eu tava trabalhando na fábrica de móveis Estilo.” Sentindo-se vencedora,
reconheceu a contribuição da terapia no enfrentamento das situações da vida: “a terapia,
ela te faz compreender a situação e se “empoderar” do teu valor, tá entendendo? Então
assim, eu digo, eu mereço, e eu posso ir até onde eu quero. Então assim, ela te
“impulsa”.”
Apesar de ter deixado já há algum tempo o emprego no Projeto, Fabiana
continua freqüentando a terapia, sendo convidada a exercer o cargo de administradora
do Projeto. Nesse momento resolveu retornar, motivada pela idéia de fazer o curso de
formação em terapia comunitária e também pelo fato de poder cursar uma faculdade,
uma vez que os horários seriam flexíveis. Sonhava com a graduação em recursos
humanos, por achá-la coerente com sua história de vida e com a aptidão de lidar com as
pessoas. Outro fator apontado por sua resiliência foi a possibilidade de cuidar dos dois
filhos, devido à proximidade do Projeto em relação à sua casa. Considerava muito
importante fortalecer o vínculo com as crianças, como aconteceu entre ela e sua mãe e
como vinha aprendendo na terapia.
Em pouco tempo, além de exercer com competência a função de
administradora, ela se tornou excelente terapeuta comunitária. E, a partir dessa nova
visão, ela disse o que mais valoriza na terapia: “em primeiro lugar, é a questão da
escuta. Pra mim é a medalha de ouro, tá entendendo? A medalha de ouro da terapia, pra
mim, como pessoa, é a escuta. Você ter a oportunidade de falar o que tá te fazendo
sofrer, sabendo que ali ninguém vai te julgar, isso não tem preço. Por isso a terapia
188

comunitária é grátis. Eu acredito que seja por isso. Porque não tem preço, o valor que
tem você colocar pra cinqüenta, cem, duzentas pessoas, como eu já vi terapias aqui com
duzentas pessoas, e um silêncio gritante, tá entendendo? E uma pessoa falar, e todo
mundo escutar, sem julgar, sem atrapalhar, sem criticar, porque na terapia a gente não
critica, a gente fala da nossa experiência, não é um espaço de crítica, é espaço de
escuta.”
Perguntei o que se aprende nesse espaço e ela afirmou: “Conhecer a si, é a
história dos limites. Você vai ver os seus defeitos... Você vê alguém falando e você diz
assim, ah, se eu já passei por isso, eu também tenho isso em mim... E quando alguém
fala que aquilo reflete em ti, é porque o erro ainda está em ti. Então aquilo ali é coisa
que você tem que trabalhar. Quando o outro fala, você fica naquela de saber que não e
só você que é daquele jeito, que tem pessoas que também passam pela mesma situação”.
Ela mostrou de que forma a terapia promove o insight: “Muitas vezes tem
alguma coisa na terapia que faz você entender, porque você já passou por aquilo e às
vezes passou batido e você nem entendeu o que foi que aconteceu. E naquele momento
a história da ficha, né, a ficha cai. Talvez porque tanto sofrimento que já tiveram, por
tantas situações que já foram superadas, né, que você... Assim, no meu caso, todo
sofrimento que eu passei, né.” E como se desenvolve a resiliência, no ato de
compartilhar: “Então assim, com certeza tem pessoa que passaram coisas muito pior.
Então, quando eu vejo isso, eu digo assim, ah, o que eu passei não foi nada.” Como, a
partir da autopercepção a pessoa se questiona e começa a mudar: “Então é assim, se ela
tem essa consciência, com certeza ela vai se trabalhar mais com isso. Então, quando ela
sentir que está com medo de alguma coisa, ela já vai respirar aquele medo, né, e ela já
vai entender, porque que eu tou com medo, qual a situação que tá acontecendo pra me
causar esse medo...”
Ressaltou a importância da fala e do diálogo para a saúde, o bem-estar e
também para o processo de transformação e empoderamento pessoal: “Tem uma frase
que diz assim, quem guarda azeda, quando azeda estoura, quando estoura fede. E ai
você tem de ir sempre querendo quebrar aquilo. Sempre querendo desatar aquele nó pra
você poder continuar, porque se você ficar só ali... Se eu ficasse só naquela de nunca
querer dizer a minha mãe da gravidez... Nunca ter dado o telefonema. Eu ia parir, ela
sabendo, e eu sem coragem de dizer. Eu não tinha quebrado a barreira dela dizer assim,
189

‘pode ser o que for que você tem pra me dizer, você nunca vai deixar de ser minha
filha’.”
3.8 Fabiana, a terapeuta: “‘é carne, osso, pé e pescoço’. Então é assim, teve
carne, teve osso, teve pé e pescoço, é povo.”
Perguntei sobre sua experiência de chegar com muitos problemas e
depois tornar-se terapeuta e que critérios ela observou para o bom desempenho desse
papel. De forma resiliente, ela respondeu abertamente, colocando-se como referência:
“Eu vou dar minhas características. Eu acho que a pessoa pra ter o perfil do terapeuta
comunitário, em primeiro lugar ele tem que ser uma pessoa aberta às diferenças, né.
Então é assim, se ele for uma pessoa que diz: eu sou da igreja evangélica, então eu
odeio macumbeiro. Minha filha, não saia nem de casa pra vir pra terapia porque você tá
no canto errado. Vá pra sua igreja e esqueça da gente. A primeira característica do
terapeuta seja ele terapeuta comunitário, terapeuta ocupacional, terapeuta de
massoterapia... O terapeuta em si, na minha opinião, ele tem que ser uma pessoa aberta,
aberta às diferenças, diferenças em todos os sentidos.” Suas palavras demonstraram o
quanto se trabalhou, para chegar a aceitar os outros, o que não era fácil a princípio, uma
vez que sempre fora uma pessoa muito exigente.
Mostrou-se cada vez mais flexível e capaz de utilizar toda a resiliência que
adquiriu na infância e que vem aperfeiçoando até hoje, como terapeuta para
compreender toda a diversidade, imprevisibilidade e complexidade da terapia: “Porque
chegam pessoas que usam drogas, chegam pessoas de todo tipo, de todo jeito, de toda
classe social, de tudo quanto é canto. E elas são recebida do mesmo jeito.” Não esquece
a importância do ser humano se saber inacabado... “Outra coisa é a capacidade de
transformar”. Falou também da habilidade de compreender a dor do outro a partir do
sofrimento existencial presente de uma forma ou de outra, na vida de qualquer ser
humano: “A capacidade de entender a situação que tá sendo trazida naquele momento.
Porque a terapia tem a pergunta chave, né, a medalha de prata, e “quem já passou por
isso e o que fez pra superar”. Então e assim, quem já passou por isso? Com certeza
alguém já passou por aquilo.” O terapeuta deve portanto buscar o mote adequado e,
como foi evidenciado no capítulo 1, o mote surge a partir dos fragmentos de vida que
190

vão sendo trazidos e aos quais as pessoas vão relacionando sua própria situação. A
partir do mote, cada participante pode reconhecer nas histórias do outro a ressonância
para seu problema.
A terapia é na verdade, um conjunto de tramas de vidas entrelaçadas,
compartilhadas e nessa partilha, cada um amplia seu repertório de recursos: “Então
alguém já passou por aquilo. Quando ele passou por aquilo, ele sofreu também... Então
o que fez pra superar... Porque senão fica uma terapia que não é terapia... Não saiu a
mala... Não foi cheia, tá entendendo?”
Seu Zequinha, Neves, Dona Cleinha, Fabiana, são personagens que entrelaçaram
seus caminhos na terapia e saíram pela vida, com a mala cheia de recursos e ferramentas
para talhar com arte o seu destino.
O próximo capítulo trata da temática do empoderamento pessoal e da eficácia
da terapia no sentido de potencializar o desenvolvimento dos aspectos políticos do
homem, no que diz respeito à busca da liberdade, dos direitos que lhe cabem. Nesse
sentido, utilizarei conceitos de política, de direitos e cidadania de diversos autores, já
citados para argumentar que na terapia exercita-se o direito à expressão da fala em todo
o seu significado social, direito à diferença no exercício da própria política, entendida
como o litígio saudável que identifica uma subjetividade, um ponto de vista, uma
singularidade.
191
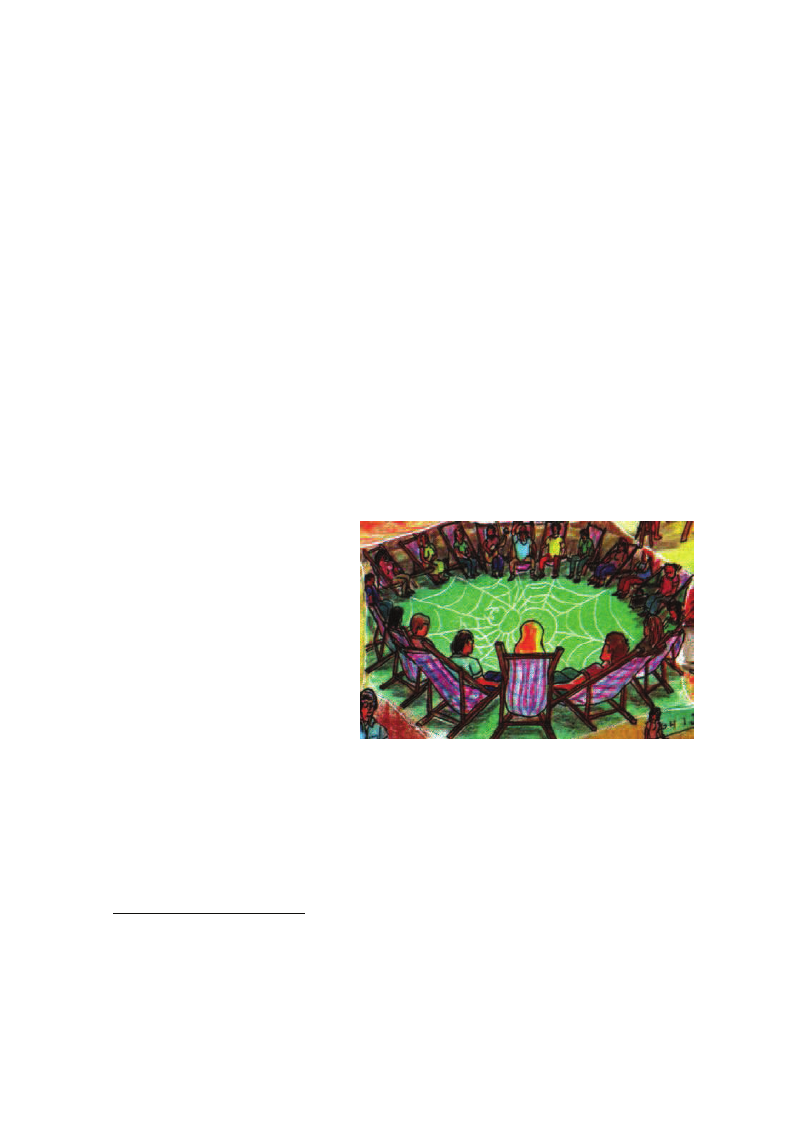
CAPITULO IV – A TERAPIA COMUNITÁRIA E O DESENVOLVIMENTO DA
DIMENSÃO POLÍTICA DO HOMEM
A política não é feita de relações de poder,
é feita de relações de mundos
Rancière
4.1 Do modelo biomédico à construção da cidadania
Até aqui procurei explicitar de que forma a terapia comunitária auxilia o
sujeito a construir novas leituras do seu sofrimento e superar a dependência do modelo
biomédico ao qual foi submetido pelo condicionamento cultural e social. Ficou
demonstrado pelos resultados da pesquisa apresentados nos capítulos anteriores, que
isso se faz pela reafirmação da capacidade de autogestão de itinerários terapêuticos, e
pelo resgate do conhecimento popular que, na terapia, ganha legitimidade136.
Neste capítulo procuro
enfocar os modos como o “homem
simples”, a partir de sua experiência
de senso comum, acessa o mundo
do ser político, por meio da terapia,
aqui considerada como um “espaço
público”, que, na concepção de
Arendt (2004) é aquele que se cria
no debate e no diálogo entre os Figura 32: Terapia Comunitária na visão de um dos
homens137. O “homem simples” ao meninos do Atelier
qual me refiro é o participante rotineiro da terapia, que, como Sr. Zequinha, Dona
Cleinha, Fabiana e Neves, comparecem nas entrevistas e nas minhas observações de
campo, com sua linguagem, seu modo de vida e seu saber.
136 Como diz o Sr. Zequinha: “em terapia num tem ‘acho’. Aquilo que está sendo exposto é baseado numa
realidade. É tudo dentro de uma coisa concreta. A pessoa tem que dizer a sua experiência, como foi que
ele entrou numa situação e o que fez pra sair daquela situação. Ele conta do que aconteceu. Num pode
dizer: eu acho que nós devemos... não tem isso. Ele vai falar dele.”
137 A relação entre os movimentos sociais emergentes na periferia das grandes cidades e os centros de
poder foi amplamente estudada por Feltran (2005) a partir da concepção arendtiana de política e espaço
público.
192

Proponho-me a explicitar agora o processo pelo qual, na terapia, se pode
desenvolver a dimensão política do homem, de acordo com o pressuposto de Arendt
(2004, p.35), de que a “política” é um importante atributo que permite ao ser humano
superar as limitações impostas pelo “processo biológico da vida” . Neves vem, mais
uma vez, trazer sua colaboração, relatando como a terapia pode contribuir para a
conquista da autonomia necessária para encaminhar e resolver situações de saúde e de
vida
[...] Quatro Varas é um campo de estudo. O que eu aprendi foi mais
assim das experiência [...]. Eu no começo era muito tímido. Lá na
terapia pra mim falar era sempre “sim”, “não”, “num sei”. Era difícil
falar. Eu era muito tímido. E uma das coisas que trabalharam foi a
minha timidez.
Ele explica como na terapia se desenvolve a motivação para a mudança
pessoal:
Você tem mais vontade de realmente se trabalhar, de mudar.
Porque o ser humano só se cura quando ele resolve mudar. Quando
ele vê que o comportamento dele tá errado. Por que é que na
terapia só se fala “eu”, pra falar de si? Em vez de dizer “tem gente
que pensa”... dizer “eu penso”.Quando não fala “eu mudo” na
primeira pessoa é porque a gente não ta querendo assumir. A
terapia chama pra assumir. “Eu”.
Compreendo que esse processo de busca de autonomia se inicia no
momento em que o significado da doença começa a ser compreendido e o sofrimento
passa a ser visto de um novo ângulo, graças à abordagem utilizada na terapia. Se no
modelo biomédico o processo saúde/doença leva à dependência do sistema médico, dos
profissionais e dos fármacos, no ritual das sessões, ao contrário, a dor desencadeia uma
trajetória de crescimento pessoal, que, via de regra, conduz à responsabilidade pela
gestão da própria saúde e da vida, de forma mais ampla.
Um exemplo de mudança no foco de abordagem da doença na terapia,
encontra - se num trecho de uma entrevista realizada com Adalberto, em julho de 2007:
Uma coisa que eu entendi muito cedo na terapia comunitária é que as
pessoas que vêm falar de suas dores não querem diagnóstico, não
querem interpretações, elas querem ser reconhecidas no seu esforço de
superação. Por isso a conotação positiva é importante. Ao invés de
dizer: ‘ah! Mas eu perdi o meu filho... ah! Mas o meu filho...’ eu não
193
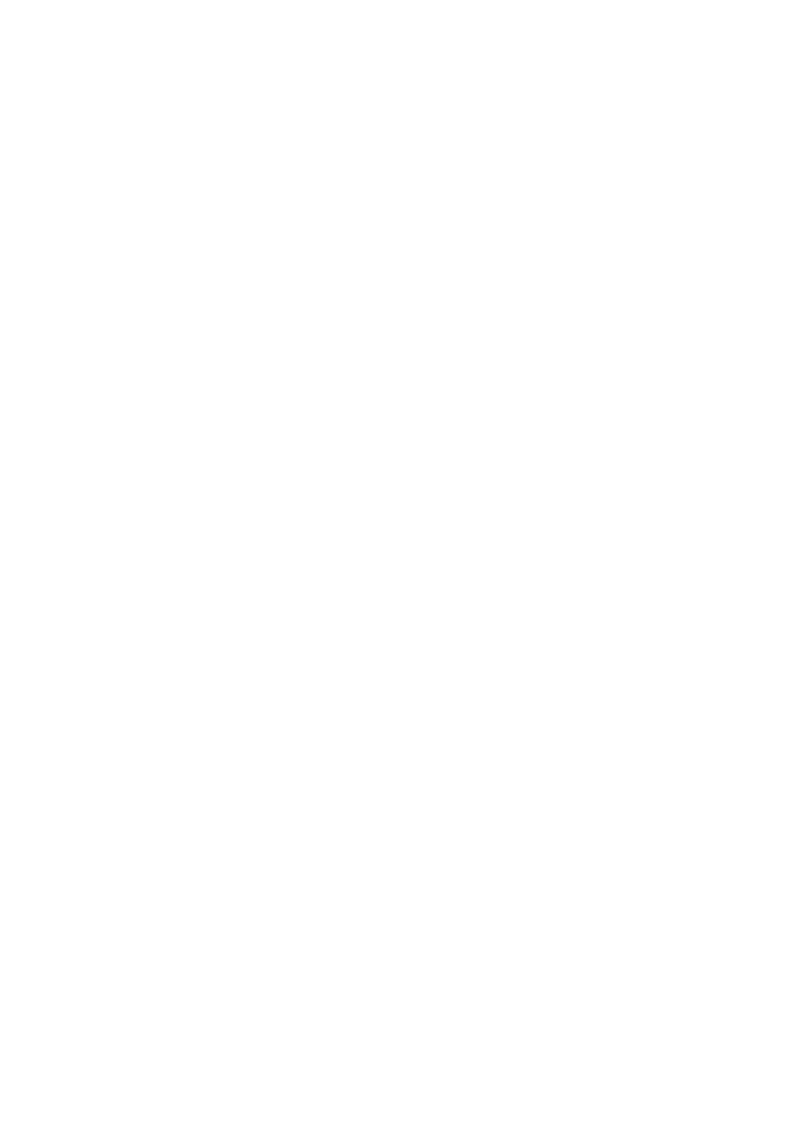
posso dar um outro filho pra ela ou dizer: ‘A vida é assim...’ não! ‘ Eu
vou dizer: ‘o que me chamou atenção na senhora é que se toda mãe
tivesse esse amor que a senhora tem pelo seu filho com certeza o
mundo era diferente... eu tô percebendo que a senhora tinha um amor
muito grande, e ... eu vou levando isso seu...’ ela foi reconhecida:
‘enfim alguém tá entendendo a minha dor...’ é a dor da mãe que perde
o filho único, e que tem dito sempre ‘brigado doutor...’ mas, é isso que
ela quer?... não é: ‘a senhora tem um isso, tome cá um remédio’ não!
Não é isso que as pessoas querem, elas querem é ser reconhecidas.
A intervenção relatada nessas palavras ilustra uma das inúmeras
possibilidades de se aprofundar a reflexão sobre o sofrimento causado por uma situação
de estresse. No caso citado, a ansiedade que poderia gerar sintomas maiores, com riscos
para a saúde, passa a ser vista sob a perspectiva da conotação positiva. O terapeuta
utiliza uma estratégia de empoderamento, através da qual a mãe poderá sair da condição
de vítima, ao vislumbrar o lugar do reconhecimento: “eu tô percebendo que a senhora
tinha um amor muito grande, e ... eu vou levando isso seu...” Nessa perspectiva, ao
invés da patologia ser combatida individualmente, ou suprimida por meio da prescrição
medicamentosa, como normalmente se procederia na abordagem dos especialistas, na
terapia, o problema pode ser ressignificado. É função da terapia instaurar um cenário
terapêutico capaz de produzir interações humanas que gerem transformações no
processo de saúde-doença visando o desenvolvimento pessoal.
As pesquisas de Berkman L.F, Syme S.L.(1979) evidenciam que o apoio
social e as relações interpessoais satisfatórias influenciam diretamente no sistema
imunológico, fortalecendo as defesas e melhorando a qualidade de vida. A sensação de
pertencer a uma rede de apoio mútuo, segundo os autores, gera um sentimento de ser
reconhecido, amado e apreciado, que resulta na melhora da auto-estima e percepção de
bem-estar, fundamentais para a instalação do processo de autocuidado e valorização da
vida.
Foucault (1980) afirma que condições opressoras do cotidiano, quando
banalizadas e naturalizadas, podem promover a passividade diante do próprio
sofrimento e, num outro extremo, chegar a produzir violência uma vez que pessoas
“com a própria vida tão agredida e desvalorizada” (p.25) não podem cuidar do respeito
à vida de outrem. Nesse sentido, a terapia comunitária admite que o sofrimento humano
decorrente dos desajustes gerados pelo macrocontexto socioeconômico que atinge a
dignidade do cidadão, ferindo seus direitos, leva ao que se pode chamar de “patologia
social”.
194

Defendo a idéia de que a terapia comunitária é uma excelente abordagem
para o tipo de “patologia” que surge da injustiça, do descaso com o sofrimento, com a
miséria, seja ela financeira ou afetiva. Proponho que o espaço da terapia seja visto como
uma alternativa que se insurge contra a cultura dominante, por ouvir o que se deseja
falar, e compreender as diferenças. Uma vez um dos participantes eventuais comentou
durante a sessão que vai à terapia como “escola de vida”. Eu concordo com esse ponto
de vista. Reconheço na terapia um espaço de aprendizagem, onde o ser humano pode se
empoderar, inclusive, a partir do próprio sofrimento, como já foi amplamente discutido
nos capítulos anteriores. A terapia constrói um espaço de escuta, no momento da
partilha em que o homem pode falar aos seus pares, aqui entendidos como aqueles com
os quais tem algum tipo de identificação. Ela constitui essa esfera pública, onde
sentimentos e pensamentos podem ser compartilhados. Para Arendt,
nenhuma atividade pode se tornar excelente se o mundo não
proporciona espaço para o seu exercício. Nem a educação nem a
engenhosidade nem o talento pode substituir os elementos
constitutivos da esfera pública, que fazem dela o local adequado para
a excelência humana. (2004, p. 59).
Sônia Pereira (2002), em seu estudo sobre a experiência do ‘fazer política’
em pequenos grupos, no município de Baturité - CE concluiu que a criação de espaços
informais vem ampliando a esfera pública no Brasil e afirmando uma cultura de direitos
baseada nas noções de justiça, solidariedade e democracia. Considerando a terapia como
um desses espaços, me baseio nos resultados de minha investigação e também nos
estudos científicos citados, dentre outros, por Barreto (2001) e Luisi (2006), para
aprofundar nessa oportunidade, a questão de como a participação na terapia colabora
para o desenvolvimento político do homem e a construção da esfera pública.
Nesse sentido, procuro estabelecer o diálogo com as idéias de
Rancière(1996), Habermas (1989, 1990), Freire (1987, 1997) Foucault (2005), e de
pesquisadores mais recentes como Feltran (2005), Nogueira (2001) e Pereira (2002).
Para explorar a proposição de que a terapia comunitária potencializa o desenvolvimento
da dimensão política do homem, busco respaldo na teoria de Hannah Arendt (2004, p.
35) que segue o pensamento de Aristóteles, quando define bios politikos como a
capacidade pela qual o homem pode se libertar de uma vida baseada exclusivamente na
sobrevivência.
195
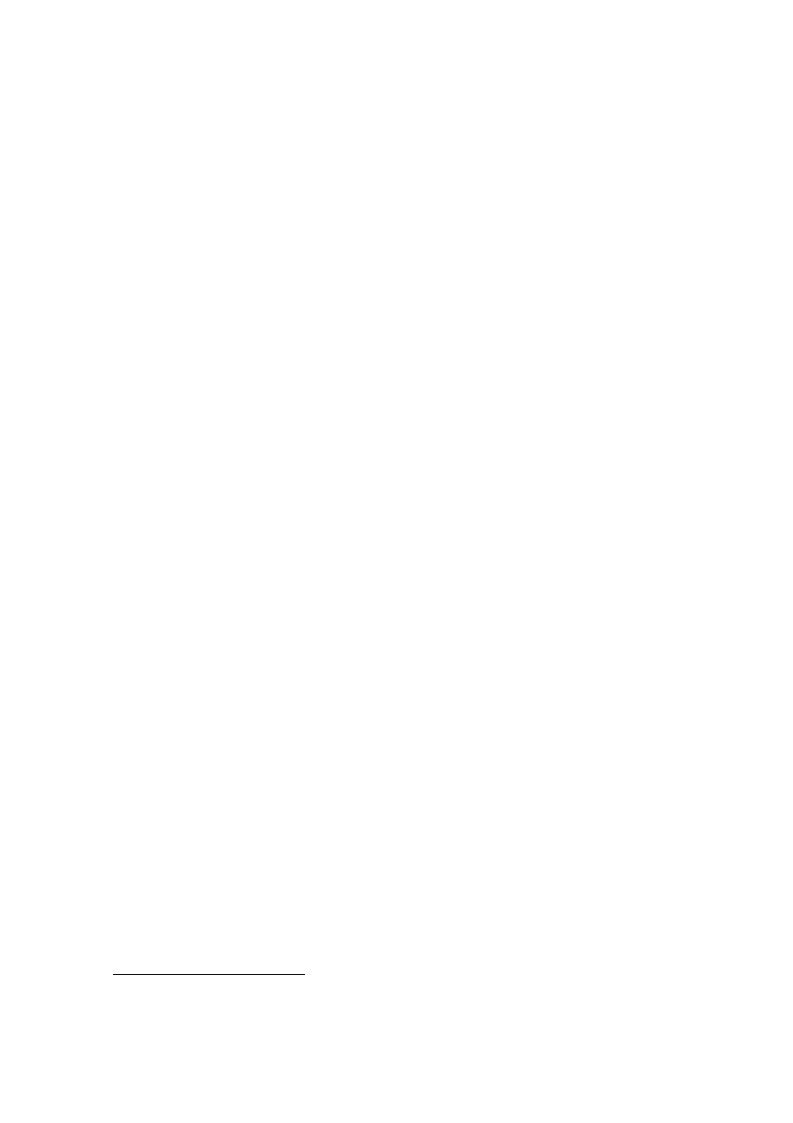
4.2 A Terapia Comunitária, o desenvolvimento do Bios Politikos e a construção
da esfera pública
Na Grécia antiga, o termo Bios politikos (ARENDT, 2004, p. 21) significava
dizer que a pessoa não devia viver apenas para satisfazer suas necessidades de
sobrevivência e que, na Polis, o homem que vivesse meramente para atender
necessidades não poderia ser considerado livre. Hannah fala da definição aristotélica do
homem como zoon politikos e sua tradução como animal socialis, homo est naturalites
politikos, id est, socialis, o homem é, por natureza, político, isto é, social.
Segundo o pensamento grego, para se organizarem politicamente, os
homens não devem simplesmente visar a condição de ter uma casa (oikia) e uma
família, devem dedicar parte de seu tempo a atividades voltadas para o bem comum. O
modo de vida da cidade – estado, exigia que o homem tivesse, além de sua vida
privada, da casa e da família, uma espécie de segunda vida, na qual desenvolveria o seu
bios politikos. Desta forma a cada cidadão corresponderiam duas ordens de existência:
uma vida própria, usufruída só para si, e outra, dedicada ao bem comum. Esta segunda
incluía dois aspectos essenciais da existência humana: a ação (práxis) e o discurso
(lexis) que seriam os mais altos atributos a serem desenvolvidas em comunidade.
Naquele contexto, somente desenvolvendo o bios politikos, o homem seria considerado
“autenticamente humano” (ARENDT, 2004, p. 21).
Na concepção de Arendt (2004),138 o fato de pertencer a uma comunidade
política é de fundamental importância para o homem. Ela sugere para isso, a construção
de espaços públicos, nos quais os homens possam se manifestar. Essas comunidades
constituiriam a “esfera pública”, local destinado ao desenvolvimento da excelência
humana, que, a seu ver, só é exercitada “na presença de outros, e essa presença requer
um público formal, constituído pelos pares do indivíduo” (p. 58). Por meio dessas
manifestações em público, comunidades humanas poderiam se transformar em
comunidades políticas, espaços públicos onde qualquer cidadão teria garantida a
possibilidade de “ocupar um lugar específico no mundo comum, e participar dos
diálogos da sociedade” (FELTRAN, 2005, p. 86).
138 Hannah Arendt (2004) baseia-se também no pressuposto de Tomás de Aquino de que “o homem é, por
natureza, político” (p.32) e admite que “todos os aspectos da condição humana têm alguma relação com a
política” (p. 15).
196

Arendt acredita que a politização dos espaços da sociedade criaria a
oportunidade de instituição de “diálogos públicos”, e que esses diálogos viriam a
neutralizar ou, pelo menos diminuir a “dicotomia Estado-Sociedade”. Ela afirma que é
fundamental equacionar essa relação entre a sociedade e o Estado porque, no âmbito
da esfera pública o exercício do bios polítikus demanda o trânsito entre “poderes
horizontais” (FELTRAN, 2005, p. 86)139. Acontece que, ao contrário do que preconiza
a autora, o advento das sociedades de massa veio comprometer a criação e
manutenção dessa esfera pública como “lugar em que os homens podiam mostrar
realmente e inconfundivelmente o que eram” (ARENDT, 2004, p. 60), uma vez que,
ao invés de estimular a prática da cidadania, nas sociedades massificadas a esfera
social passa a abranger e controlar a dimensão política do homem, atuando com igual
força sobre “todos os membros de determinada comunidade” (p. 50), num processo
que tende “a ‘normalizar’ os seus membros, a fazê-los ‘comportarem-se’, a abolir a
ação espontânea ou a reação inusitada” (p. 50). A dominação fundamentada num
poder centralizador leva a uma padronização e perda da perspectiva individual, de
modo que “os homens tornam-se seres inteiramente privados, isto é, privados de ver e
ouvir os outros e privados de ser vistos e ouvidos por eles” (p.67). Desta forma,
conseqüentemente, ficam impedidos de exercitar o bios politikos.
Observando por uma perspectiva semelhante, Nogueira (2001, p.62) refere-
se à mudança dos parâmetros de socialização da humanidade nos últimos tempos e diz
que, o que torna difícil suportar a sociedade de massas não é o número de pessoas que
ela abrange, e sim o fato de que o mundo perdeu a força de mantê-las juntas e de
relacioná-las umas às outras. Ele afirma que a diluição das utopias fundamentais da
modernidade, o liberalismo democrático e o socialismo colocaram em crise o conceito
de política, principalmente, a partir do final do século XX, quando irrompe com toda a
força, o fenômeno da globalização.
De fato, a tentativa de impor um modelo de desenvolvimento
socioeconômico fundamentado numa visão de mundo predominantemente racional,
representou uma ameaça às estruturas mentais e sociais, ao imaginário do ser humano,
seus valores e suas crenças. Por não considerar as diferenças como inerentes à natureza
de indivíduos e grupos, a globalização deflagra uma cadeia de incoerências e
139 Na ótica arendtiana, um mundo mais humano só seria conseguido, colocando-se a política como base
do funcionamento das estruturas de poder das sociedades.
197
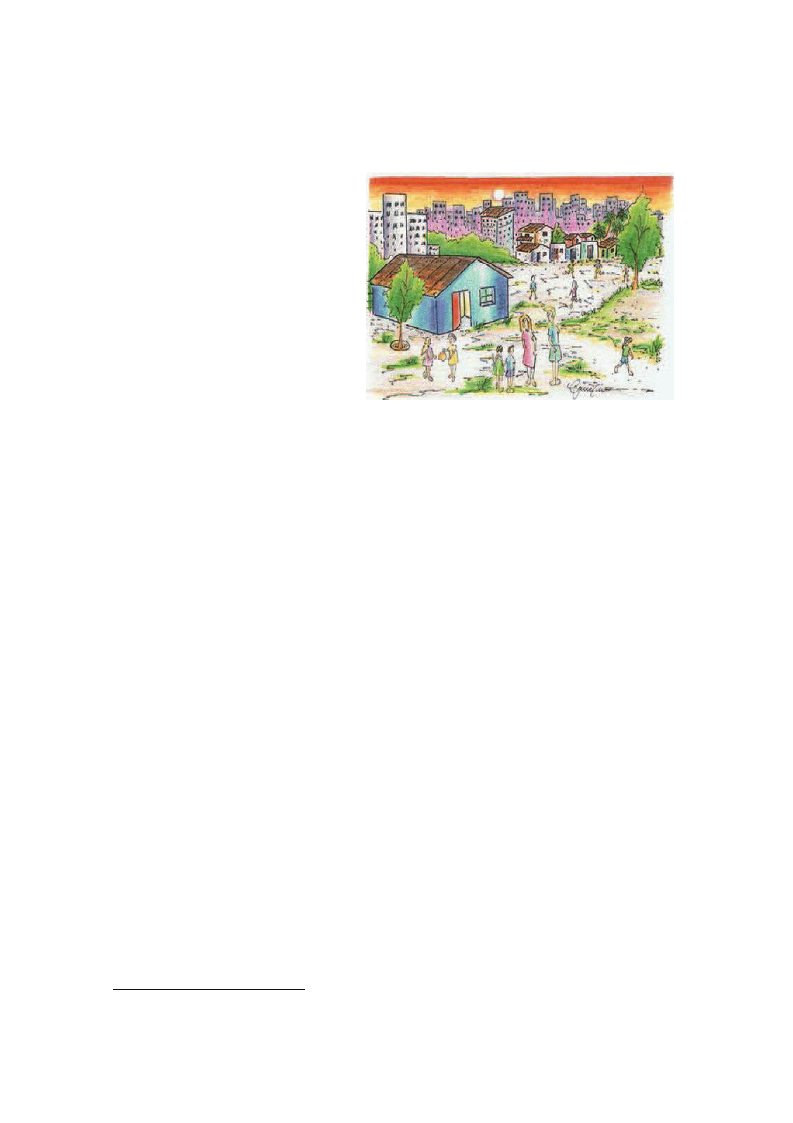
contradições que atingem o campo da moral e da ética, penalizando os países mais
pobres e as populações menos favorecidas que, de uma forma abrupta, se vêem forçados
a se moldar às novas determinações.
Insurgindo-se
no
momento em que o planeta
ultrapassa o número de seis bilhões
de habitantes, o fenômeno
potencializa a competição, gerando
sérios efeitos psicossociais,
principalmente pela exclusão
daqueles considerados menos aptos à
participação na esfera produtiva. A Figura 33: Contraste social na visão de um jovem
imposição de um novo perfil de artista do Atelier
indivíduo baseado no poder aquisitivo compromete o exercício da cidadania uma vez
que, de acordo com as regras ditadas pelo mercado, cada cidadão passa a ser visto, não
mais com um ser humano, e sim como um consumidor.
Indivíduos e comunidades inteiras vêem-se impotentes para lidar com um
novo conceito de política que na verdade é um jogo baseado na “simulação e
dissimulação”, e cujo ideal é a dominação, a busca de “poder, autoridade, interesses,
ambições” (NOGUEIRA, 2001, p. 23). Ao invés da política como atividade exercida
para instituir e proteger a coletividade, promovendo a excelência do desenvolvimento
humano, ela é deslocada e colocada na mídia que acaba “convertendo-a num espetáculo
dentre outros, banalizando-a, tirando-lhe eixo e substância” (NOGUEIRA, 2001, p. 19).
Esse desvirtuamento cria uma categoria de “políticos profissionais”, com
uma atuação distanciada dos princípios originais da polis, onde a política era uma
atividade voltada para o desenvolvimento humano. O autor reafirma a concepção de
Arendt quando diz que política não é só o que fazem os bons e os maus políticos
profissionais, mas uma atividade inerente a cada um de nós. Ele define os políticos
profissionais como intermediários que vivem e agem no interior do sistema. Em sua
opinião, essa distorção foi respaldada pela racionalidade instrumental, mais favorável à
política dos políticos do que à política dos cidadãos (p. 62).140
140 Ele sugere que estes cidadãos marquem sua presença, no sentido de retomar a verdadeira política, sob
pena de não se encontrarem ou perderem o rumo (p.62).
198

Para Habermas (1989), a razão técnico-instrumental subjugou a razão
prática de modo que os homens obtiveram um grande domínio tecnológico sobre a
natureza, mas não souberam encaminhar devidamente os problemas da convivência, da
ética e da justiça social. Mas, para ele, o fato mais agravante não foi o avanço da razão
instrumental sobre os campos de conhecimento, mas sua assimilação como única forma
de racionalidade possível. Segundo o autor, essa racionalidade fundamenta o “agir
estratégico”, cujo objetivo não é estabelecer um acordo intersubjetivo e sim utilizar a
linguagem para impor um determinado ponto de vista e levar o interlocutor a aceitar
uma convicção como válida. A linguagem assim empregada torna-se apenas um meio
de transmissão de informações e de influência para induzir o comportamento. Isso se
consegue por meio da penetração da racionalidade instrumental nos mecanismos
sistêmicos de manipulação por meio do “dinheiro” e do “poder”, que vêm submetendo a
vida humana às forças do mercado e da burocracia estatal. Dentro desse contexto, os
homens deixam de se guiar por princípios da verdade e da moralidade.
Já a racionalidade comunicativa, que se encontra encarnada nos processos
de reprodução simbólica do mundo da vida, deve prevalecer no âmbito da integração
social. É esta que deve controlar os processos sistêmicos, colocando-os a serviço das
finalidades humanas comunicativamente estabelecidas. Para isso, é necessário preservar
e ampliar os espaços nos quais a razão comunicativa possa ser cultivada, delimitando-se
claramente os espaços de atuação da razão instrumental. Habermas (1989, p. 24)
preconiza a instituição da razão comunicativa por meio de um acordo, “sendo que tal
acordo constitui o resultado de um reconhecimento intersubjetivo de pretensões de
validez susceptíveis de crítica. Acordo significa que os participantes aceitam um saber
como válido.” Ele denomina de “agir comunicativo” o ato em que os participantes
possam chegar, por manifestações de apoio ou de crítica, a um entendimento acerca do
saber que deve ser considerado válido para o prosseguimento da interação. Dessa forma
as “convicções intersubjetivamente compartilhadas constituem um potencial de razões
que vinculam os sujeitos em termos de reciprocidade.” Uma forma de enfrentar a
tentativa de homogeinização dos sujeitos sociais, seria, portanto, na visão habermasiana,
preservação da subjetividade humana pelo compartilhar de saberes reciprocamente
considerados como válidos.
Já Foucault (2005, p.75) propõe que o enfrentamento da cultura hegemônica
depende de “formas de luta adequadas”, formas essas que só podem ser definidas a
199

partir do conhecimento do que é o poder. Ele diz que cada luta deve se organizar em
torno de um foco de poder que deve ser identificado e falado publicamente. A partir da
identificação de um determinado tipo de poder que não se aceita, o enfrentamento deve
começar ali, onde ele se encontra e, se por acaso se está diante de um sistema que
invalida o discurso do contra-poder, faz-se necessária a produção de saberes e conquista
de espaços de liberdade, uma vez que, em sua ótica, a esperança reside nas lutas
específicas e locais.
Pereira (2002) afirma que, no caso da sociedade brasileira, “uma longa
tradição autoritária e de negação da participação das classes trabalhadoras” levou-as ao
anonimato e à fragilidade política, mas, por outro lado, ela reconhece o esforço dessas
classes na implementação de algumas lutas. “Em que pesem todas as debilidades da
organização política alcançada ao longo da história das lutas sociais brasileiras, [...] a
política fez-se sobretudo, com os esforços das classes dominadas” (p. 10). E preconiza
que esse quadro seja gradativamente substituído “pela experiência de justiça social e
igualdade.”
Essa idéia remete a Paulo Freire (1987, p. 30) quando diz que os opressores,
em razão de seu poder, não podem libertar os oprimidos, e que as tentativas de amenizar
a situação de dominação, geralmente, se expressam em falsa generosidade. Na
perspectiva freiriana, a transformação precisa acontecer a partir da luta implementada
pelos oprimidos:
Só o poder que nasça da debilidade dos oprimidos será
suficientemente forte para libertar a ambos. Por isto é que aí está a
grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos - libertar a si e aos
opressores. [...] e essa luta só tem sentido quando os oprimidos, ao
buscarem recuperar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não
se sentem idealisticamente opressores, nem se tornam de fato,
opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade de
ambos.
Utilizando essas palavras para análise da terapia, como espaço político,
percebe-se que ela, apesar de ter surgido no meio de uma luta social, não se caracterizou
exatamente como um contexto em que preponderasse a dicotomia entre opressores ou
oprimidos, isto porque, já de início deu-se uma interação quase que horizontal entre
médicos e “pacientes”, considerando aqui médicos, o professor Adalberto e seus alunos
do curso de Medicina da UFC, e as pessoas da comunidade seriam os “pacientes”. Para
visualizar melhor essa relação, me transporto ao momento em que eles começaram a se
200

reunir, inaugurando um espaço no qual passavam a interagir o conhecimento médico
oficial e o saber popular. Na verdade, em outro contexto, decerto se manifestar os
antagonismos, as tentativas de dominação, a dependência, o desencontro de concepções
de mundo.
Quase posso ver a cena: os alunos meio assustados e apreensivos por
estarem no meio da favela, considerada a mais perigosa de Fortaleza, procurando um
cantinho no chão para sentar, ao lado dos moradores da comunidade, que, por sua vez,
estavam esperançosos e, ao mesmo tempo, lisonjeados com a novidade da presença tão
próxima de médicos. Era estranho para ambos os lados. A terapia estava provocando
essa mudança. Era um contexto novo que ali se criava. O professor Adalberto,
provavelmente era, no grupo, o mais tranqüilo. Realizava naquele instante algo que
tanto sonhara: utilizar o conhecimento científico ali, em seu habitat141 original, para
prestar auxílio aos conterrâneos. Nessa hora ele se depara com o questionamento da
relação estabelecida médico-paciente, em que uma hierarquia é proposta a partir do
poder instituído aos detentores do conhecimento “científico”. Para ele, essa relação era
facilmente questionável porque ele se identificava com a condição daqueles “pacientes”.
Também foi passageiro dos “paus-de-arara”, mudando para diversas cidades
do interior do Ceará, juntamente com os nove irmãos, sua mãe, D. Isa Barreto e o pai,
Ercílio Neco Barreto que, sendo funcionário do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas (DNOCS) foi transferido várias vezes, até chegar a Fortaleza, onde
pretendia dar estudo aos filhos. Como aconteceu com tantos outros fundadores do
Pirambu, os Barreto procuraram abrigo na casa de um parente e foram trabalhar nos
mutirões noturnos de construção da casa própria. E assim, a família do jovem Adalberto
morou por vários anos no bairro do Pirambu, enquanto ele estudava no seminário e
depois na Faculdade de Medicina
Falando de sua origem sertaneja, na cidade de Canindé, ele diz:
durante toda a minha infância, vivi num mundo mágico-religioso,
marcado por uma maneira de viver que se caracterizava pela cura dos
doentes e dos infelizes. Nesse universo, São Francisco era o grande
protetor dos sertanejos. Ele curava as doenças do abandono,
oferecendo ao peregrino a possibilidade de pertencer a uma grande
família espiritual. [...] havia também os curandeiros, homens e
mulheres que devotavam suas vidas a cuidar dos pobres e dos doentes.
Cada um dos personagens possuía seu arsenal terapêutico para
141 Filho de imigrantes, também morou no Pirambu e se identificava com alguns aspectos da cultura
daquelas pessoas.
201

combater a doença e o sofrimento. As rezadeiras tinham suas rezas
mágicas; os raizeiros, suas raízes e cascas de árvores. No curso de
Medicina, se depara com o universo científico, um mundo acadêmico
que o obrigava a renunciar às crenças anteriores: Parecia que, para
tornar-me um ‘homem da ciência” eu teria de renegar minha própria
cultura. Eu não poderia mais exprimir minhas crenças, sem me expor
às críticas de meus colegas. [...] Muitas vezes ele se questionava: o
que fica de um homem se lhe são retirados suas crenças, seus valores,
suas convicções que fazem dele um nordestino, um sertanejo?
Esse diálogo interno entre o saber oficial e popular que já existia há muito
tempo no íntimo do professor Adalberto, renascia agora dentro dele, quando dava seus
primeiros passos para fazer a terapia na comunidade. Estaria essa forma incipiente de
abordagem do sofrimento humano ensejando uma nova posição para o modelo
biomédico, de forma a deslocar o saber oficial de sua condição hierárquica na relação
dominador-dominado (FREIRE, 1987, 1997)? O fato é que ele não queria adotar o
modelo de ‘Salvador da Pátria”, de forma que o primeiro diálogo ensaiado na terapia
aconteceu a partir de perguntas, tais como: O que lhe tira o sono? Qual o seu
sofrimento? Com questionamentos como esses, o debate era aberto, as emoções
começavam a emergir e a palavra circulava, com a participação de todos.
A meu ver, havia de fato uma forte identificação, desde o início, entre a
iniciativa do professor Adalberto, ao criar a terapia comunitária e a visão emancipadora
de Paulo Freire (1987, p. 29) quando diz que, na tentativa de superar a contradição
opressores – oprimidos os homens “se propõem a si mesmos como problema. [...]
Indagam. Respondem, e suas respostas os levam a novas perguntas.” Desta forma, vejo
que Adalberto estava plasmando os objetivos da terapia comunitária de acordo com os
ideais de Paulo Freire (1987, 1995, 1997) no que diz respeito à vocação humana de
buscar a liberdade. Isso ele comprova nas seguintes palavras:
No dia em que todo conhecimento científico, toda prática política e
toda profissão de fé caminharem no sentido de ajudar as pessoas a
acreditar nelas, em seus recursos culturais, o mundo será diferente,
porque ajudaremos o ser humano a sair de toda forma de dependência
e submissão para atingir a liberdade e a autonomia que nos torna
cidadãos do mundo (BARRETO, 2005, p. 19).
Para examinar com mais detalhes a importância do diálogo e da palavra
como instrumentos de transformação social, busco outros pensadores como Arendt
(2001), para quem a palavra e a narrativa são elementos do trânsito possível entre os
mundos social e político; Rancière (1996), para quem a capacidade humana de usar a
202

palavra dentro de uma lógica permite que se construa a comunidade e faz com que o
homem se desenvolva como um ser político; e de Habermas (1990) que propõe a
“interação simbolicamente mediada” (p.71) entre falantes e ouvintes a fim de que
estabeleçam um acordo na compreensão de determinada situação.
4.3 O emergir da fala de um sujeito que não contava
Rancière (1996, p.47) afirma que a política “produz uma instância que antes
não era identificada num determinado campo de experiência” e que, ao ser criada, essa
nova instância faz emergir um sujeito que antes não contava, e que, portanto, era como
se não existisse. Ele diz que no espaço político é onde aparecem as “parcelas dos sem-
parcela” através do uso palavra, que o diferencia o homem dos outros animais. Por isso
valoriza a articulação da palavra, que, para ele deve ser usada pelo homem com um
sentido social significativo. Defende o logos, capacidade eminentemente humana de
expressar os significados. Na expressão da dor, por exemplo: “O logos separa a
articulação discursiva da dor e a articulação fônica de um gemido.” O gemido restringe-
se a um som, que pode também ser emitido de forma reflexa ou instintiva pelos animais,
diversamente da expressão complexa da palavra que manifesta uma linguagem
compartilhada, cujo significado pode ser compreendido socialmente.
E é essa palavra com sentido socialmente compartilhado que permite ao
homem tratar dos assuntos políticos, no sentido arendtiano, pertinentes ao bem comum.
O que a palavra manifesta, o que ela torna evidente para uma comunidade de sujeitos
que a ouvem é o útil e o nocivo e, ‘conseqüentemente’, o justo e o injusto.
(RANCIÈRE, 1996, p. 17) É, portanto, o logos que permite ao homem tanto a
percepção do bem e do mal, do útil e do nocivo como sua manifestação por meio da
palavra, e que lhe garante também a politicidade. Rancière (1996) desenvolve a noção
de justiça, partindo do pressuposto de que ela começa somente quando trata daquilo que
os cidadãos têm em comum e em que se cuida da maneira como são repartidas as
formas de exercício e controle do poder comum, o qual ele denomina “parcelas”. A
justiça para ele, não é apenas o equilíbrio dos interesses entre os indivíduos ou a
reparação dos danos que uns causam aos outros. Ela acontece na escolha da medida
segundo a qual cada parte só pega a parcela que lhe cabe. A política começa justamente
onde se tenta repartir as parcelas do comum, segundo a proporção geométrica das
203

parcelas que dão direito à comunidade. A justiça se faz a partir da percepção da dor de
outrem, em relação a estas parcelas. O Logos permite ao homem compreender esses
aspectos de suas relações e manifestar-se politicamente diante deles.
Habermas (1990, p. 78) especifica três modos de utilização da linguagem:
“função expressiva”, que dá expressão ao que se tem em mente; “função representativa”
quando descreve algo presente no mundo e a “função interativa”, que confere aos
homens o poder de comunicarem-se socialmente uns com os outros. A presença
simultânea dessas três funções compõe a estrutura do ato de fala comunicativo. Ele
propõe a utilização da linguagem verbal e não verbal para que as interações possam
produzir um entendimento, cujo papel é estabelecer um mecanismo de coordenação da
ação comunicativa. (HABERMAS, 1989, p. 418).
Com base nos autores citados, considero a terapia comunitária como um
contexto interativo, um espaço público onde a subjetividade e o ponto de vista de cada
participante são respeitados. A fala no ritual eu vejo como um ato político, à medida que
constitui a expressão das pessoas que ali compartilham uma realidade. Acredito que a
instituição do diálogo entre diferentes interlocutores que passam a compartilhar uma
linguagem comum pode produzir transformações. Por exemplo: no momento em que
alguém fala de como chegou a adoecer, descreve seus conflitos internos ou se queixa de
sua condição social, aquele discurso, na terapia, torna-se um assunto partilhado, cria-se
uma esfera pública. A forma como sente e percebe a doença, passa também a ser uma
subjetividade compartilhada, que pode inclusive ser modificada, a partir do ponto de
vista do(s) outro(s). Essa interação por meio da fala faz da terapia um espaço
terapêutico-político que produz mudanças na autopercepção e no comportamento do
indivíduo. Quando ele fala e passa a exercer seu espaço de inserção na terapia, é como
se também estivesse se inserindo no mundo.
E assim, a partir dessa mudança no modo de se comportarem, “descobrem-
se, ao modo da transgressão, como seres falantes, dotados de uma palavra que não
exprime simplesmente a necessidade, o sofrimento e o furor, mas manifesta a
inteligência”. Criam “um lugar numa ordem simbólica da comunidade dos seres
falantes, numa comunidade que ainda não tem efetividade na ‘civitas’ romana”,
organizam um espaço no qual falam como os patrícios, de modo que a dominação
destes não teve mais fundamento. (Ibidem., p. 39). Naquele momento, o Senado
Romano, composto de um conselho de velhos sábios se reúne e conclui: “já que os
204

plebeus se tornaram seres de palavra, nada mais há a fazer, a não ser falar com eles”.
Para os patrícios eles não contavam até que usaram o logos. Na cena política eles não
contavam como parte, não eram portanto reconhecidos em seus direitos sociais. Um
patrício certa vez chegou a dizer a um plebeu: “a desgraça de vocês é não serem”.
Depois de terem descoberto o logos , os plebeus de “mortais” que eram, tornaram-se
“homens”, passaram a usar palavras para tratar dos assuntos que diziam respeito ao
destino coletivo.
Defendo a idéia de que a terapia comunitária proporciona uma mudança de
atitude quando cria um espaço de diálogo que não existia, “um mundo comum de
argumentação [...] eminentemente subversivo, já que esse mundo não existe” (Ibidem.,
p. 63). E quer exista ou não, lá fora, um espaço a ser compartilhado, a terapia
comunitária garante a cada sujeito sua participação no espaço público, e essa
participação é “uma ‘demonstração’ de seu direito, uma ‘manifestação’ do justo que
pode ser compreendido pela outra parte”. Direito porque o espaço público criado na
terapia tem como contingência “a igualdade de qualquer ser falante com qualquer outro
ser falante”. (Ibidem., p. 43), e isso faz com que o indivíduo que sofria sozinho, nesse
momento “pertença a uma mesma esfera da comunidade já reconhecida, já escrita -
mesmo que fosse em inscrições ideais e fugazes: a da declaração revolucionária da
igualdade, em direito, dos homens e dos cidadãos”. E é nesse sentido que afirmo que a
terapia comunitária potencializa o desenvolvimento do ser político e a busca da
cidadania.
Ele foge à relação de hierarquia entre cidadãos e Estado e fala de
“reagenciamentos da relação entre a palavra e sua contagem, da configuração sensível
que recorta os campos e os poderes do ‘logos’ [...] Uma subjetivação política torna a
recortar o campo da experiência que conferia a cada um sua identidade com sua
parcela”. Segundo essa ótica, a vivência da dimensão política do Homem promove
transformações porque
desfaz e recompõe as relações entre os modos do ‘ fazer’, os modos de
‘ser’ e os modos do ‘dizer’ que definem a organização sensível da
comunidade, as relações entre os espaços onde se faz tal coisa e
aqueles onde se faz outra, as capacidades ligadas a esse ‘fazer’ e as
que são requeridas para outro. (p.52).
No caso da terapia, o exercício da cidadania acontece quando se
experimenta novos modos de ser, de fazer e de dizer, por exemplo, quando se
205

questiona a relação de hierarquia historicamente estabelecida entre o pensamento
científico e o saber popular. Nesse momento se institui um ato político que tem
início com a criação de uma instância de diálogo igualitário entre essas duas falas,
fazendo um reagenciamento dos campos dos poderes socialmente determinados, que
se desfazem na roda da terapia. Os dispositivos142 utilizados no ritual criam uma
perspectiva de igualdade, graças à modificação “do terreno no qual o jogo é jogado”
(p. 5).
A mudança da posição hierárquica que se consegue pela utilização
democrática da palavra modifica a relação que prendia cada indivíduo a um lugar na
sociedade e a uma função. De que forma a Terapia Comunitária reorganiza o campo da
experiência, recortando identidades e funções? Ela revela a lógica dos que pertencem à
sociedade dos letrados, dos intelectuais e também a daqueles que não detêm esse tipo de
conhecimento e que poderiam ser vistos como sem-parcela, mas que na verdade
também trazem um conhecimento que é de outra ordem, da vida e do cotidiano. Ela
desfaz os degraus hierárquicos estabelecidos entre as divisões da ordem dos saberes, por
meio de deslocamentos das posições dos indivíduos no espaço da relação coletiva, que
acontece na roda terapêutica onde se experimenta a igualdade e a visibilidade pública. O
lugar que cada um tinha em sua relação privada e contraditória de dominador –
dominado, no contexto da terapia é inicialmente questionado e vai se modificando à
medida que o sujeito adquire maior autonomia.
Uma palavra que era vista na sociedade como dominante pode ter seu poder
relativizado, diluído ou até invalidado, e outra que não era percebida ou o era só como
um ruído, pode adquirir espaço e vez, tornando-se palavra argumentativa com seu lugar
garantido e contando como uma parcela importante. A subjetivação política assim
produzida promove o “encontro violento da igualdade do ‘logos’” (p.49). Instala-se a
esfera pública, que permite ao sujeito questionar a relação consigo mesmo, com os
outros e com o sistema no qual todos estão inseridos.
É possível, portanto, afirmar que esse questionamento poderá se expandir ou
reverberar em dimensões outras e espaços diversificados, reconfigurando lugares,
impondo uma nova distribuição de poderes e direitos.
142 Os dispositivos utilizados na terapia foram etnograficamente descritos no capítulo 1.
206

4.4 Consensos e dissensos: a proposta política da Terapia
Defendo agora a idéia de que a terapia comunitária estimula o
desenvolvimento do bios politikos, à medida que promove “consensos” e “dissensos”
sobre diversos temas, como aqueles que se referem a noções de saúde e bem-estar, e
outros, nos quais se implicam aspectos mais amplos, pertinentes não só à saúde, mas às
diversas dimensões humanas.143 Só o fato de reunir diferentes mundos e concepções,
por vezes contraditórios, já é um ato político, uma vez que se trata de “construir a
relação entre essas coisas que não têm relação, é fazer ver junto, como objeto de litígio a
relação e a não-relação”. (RANCIÈRE, 1996, p. 52.p.53).
[...] É também a encenação da contradição [...] ‘Ela produz, ao mesmo
tempo, inscrições novas da igualdade em liberdade e uma esfera de
visibilidade nova para outras demonstrações. A política não é feita de
relações de poder, é feita de relações de mundos.
E, nessa interlocução de mundos interesses e valores são colocados em
confronto, lançados no litígio político, que corresponde ao “dissenso”. Para Rancière,
“Uma subjetivação política é uma capacidade de produzir essas cenas polêmicas, essas
cenas paradoxais que revelam a contradição de duas lógicas”.(RANCIÈRE, 1996, p.
52).
Desta forma, o litígio político acontecerá desde que haja as condições
necessárias para que um enunciado faça sentido e efeito para quem o emite e seja
também compreendido para quem o recebe. O diálogo político fornece o telos da troca
razoável e justa. Ressalte-se que, por esse prisma, o ato político não se resume apenas à
compreensibilidade da fala e do que ela quer dizer. É preciso que aconteça o litígio de
modo que cada uma das partes participe do logos.” Deve-se eliminar a possibilidade de
utilização de uma linguagem para impor um poder.
No caso da terapia, por exemplo, a linguagem técnico-científica não deve
ser imposta. E, como se pode observar, a partir do presente estudo, no contexto da
terapia existe um esforço para que as relações não se definam desta forma. Ali se busca
construir uma relação em que a posição de cada um é explicitada, a situação de
dominação é suspensa e suas pretensões são postas à prova. Na terapia há uma tentativa
143 Na roda terapêutica, tanto o participante pode mostrar como percebe uma situação de perda, de
abandono ou de violência, como pode falar de desemprego ou da essência da vida, expressando o seu
ponto de vista.
207

de se instituir um espaço de litígio próprio da política. Esse litígio se dá no momento
em que os heterogêneos se encontram numa situação de igualdade que provoca o
rearranjo e o confronto das relações de poder, nos moldes propostos por Rancière. E aí
ele faz diferença entre a lógica policial e a lógica igualitária. Esta lógica policial seria o
conjunto das normas sociais, a lógica das funções e dos lugares estabelecidos pelos que
detém parcelas da sociedade, parcelas de poder, de bens, de posições sociais como a do
médico, do professor ou do juiz. O ato político se dá quando a lógica dos que detém
parcelas se defronta com a lógica dos que não as têm, que Rancière denomina os “sem-
parcela”, e que poderíamos denominar “os excluídos”. Nesse sentido, a terapia é um
espaço político também porque propõe o “entrelaçamento dessas lógicas” (p. 45). Ela
reconfigura os lugares e muda o estatuto social das palavras.
No caso da relação médico-paciente, a terapia permite e estimula a atitude
política quando admite a existência de duas lógicas e duas linguagens que, em alguns
momentos se coadunam e, noutros, se confrontam. O contexto se torna mais político
ainda quando se observa essas diferenças, dando-lhes valor equitativo, de modo que,
entre os interlocutores, possam sentir a igualdade democrática, apesar das diferenças.
Igualdade de seres falantes que dão sentido ao seu discurso, em que a palavra de
nenhum deles pode ser reduzida a “ruído” ou “barulho”. Na terapia, diferentemente do
contexto do serviço oficial de saúde, os médicos podem compreender a percepção dos
“pacientes” e estes podem confrontá-los, num dissenso. Por outro lado, ambos podem,
em alguns momentos, aproximar seus discursos gerando uma possibilidade de
entendimento, um consenso que questiona e contradiz a “distribuição policial dos
corpos colocados em seu lugar e estabelecidos em sua função” (p. 46), o que ocorre na
proposta do modelo hegemônico. Na terapia existe a possibilidade de conviverem
democraticamente o saber médico e o saber popular em seus consensos e dissensos.
Desta forma, a terapia pode ser vista como promotora da política, pois, para
que haja política é preciso que a lógica policial e a lógica igualitária tenham, em algum
momento, um ponto de encontro. Desta forma, a subjetivação política produz um
múltiplo cuja contagem se põe como contraditória à lógica policial. Por exemplo,
Rancière cita mulheres e operários quando saem de seus papéis sociais e participam de
uma luta, como exemplo de subjetivação. Operários ou mulheres, para a sociedade, são
identidades aparentemente sem mistério. Todo mundo vê de ‘quem’ se trata. Ora, a
subjetivação política arranca-os dessa evidência, [...] “‘Mulher’ em política é o sujeito
da experiência”. (p. 48).
208

Politicamente, ela vai ser vista não apenas em seus aspectos da
complementaridade sexual mas como sujeito, uma parcela a ser reconhecida. Toda
subjetivação política é uma desidentificação, o arrancar à naturalidade de um lugar, a
abertura de um espaço de sujeito onde qualquer um pode contar-se porque é o espaço de
contagem dos incontados (p. 48). A terapia vai proporcionar experiências singulares de
litígio entre diferentes classes e poderes que são ali subjetivados, contando como
parcelas dos sem-parcela. Nessa nova situação, sua palavra vai expressar um logos, um
discurso com significado representativo da experiência singular de um ator social e não
um ruído. É assim que médicos e pacientes, cientistas e leigos, crentes e ateus, ricos e
pobres podem ter suas posições ressignificadas na terapia. O que vai contar é sua
palavra e seu Logos.
Para Rancière, o animal político moderno é antes de tudo um animal
literário, preso no circuito de uma literariedade que desfaz as relações entre a ordem das
palavras e a ordem dos corpos que determinavam o lugar de cada um. Uma subjetivação
política é o produto dessas linhas de fraturas múltiplas pelas quais indivíduos e redes de
indivíduos subjetivam suas posições, e usam a voz no “encontro violento da igualdade
do logos” (p.49).
Quando a terapia comunitária começou a dar os seus primeiros passos ela
parecia emitir apenas ruídos. Na percepção das elites econômicas e intelectuais ela não
contava como método terapêutico, não ocupava espaço no meio acadêmico, nem
detinha nenhuma parcela de poder. Naturalmente confundida com a paisagem da
periferia, e identificada com a pobreza, era tão excluída quanto o povo da favela. Só
podia, portanto, ser vista e ouvida pelos homens simples, que com ela se encontraram
no contexto do Pirambu, em busca de um lugar de escuta para expressar o verdadeiro
significado de sua dor.
Depois, estes e outros homens descobriram que a crise, na terapia, é fonte de
transformação e que o sofrimento podem ser o caminho para a grande descoberta: o
valor da própria experiência! Assim, homens e mulheres passam a perceber que podem
ressignificar suas trajetórias de vida, redescobrir a força de suas raízes, usar o poder da
fé e construir um elo com outras pessoas e se reconstruir a partir daí. Em suma,
encontram a política, passam a fazer a política.
E foi a partir dessa visão de mundo e da percepção dos homens como seres
políticos que a terapia ganhou o mundo, espalhando-se como uma enorme teia tecida
209
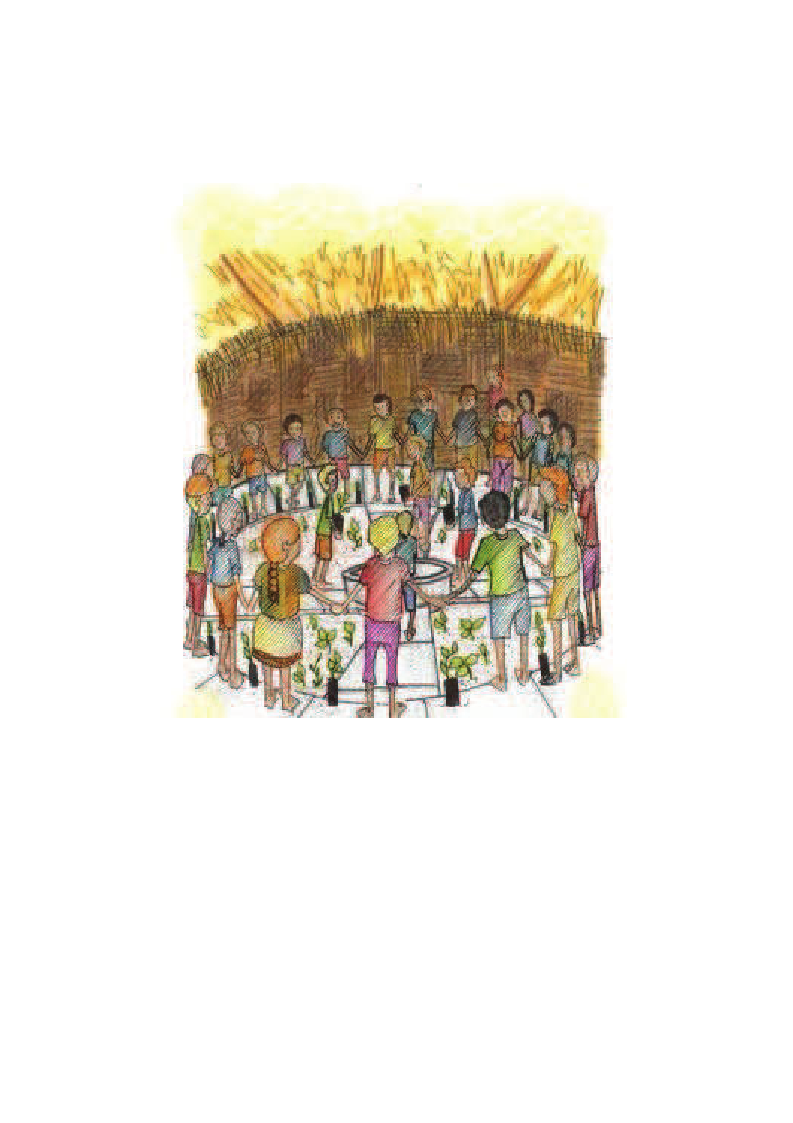
com amor e arte, criando espaços, nos quais saber falar e ter conhecimento da vida é
sinal de poder e onde a verdadeira liderança se conquista no ato de colaborar.
Figura 34: A teia social da Terapia – desenho de um artista do Atelier
210

Um sinal premonitório não é ainda uma prova. É apenas um
motivo para que não permaneçamos expectadores passivos e
para que não encorajemos, com nossa passividade, os que
dizem que "o mundo vai ser sempre como foi até hoje"; estes
últimos contribuem para fazer com que sua previsão se realize,
ou seja, para que o mundo permaneça assim como sempre foi.
Que não triunfem os inertes!
Kant
CONCLUSÃO
Neste estudo realizei uma investigação na qual procurei demonstrar que a
terapia comunitária é, além de uma abordagem terapêutica e preventiva, um espaço
público/político de diálogo que potencializa a construção da autonomia de indivíduos e
grupos através da aprendizagem de competências sociais.
Com base em minhas observações e análises posso afirmar que, durante o
ritual da terapia, a escuta coletiva facilita a emergência dos conflitos inconscientes e a
decodificação da linguagem dos sintomas. Ao invés de diagnósticos e intervenções
clínicas, a proposta da terapia é identificar o sofrimento e, a partir dele, evidenciar o
conjunto de estratégias de superação desenvolvidas pelos sujeitos ao longo de sua vida.
A troca dessas experiências proporciona a busca de soluções socialmente
compartilhadas e adequadas ao contexto cultural no qual a terapia se desenvolve.
A eficácia terapêutica do ritual se fundamenta na utilização de diversos
códigos lingüístico/culturais incluindo músicas, gestos, atitudes e metáforas presentes
em histórias populares e mitos. A utilização destes recursos constitui um dos aspectos
determinantes do poder transformador da terapia no sentido da ampliação da auto-
percepção e ressignificação dos sintomas pelo sujeito que, a partir de uma nova leitura
do processo saúde-doença pode buscar um modo de vida mais autônomo.
A pesquisa indicou que os sujeitos não freqüentavam as sessões apenas para
encontrar alívio para o sofrimento, nem para discutir apenas as necessidades cotidianas
de sobrevivência, eles buscavam reorientar seus itinerários terapêuticos no sentido
libertar-se dos limites impostos pelo paradigma do modelo biomédico a fim de
readquirir a “liberdade dos seus movimentos e ações” (ARENDT, 2004, p. 20).
211

Examinando os pressupostos teórico-filosóficos da terapia comunitária,
observei que ela utiliza uma abordagem holística que considera a multidimensionalidade
humana e inclui os diversos fatores determinantes da saúde preconizados pela OMS.
Portanto, sua eficácia terapêutica demanda a integração de outras práticas
complementares de cura como técnicas corporais e bioenergéticas, dentre outras. Tal
fato pode ser constatado na estruturação espacial da terapia no cenário do Projeto
Quatro Varas, como foi descrito no capítulo 1, onde demonstrei de que forma ela se
interconecta com a terapia da auto-estima, a massoterapia, a fitoterapia e outras formas
de tratamento de cunho regionalístico-cultural, como a prática de rezas e banhos de
ervas medicinais.
Verifiquei que, do ponto de vista institucional, a interação da terapia com
outras modalidades terapêuticas e sócio-educativas é viabilizada através de sua inserção
no Movimento Integrado de Saúde Comunitária (MISMEC) 144, no qual ela exerce uma
posição central que lhe permite articular-se internamente com todas as atividades
existentes no Projeto Quatro Varas e externamente com diversas instituições formais e
não-formais, como o Sistema Único de Saúde (SUS), universidades e igrejas locais e
estrangeiras, Grupos de alcoólicos anônimos (A.A.), ONGs, lideranças comunitárias e
outras, formando uma espécie de teia.
A partir dessas evidências posso concluir que a terapia é uma instituição
multidimensional bastante complexa, tanto do ponto de vista ritualístico e da eficácia
terapêutica, como também quanto aos seus objetivos e relações. Constituindo-se como
experiência de construção de saberes coletivos, ela promove a interação de pessoas e
instituições, formando uma extensa rede de apoio social que favorece aos seus
participantes o desenvolvimento de habilidades sociais, como a comunicação e a
liderança.
Esses resultados permitem-me caracterizar a terapia como um espaço
público (Arendt, 2001) no qual a utilização da fala permite a expressão da dor não mais
como um gemido (Rancière, 1996) e sim como um discurso articulado e socialmente
significativo. Baseado na igualdade, o diálogo ali proposto permite a instituição do
litígio e do dissenso (Ranciére, 1996), fundamentais para a manifestação do bios
politikos (Arendt, 2004). Nesse sentido, o desenvolvimento da dimensão política do
homem na terapia se expressa no fortalecimento da identidade individual e grupal e na
144 A primeira diretoria do MISMEC foi constituída por participantes da terapia.
212

construção da cidadania.
Ficou claro que a metodologia utilizada nas sessões pode ser relacionada à
proposta de educação popular de Paulo Freire, no que diz respeito à forma como o
grupo se apropria do conhecimento socialmente construído através da mediação de seus
próprios saberes. Na roda terapêutica, os consensos e dissensos estabelecidos entre os
saberes socialmente construídos e o saber “científico”, permitem o exercício da
autonomia, que leva ao empoderamento pessoal e comunitário.
Finalmente, quero propor aqui que a terapia comunitária é mais uma experiência
de construção da esfera pública (PEREIRA, 2002) cuja origem remonta à história dos
movimentos sociais no Brasil e se deve à conjugação de esforços populares no sentido
da democratização e humanização das práticas médicas. Com respaldo na proposição de
Rancière (1996, p.42), de que a expressão da fala constitui uma atividade política
quando torna visível “o que não cabia ser visto”, deixo como esforço de síntese o
pensamento do sistematizador da terapia quando diz que ela promove a conscientização
e estimula o grupo “a tomar iniciativas e ser agente de sua própria transformação.”
(BARRETO, 2005, p. 37).
213

BIBLIOGRAFIA
AMARANTE, P. (coordenador). Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica
na Brasil. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1995.
______. O homem e a serpente: outras histórias para a loucura e a psiquiatria. Rio de
Janeiro: FIOCRUZ, 1996.
ANDRADE, L.O.M; PONTES, R.J.S; JUNIOR, T.M. A descentralização no marco
da Reforma Sanitária no Brasil. Washington July/Aug: Rev Panam Salud
Publica, 2000. vol.8.
ANDRADE, J. T.. Medicina alternativa e complementar: experiência, corporeidade e
transformação. Editora da UECE: Fortaleza, 2006.
______. Terapias complementares em saúde pública: alguns aspectos do debate
antropológico contemporâneo. In: Humanidades e Ciências Sociais . Revista da
Universidade Estadual do Ceará, V.1 . Fortaleza: UECE, 1999 (19-23).
ANTONOVSKY, A. Health, stress and coping. San Francisco: Jossey- Bass, 1978.
APPLE,M.W.&NÓVOA,A.(Orgs) Paulo Freire: Política e pedagogia. São Paulo:
Cortez,1993.
ARENDT, H. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2001.
______. A condição humana. 10ª Ed.Tradução: Roberto Raposo. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2004.
BALLANCHE. “Formule générale de tous lês peuples appliquée à l’ histoire du
peuple romain”. Revue de Paris. Paris: Setembro de 1830, p.94.
BARREIRA, I. A. F.. O reverso das vitrines: Conflitos Urbanos e Cultura Política.
Rio de Janeiro: Rio Fundo Editora, 1992.
BARRETO, A.. Terapia Comunitária: passo a passo. Fortaleza: Gráfica LCR, 2005
______. Un movimento integrado de salud mental comunitaria en Fortaleza, Brasil.
In: Boletin Oficina Sanitaria Panamerican,,1992. p. 453-465.
BARRETO, A; BOYER, J. P.. O índio que vive em mim: itinerário de um psiquiatra
brasileiro. São Paulo: Terceira Margem, 2003.
BARRETO, M. C. R. A trajetória vocacional do terapeuta comunitário: um novo
ator social. Recife: 2001. 180 p
214
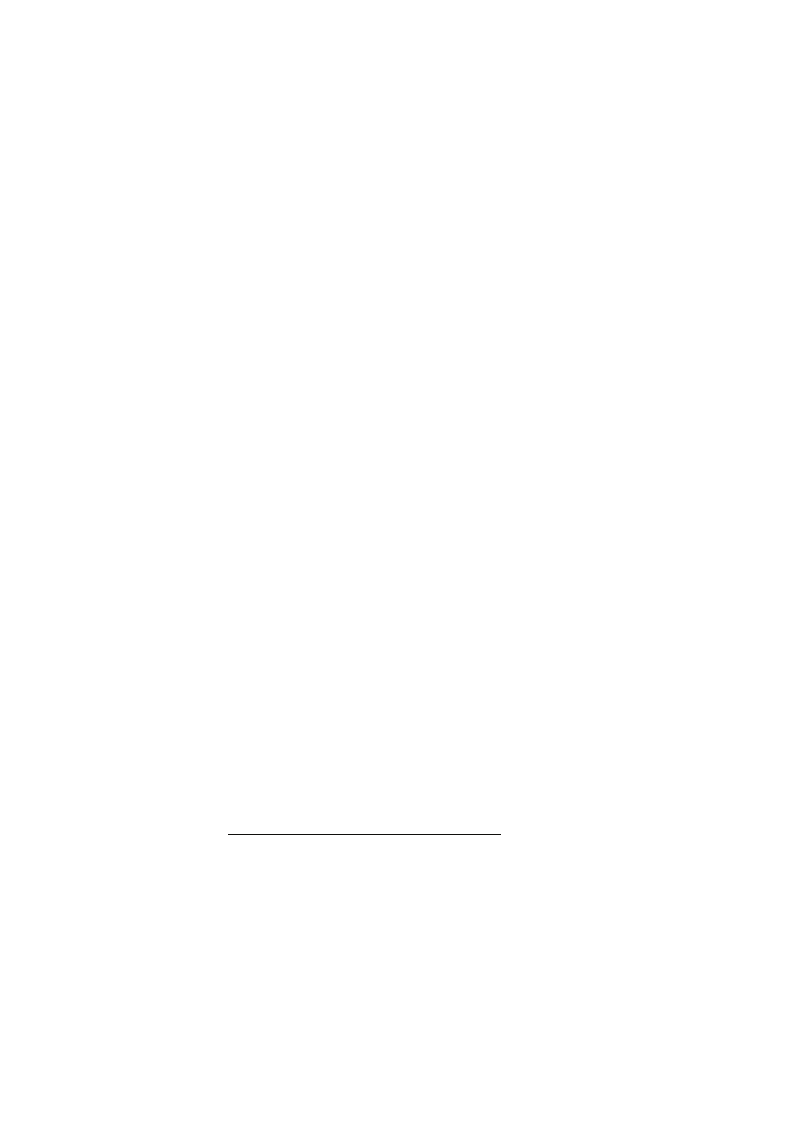
BERKMAN, L. F. & SYME, S. L. Social networks, host resistance, and mortality: A
nine-year follow-up study of Alameda County residents. American Journal of
Epidemiology, 1979. 109:186-204
BERTALANFFAY, L. Théorie general des systemes. Paris: Dumond, 1975 [1978].
BESERRA. B. Brasileiros nos Estados Unidos: Hollywood e outros sonhos.
Fortaleza/São Paulo/Santa Cruz: Editora UFC/UNISC/HUCITEC, 2005
______.Quem Pode Representar Quem?: Olavarría, Argentina: Etnia,2004
______.Notas sobre Sentimentos e Relações de Poder numa Pesquisa de Campo
Olavarría, Argentina: Etnia, 2004
BETO, F. O que é comunidade eclesial de base, São Paulo: Brasiliencse, 1981
BOBBIO, N. A era dos direitos: Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro:
Campus, 1992
BOFF, L. Ethos Mundial: um consenso mínimo entre os humanos. Rio de Janeiro:
Sextante, 2003
BONETI, L. W.. Exclusão como estratégia de desenvolvimento. Salvador: Cadernos
dos CEAS, 1997. v. 170, p. 33-52,
______.(Org.). Educação, exclusão e cidadania. Ijuí: Unijuí, 1998.
BRANDÃO, C. R. O processo geral do saber (a educação popular como saber da
comunidade). In: Educação popular. São Paulo: Brasiliense, 1997. p. 14-26
CAPRA, F. A teia da vida. São Paulo: Cultrix, 1996.
______. O ponto de mutação. São Paulo: Cultrix, 1982.
CARVALHO, S. R. Os múltiplos sentidos da categoria empowerment no projeto de
Promoção à Saúde. Departamento de Medicina Preventiva e Social, Faculdade de
Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil, 2004.
Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/csp/v20n4/24.pdf> Acesso em: 05/08/2008
CASTEL R.. De l’indigence à l’exclusion, la désaffiliation: précarieté du travail et
vulnerabilité relationnelle. In J. Donzelot (Org.), Face à l’exclusion – le modèle français
(pp. 137-168). Paris: Esprit, 1991
CASTIEL, L. D.. O buraco e o avestruz: a singularidade do adoecer humano.
Campinas. São Paulo: Editora Papirus, 1994.
215

______. Promoção de saúde e a sensibilidade epistemológica da categoria
'comunidade'. Rev. Saúde Pública, Out 2004, vol.38, no.5, p.615-622.
CORREA, O. B. R.. O legado familiar: a tecelagem grupal da transmissão psíquica.
Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2000.
COSTA, M. G (org) – Historiando o Pirambu. Fortaleza: Ed. Seriartes, 1999.
DAMATTA, R.. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de Janeiro:
Rocco, 1987.
DEVEREUX, G.. Essais d'ethnopsychiatrie générale. Paris: Gallimard, 1970.
DIAS, V. R. C.. Análise psicodramática. Teoria da Programação Cenestésica. São
Paulo: Editora Ágora, 1994.
DUHRAN, E. Movimentos sociais, a construção da cidadania, São Paulo: em Novos
Estudos Cebrap n. 10, outubro de 1984
DURKHEIM, E. As formas elementares da vida religiosa. São Paulo: Paulinas, 1989
ESCOREL, S. Exclusão social no Brasil contemporâneo: um fenômeno socio-cultural
totalitário? In: XIX ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS. Caxambu: Anais, 1995.
EVANS-PRITCHARD, E. E. Bruxaria, oráculos e magia entre os azande. Rio de
Janeiro: Zahar. 1978 [1937].
FELTRAN, G. S.. Desvelar a política na periferia: histórias de movimentos sociais
em São Paulo. São Paulo: Associação Editorial Humanitas – Fapesp, 2005.
FREUD, S. - Conferência XXIII - Os caminhos da formação dos sintomas Edição
standart brasileira das obras psicológicas completas de Siegmund Freud. Vol. XVI-
Rio de Janeiro: Imago Editora, 1994, 2ª Ed. p. 419-439
FONAGY, P. The theory and practice of resilience. Journal of Child Psychology and
Psychiatry, Cambridge, v. 35, n. 2, p. 231-257, Fev. 1994.
FOUCAULT, M.. O nascimento da clínica. Rio de Janeiro: Editora Forense –
Universitária, 1980.
______. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Editora Graal, 2005.
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1977.7ª ed.
______. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1987. 17ª ed.
216

______. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 5ª ed
______. Pedagogia da esperança: Um reencontro com a pedagogia do oprimido. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
______. Educação como prática da liberdade. São Paulo: Paz e Terra S.A., 1984.
______. Educação como prática para a liberdade. 17a Edição, Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1986.
GEERTZ, C.. A interpretação das culturas Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
______. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Editora Guanabara-Koogan,
1989.
______. O saber local. Novos ensaios em antropologia interpretativa. Tradução de Vera
Mello Joscelyne. 3ª Ed. Petrópolis: Vozes, 2000.
GOHN, M. G. M.. Conselhos populares e participação popular: serviço social e
sociedade. São Paulo: s. n., 1989, p.65-89.
HABERMAS, J. Consciência moral e agir comunicativo. São Paulo: Brasiliense,
1989b.
______. Pensamento pós-metafísico: estudos filosóficos. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1990a.
HELMAN, C. G. Cultura, saúde & doença. Porto alegre, Artmed, 2003, 4ª Ed
HOLANDA, A. B. Novo dicionário Aurélio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira S/A,
1975.
JUNG, C.G. Tipos psicológicos . Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1980.
KOHUT, H. A reestruturação do self. Rio de Janeiro : Imagó, 1988.
LAPLANTINE, F.. L’ Ethnopsychiatrie. Paris: Éditions universitaires, 1973.
______. Anthropologie de la maladie. Étude ethnologique des sistèmes de
rèpresentations étiologiques et therapeutiques dans la société occidentale
contemporaine. Paris: Editora Payot, 1992.
LUISI, L. V. V. Terapia comunitária: bases teóricas e resultados práticos de sua
aplicação Commnunty therapy: theoric bases and its practical results. - São Paulo; s.n;
2006. 177 p
LUZ, M. Racionalidades médicas e terapêuticas alternativas. In Cadernos de
Sociologia, Porto Alegre: v. 7, p. 109-128, 1995.
217
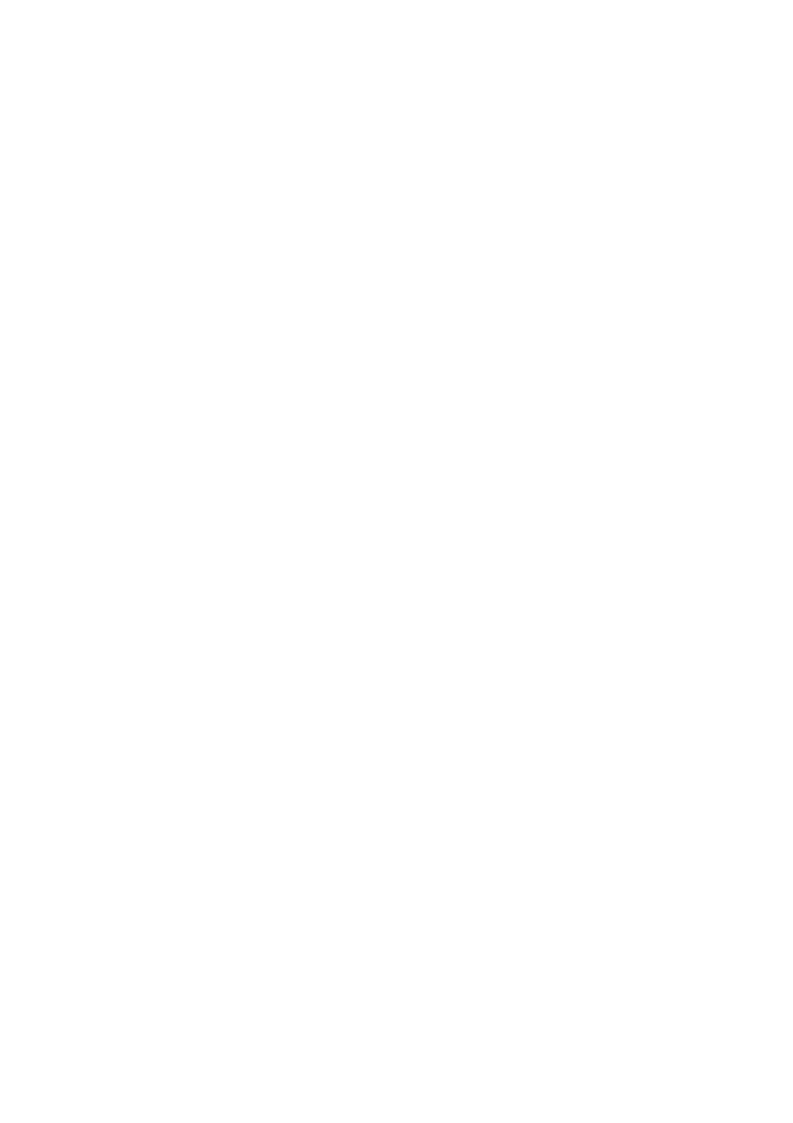
MALINOWSKI, B K. Argonautas do pacífico ocidental. Tradução Anton P. Carr.
São Paulo: Abril Cultural, 1976.
MARTINS, J. S.. A sociabilidade do homem simples. São Paulo: Hucitec, 2000
MAUSS, M. As técnicas corporais. In: Sociologia e Antropologia. São Paulo: EPU-
EDUSP, 1974. v2.
MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São
Paulo: Hucitec - Abrasco, 2004. 8ª Ed.
NOGUEIRA, M. A.. Em fefesa da política. 1ª. ed. São Paulo: Editora Senac, 2001.
v. 1. 150 p.
PALUDO, C. Educação popular em busca de alternativas : uma leitura desde o
campo democrático popular. Porto Alegre: Tomo Editorial: CAMP, 2001
PEREIRA, S. A contribuição do homem simples na construção da esfera pública: os
trabalhadores rurais de Baturité-Ce. 2002. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) –
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. São Paulo: 2002.
______. Direito a educação, movimentos sociais e ONGs: Dicernindo no imbróglio
semântico lógicas e atribuições do estado e da sociedade civil. Artigo apresentado na 31
a. Reunião Anual ANPED - GT 03
POLIGNANO, M. V.. Histórias das políticas públicas de saúde no Brasil- Uma
Pequena Revisão. Sd.35 f. Belo Horizonte: Faculdade de Medicina da UFMG, 2001
Disponível em: <http://www.medicina.ufmg.br/internatorural/arquivos/mimeo-
23p.pdf>. Acesso em: 23/10/2008
RANCIÈRE, J. O desentendimento: política e filosofia. Tradução: Ângela Leite Lopes.
São Paulo: 34, 1996.
RUTTER, M. Psychosocial resilience and protective mechanisms,
American Journal of Orthopsychiatry, 1987. 57: 316-331.
SCHERER-WARREN. Redes de movimentos sociais. São Paulo: Loyola, 1993
SHÖN, D. A.. Educando o profissional reflexivo, um novo design para o ensino e a
aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2000.
SOARES, M. S. Médicos e mezinheiros na corte imperial: uma herança colonial.
História, Ciências, Saúde. Manguinhos, vol. 8. 407-38, jul.-ago. 2001.
218

STRAUSS, L. Desvendando máscaras sociais. Rio de janeiro: Ed. Francisco Alves,
1975.
_________Antropologia estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1967.
TAVARES, J.(Org).Resiliência e educação.São Paulo:Cortez, 2001.
TELLES, V. S.. Sociedade civil a construção de espaços públicos. In: DAGNINO,
E.(Org). Anos 90: Política e sociedade no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1994, p.91-
102.
TURNER, Victor W. O processo ritual. Petrópolis: Vozes, 1974.
UCHOA, E. & VIDAL, J. M.. Antropologia médica: Elementos conceituais e
metodológicos para uma abordagem da saúde e da doença. Cadernos de Saúde Pública,
1994. Vol10: p.497-504
VALLA, V. V.. Apoio social e saúde: buscando compreender a fala das classes
populares. In COSTA, Marisa Vorraber (org). Educação Popular Hoje. São Paulo:
Loyola, 1998.
______. Saúde & educação. Rio de Janeiro: D P & A, 2000.
VASCONCELOS, E. M. A.. A saúde nas palavras e nos gestos: Reflexões da rede de
educação popular e saúde. São Paulo: Hucitec, 2001.
______. Educação popular nos serviços de saúde. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 1997. v.
1. 167 p.
______. Educação popular em tempos de democracia e pós-modernidade; uma
visão a partir do setor saúde. In: Costa, Marisa Vorraber. (Org.). Educação Popular
Hoje. São Paulo: Loyola, 1998.
VIGOTSKY, L. Pensamento e linguagem. Lisboa: Editora Antídoto, 1979.
WARREN, I. S.. Redes de movimentos sociais. São Paulo: Loyola, 1993.
WATZLAWICK, P.; BEAVIN, J. H. & JACKSON, D.D. Pragmática da comunicação
humana. São Paulo: Cultrix, 1967
219
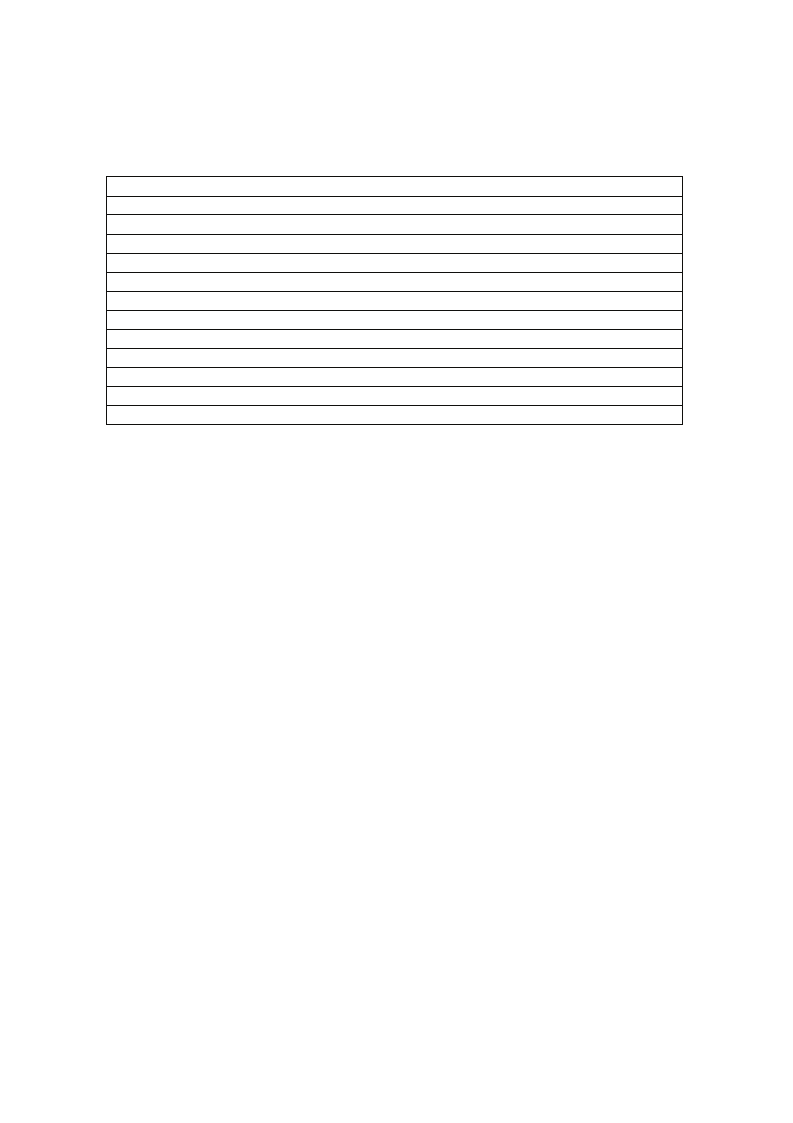
ANEXOS
ROTEIRO DE ENTREVISTA
Nome, Idade, Estado Civil e Profissão:
Por que motivo você veio para a terapia comunitária?
O que é a terapia comunitária para você?
Por que você está aqui hoje?
Em que a terapia ajuda a sua vida?
O que aprendeu na terapia?
220

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPANTES DA
TERAPIA COMUNITÁRIA NO PROJETO QUATRO VARAS
Prezado (a) Senhor (a)
Na oportunidade, convidamos V. Senhoria a participar do projeto de pesquisa intitulado: Saber ser, Saber
Fazer: Terapia Comunitária, uma Experiência de Aprendizagem e Construção da Autonomia.
O objetivo desse projeto é contribuir para a melhora no atendimento em saúde, visando colaborar para a
diminuição do uso de psicofármacos, autonomia do paciente e sua participação na sociedade. Os resultados da
pesquisa podem auxiliar na compreensão dos problemas dos pacientes e humanização do tratamento em
psiquiatria.
Ao participar desta pesquisa o(a) senhor(a) responderá a uma entrevista com perguntas abertas, contando
a respeito de suas transformações desde que começou a freqüentar a terapia comunitária. As entrevistas poderão
ser gravadas e, de acordo com seu consentimento, utilizadas como fonte de dados para análise por parte da
equipe responsável pela pesquisa, sob a coordenação da Dra. Francinete Alves de Oliveira Giffoni, médica,
professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará - Unidade Barbalha. Os resultados
poderão ser apresentados em congressos ou publicações científicas. No entanto, será resguardado o sigilo dos
dados obtidos e o anonimato dos participantes da pesquisa. Qualquer esclarecimento poderá ser obtido com a
coordenadora da pesquisa pelos telefones: 32837261 ou no endereço: Rua Ribeiro da Silva, 287 Monte Castelo
Fortaleza-CE. Sua participação nessa pesquisa não incide em nenhum risco, nem despesas para o(a) senhor(a).
Na certeza de contar com a sua compreensão e valiosa cooperação, agradecemos antecipadamente.
Cordiais Saudações,
Fortaleza, / /
________________________________________________________
Dra Francinete Alves de Oliveira Giffoni
Professora da UFC e Coordenadora da Pesquisa
Assinatura do(a) participante______________________________________
Assinatura digital
221

Relação de Entrevistados
Entrevista 1– Adalberto
Adalberto de Paula Barreto, 59 anos, solteiro. Médico.
Entrevista 2 – Adriana
Adriana Bernardo Pereira, 30 anos, Solteira. Vendedora.
Entrevista 3 - Antônio
Antônio Carlos da Silva, 30 anos. Técnico em Informática do Projeto Quatro Varas.
Entrevista 4 - David
David Florêncio de Sousa, 31 anos, filho de raizeiro, técnico de informática e artista
plástico.
Entrevista 5 – Euleiana
Euleiana Freitas, 39 anos. Solteira, Massoterapeuta.
Entrevista 6 - Fabiana
Fabiana Mariano Costa, 28 anos, filha de professora, casada, dois filhos, terapeuta
comunitária e estudante universitária.
Entrevista 7 - Francisco Carlos
Francisco Carlos 47 anos, casado, ex-funcionário da caixa econômica, desempregado há
15 anos por alcoolismo.
Entrevista 8 – D. Francisca
Francisca das Chagas Oliveira, 59 anos, casada. Massoterapeuta.
Entrevista 9 - Rosicleide
Francisca Rosicleide de Paiva da Costa, 42 anos. Separada. Auxiliar de Produção.
222

Entrevista 10 – Henriqueta Camarotti
Maria Henriqueta Camarotti, 49 anos, neuropsiquiatra. Casada. Coordenadora do
MISMEC-DF
Entrevista 11 - Airton
José Airton de Paula Barreto, 58 anos, casado. Advogado.
Entrevista 12 - Jeane
Jeane Mariano de Souza, 31 anos, solteira.
Entrevista 13 – José Carlos
José Carlos dos Santos, 27 anos, casado, músico.
Entrevista 14 – Seu Zequinha
Jose Lopes Macedo, 66 anos, filho de agricultor, casado, operário aposentado.
Entrevista 15 – Júlio César
Júlio César Martins Filho, 50 anos, casado. Servidor da Justiça.
Entrevista 16 - Luciano
Luciano Martins de Oliveira, 58 anos, Solteiro, Médico Veterinário.
Entrevista 17 – Maria de Fátima
Maria de Fátima C. Lima, 53 anos, Separada. Coordenadora do Espaço Extensão Quatro
Varas.
Entrevista 18 – Maria Vaneide
Maria Valneide Alcântara, 34 anos. Casada, Zeladora.
Entrevista 19 - Nelza
Nelza Onorárito de Moura, 64 anos. Solteira, Do lar.
Entrevista 20 - Neves
223

Neves Brandão, 35 anos, casado, Zelador.
Entrevista 21 - Rafael
Rafael Alves, 24 anos, solteiro, espírita, músico, produtor visual e administrador
Entrevista 22 – Raimundo
Raimundo Araújo Silva, 41 anos, solteiro, desempregado.
Entrevista 23 - D. Zilma
Zilma Saturnino de Oliveira, 67 anos, viúva, massoterapeuta, rezadeira.
224

FOTOS
Figura 37: Salão da Terapia – Símbolo
da teia de aranha
Figura 35: Cajueiro onde foram realizadas
as primeiras terapias – Foto em 20/10/2008
Figura 36: Margaret Chan-(OMS) e Adalberto no
Salão da Terapia
Figura 38: Margaret Chan no Projeto
225

Figura 39: Entrada Casa da Cura
Figura 40: Ala de acesso às salas de
massoterapia
Figura 41: Banho de ervas
Figura 42: Sala de massoterapia
226
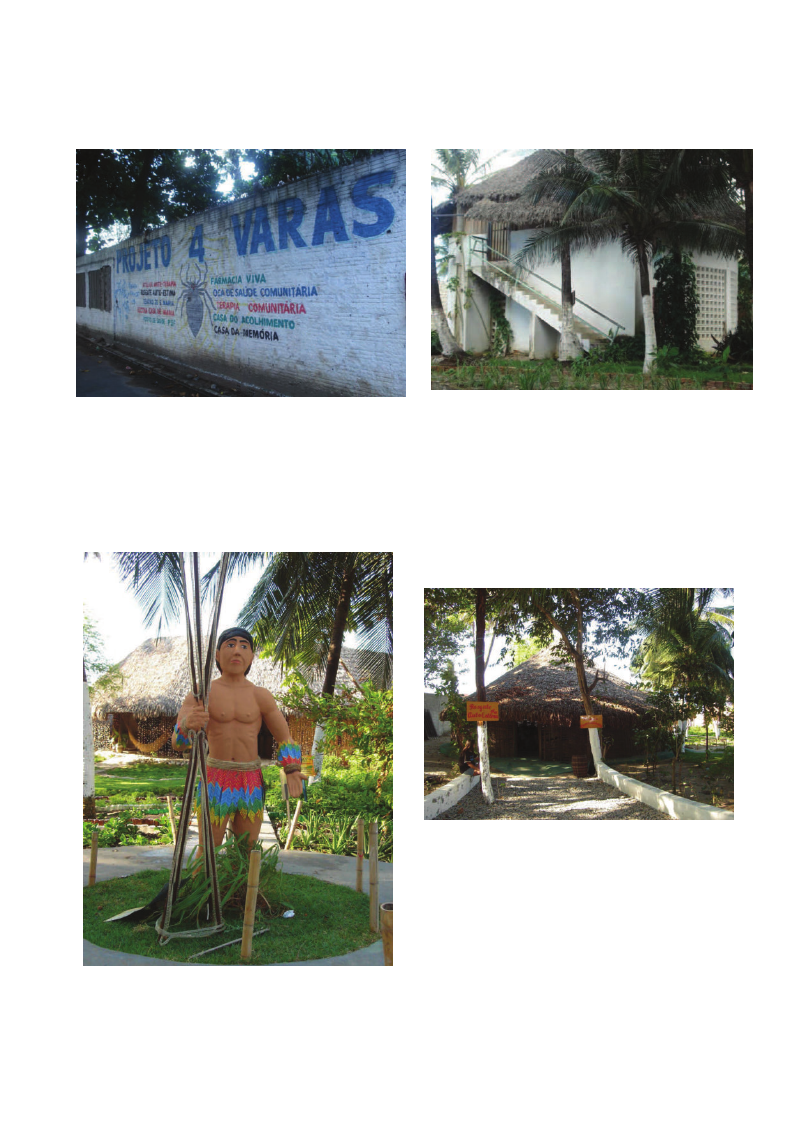
Figura 43: Muro de entrada do Projeto Quatro Varas
Figura 44: Sala de reuniões do teatro
Figura 46: Oca da Terapia Comunitária
Figura 45: Estátua simbólica do Índio segurando as
Quatro Varas
227
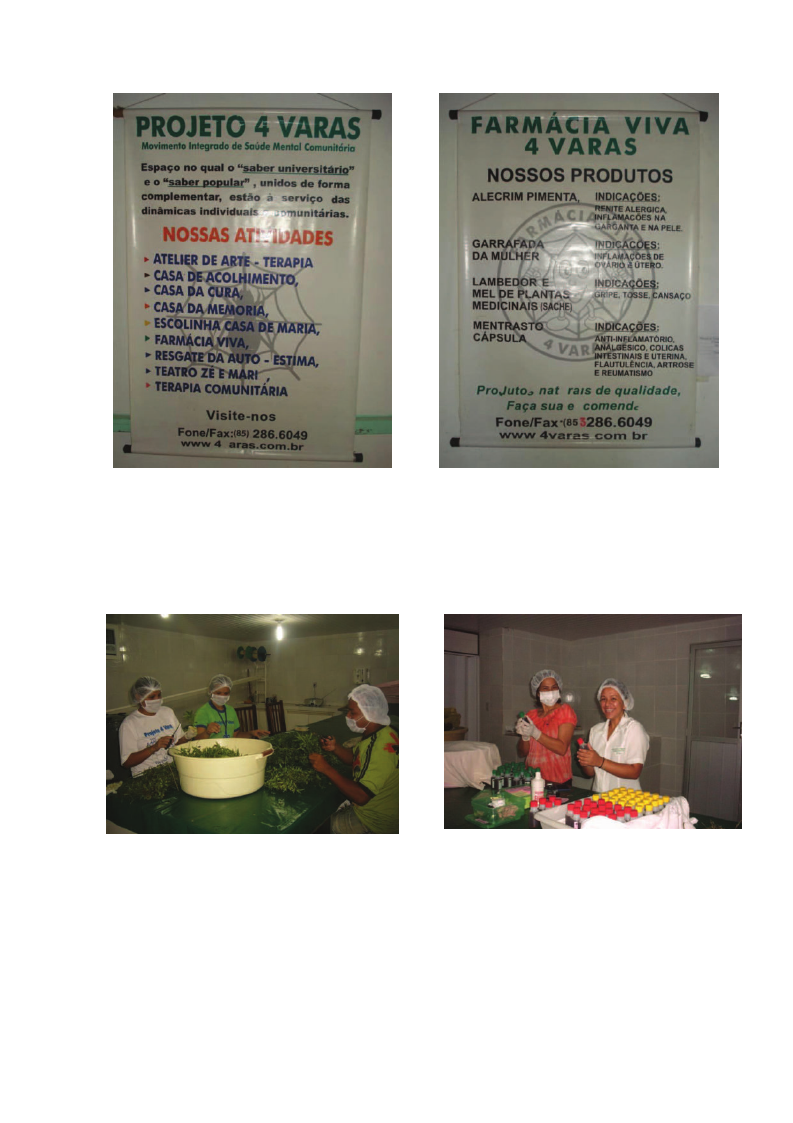
Figura 48: Banner – Atividades do Projeto 4
Varas
Figura 47: Banner – Produtos da Farmácia Viva
4 Varas
Figura 50: Equipe do Laboratório da Farmácia Viva
4 Varas
Figura 49: Preparação de medicamentos da
Farmácia Viva 4 Varas
228

Figura 52: Prefeita Luizianne Lins (ao centro) e
Adalberto(à esquerda) na inauguração da
ampliação da Casa da Cura
Figura 51: Prefeita Luizianne Lins recebe
homenagem do Projeto Quatro Varas
Figura 53: Posto PSF - 4 Varas - Visão Interna
Figura 54: Posto PSF - 4 Varas - Visão Interna
229

Figura 55: Adalberto e Presidente Lula, na entrega do Prêmio Valorização da Vida - 22.06.2005
Figura 56: Adalberto discurso em Brasília, na cerimônia de entrega do prêmio Valorização da Vida - 22.06.2005
230
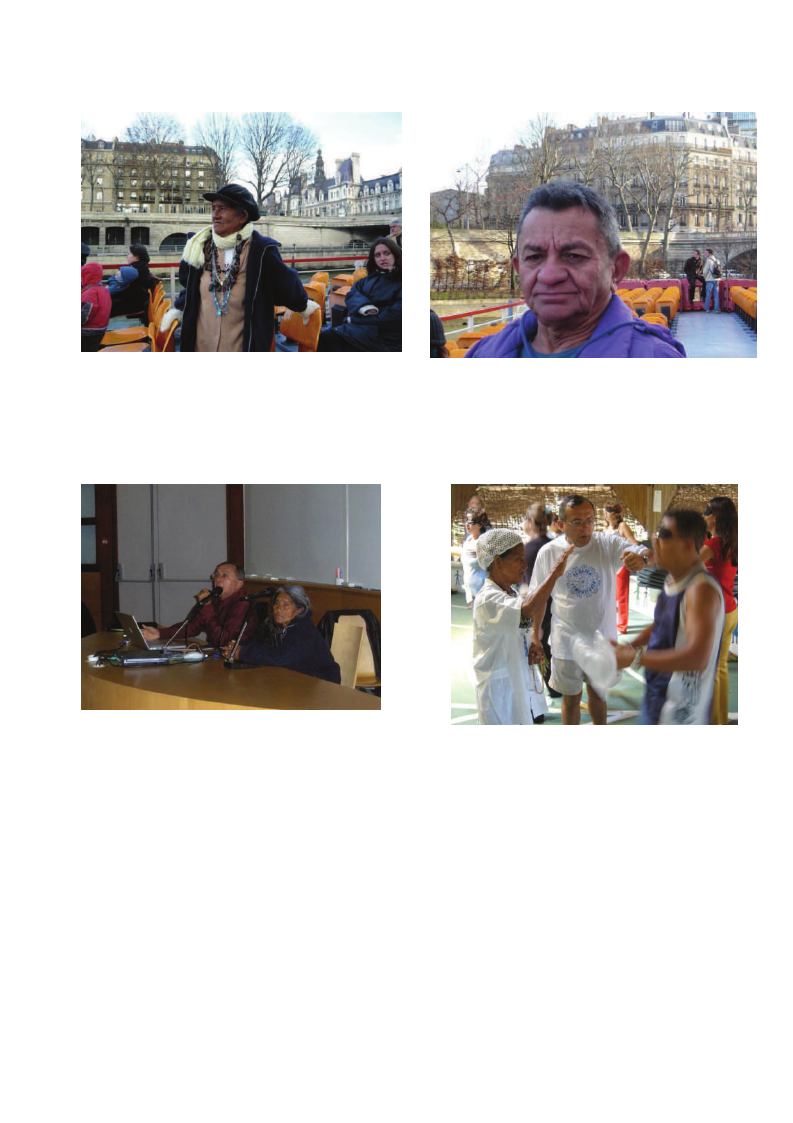
Figura 58: D. Zilma na França
Figura 57: Seu Zequinha na França
Figura 60: Adalberto ministra palestra na França
juntamente com D. ZIlma
Figura 59: Adalberto e D. Zilma na terapia da
auto-estima
231

Figura 61: Airton Barreto e visitantes
Figura 62: Adalberto e visitantes durante a terapia
Figura 63: Dr. Diendonné - Representante do
Ministério da Saúde de Bourkina Fasso – África;
Dra. Henriqueta Camarotti, coordenadora do
MISMEC-DF e membro da ABRATECOM e
Francinete “etnógrafa” à direita.
Figura 64: Coleta de dados no Projeto
232
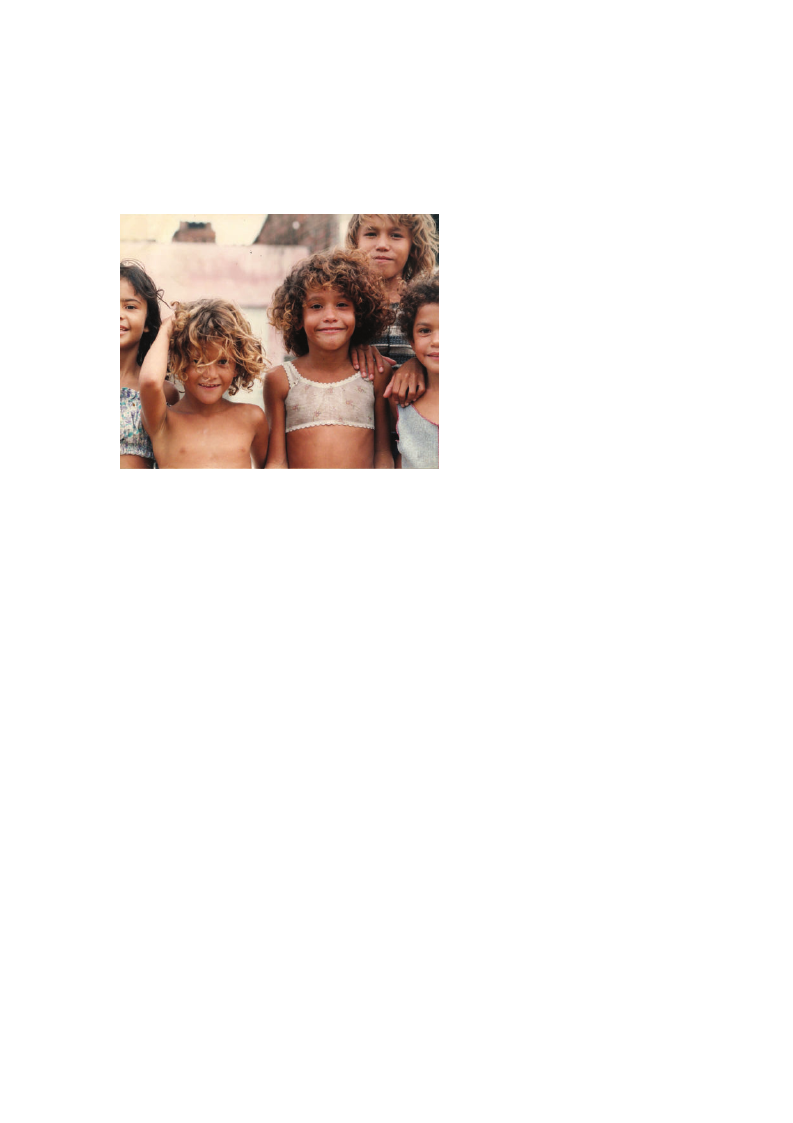
Figura 65: Meninos do Pirambu - 1998
233

Figura 68: Praia do Pirambu - década de 1980
Figura 67: Meninos do Pirambu 2 - 1998
Figura 69: Sessão de Terapia ao ar livre - 1987
Figura 66: Antigo Pirambu - 1953
234
Figura 70: Antigo Salão da Terapia - 1989

235
