
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS:
QUÍMICA DA VIDA E DA SAÚDE
GUILHERME FRANCO MIRANDA
TRAJETÓRIAS NARRATIVAS EM UM ASSENTAMENTO DO MST:
OS (DES)COMPASSOS NA CONCEPÇÃO DE NATUREZA
PORTO ALEGRE
2019

GUILHERME FRANCO MIRANDA
TRAJETÓRIAS NARRATIVAS EM UM ASSENTAMENTO DO MST:
OS (DES)COMPASSOS NA CONCEPÇÃO DE NATUREZA
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e da
Saúde, no Instituto de Bioquímica da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, como parte dos requisitos para obtenção do
título de Mestre em Educação em Ciências.
Orientador: Drº José Vicente Lima Robaina
Linha de Pesquisa: Educação Científica – Processos de Ensino
e Aprendizagem na Escola, na Universidade e no Laboratório De
Pesquisa
PORTO ALEGRE
2019
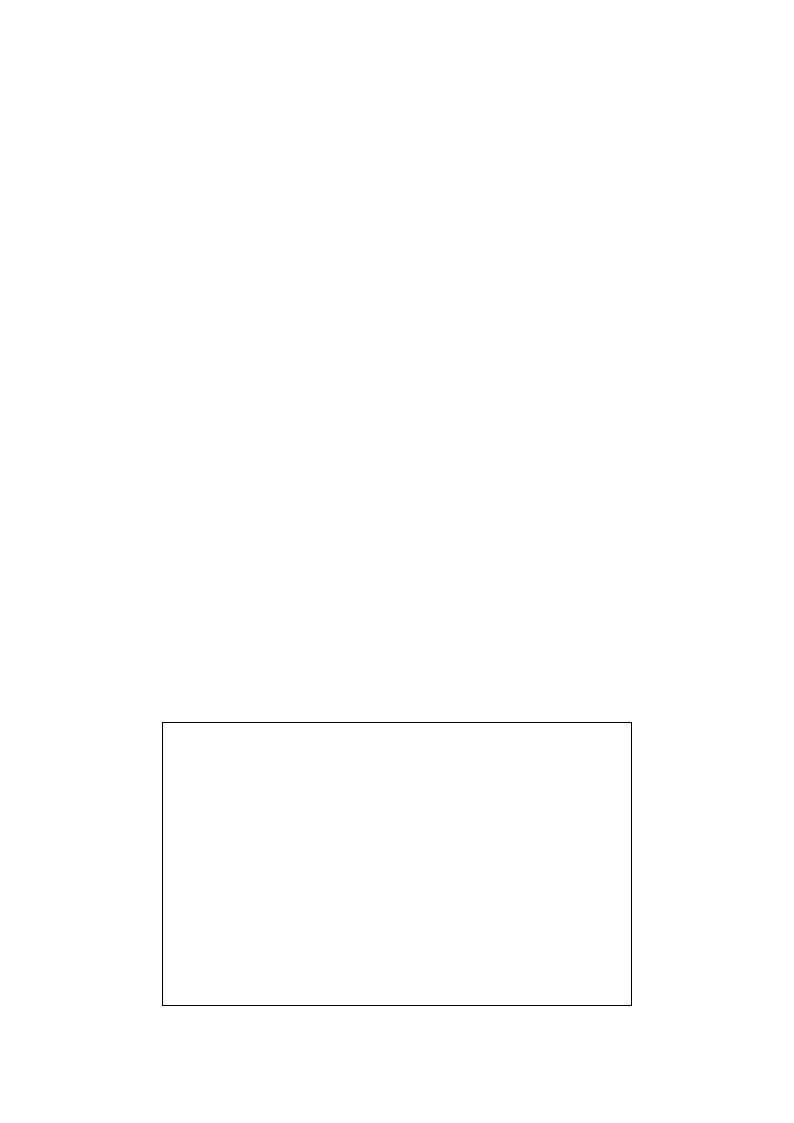
CIP - Catalogação na Publicação
Miranda, Guilherme Franco
Trajetórias Narrativas em um Assentamento do MST:
Os (des)compassos na concepção de natureza / Guilherme
Franco Miranda. -- 2019.
134 f.
Orientador: José Vicente Lima Robaina.
Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da
Saúde, Programa de Pós-Graduação em Educação em
Ciências: Química da Vida e Saúde, Porto Alegre,
BR-RS, 2019.
1. MST. 2. Natural. 3. Natureza. 4. Trabalho. 5.
Educação do Campo. I. Robaina, José Vicente Lima,
orient. II. Título.
Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

GUILHERME FRANCO MIRANDA
TRAJETÓRIAS NARRATIVAS EM UM ASSENTAMENTO DO MST:
OS (DES)COMPASSOS NA CONCEPÇÃO DE NATUREZA
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e da
Saúde, no Instituto de Bioquímica da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, como parte dos requisitos para obtenção do
título de Mestre em Educação em Ciências.
Aprovado em: ___/___/____
BANCA EXAMINADORA
___________________________________________________________
Drª Tatiana Souza de Camargo (relatora) – UFRGS
__________________________________________________________
Drº Jaime José Zitkoski – UFRGS
__________________________________________________________
Drª Josiane Carolina Soares Ramos Procasko – IFRS
PORTO ALEGRE
2019

Dedico este trabalho a todos e todas vítimas do crime no
rompimento da barragem da mineradora Vale na cidade de
Brumadinho/MG.
Que este trabalho sirva para entender a nossa relação com a
natureza e que possamos ressignificá-las.
Vidas importam!

“A história da sociedade até aos nossos dias
é a história da luta de classes.”
(Karl Marx)
“Do rio que tudo arrasta, diz-se que é violento.
Mas ninguém chama violentas
às margens que o comprimem.”
(Bertolt Brecht)

Esta cova em que estás,
com palmos medida,
É a conta menor que tiraste em vida,
É de bom tamanho,
nem largo nem fundo,
é a parte que te cabe
deste latifúndio.
Não é cova grande,
é cova medida,
é a terra que querias ver dividida.
É uma cova grande para teu pouco defunto,
Mas estarás mais ancho
que estavas no mundo
É uma cova grande
para teu defunto parco,
Porém mais que no mundo
te sentirás largo.
É uma cova grande
para tua carne pouca,
Mas à terra dada
não se abre a boca.
(Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto)

AGRADECIMENTOS
É chegado o momento de dedicar algumas poucas palavras em agradecimento àquelas tantas,
porém singulares, pessoas que estão por detrás de todas as palavras, frases, parágrafos,
capítulos, deste trabalho.
Primeiramente, à minha família. Meus pais Luiz Miranda e Elaine Beatriz Miranda; aos meus
irmãos Gabriela Miranda e Pedro Henrique Miranda; meus avós Ondina Franco e Valdir
Franco; minha prima Débora Franco e meu lindo afilhado Vitor Roxo. Obrigado pela paciência
e pela convivência. Sou muito mais feliz quando estou com vocês.
Agradecer a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela
concessão da bolsa de Mestrado. Foi de extrema importância esse financiamento na minha
trajetória acadêmica e divulgação da ciência brasileira em eventos e periódicos.
Ao Professor Doutor e meu orientador José Vicente Lima Robaina pela excelente orientação
deste trabalho. Acolheu-me desde o início da minha trajetória no Mestrado, sempre me deu
autonomia, sempre esteve disposto a dialogar. Muito obrigado por dedicar o seu tempo e
compartilhar o teu conhecimento comigo. Entrei no PPG Educação em Ciências de uma
maneira e saio de outra, acreditando no meu potencial, pois tu acreditaste nele. Minha
admiração é enorme pela pessoa e profissional que és. Muito orgulho de ter sido orientado pelo
Robaina.
Meus melhores amigos de 17 anos de jornada, Carolina Eggers e Gabriel Leal. Essa conquista,
sem dúvida, eu não conseguiria sem vocês. É maravilhoso partilhar momentos com vocês. O
legado da UERGS deixou, Maíra Peixoto, mesmo com a distância, não nos distanciamos. Ao
Guilherme Barth Schmitz que quando sobra um tempo, comemos sushi. E gostaria de fazer um
agradecimento especial ao Julian Silveira Diogo de Ávila Fontoura que além de melhor amigo
em diversos momentos, sempre contribui(u) para os meus estudos, se não foste tu, não estaria
ingressando no Doutorado. Julian, nós somos resistência no strictu sensu! O meu muito
obrigado de coração a todos e a todas.
Ao Assentamento Capela, a COOPAN e a todos os sujeitos participantes da pesquisa pela
colaboração e atenção durante o desenvolvimento do trabalho, sem isso não seria possível a
realização deste estudo.
Aos meus alunos e ex-alunos Dandara dos Palmares. Eu amo estar em sala de aula por causa de
vocês.

Ao meu terapeuta André Antônio Beltrami que me auxiliou nessa longa jornada. Sem a tua
célebre frase “te convido pra refletir”, nada disso estaria acontecendo.
Em especial gostaria de agradecer ao Hagler Baron da Silva (in memoriam). Ainda é difícil de
acreditar que tu não estás mais entre nós. Tu estarás sempre nas minhas lembranças como uma
pessoa que sempre acreditou nos seus sonhos. Esta etapa foi um sonho realizado, então esta
Dissertação é em tua homenagem.
Ainda temos muito direitos a conquistas e ressignificação da/com a natureza. Que este trabalho
contribua para ampliar as discussões.
#LULALIVRE
#ELENAO
#QUANTOVALEAVIDA

LISTA DE SIGLAS
LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
MST – Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra
CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
ULTAB – União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil
PCB – Partido Comunista Brasileiro
ETR – Estatuto do Trabalhador Rural
PTB – Partido Trabalhista Brasileiro
MTR – Movimento Trabalhista Renovador
PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
SUPRA – Superintendência de Política Agrária
CONSIR – Comissão Nacional de Sindicalização Rural
CONCRAB – Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil
GRET – Grupo de Trabalhos sobre o Estatuto da Terra
IPES – Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais
AI – Ato Institucional
PSB – Partido Socialista Brasileiro
PDC – Partido Democrata Cristão
UDN – União Democrática Nacional
PSD – Partido Social Democrático
CIRA – Cooperativa Integral de Reforma Agrária
IBRA – Instituto Brasileiro de Reforma Agrária
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INDA – Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário
CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito
ARENA – Aliança Renovadora Nacional
MDB – Movimento Democrático Brasileiro
PIB – Produto Interno Bruto
PIN – Plano Nacional de Intervenção

PROTERRA – Programa de Redistribuição de Terras
PROVALE – Programa Especial para o Vale do São Francisco
POLAMAZÔNIA – Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais na Amazônia
POLONORDESTE – Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste
PNRA – Plano Nacional de Reforma Agrária
PEC – Proposta de Emenda Constitucional
PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PRN – Partido da Reconstrução Nacional
PT – Partidos dos Trabalhadores
EMBRATER – Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil
ABI – Associação Brasileira de Imprensa
CUT – Central Única dos Trabalhadores
UNE – União Nacional dos Estudantes
UBES – União Brasileira dos Estudantes Secundaristas
PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira
BIRD – Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento
FHC – Fernando Henrique Cardoso
PCT – Programa Cédula da Terra
UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância
UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
BM – Banco Mundial
MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário
SIPRA – Sistema de Informações e Projetos de Reforma Agrária
PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar
BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento

CNIR – Cadastro Nacional de Imóveis Rurais
CPT – Comissão Pastoral da Terra
PROCERA – Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária
EJA – Educação de Jovens e Adultos
PRONACAMPO – Programa Nacional de Educação do Campo
RS – Rio Grande do Sul
PA – Projeto de Assentamento Federal
PAE – Projeto de Assentamento Agroextrativista
PDS – Projeto de Desenvolvimento Sustentável
PFA – Projeto de Assentamento Florestal
PCA – Projeto de Assentamento Casulo
PDAS – Projeto Descentralizado de Assentamento Sustentável
PE – Projeto de Assentamento Estadual
PAM – Projeto de Assentamento Municipal
RESEX – Reservas Extrativistas
TRQ – Território Remanescentes Quilombola
PFP – Reconhecimento de Assentamento de Fundo de Pasto
PRB – Reassentamento de Barragem
FLONA – Floresta Nacional
RDS – Reserva de Desenvolvimento Sustentável
ABHO – Associação Brasileira de História Oral

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1 – Comparação de Políticas de Obtenção nas Gestões de Lula
Figura 2 – Estrutura organizacional do MST
Figura 3 – Educandos/matrículas de cursos do PRONERA por município de origem do
educando e nível (1998 – 2011)
Figura 4: Esquema simplificado da trajetória metodológica
Figura 5: Diferenciação dos termos natureza e ambiente

RESUMO
A presente dissertação de mestrado tem o objetivo de compreender as diferentes percepções
dos sujeitos sobre a ideia de natureza, a partir da perspectiva do Movimento dos Sem Terra, em
um assentamento do RS. Ao longo do processo histórico, o meio rural está associado a
concepção de natural, ou seja, é tido como espaço no qual o homem está em contato direto com
a natureza. No contexto brasileiro, esse processo esteve intimamente ligado à proposta
pedagógica promovida pelo Estado junto às comunidades rurais. Os movimentos sociais – em
particular, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – vêm articulando
desempenhando um papel fundamental na articulação entre o Estado e a sociedade civil, através
da luta por direitos. Além disso, os conceitos de natural/natureza e homem/sociedade caminham
concomitante, à medida que ocorrem diversas mudanças históricas no transcorrer da
humanidade. Esses conceitos foram criados pela evolução do homem, enquanto sociedade,
alterando o espaço vivenciado, o natural e natureza através do trabalho. Como metodologia
desta pesquisa, a história oral fez uma articulação entre o particular e o geral, entre aquilo que
se constitui como específico de uma narrativa e o momento histórico em que ela acontece. As
falas são produzidas por sujeitos em um contexto socio-histórico, que fazem uso da memória e
da palavra, e isso implica o trabalho com o que é dito e com o não-dito, com o que é silenciado.
Além disso, o método dialético entendo que as relações sociais são inteiramente interligadas às
forças produtivas. Adquirindo novas forças produtivas, os homens modificam o seu modo de
produção, a maneira de ganhar a vida, modificam todas as relações sociais. O grupo participante
foi a juventude estudante e trabalhadora do MST que residem num assentamento localidade no
estado do Rio Grande do Sul. Todos os participantes da pesquisa trabalham em um cooperativa
do Movimento localizada no próprio assentamento. Os diálogos foram articulados com
atividade denominada “jogo de palavras” e entrevistas para conhecer a trajetória desde a
formação do assentamento a cadeia produtiva da cooperativa, no qual os entrevistados, no
âmbito coletivo, indagaram suas concepções sobre os termos natural, natureza, trabalho e
movimento social. Os apontamentos demonstram que o conceito de natureza (ainda) está
atrelado tanto na questão de um espaço estático e uma dissociação na relação ser humano e
natureza. Como também, surgem novos conceitos, por exemplo, os termos ambiente e recursos
naturais, que são propícias as formas e relações trabalho para materialidade. Isto significa que
a relação MST e natureza nos permite compreender as relações sociais e suas relações com o
ambiente de subsistência, em conformidade com a sua produtividade material, pois os seres
humanos produzem ideias, ou seja, categorias, expressões abstratas destas mesmas relações
sociais.
Palavras-chaves: MST, Natureza, Natural, Trabalho, Movimentos Sociais.

ABSTRACT
This dissertation aims to understand the different perceptions of the subjects on the idea of
nature, from the perspective of the Landless Movement, in a settlement of RS. Throughout the
historical process, the rural environment is associated with the concept of natural, that is, it is
considered as a space in which man is in direct contact with nature. In the Brazilian context,
this process was closely linked to the pedagogical proposal promoted by the State in rural
communities. Social movements - in particular the Landless Rural Workers Movement - have
articulated playing a fundamental role in the articulation between the State and civil society,
through the struggle for rights. In addition, the concepts of natural/nature and man/society go
hand in hand, as there are several historical changes in the course of humanity. These concepts
were created by the evolution of man as a society, changing the lived space, the natural and
nature through work. As a methodology of this research, oral history has articulated between
the particular and the general, between what is constituted as specific of a narrative and the
historical moment in which it happens. Speeches are produced by subjects in a socio-historical
context, who make use of memory and word, and this implies working with what is said and
with the unspoken, with what is silenced. Moreover, the dialectical method understands that
social relations are entirely interconnected with the productive forces. Acquiring new
productive forces, men modify their mode of production, the way of earning a living, modify
all social relations. The participating group was the student and working youth of the MST who
reside in a settlement in the state of Rio Grande do Sul. All the participants of the research work
in a cooperative of the Movement located in the same settlement. The dialogues were articulated
with an activity called "game of words" and interviews to know the trajectory from the
formation of the settlement to the production chain of the cooperative, in which the
interviewees, in the collective scope, investigated their conceptions about the terms natural,
social movement. The notes show that the concept of nature (still) is tied both in the question
of a static space and a dissociation in the relationship between human being and nature. As well,
new concepts emerge, for example, the terms environment and natural resources, which are
conducive to forms and relationships work for materiality. This means that the relation between
MST and nature allows us to understand social relations and their relations with the subsistence
environment, in accordance with their material productivity, since human beings produce ideas,
that is, categories, abstract expressions of these same social relations.
Keywords: MST, Nature, Natural, Work, Social Movements.

SUMÁRIO
NOTAS INTRODUTÓRIAS........................................................................................................................................................................................................16
OBJETIVOS .................................................................................................................................................................................................................................23
Objetivos Específicos .............................................................................................................................................................................................. 23
CAPÍTULO I – A Questão Agrária no Brasil: Um Olhar Historiográfico ...............................................................................................................................24
Década 30 e o Getulismo ........................................................................................................................................................................................ 26
João Goulart, Movimento Sindical e a Reforma Agrária .................................................................................................................................... 28
A Terra e o Capital na Ditadura Civil-Militar .....................................................................................................................................................32
Redemocratização a partir da Década de 1990: O Avanço do Neoliberalismo...................................................................................................37
CAPÍTULO II – “A luta pela terra não tem volta”: O surgimento do MST ............................................................................................................................47
Para se resistir, se deve produzir: A gênese do campesinato ............................................................................................................................... 47
Terra para quem nela Vive e Trabalha ................................................................................................................................................................. 51
ARTIGO I – A Relação Educação e Trabalho no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra: O Trabalho como Princípio Educativo ..................58
Introdução............................................................................................................................................................................................................... 58
Trabalho e Educação: de Marx a Pistrak ............................................................................................................................................................. 60
MST e a suas Relações de Trabalho ...................................................................................................................................................................... 62
Metodologia ............................................................................................................................................................................................................ 64
MST e Educação ..................................................................................................................................................................................................... 65
Conclusões............................................................................................................................................................................................................... 67
Referências .............................................................................................................................................................................................................. 67
ARTIGO II – O Conceito de Natureza na Educação do Campo ...............................................................................................................................................69
Introdução............................................................................................................................................................................................................... 69
Construção do Conceito de Natureza ....................................................................................................................................................................70
Educação do Campo: Um Novo Olhar sobre o Campo ........................................................................................................................................ 74
Os Entrelaces entre Natureza e Educação do Campo .......................................................................................................................................... 77
Considerações Finais .............................................................................................................................................................................................. 79
Referências .............................................................................................................................................................................................................. 80
ARTIGO III – A Pedagogia do Movimento Sem Terra (MST) na Consolidação das Políticas de Educação do Campo e Educação Ambiental .................82
Introdução............................................................................................................................................................................................................... 82
Educação do Campo: Um Olhar na Legislação .................................................................................................................................................... 84
Educação Ambiental e os seus Marcos Históricos ................................................................................................................................................ 85
A Política Pública no Contexto da Prática: seu Papel Social ............................................................................................................................... 87
Educação do Campo e o MST................................................................................................................................................................................88
Educação Ambiental no Contexto da Educação para o Campo: Um Saber Necessário.....................................................................................90
Conclusões............................................................................................................................................................................................................... 91
Referências .............................................................................................................................................................................................................. 91
CAPÍTULO IV – Trajetória Metodológica .................................................................................................................................................................................94
A Pesquisa Qualitativa: Alguns apontamentos ..................................................................................................................................................... 94
Trajetórias Narrativas são Memórias: Metodologia de História Oral ................................................................................................................ 96
Nada escapa ao movimento: O Materialismo Histórico Dialético ....................................................................................................................... 99
O Reflexo do Movimento Real ............................................................................................................................................................................. 102
O Método Dialético e a Análise do Real .............................................................................................................................................................. 105
Assentamento Capela e o Contexto da Pesquisa ................................................................................................................................................. 107
CAPÍTULO III – O DIÁLOGO QUE BROTOU DA JUVENTUDE SEM-TERRA..............................................................................................................111
Damos o Nome de Ambiente ou Natureza?.........................................................................................................................................................111
Trabalho, Ambiente e Natureza: Dos conceitos à Praxis ................................................................................................................................... 114
Já as Relações de Trabalho... ............................................................................................................................................................................... 118
PODEMOS CHAMAR DE CONSIDERAÇÕES FINAIS? .....................................................................................................................................................120
APÊNDICE .................................................................................................................................................................................................................................131

NOTAS INTRODUTÓRIAS
Ao longo do processo histórico, o meio rural está associado a concepção de natural, ou
seja, é tido como espaço no qual o homem está em contato direto com a natureza. No contexto
brasileiro, esse processo esteve intimamente ligado à proposta pedagógica promovida pelo
Estado1 junto às comunidades rurais2. Conforme, Leite (1999), excetuando os movimentos de
educação de base e de educação popular, o processo educativo no rural sempre esteve atrelado
à vontade dos grupos hegemônicos do poder, não conseguindo deslocar seus objetivos e a
própria ação pedagógica para esferas de caráter sociocultural especificamente campesinas3.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei 9394/96) dispõe em
seu artigo 1º que “a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais4 e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.”
(BRASIL, 1996). É importante destacar que a educação brasileira não se resume à educação
escolar, realizada propriamente na escola. Além disso, há um caráter educativo nas práticas que
se desenrolam no ato de participar, tanto para os membros da sociedade civil, não somente para
a sociedade mais geral, mas também para os órgãos públicos envolvidos – quando há
negociações, diálogos ou confrontos.
Particularmente, os movimentos sociais são fontes de inovação5 e espaços de
geração/formação de saberes. Não obstante, não se trata de um processo isolado, mas de caráter
político-social6. Os movimentos sociais estabelecem uma prática cotidiana e indagações sobre
1 É tratado o conceito de Estado como “forma através da qual os indivíduos da classe dominante fazem valer seus
interesses comuns” (MARCARO, 2013);
2 Educação rural é pedagogicamente contrária a Educação do Campo;
3 “Campesinato aparece como forma de se relacionar com a natureza ao se considerar como parte dela num
processo de coevolução que configurou um modo de uso dos recursos naturais ou uma forma de manejo dos
mesmos de natureza socioambiental” (NOGAARD, 1994; TOLEDO, 1990; GUZMAN & MOLINA, 2013);
4 Movimento social diz respeito à análise dos “fenômenos de ação coletiva” (MELUCCI, 2001, p.33), tendo em
vista o entendimento da dinâmica interna do movimento e a intrínseca heterogeneidade de posições que delineará
sua constituição;
5 Inovação “é uma questão de conhecimentos – criar novas possibilidades por meio da combinação de diferentes
conjuntos de conhecimentos” (TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008, p. 35).
6 Política social é uma política, própria das formações econômico-sociais capitalistas contemporâneas, de ação e
controle sobre as necessidades sociais básicas das pessoas não satisfeitas pelo modo capitalista de produção. É
uma política de mediação entre as necessidades de valorização e acumulação do capital e as necessidades de
manutenção da força de trabalho disponível para o mesmo. Nesta perspectiva, a política social é uma gestão estatal
da força de trabalho e do preço da força de trabalho. Ressaltando que, por força de trabalho todos são os indivíduos
16

a conjuntura política, econômica e sociocultural do país, quando as articulações transcorrem.
Esses vínculos são essenciais para entender os fatores que elaboram as aprendizagens e os
valores da cultura política que vão sendo construídos no processo interativo. A intersecção
movimento social e educação advém a partir das ações práticas de movimentos e grupos sociais.
Ocorre de duas formas: na interação dos movimentos em contato com instituições educacionais,
e no interior do próprio movimento social, dado o caráter educativo de suas ações (GOHN,
2011).
Os movimentos sociais vêm articulando desempenhando um papel fundamental na
articulação entre o Estado e a sociedade civil, através da luta por direitos. Por parte de vários
movimentos, há uma contínua reivindicação de uma educação voltada para direitos de cidadania
– prevista na LDBEN – e a criação de mecanismos efetivos de promoção e garantia destes
direitos conforme o ideário das lutas engendradas pelos novos movimentos sociais (RAMÍREZ,
2003, p. 57), compreendidas desde a inclusão social e da formação de sujeitos de direitos. A
concepção de sujeito de direito, pauta-se:
[...] o sujeito de direito deixa de ser visto em sua abstração e generalidade e passa a
ser concebido em sua concretude, em suas especificidades e peculiaridades. Daí falar-
se na tutela jurídica dos direitos das mulheres, crianças, grupos raciais minoritários,
refugiados, etc. Isto é, aponta-se não mais ao indivíduo genérica e abstratamente
considerado, mas ao indivíduo ‘especificado’, com base em categorizações relativas
ao gênero, idade, etnia, raça, etc. É nesse cenário que, após a Declaração Universal de
1948, são elaboradas a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial, a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a
Mulher, a Convenção sobre os Direitos da Criança, dentre outros importantes
instrumentos internacionais (PIOVESAN, 2009, p. 327-328).
Estas ações instauram o reconhecimento por parte do Estado brasileiro das
reivindicações arguidas pelos movimentos sociais por cidadania, transformando diversas
iniciativas pontuais em políticas de Estado. Para tanto, em todos estes documentos são
recomendadas algumas linhas gerais de ação com vistas a alterar as práticas educativas, a
produção de conhecimento, a cultura e a legislação, como instrumentos necessários ao exercício
de todos os direitos e liberdades fundamentais dos grupos sociais historicamente discriminados
e excluídos das políticas públicas. Nesse sentido,
É por essas razões que a importância da lei não é identificada e reconhecida como um
instrumento linear ou mecânico de realização de direitos sociais. Ela acompanha o
desenvolvimento contextuado da cidadania em todos os países. A sua importância
nasce do caráter contraditório que a acompanha: nela sempre reside uma dimensão de
que só têm a sua força de trabalho para vender e garantir sua subsistência, independentemente de estarem inseridos
no mercado formal de trabalho (MACHADO e KYOSEN, 2000).
17
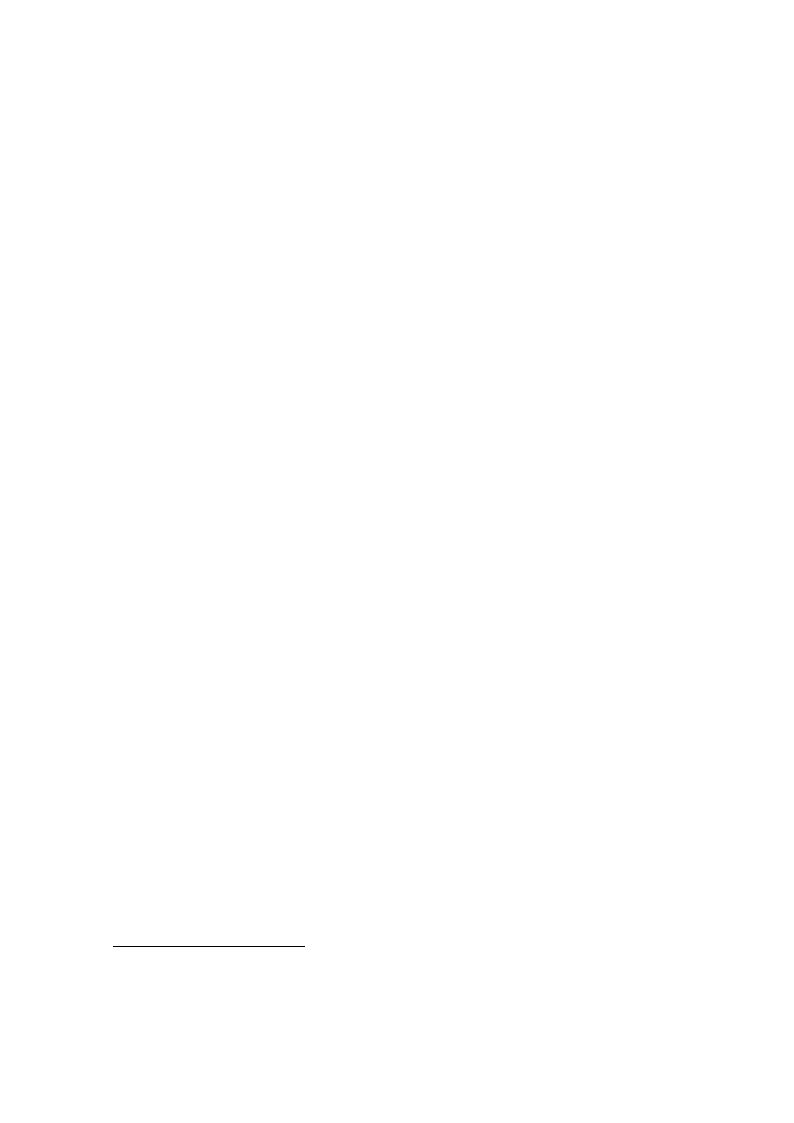
luta. Luta por inscrições mais democráticas, por efetivações mais realistas, contra
descaracterizações mutiladoras, por sonhos de justiça (CURY, 2002).
Atualmente, ampliou-se a importância reconhecida da lei entre os educadores, porque,
como cidadãos, eles perceberam que, apesar de tudo, a educação é um instrumento viável de
luta porque com ela podem-se criar meios mais propícios não somente para a democratização
da educação, mas também para a socialização de gerações mais iguais e menos injustas. Nesse
contexto, a educação do campo7 no Brasil é um dos desafios do século XXI, devido à uma
educação excludente das comunidades do campo, sejam eles seringueiros, trabalhadores nos
faxinais, ilhéus, índios, pescadores ou quilombolas. Contrapondo-se à visão de camponês e de
rural como sinônimo de arcaico e atrasado, a concepção de educação do campo enaltece os
conhecimentos da prática social dos camponeses e enfatiza o campo como lugar de trabalho,
moradia, lazer, sociabilidade, identidade, enfim, como lugar da construção de novas
possibilidades de reprodução social (SOUZA, 2008).
O movimento que se destaca pela busca da educação no campo é o Movimento dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST), ele ultrapassa o conceito de apenas
um movimento social. Ele busca a formação de “novos seres humanos” que faz parte do
movimento, uma busca coletiva na formação de seu individuo, onde propõem “a reflexão e
elaboração teórica de princípios político-pedagógicos articulados às práticas educativas
desenvolvidas no interior das lutas sociais levadas a efeito pelos povos do campo” (SAVIANI,
2008, p.172).
Percebe-se que as preocupações do Movimento estão muito ligadas à necessidade de
preparar seus integrantes para a vida na sociedade capitalista, buscando igualdade nas
oportunidades como grande característica a proposta de uma educação que não se limite à
adequação à sociedade capitalista, mas sim que propunha um modelo alternativo de sociedade
e de relações humanas. Destaca-se neste contexto a tendência progressista-libertadora8, que visa
uma educação de autonomia e liberdade. Nesse sentido, o Movimento dos Sem Terra concorda
com autores importantes do cenário nacional e internacional, como Paulo Freire e István
Mészáros, estabelecendo como prioridade uma educação para além da sociedade capitalista em
que vivemos, buscando fugir da lógica de mercado que já faz parte de nossa educação.
7 Arroyo, Caldart e Molina (2011); Caldart (2012); Ribeiro (2013);
8 Para Libâneo (1990), as tendências denominadas progressistas configuram-se em uma ferramenta de luta dos
educadores ao lado de outras práticas sociais, com o objetivo de alcançar a transformação da ordem social e
econômica até então em vigência no mundo;
18
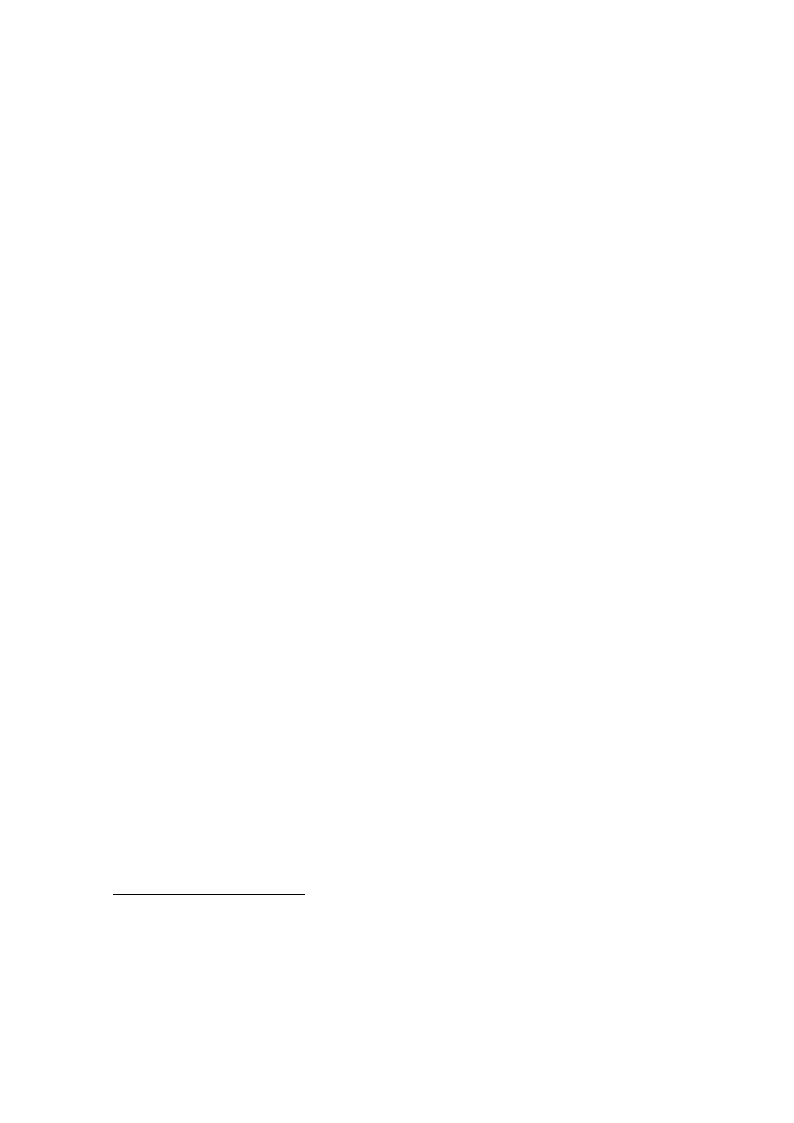
A problematização da realidade do campo faz emergir uma temática que conterá
situações cotidianas e suas contradições, cujo estudo demandará a compreensão de ciência e
natureza. Nas civilizações pastoris ou agrícolas, denominadas de primitivas, o ser humano
integrava-se a natureza interferindo neste de forma restrita e harmoniosa (MIRANDA e
ROBAINA, 2017). Nesta perspectiva, a educação tornou-se um elemento fundamental de
formação de uma nova sociedade – que em suas distintas dimensões –, reflita sobre os aspectos
do ambiente. A complexidade da natureza, seja ela o seu conceito, seja ela enquanto fenômeno,
passam a ser vistos como partes de todo, ou seja, a Natureza que interage com os demais
componentes e seus aspectos.
Os conceitos de natural/natureza e homem/sociedade caminham concomitante, à medida
que ocorrem diversas mudanças históricas no transcorrer da humanidade. Esses conceitos foram
criados pela evolução do homem, enquanto sociedade, alterando o espaço vivenciado, o natural
e natureza através do trabalho9. Segundo Santos (1996, p.87)
o trabalho é a aplicação, sobre a natureza, da energia do homem, diretamente ou como
prolongamento do seu corpo através de dispositivos mecânicos, no propósito de
reproduzir a sua vida e a do grupo [...] pois, o homem é o único que reflete sobre a
realização de seu trabalho. Antes de se lançar ao processo produtivo, ele pensa,
raciocina e, de alguma maneira, prevê o resultado que terá do seu esforço.
Esse trabalho transformou e transforma natureza em distintas paisagens, no longo
processo histórico. Moldado pelas diferentes culturas, nas diferentes épocas, se relacionam com
o natural, ou seja, a exploração dos recursos naturais, “natureza vai registrando, incorporando
a ação do homem, dele adquirindo diferentes feições do respectivo momento histórico”
(SANTOS, 1996, p.87). A relação que se estabelece com a natureza engrenou-se desde a
revolução científica10, no século XVI, baseado no modelo de racionalidade, ostentando a
separação entre a natureza e o ser humano, como aponta Santos (2001), através de Bacon:
“ciência fará da pessoa humana o senhor e o possuidor da natureza”.
Embora as distâncias e diferenças nas abordagens sobre o conceito de natureza –
advindas de distintas áreas do conhecimento – na atualidade, a utilização da natureza como
mediação teórica ajuda não só na localização da problemática, como na sua identificação como
9 Trabalho como autogênese humana, mediante relação recíproca com a natureza, que faz do homem não apenas
um ser natural, objetivo, mas um ser natural humano, um ser para si próprio, um ser universal, genérico (MARX,
2004). Desse modo, “quando se fala do trabalho, está-se tratando, imediatamente, do próprio homem.” (MARX,
2004, p. 89);
10 Revolução Científica é o período que começou no século XVI e prolongou-se até o século XVIII. A partir desse
período, a Ciência, que até então estava atrelada à Teologia, separa-se dessa e passa a ser um conhecimento mais
estruturado e prático.
19

nicho de disputa, enfatizando assim suas íntimas relações de determinação com o âmbito do
social. A moderna investigação da Natureza é a única que conseguiu um desenvolvimento
científico, sistemático e múltiplo, em contraste com as intuições filosófico-naturalistas dos
antigos e com as descobertas, muito importantes, mas esporádicas e em sua maior parte carentes
de resultados, realizadas pelos árabes (ENGELS, 2000).
Em suma, o termo natureza continua tendo um forte apelo cultural e político, enquanto
o termo ambiente pertence mais ao léxico de especialistas que conformam hoje o amplo
espectro institucional que toma conta das questões ecológicas. Desta forma, é um elemento
fundamental na construção social do lugar e dos referenciais culturais. Em certos contextos e
conjunturas, a natureza mostra-se como conceito promissor, na medida em que permite
interpretar as articulações, cada vez mais próximas, entre as ordens de materialidade
consideradas pelas ciências naturais e sociais. No caso dos recursos genéticos, permite a
identificação de nichos de abordagem importantes, por suas implicações políticas e
geopolíticas, que o termo ambiente não salienta.
A trajetória, por seu turno, pode ser compreendida como um modo de ver as dimensões
biográficas em recorte (BENEVIDES e PINHEIRO, 2018). Sendo assim, esta pesquisa lança
sob um olhar sobre a oralidade como desenvolvimento de estratégias metodológicas, partindo
da ideia de que
A história oral recupera aspectos individuais de cada sujeito, mas ao mesmo tempo
ativa uma memória coletiva, pois, à medida que cada indivíduo conta a sua história,
esta se mostra envolta em um contexto socio histórico que deve ser considerado.
Portanto, apesar de a escolha do método se justificar pelo enfoque no sujeito, a análise
dos relatos leva em consideração, como já foi abordado anteriormente, as questões
sociais neles presentes (OLIVEIRA, 2005, pag.94).
Há, portanto, uma articulação entre o particular e o geral, entre aquilo que se constitui
como específico de uma narrativa e o momento histórico em que ela acontece. As falas são
produzidas por sujeitos em um contexto socio-histórico, que fazem uso da memória e da
palavra, e isso implica o trabalho com o que é dito e com o não dito, com o que é silenciado.
Simone Weil (1996) apontou que a necessidade humana mais importante e desconhecida é o
enraizamento, que ocorre por meio da participação real, ativa e natural da existência em
coletividade, conservando viva a memória do passado e as expectativas em relação ao futuro.
Os fenômenos sociais do presente influenciam os fenômenos mnêmicos11 porque, ao mesmo
tempo em que as percepções atuais buscam referências nas lembranças antigas, estas se adaptam
ao conjunto das percepções do presente e, assim, ajudam a recompor os quadros de memórias.
11 Relativo à memória.
20

A História Oral pode assumir diferentes formas, tendo como objetivo registrar
experiências de uma pessoa, ou de diversas pessoas pertencentes a um grupo social, a uma
mesma coletividade. Nessa coletividade, o MST busca garantir um processo de formação
continuada que desmitifique os sistemas culturais, transforme a natureza “ingênua e
imediatista” e fortaleça a consciência política a partir da combinação de práticas, outros
referenciais e padrões de vida que permitam a reprodução do camponês como sujeito social
(Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil – CONCRAB, 1997).
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ao defender princípios
organizativos que resgatam, valorizam e ressignificam as heranças culturais trazidas pelos
trabalhadores rurais em seus quadros de memória, procura criar condições para que eles
vivenciem o sentimento de unidade, continuidade e coerência. Assim, o Movimento entende
que o sujeito, por estar inserido em um movimento social que luta politicamente pela terra, pode
passar da condição individual de estar sem-terra para a de ser Sem-Terra. Isto significa
parametrizar a forte relação que as comunidades do campo estabelecem com a natureza e, por
isto, elas assumem características vinculadas ao mito, à superstição, à tradição, à contemplação
e ao raciocínio associativo de conotação “ingênua e imediatista” que se expressa na forma como
o trabalhador rural lida.
Refletir e discutir os paradigmas de interpretação da realidade e suas contribuições para
o processo educacional e sua relação com o trabalho — tarefa filosófica para educadores em
formação nos cursos de pós-graduação — exige a localização da relação sujeito-objeto como a
questão central. A história da filosofia tem demonstrado ser esta preocupação como um dos
principais problemas da filosofia (GRAMSCI, 1991; OIZEMANN, 1973). Compreender a
relação sujeito-objeto é compreender como o ser humano se relaciona com as coisas, com a
natureza, com a vida. Este problema, central em todas as ciências, pode ser compreendido a
partir de diferentes abordagens. A dialética pode ser uma delas, assim como, mais
especificamente, o materialismo histórico-dialético, ou a dialética marxista. Dialética que
aparece no pensamento de Marx surge como uma tentativa de superação da dicotomia, da
separação entre o sujeito e o objeto.
No entanto, a dialética surgiu, na história do pensamento humano, muito antes de Marx.
Em suas primeiras versões, a dialética foi entendida, ainda na Grécia antiga, como a arte do
diálogo, a arte de conversar. Sócrates emprega este conceito para desenvolver sua filosofia.
Platão utiliza, abundantemente, a dialética em seus diálogos. A verdade é atingida pela relação
de diálogo que pressupõe minimamente duas instâncias, mas até aqui o diálogo acontece sob
21

um princípio de identidade, entre os iguais. Entretanto, tal posicionamento foi precedido por
uma visão distinta encontrada principalmente em Heráclito, filósofo grego que viveu de 530 a
428 a.C. Para este, a conversa existe somente entre os diferentes. A diferença é constituidora
da contrariedade e do conflito. Não é a concórdia que conduz ao diálogo, mas a divergência,
isto é, a exacerbação do conflito (NOVELLI e PIRES, 1996).
Mas é com Hegel, filósofo alemão que viveu de 1770 a 1831, que a dialética retoma seu
lugar como preocupação filosófica, como importante objeto de estudo da filosofia. Partindo das
ideias de Kant (1724 – 1804) sobre a capacidade de intervenção do ser humano na realidade,
sobre as reflexões acerca do sujeito ativo, Hegel tratou da elaboração da dialética como método,
desenvolvendo o princípio da contraditoriedade afirmando que uma coisa é e não é ao mesmo
tempo e sob o mesmo aspecto. Esta é a oposição radical ao dualismo dicotômico sujeito-objeto
e ao princípio da identidade. Por isso Hegel preconiza o princípio da contradição, da totalidade
e da historicidade (NOVELLI e PIRES, 1996). Porém, é a dialética de Marx, construção lógica
do método materialista histórico, que fundamenta o pensamento marxista, que será aqui
apresentada como possibilidade teórica (instrumento lógico) de interpretação da realidade
educacional que queremos compreender.
O princípio da contradição, presente nesta lógica, indica que para pensar a realidade é
possível aceitar a contradição, caminhar por ela e apreender o que dela é essencial. Neste
caminho lógico, movimentar o pensamento significa refletir sobre a realidade partindo do
empírico (a realidade dada, o real aparente, o objeto assim como ele se apresenta à primeira
vista) e, por meio de abstrações (elaborações do pensamento, reflexões, teoria), chegar ao
concreto: compreensão mais elaborada do que há de essencial no objeto, objeto síntese de
múltiplas determinações, concreto pensado. Assim, a diferença entre o empírico (real aparente)
e o concreto (real pensado) são as abstrações (reflexões) do pensamento que tornam mais
completa a realidade observada. Aqui, percebe-se que a lógica dialética do Método não descarta
a lógica formal, mas lança mão dela como instrumento de construção e reflexão para a
elaboração do pensamento pleno, concreto. Desta forma, a lógica formal é um momento da
lógica dialética; o importante é usá-la sem esgotar nela e por ela a interpretação da realidade.
Isto significa que considerar a relação MST e natureza nos permite compreender às
relações sociais e as relações com o ambiente, em conformidade com a sua produtividade
material, pois os seres humanos produzem ideias, ou seja, categorias, expressões abstratas
destas mesmas relações sociais. Para Marx (2009) “assim, as categorias são tão pouco eternas
quanto as relações que exprimem. São produtos históricos e transitórios”.
22

OBJETIVOS
• Compreender as diferentes percepções dos sujeitos sobre a ideia de natureza, a partir da
perspectiva do Movimento dos Sem Terra, em um assentamento do RS.
Objetivos Específicos
• Investigar as concepções de natureza em assentamentos do MST no Rio Grande do Sul;
• Identificar os principais aspectos que formam a base dessa relação junto ao movimento;
• Perceber que de forma os movimentos sociais do campo atuam como sujeitos
pedagógicos junto as comunidades.
23
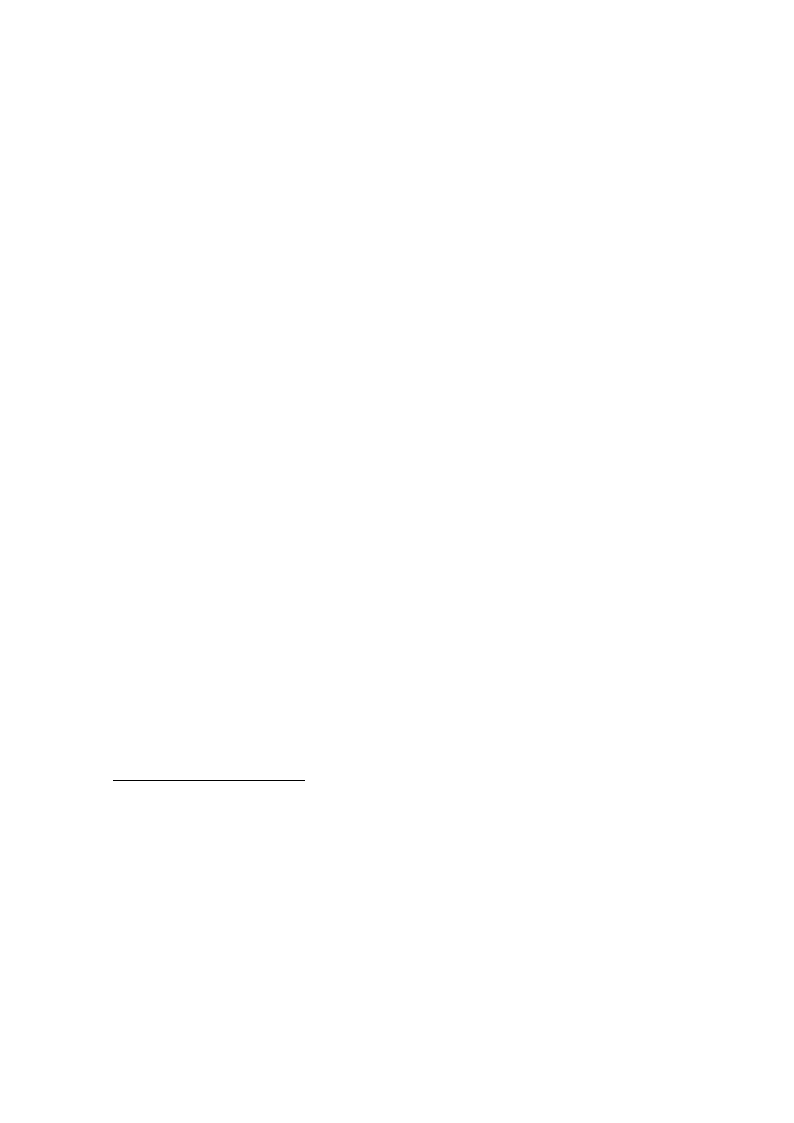
CAPÍTULO I – A Questão Agrária no Brasil: Um Olhar Historiográfico
A América Latina é marcada por sua condição de continente colonizado pelos europeus
no início da Idade Moderna12; em consequência, as relações sociais implantadas foram de
colonizador-colonizado, formando-se espaços territoriais em áreas de produção voltadas para o
mercado europeu. Particularmente no Brasil, o País migrou de colônia de exploração e foi se
tornando colônia de povoamento, não obstante com uma economia sempre voltada ao mercado
externo. Daí o complexo colonial, ainda hoje dominante no Brasil, de que devemos produzir
para exportar e só, secundariamente, para abastecer o mercado interno. Três políticas territoriais
foram são identificadas, segundo Ortiz (2006): Sesmarias, Posses Livres13, Lei de Terras14.
O colonizador português foi destruindo, progressivamente, as nações indígenas e
substituindo por mão-de-obra escrava, negros sequestrados e trazidos da África, formando uma
massa de trabalhadores explorados, que segundo Alencastro (2000), foi o alicerce da
nacionalidade. Não encontrando aqui uma civilização “evoluída” que pudesse subsidiar e/ou
alimentar um comércio intenso com a colônia (Portugal), iniciou-se a exploração da terra com
apropriação de produtos naturais, vegetais e animais – como pau-brasil, âmbar gris, aves com
plumagens, etc. Posteriormente, a produção agrícola intensificou-se com a fundação das
primeiras plantations15, dedicadas à produção de cana-de-açúcar. Segundo Andrade (2002) a
exploração era “tipicamente capitalista em que o governo concedia a posse da terra a colonos
ricos que dispusessem de condições para explorar os seus imensos lotes e defendê-los dos
ataques indígenas e dos piratas”.
A sesmaria, sistema já utilizado em Portugal, consistia que o beneficiário da dádiva real
ou do donatário da capitania tinha apenas a posse da terra, permanecendo o domínio com o
doador, consagrando a grande propriedade no território da colônia em formação. Segundo Ortiz
12 Idade Moderna é o período compreendido entre a Idade Média e a Idade Contemporânea. Foi nesse período que
surgiram as bases sociais e econômicas da sociedade atual.
13 “Entendida a posse como terra adquirida por ocupação pelo grande proprietário. Portanto, o que, em nenhum
caso, deve ser compreendido como o direito de acesso à posse da terra pelo produtor livre pobre. O estatuto jurídico
das sesmarias foi apenas revogado, sem ser substituído por outro” (ORTIZ, 2006).
14 “A Lei de Terras foi a primeira lei agrária ‘nacional’, de suma importância para a generalização da apropriação
da terra como mercadoria” (ORTIZ, 2006). Determinava que todas as terras devolutas passariam a pertencer
exclusivamente ao Estado e que elas seriam vendidas apenas em leilões. A criação desses leilões beneficiou os
grandes proprietários, pois eles possuíam muito mais recursos do que os imigrantes que tinham vindo ao Brasil
em busca de trabalho. A Lei de Terras foi uma das principais culpadas pela sustentação dos grandes latifúndios no
Brasil.
15 Plantation ou plantação é um tipo de sistema agrícola baseado em uma monocultura de exportação mediante a
utilização de latifúndios e mão de obra escrava.
24
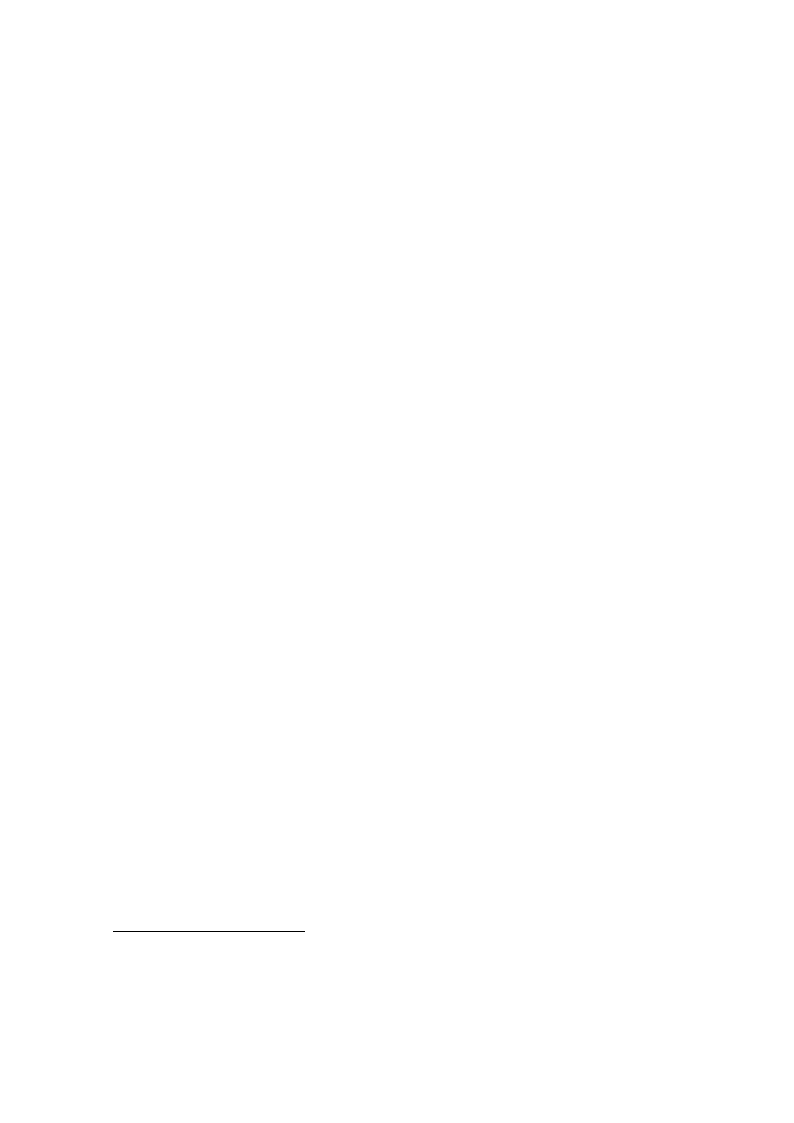
(2006) a sesmaria “foi um instrumento jurídico que visou a ocupação produtiva das terras
ociosas, ao mesmo tempo que coagiu a reprodução das relações feudais de produção”. O sistema
de sesmarias regularizou institucionalmente o processo de colonização; ocupação do território
brasileiro no cultivo de produtos de exportação, configurando assim, uma relação colônia-
metrópole. A exploração agrícola foi o recurso imposto pelas classes dominantes portuguesas
para promover a ocupação e defesa das novas possessões.
A terra sendo um bem natural, não pode ser produzida, contudo, o modo de produção
capitalista a dominar agricultura também domina a terra, com isso é facultado ao proprietário a
condição de extrair mais-valia16 dos trabalhadores, seja diretamente na condição de capitalista,
seja indiretamente na condição de proprietário que obtém renda. Esta condição priva os
trabalhadores do acesso à terra e subordina a agricultura ao capital, como destaca Marx (1985,
p. 1069): “[...] constitui base do modo capitalista de produção a propriedade privada17 do solo;
ele implica a expropriação dos produtores imediatos: a propriedade privada do solo para uns
tem por consequência necessária que ela não exista para os demais”.
A partir do século XIX, o Estado Brasileiro – pressionado pelas grandes potências da
época, como Inglaterra e Holanda, os quais queriam expandir seus mercados, determinavam o
fim da escravidão, pois, obviamente, escravo não compra. Contudo, o ciclo do café era o
principal aporte econômico brasileiro naquele período. A partir de um grande acordo de grandes
fazendeiros produtores, essa elite decretou a Lei de Terras de 1850, o que possibilitou a compra
de terras através da atividade monetária. Então,
era preciso, pois, criar mecanismos que gerassem artificialmente, ao mesmo tempo,
excedentes populacionais de trabalhadores à procura de trabalho e falta de terras para
trabalhar num dos países com maior disponibilidade de terras livres em todo o mundo,
até hoje. (MARTINS, 1997, p. 17)
Em suma, a Lei de terras, foi artifício essencial para as elites da época manterem
inalterada a estrutura agrária e resolver o problema da mão-de-obra para o café. A Lei de Terras
contribuiu para criar uma situação e, em paralelo, uma solução social em benesse exclusivo dos
que tinham e têm terra e poder, transpondo o cativeiro dos seres humanos enquanto escravos,
para cativeiros da terra, uma vez que a lei cerceava o “livre acesso” a terra, restringindo-se ao
um grupo que tinha condições de pagá-la, excluindo – mais uma vez – não só dos escravos, mas
16 Mais-valia é uma expressão do âmbito da Economia, criada por Karl Marx que significa parte do valor da força
de trabalho dispendida por um determinado trabalhador na produção e que não é remunerado pelo patrão. A força
de trabalho de um trabalhador (considerada também como uma mercadoria por Marx) possui o mesmo valor que
o tempo que o trabalhador precisa para produzir o suficiente para receber o seu salário e garantir a subsistência;
17 Marx (1985);
25
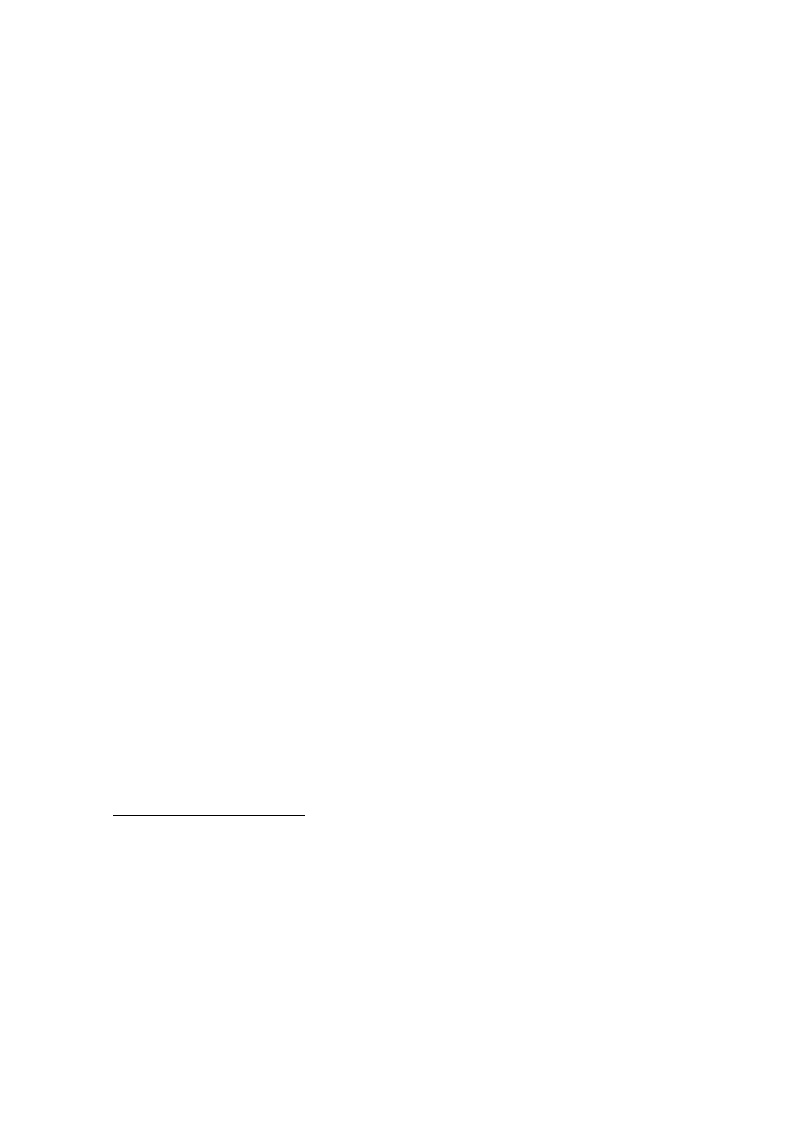
também dos imigrantes colonos, que trabalhavam sob o regime de colonato18. A articulação
entre terra e trabalho nasce do fato de que apenas o trabalho dá à terra a possibilidade de ser um
meio de produção de riquezas.
Esta transição do trabalhador escravo para livre representou um dolo – na metade do
século XIX – a classe dominante brasileira, plantacionista e dependente da escravidão. Nesse
contexto, influenciados pela elite plantadora, houveram incentivos a vinda de trabalhadores
rurais europeus para trabalhar nas fazendas de café e não mais apenas para a colonização em
pequenas propriedades como vinha acontecendo, desde os anos que antecederam a
Independência (ORTIZ, 2006). A falsa ideia da escassez de terra à disposição – arquitetada pela
Lei de Terras de 1850 – segundo Smith (1990) “obedeceu a um processo emanado das
iniciativas de elites políticas postadas no Conselho de Estado e era um apêndice da imposição
à abolição do tráfico, que vinha colocar o fim da escravidão num horizonte não remoto.”
Década 30 e o Getulismo
A década de 1930 foi marcada por um período de industrialização brasileira
impulsionada por Getúlio Vargas (Governo Provisório, 1930 – 1934; Governo Constitucional,
1934 – 1937; Estado Novo, 1937 – 1945), ocorrendo o fenômeno de migração campo-cidade
(êxodo rural), aumentando o contingente populacional dos centros urbanos por melhorias na
qualidade de vida (melhores salários, acesso à saúde e educação). O processo de esforço na
organização e tutela no setor industrial desenvolvido por Vargas, insere-se no projeto de
desenvolver uma massa urbana capaz de servir de mercado de consumo para bens não
duráveis19 e, principalmente, alimentos, fomentando a estrutura básica para a constituição de
um mercado autossustentável. Sendo assim, o processo de implantação da legislação trabalhista
brasileira formaria, portanto, ilhas de fordismo periférico20.
18 Colonato é o nome que se dá a um sistema de exploração de grandes propriedades entre diversos colonos ou
meeiros, que ficam incumbidos de cultivar uma determinada área e entregar parte da produção ao proprietário,
conservando outra parte para seu próprio consumo;
19 Os bens de consumo não-duráveis são usados por um prazo curto ou apenas poucas vezes como os alimentos,
produtos de limpeza, roupas;
20 Tal como o fordismo – baseado na linha de produção idealizada –, está baseado na reunião da acumulação
intensiva com o crescimento dos mercados de bens finais. Mas permanece sendo “periférico”, no sentido em que,
nos circuitos mundiais dos ramos produtivos, os empregos qualificados (sobretudo no domínio da engenharia) são
majoritariamente exteriores a estes países. Além disso, “os mercados correspondem a uma combinação específica
de consumo local das classes médias, consumo crescente de bens duráveis por parte dos trabalhadores e de
exportação a baixo preço para os capitalismos centrais” (LIPIETZ, 1991, p.119);
26
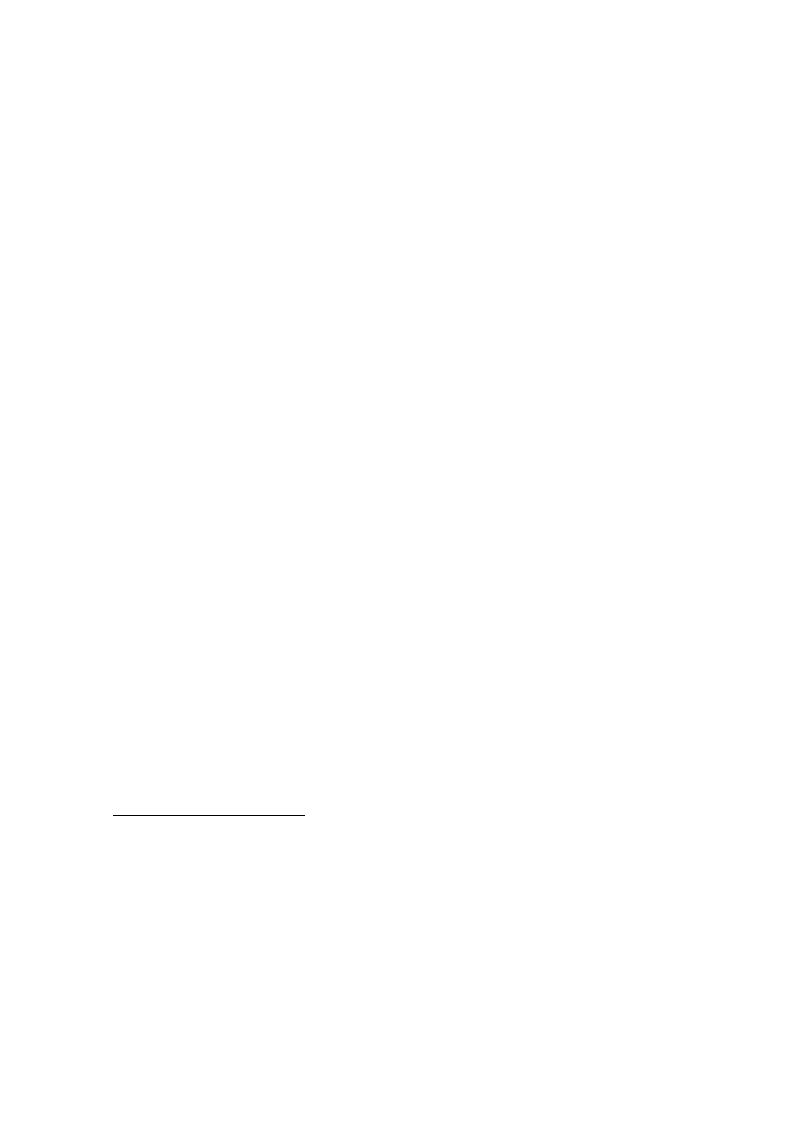
Para garantias na expansão do mercado interno eram necessários impulsionar
mecanismo que garantissem uma maior distribuição de renda, a fim de estimular o consumo
interno e de produção nacional, garantindo o funcionamento automático da economia. Vargas
deu início aos controles administrativos da maquinaria pública, ou seja, a intervenção estatal,
que segundo Silva (1998, p.3) tinham os objetivos de institucionalizar formas de apoio ao
mercado interno; estruturar um denominador comum de todas as categorias em uma política
salarial comum; incentivar a mobilidade da fronteira econômica, ou seja, espações “vazios” do
Brasil se tornarem produtivos e reunir os diversos núcleos demográficos isolados ou conforme
Vargas, “povoar racionalmente o País”. Em suma, o campo no Brasil deveria, assim, atender,
de forma subordinada e dirigida pelo Estado, as necessidades que a nova regulação econômica
exigia.
A Lei de Terras – que ainda se mantinha em vigência após a “Revolução” de 30 – sofre
apenas um acréscimo: autoriza-se a desapropriação de terra com interesse público e a
propriedade deveria ser indenizada. Em 1934, os ganhos sociais foram consideráveis, mas, com
a instalação do Estado Novo, as conquistas não se consolidaram devido a postura conservadora
de Getúlio Vargas. Só em 1946 houve uma nova constituição, considerada democrática, quando
atribuiu-se uma nova função à terra: ela deveria cumprir sua função social21. É importante
destacar que o governo de Vargas – pela primeira vez no Brasil – declarou-se contrário a
hegemonia agrário-exportadora e à monocultura, como visto na Plataforma da Aliança
Liberal22, a agricultura brasileira foi colocada agora no âmbito de um projeto nacional: servir
de base para um desenvolvimento contínuo e autossustentável. Segundo Silva (1998, p. 16) “o
impacto da crise de 1929 sobre o Brasil, desvalorizando o café - produto básico da pauta de
exportações - mostrara que todo o País poderia afundar junto com a monocultura”. A concepção
econômica do Estado Novo23 processou-se sempre no sentido do interesse público e do
desenvolvimento econômico do País.
21 Art. 156 da Constituição de 1946: A lei facilitou a fixação do homem no campo, estabelecendo planos de
colonização e de aproveitamento das terras públicas. Para esse fim, serão preferidos os nacionais e, dentre eles, os
habitantes das zonas empobrecidas e os desempregados. Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1940-1949/constituicao-1946-18-julho-1946-365199-
publicacaooriginal-1-pl.html>;
22 Coligação oposicionista de âmbito nacional formada no início de agosto de 1929 por iniciativa de líderes
políticos de Minas Gerais e Rio Grande do Sul com o objetivo de apoiar as candidaturas de Getúlio Vargas e João
Pessoa, respectivamente, à presidência e vice-presidência da República nas eleições de 1º de março de 1930.
23 Estado Novo, ou Terceira República Brasileira, foi o regime político brasileiro instaurado por Getúlio
Vargas em 10 de novembro de 1937, que vigorou até 31 de janeiro de 1946. Foi caracterizado pela centralização
do poder, nacionalismo, anticomunismo e por seu autoritarismo;
27

João Goulart, Movimento Sindical e a Reforma Agrária
Durante a década de 1960 tivemos aumento expressivo de diversos programas e
discussões políticas em defesa da reforma agrária24. O Governo de João Goulart (1961 – 1964)
é marcado pela intensificação do debate em torno da questão agrária no Brasil. As “classes
políticas” da época, durante o período do Governo de Vargas (1951 – 1954), debateram acerca
de desenvolvimento industrial brasileiro, o qual era obstaculizado pelo atraso na agricultura e,
principalmente, pelo monopólio fundiário brasileiro (NATIVIDADE, 2011). A questão agrária
nesse período persistia numa gangorra desigual: de um lado uma elite fundiária com padrão de
riqueza, poderes e privilégios e de outro lado uma massa trabalhadora do campo pobre, isolada,
analfabeta, subordinada com problemas sociais que acarretavam fome e disseminação de
doenças. Até 1950, aproximadamente 70% da população habitava na área rural. Os destaques
do Governo de João Goulart são o envolvimento do Poder Executivo25 na questão agrária e uma
reforma que aplique medidas que regulem a parceria e o arrendamento26, estenda a legislação
trabalhista ao campo e, determine as condições de desapropriação por interesse social.
João Goulart compareceu ao I Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores
Agrícolas, organizado pela União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil27
(ULTAB) trazendo indicativos para uma legislação sindical28 e trabalhista rural e uma possível
24 Atualmente no Brasil, o conceito de Reforma Agrária – segurado pela a Lei 4.504/64 (Lei de Terras) – trata-se
do “conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de
sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade”. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm>;
25 O Poder Executivo é um dos três poderes do Estado (além do Legislativo e Judiciário) e tem como função de
administrar interesses do povo, governar segundo relevância pública, fazer serem efetivadas as leis e dividir entre
os três níveis de governo a gestão administrativa em educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, entre outras
áreas. Algumas atribuições serão mais destinadas aos entes da federação (União, estado e municípios);
26 Políticas de arrendamento são alternativas complementares ao programa de reforma agrária, com implantação
totalmente descentralizada e desenvolvida por prefeituras, secretarias municipais de agricultura, sindicatos de
produtores rurais, ONGs, ou seja, instituições que estejam interessadas em desenvolver alternativas baratas para
promover a renda de trabalhadores sem terra ou pequenos produtores;
27 A União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTAB) foi fundada em São Paulo, em 1954,
tendo à frente Lindolfo Silva, militante do PCB. Ela foi responsável pela criação de associações de lavradores que
buscavam organizar os camponeses em suas lutas. A partir do início dos anos 1960, as associações foram sendo
transformadas em sindicatos. A ULTAB não só desempenhou papel fundamental nesse processo de sindicalização
que culminou na criação, em 1963, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG),
como também se constituiu na principal força em ação no interior da nova entidade. Disponível em:
<https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/glossario/ultab>;
28 Entende-se sindicato como “associação de pessoas físicas ou jurídicas que têm atividades econômicas ou
profissionais, visando a defesa dos interesses coletivos e individuais de seus membros ou categoria” (MARTINS,
2007, pag. 696);
28

reforma agrária e que foram observadas com profunda desconfiança pelas classes dominantes
do país. Em contraponto, segundo Navidade (2011),
“em numerosas reuniões de associações rurais e classes produtoras em diversos pontos
do país, se fixa posição comum de obediência aos preceitos constitucionais, aliado ao
interesse prioritário pelo estímulo à produção, considerado o fundamento de uma
verdadeira “revolução agrícola”. Consideravam como demagógicas as medidas de
expropriação e distribuição de terras, que acarretariam fatalmente a desorganização
da produção. Destaca-se aí o papel aglutinador da Confederação Rural Brasileira, que
antecipou para o início de 1962 a reunião programada somente para o final do ano.
Tendo em vista, a necessidade de um pronunciamento da classe rural sobre a reforma
agrária no Brasil”.
Essas pressões por mudanças, onde as lideranças campesinas clamam por uma reforma
agrária “na lei ou na marra”, em 1962, institucionalizou-se decretos e portarias relativos à
sindicalização rural. Em março de 1963 foi aprovado pelo Congresso Nacional o Estatuto do
Trabalhador Rural29, que estende para os assalariados do campo os direitos dos trabalhadores
urbanos: sindicalização, salário mínimo, férias, repouso semanal remunerado, aviso prévio e
indenização. O estatuto também prevê medidas de proteção especial à mulher e ao menor. É a
primeira lei da história brasileira a intervir efetivamente nas relações de trabalho no campo. O
projeto fora apresentado ao Congresso em 1956 pelo deputado gaúcho Fernando Ferrari (PTB
e MTR30), contudo somente no governo de João Goulart tivera o apoio e as condições
necessárias para sair do papel: um presidente que o apoiava; um ministro do Trabalho (Almino
Afonso) que trabalhou para viabilizá-lo; e movimentos sociais no campo cada vez mais
articulados, politizados e com capacidade de mobilização.
Além disso, paralelamente, criou-se a Superintendência de Política Agrária31 (SUPRA),
que tinham suas finalidades colaborar na formulação da política agrária do país; planejar,
executar e fazer executar, nos termos da legislação específica, a reforma agrária; promover a
desapropriação de terras por interesse social, objetivando a justa distribuição da propriedade
29 A Lei nº 4.214, que cria o Estatuto do Trabalhador Rural (ETR), promulgada em 2 de março de 1963 e publicada
no Diário Oficial no dia 18 do mesmo mês. O estatuto significou a extensão da legislação social ao trabalhador
rural, fornecendo as bases para a organização sindical do campo brasileiro. O ETR foi revogado dez anos depois,
já na fase mais violenta da ditadura militar. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-
1969/L4214.htm>;
30 Movimento Trabalhista Renovador (MTR) foi um partido político brasileiro, fundado por Fernando Ferrari
(1921 – 1963) e dissidentes do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em 1959. Foi extinto pelo Regime Militar, por
intermédio do Ato Institucional Número Dois (AI-2), de 27 de outubro de 1965. Atualmente é o Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB);
31 Órgão criado em 11 de outubro de 1962 pela Lei Delegada nº 11 e regulamentado pelo Decreto nº 1.878-A, de
21 de dezembro de 1962. Unificou num só órgão o Serviço Social Rural, o Instituto Nacional de Imigração e
Colonização, o Conselho Nacional de Reforma Agrária e o Estabelecimento Rural de Tapajós. Disponível em:
<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/superintendencia-da-politica-agraria-supra>;
29

rural e condicionando seu uso ao bem-estar social, e prestar serviços de extensão rural e de
assistência técnica aos trabalhadores rurais. A criação da SUPRA culminou no avanço da
organização política dos trabalhadores rurais, devido a proliferação de ligas e sindicatos e nas
lutas pela posse da terra, como também criou a Comissão Nacional de Sindicalização Rural32
(CONSIR) – fruto de um convênio entre o Ministério do Trabalho e a SUPRA – que na prática
“flexibilizaria os trâmites legais para a criação de um sindicato, diminuindo as exigências e
acelerando o processo” (BALTAZAR, 2014). No ano de 1963 o número de sindicatos saltou de
50 para mais 700.
Essa opção de João Goulart em estimular a sindicalização rural como parte de um
projeto político trabalhista para campo, criando uma perspectiva de reciprocidade entre Estado
e o campesinato. Um destaque do Jornal do Brasil, de 29 de dezembro de 1963, sinalizou que
“A Igreja e o Partido Comunista estão juntos doutrinando os camponeses33”. O Estado foi uma
figura importante na proliferação dos sindicatos, embora outros agentes atuassem claramente
nessa proposta, como a Igreja Católica e o Partido Comunista Brasileiro, que chegaram a
rivalizar no mundo rural pelo apoio do campesinato. Os próprios camponeses, buscando se
organizar e reivindicar os seus direitos, são a peça principal para explicar as causas desse
crescimento estrondoso no número de sindicatos rurais.
O emblemático comício de 13 de março de 1964 na Central do Brasil, no Rio de Janeiro
defendeu as reformas de base propostas por seu governo para cerca de 200 mil. João
Goulart destacou uma aproximação com as reformas de base, dentre elas, a reforma agrária,
“Trabalhadores, acabei de assinar o decreto da SUPRA com o pensamento
voltado para a tragédia do irmão brasileiro que sofre no interior de nossa Pátria.
Ainda não é aquela reforma agrária pela qual lutamos. Ainda não é a
reformulação de nosso panorama rural empobrecido. Ainda não é a carta de
alforria do camponês abandonado. Mas é o primeiro passo: uma porta que se abre
à solução definitiva do problema agrário brasileiro. [...] Sem reforma
constitucional, trabalhadores, não há reforma agrária. Sem emendar a
Constituição, que tem acima de dela o povo e os interesses da Nação, que a ela
cabe assegurar, poderemos ter leis agrárias honestas e bem-intencionadas, mas
nenhuma delas capaz de modificações estruturais profundas.34”
32 “O CONSIR tinha como objetivo a fundação de sindicatos e a realização de planos integrados de atendimento
das reivindicações das populações camponesas em áreas específicas, sobretudo no âmbito do direito civil e do
direito trabalhista” (FERREIRA, 2006);
33 Igreja e Partido comunista estão juntos doutrinando os camponeses. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro. 29 dez.
1963. Caderno A1, p. 9. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>;
34 Discurso de João Goulart na Central do Brasil em 13 de março de 1964. Disponível em:
<http://www.ebc.com.br/cidadania/2014/03/discurso-de-jango-na-central-do-brasil-em-1964>;
30
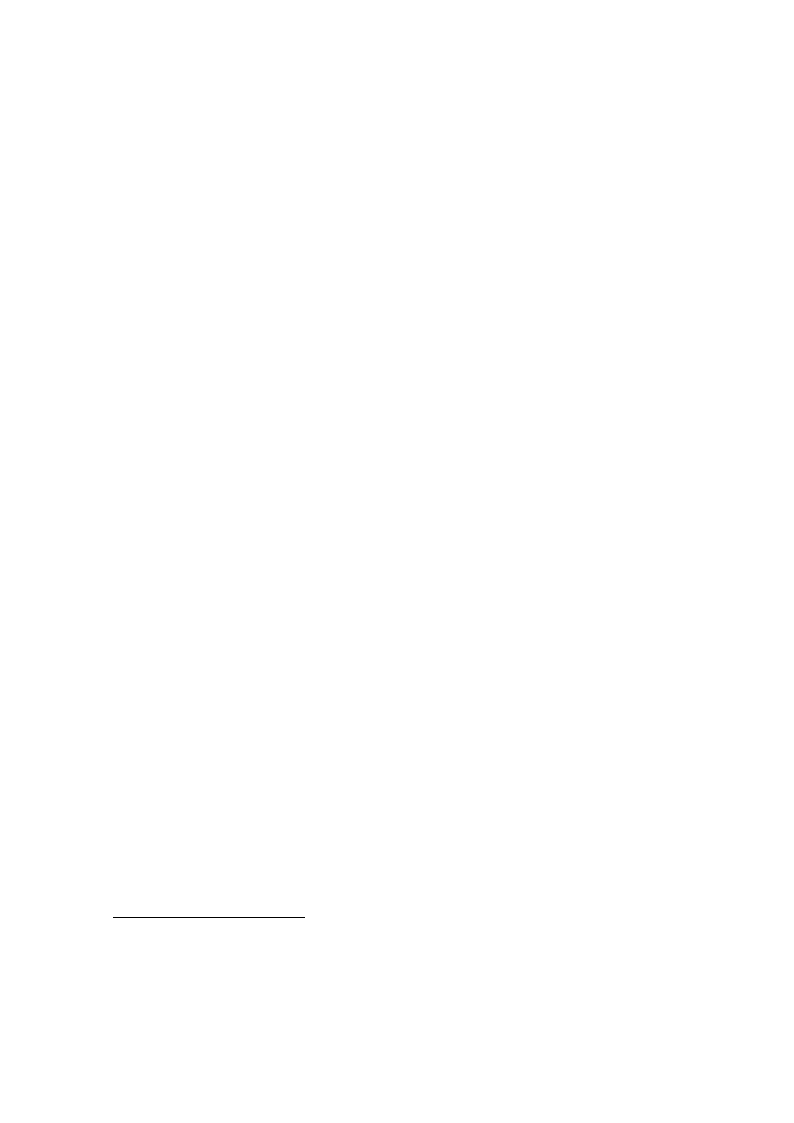
Além disso, a lógica era aquela que permeava a noção de “dar, receber e retribuir”, ou
seja, o Estado seria o responsável por estender a legislação trabalhista para o campo via
sindicato rural, como se elas fossem presentes e dádivas (dar), os camponeses seriam aqueles
que receberiam tais benefícios (receber) e, em troca, viria a retribuição e a gratidão para com o
presidente da República (retribuir), transformada em apoio político e admiração – tal qual
ocorreu com Vargas, denominado de “pai dos pobres”. Em seu discurso ele continuava,
“E, feito isto, os trabalhadores do campo já poderão, então, ver concretizada,
embora em parte, a sua mais sentida e justa reinvindicação, aquela que lhe dará
um pedaço de terra para trabalhar, um pedaço de terra para cultivar. Aí, então, o
trabalhador e sua família irão trabalhar para si próprios, porque até aqui eles
trabalham para o dono da terra, a quem entregam, como aluguel, metade de sua
produção. E não se diga, trabalhadores, que há meio de se fazer reforma sem
mexer a fundo na Constituição. Em todos os países civilizados do mundo já foi
suprimido do texto constitucional parte que obriga a desapropriação por interesse
social, a pagamento prévio, a pagamento em dinheiro. [...] Como garantir o
direito de propriedade autêntico, quando dos quinze milhões de brasileiros que
trabalham a terra, no Brasil, apenas dois milhões e meio são proprietários? 34”.
A velha classe infecunda – os que não plantam e não deixam plantar – ao perpetuar
o seu sistema (colonial) e impediu por vários anos a realização das potencialidades dos
brasileiros, opôs-se a essa proposta tímida de reforma agrária na qual trouxe
desdobramentos nos jornais da época: “Oposição em Desespêro – Derrubar Jango Antes das
Reformas” e “Golpe no Congresso: UDN quer Passar Falsa Reforma Agrária Jango Não Dará
Trégua à Reação: Ofensiva Reformista Prosseguirá”.35 “Manifesto Ruralista Pede às Forças
Armadas Mobilização Cívica Contra o Comunismo”, “Criadores e Agricultores de Sergipe
Manifestam-se Contra o Decreto da SUPRA” e “Ademar de Barros: Não Reconheço a SUPRA,
é Ilegal” 36. É de assinalar que a campanha milionária contra João Goulart – financiada pela
Texaco, Shell, Ciba, Schering, Bayer, GE, IBM, Coca-Cola, Souza Cruz, Belgo-Mineira, Herm
Stoltz e Coty37 – pretendia uma reforma estrutural de caráter capitalista. Elas foram, contudo,
vistas como revolucionárias em razão do caráter retrógrado do capitalismo dependente que se
implantou no Brasil sob a regência de descendentes de senhores de escravos e testas-de-ferro
de interesses estrangeiros. O golpe militar em 30 de abril de 1964 – que derrubou o governo de
João Goulart – segundo Darcy Ribeiro,
35 Manchetes do jornal Última Hora entre os dias 17, 18 e 24 de março de 1964. Disponível em:
<http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>;
36 Manchetes do jornal O Globo entre os dias 14 e 18 de março de 1964. Disponível em:
<http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>.;
37 Artigo 1964: Um Testemunho, publicado na Folha de São Paulo em março de 1982. Disponível em:
<http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>.;
31

“Para o povo, o golpe foi cruento. Principalmente para os camponeses das ligas de
Julião, assaltados e assassinados em seus ranchos, em atos de pura crueldade, pelas
polícias regionais e pelos jagunços dos senhores de engenho, a fim de demonstrar ao
povo nordestino que seu destino é o cambão.”
João Goulart, com seu reformismo38, foi o governo mais avançado que tivemos, aquele
que lutou mais fundamente para implantar as bases de um Brasil novo, capaz de gerar uma
prosperidade extensível a todo o povo. Embora reformista, ele foi percebido, sentido e temido
como revolucionário, provocando uma contrarrevolução preventiva para impedir a execução
das reformas de base que estavam sendo levadas a cabo.
A Terra e o Capital na Ditadura Civil-Militar
O Regime Militar – que derrubou o governo democrático de João Goulart – teve seu
caráter autoritário, militarista e anticomunista39. O período militar durou 21 anos (1964 a
1985) e foi composto por cinco presidentes: Humberto Castello Branco40 (1964 – 1967);
Arthur Costa e Silva41 (1968 – 1969); Emílio Médici42 (1970 – 1974); Ernesto Geisel43
(1975 – 1979) e João Figueiredo44 (1979 – 1985). Dreifuss (1981) e Martins (1994) enfatizam
que o golpe de Estado de 1964 não teria sido possível sem a intervenção ideológica dos grandes
38 O reformismo é um movimento social que tem em vista a transformação da sociedade mediante a introdução de
reformas graduais e sucessivas na legislação e nas instituições já existentes a fim de torná-las mais igualitárias;
39 O movimento anticomunista tomou forma na América Latina através da Guerra Fria, designação atribuída ao
período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética (URSS),
compreendendo o período entre o final da Segunda Guerra Mundial (1945) e a extinção da União Soviética (1991);
40 O governo de Castelo Branco foi marcado pela adoção de Atos Institucionais como instrumentos de repressão
aos opositores. Com isso, fechou associações civis, proibiu greves, interveio em sindicatos e cassou mandatos de
políticos por dez anos; foram criados dois partidos (Ato Complementar nº 4), Aliança Renovadora Nacional
(ARENA) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB).
41 O momento “linha dura” foi o destaque do Governo de Costa e Silva quando delibera o Ato Institucional nº5
(AI-5) resultou na perda de mandatos de parlamentares contrários aos militares, intervenções ordenadas pelo
presidente nos municípios e estados e também na suspensão de quaisquer garantias constitucionais que
eventualmente resultaram na institucionalização da tortura, comumente usada como instrumento de repressão pelo
Estado;
42 Conhecido como “anos de chumbo”, o Governo de Médici é marcado pela censura e repressão (professores,
políticos, músicos, artistas e escritores são investigados, presos, torturados ou exilados do País), como também o
aumento da dívida externa com empréstimos estrangeiros, acarretando o aumento do PIB e inflação, denominado
como “Milagre Econômico”;
43 Geisel anuncia a abertura política lenta, gradual e segura, acaba com o AI-5, restaura o habeas-corpus e abre
caminho para a volta da democracia no Brasil;
44 Decreta a Lei da Anistia, concedendo o direito de retorno ao Brasil para os políticos, artistas e demais brasileiros
exilados e condenados por crimes políticos. Em 1984 teve a campanha Diretas Já, movimento que era favorável à
aprovação da Emenda Dante de Oliveira que garantiria eleições diretas para presidente naquele ano;
32

proprietários de terra. A reforma agrária representava um “perigo”, justificado pelos grupos
conservadores do clero, latifundiários, burguesia urbana (empresários e industriais), frações das
classes médias e parte do aparato militar e repressivo45 do Estado que, além de criticarem
profundamente às reformas de base do governo do presidente João Goulart, acarretaria aos
supostos “atentados” (morais e ideológicos) representados pelos comunistas, sindicalistas e
movimentos camponeses aos “valores da tradição”: Deus, família e propriedade privada
(PRIETO, 2007, pg.2).
A instauração da ditadura civil-militar no Brasil em 1964 acometeu um rearranjo
político das frações de classe que dominavam o aparelho de Estado. Não obstante, os
interesses políticos, econômicos e sociais convergiam entre a burguesia industrial urbana
e os grandes latifundiários, capitaneado pelos militares. A estratégia territorial era a defesa
da propriedade privada da terra e a grilagem46 da terra, reproduzindo um Estado nacional
das elites econômicas do poder. Em 1961 – opondo-se as reformas propostas pelas Ligas
Camponesas – foi criada a Aliança para o Progresso e oficializada pelo apoio financeiro
dos Estados Unidos com o intuito do desenvolvimento e progresso econômico da América
Latina, contudo oficiosa e veladamente como política de enfrentamento ao “perigo” da
instalação do comunismo (PEREIRA, 2005; RIBEIRO, 2006), como também alinhavada
ideologicamente por forças políticas liberais no plano econômico, pró-estadunidense no plano
das relações externas e “antipopulista” no plano social e político.
Imediatamente após o golpe civil-militar foi instituído o Grupo de Trabalhos sobre
o Estatuto da Terra (GRET), que tinha o objetivo de criar um anteprojeto sobre a reforma
agrária e demais emendas constitucionais (PRIETO, 2007, p. 4). Castello Branco, em discurso
de 22 de maio de 1964, enfatizou a sua interpretação acerca da reforma agrária e, sobretudo,
sobre o papel do Estatuto da Terra que, segundo o ditador-presidente, era
(...) o instrumento legal para a efetiva realização da reforma agrária. Uma reforma
agrária que, livre dos radicalismos demagógicos, atenda as reais aspirações do
trabalhador rural e, também, o crescente aumento da produção nacional. Isto é, um
conjunto de medidas que, a partir da modificação do regime de posse e uso da terra,
vise a tornar mais numerosa a classe média rural, o que equivale a dizer que,
promovendo a justiça social no campo, destinar-se-ão a aumentar o bem-estar do
trabalhador rural e de sua família, contribuindo, ao mesmo tempo, para o
45 Althusser (1985);
46 No Brasil, grilagem de terras é a falsificação de documentos para, ilegalmente, tomar posse de terras
devolutas ou de terceiros, bem como de prédios ou prédios indivisos. O termo também designa a venda de terras
pertencentes ao poder público ou de propriedade particular mediante falsificação de documentos de propriedade
da área;
33
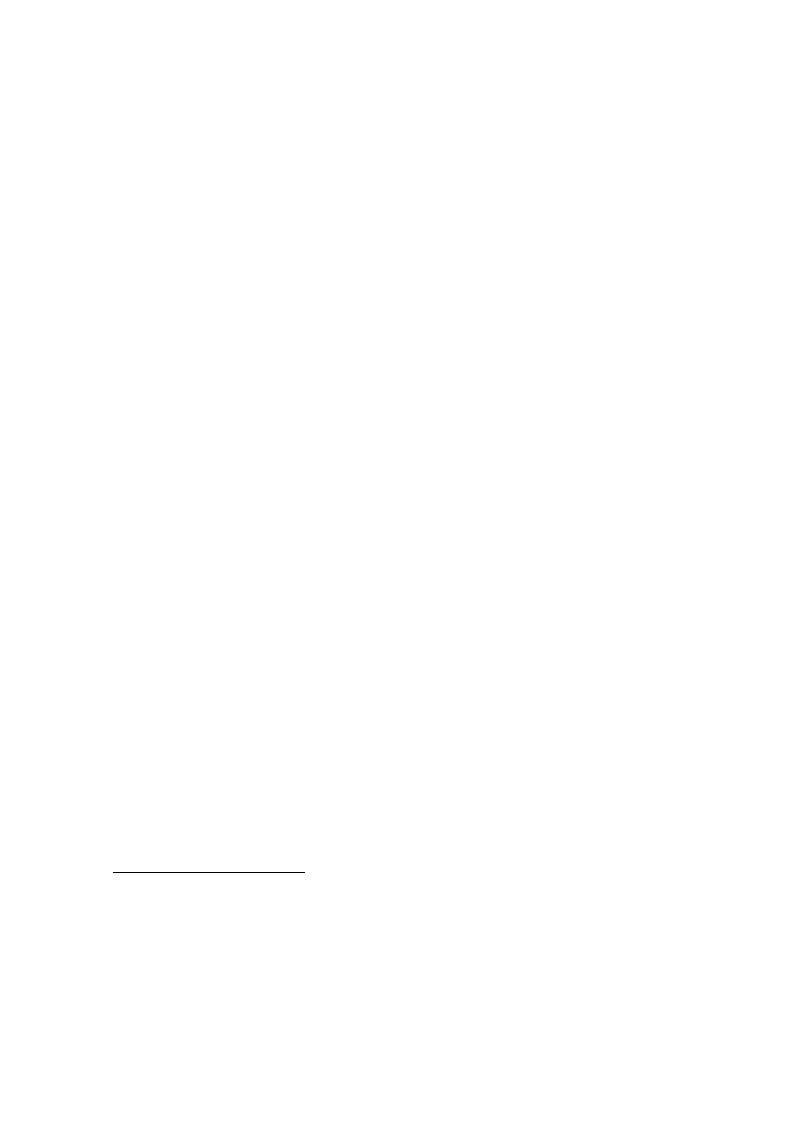
desenvolvimento econômico do País e a progressiva extinção dos erros há muito
acumulados (BRASIL, 1964, p. 52-53).
Sendo assim, de acordo com Dreifuss (1981), as diretrizes para a produção de uma lei
sobre a reforma agrária, que se efetivou com a criação do Estatuto da Terra, foram baseadas nas
recomendações feitas pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais47 (IPES) com participação
direta de Castello Branco. É importante destacar que a reordenação da política externa
estadunidense a partir da Aliança para o progresso tinha o objetivo de estimular os países latino-
americanos a promoverem reformas nas suas estruturas agrárias. Esta mudança de orientação
era amplamente influenciada pela Revolução Cubana48 e pelo temor de realização de novos
processos revolucionários na América Latina (SILVA, 1997; RIBEIRO, 2006). O Governo
ditatorial de Castello Branco, simultaneamente, reprimia camponeses e sindicalistas no campo
e intervinha em conflitos fundiários em favor de grileiros e/ou latifundiários, e além disso,
buscava pautar e controlar o que os trabalhadores deveriam discutir e reivindicar.
Além disso, segundo Prieto (2007) a ditadura iniciou seu processo de expurgos,
expulsões e perseguições das lideranças políticas identificadas com um programa de reforma
agrária mais radical. No dia 09 de abril de 1964 esse processo tornou-se ainda mais evidente
com a promulgação do Ato Institucional nº1 (AI-1). Com esse Ato, o Congresso Nacional
brasileiro teve parte significativa da oposição parlamentar expurgada, com mais de 40
deputados cassados - dentre eles Francisco Julião (PSB-PE), liderança e advogado das Ligas
Camponesa, e Plínio de Arruda Sampaio (PDC-SP), relator do projeto de reforma agrária do
Governo João Goulart. Dessa forma, o Congresso passou a possuir ampla maioria de deputados
filiados à partidos como a UDN e o PSD, claramente identificados com uma crítica veemente
aos projetos de reforma agrária e às lutas no campo.
É fundamental constatar que o Estatuto da Terra e a proposição jurídica materializada
na lei de uma reforma agrária da ditadura civil-militar foi a estratégia utilizada pelo Estado
autoritário para o apaziguamento jurídico das lutas camponesas, sendo implementado
prioritariamente em regiões de conflito fundiário, e, simultaneamente, garantindo aos
47 O IPES, fundado em 2 de fevereiro de 1962 no Rio de Janeiro, foi o produto da articulação do empresariado
carioca e paulista. A instituição foi paulatinamente aglutinadora das classes capitalistas de outras unidades da
federação. O acirramento nos debates sobre as reformas de base, especialmente em 1963 e 1964, incitou nos
membros do IPES a percepção de que o país marchava inexoravelmente para o comunismo e que cabia aos
“homens bons” a interrupção desse processo (CAMARGO, 2007). O IPES tinha uma preocupação especial com a
formação da opinião pública e a disseminação ideológica da propaganda antirreformista e anticomunista na mídia
(SILVA, 2006);
48 A Revolução Cubana foi um movimento armado e guerrilheiro que culminou com a destituição do ditador
Fulgêncio Batista de Cuba no dia 1º de janeiro de 1959 pelo Movimento 26 de Julho liderado pelo revolucionário
Fidel Castro. A revolução teve um caráter anticapitalista, antiestadunidense e com apoio soviético.
34

latifundiários que a letra fria da lei seria produzida, aprovada e discutida no Congresso, mas
não implementada. A Lei 4.504 de 30 de novembro de 1964, conhecida como Estatuto de Terra,
regula “os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de execução
da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola” (BRASIL, 1964). A Lei traz
denominações importantes dispostos no art. 4º como,
I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua
localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial,
quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada;
II - "Propriedade Familiar", o imóvel rural que, direta e pessoalmente
explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho,
garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima
fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda
de terceiros;
III - "Módulo Rural", a área fixada nos termos do inciso anterior;
IV - "Minifúndio", o imóvel rural de área e possibilidades inferiores às da
propriedade familiar;
V - "Latifúndio", o imóvel rural que:
a) exceda a dimensão máxima fixada na forma do artigo 46, § 1°, alínea b,
desta Lei, tendo-se em vista as condições ecológicas, sistemas agrícolas regionais e o
fim a que se destine;
b) não excedendo o limite referido na alínea anterior, e tendo área igual ou
superior à dimensão do módulo de propriedade rural, seja mantido inexplorado em
relação às possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio, com fins
especulativos, ou seja, deficiente ou inadequadamente explorado, de modo a vedar-
lhe a inclusão no conceito de empresa rural;
VI - "Empresa Rural" é o empreendimento de pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de
condição de rendimento econômico ...Vetado... da região em que se situe e que
explore área mínima agricultável do imóvel segundo padrões fixados, pública e
previamente, pelo Poder Executivo. Para esse fim, equiparam-se às áreas cultivadas,
as pastagens, as matas naturais e artificiais e as áreas ocupadas com benfeitorias;
VII - "Parceleiro", aquele que venha a adquirir lotes ou parcelas em área
destinada à Reforma Agrária ou à colonização pública ou privada;
VIII - "Cooperativa Integral de Reforma Agrária (C.I.R.A.)", toda sociedade
cooperativa mista, de natureza civil, ...Vetado... criada nas áreas prioritárias de
Reforma Agrária, contando temporariamente com a contribuição financeira e técnica
do Poder Público, através do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, com a finalidade
de industrializar, beneficiar, preparar e padronizar a produção agropecuária, bem
como realizar os demais objetivos previstos na legislação vigente;
IX - "Colonização", toda a atividade oficial ou particular, que se destine a
promover o aproveitamento econômico da terra, pela sua divisão em propriedade
familiar ou através de Cooperativas (BRASIL, 1964).
A partir da análise de Oliveira (2007) compreende-se que o Estatuto da Terra explicita
a contradição entre o projeto de reforma agrária e a sua não-realização. Porta consigo, assim, o
caráter de farsa histórica baseada na reificação da propriedade privada capitalista da terra, de
retórica institucionalizada da reforma agrária que se fundamentou na intencionalidade de
35
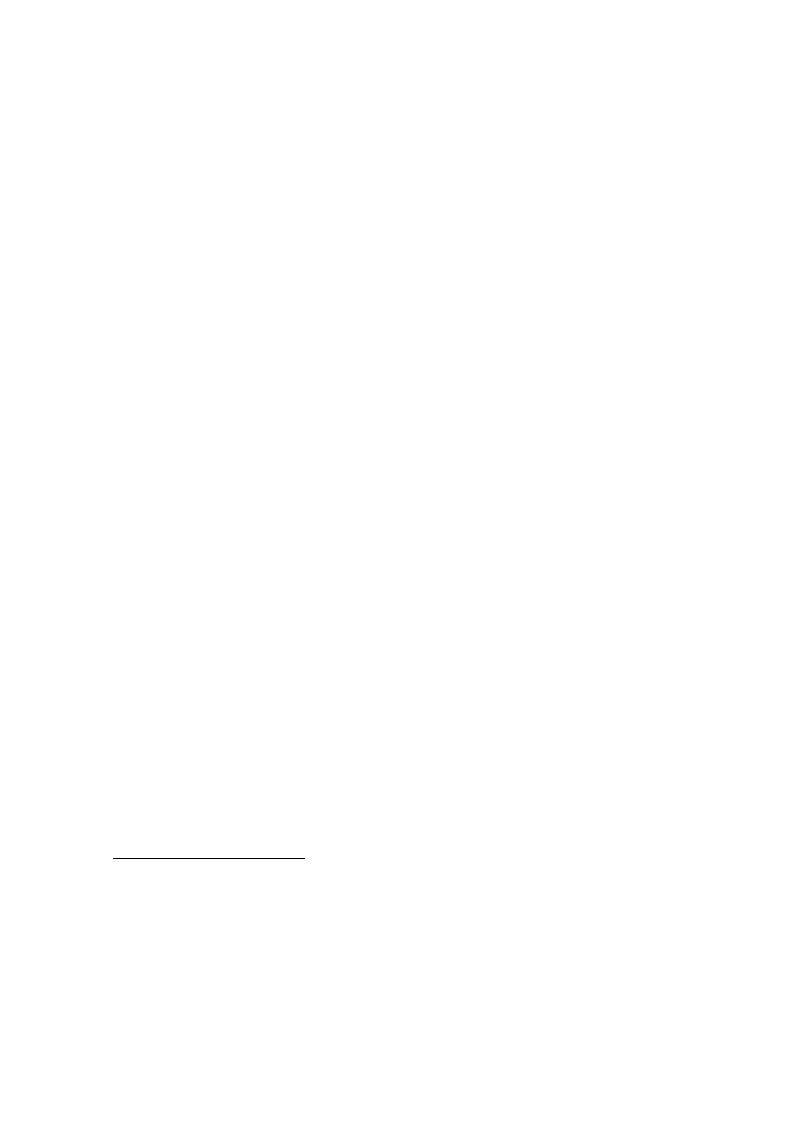
desmobilização e repressão do campesinato e na ampla defesa da agricultura empresarial na
forma do latifúndio. “O Estatuto da Terra funcionou então como o marco jurídico da reprodução
do poder de classe dos grandes proprietários de terra e como referência para a compreensão do
pacto territorial de manutenção da escorchante concentração fundiária brasileira” (PRIETO,
2007, p.6). É fundamental ressaltar que a partir do Estatuto da Terra criou-se o Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) – autarquia dotada de personalidade jurídica e
autonomia financeira – que sofreu alterações através do Decreto-Lei nº 1.110, de 9 de julho de
1970 e criou o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o órgão
responsável pela reforma agrária. extinguindo o IBRA e Instituto Nacional de Desenvolvimento
Agrário (INDA).
No mesmo período foi criado o Programa de Integração Nacional49 (PIN) e o Programa
de Redistribuição de Terras (PROTERRA), o Programa Especial para o Vale do São Francisco
(PROVALE), o Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais na Amazônia
(POLAMAZÔNIA), e o Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste
(POLONORDESTE), que materializaram o slogan de Médici: “terra sem homens na Amazônia,
para homens sem-terra do Nordeste”. Obviamente, a política fundiária implementada na
ditadura caracterizou-se pela não realização da reforma agrária tornando praticamente letra
morta qualquer possível aspecto progressista do Estatuto da Terra. As ações de grilagem e
vendas de terras públicas para estrangeiros aumentaram exponencialmente, com dispositivos
oficiais, com a anuência de funcionários públicos e oficiais de cartório (FIGUEIRA, 2000;
OLIVEIRA, 2011). Segundo Oliveira (2011) esse processo pode ser verificado na Comissão
Parlamentar de Inquérito instalada em 1968 para a apuração de denúncia sobre a transferência
de gigantescas frações do território nacional para o patrimônio privado. De acordo com as
análises de Oliveira (1997; 2009; 2011) sobre o relatório final da CPI, relatado pelo deputado
federal Haroldo Veloso (ARENA – PA), foi comprovado o envolvimento de grileiros50, juízes,
49 O Programa de Integração Nacional (PIN) foi um programa de cunho geopolítico criado pelo governo
militar brasileiro por meio do Decreto-Lei nº1106, de 16 de julho de 1970, assinado pelo Presidente militar
Médici. A proposta era baseada na utilização de mão de obra nordestina liberada pelas grandes secas
de 1969 e 1970 e na noção de vazios demográficos amazônicos;
50 Ianni (1979), Oliveira (1997; 2007; 2011), Brasil (2001) e Fonseca (2005) são unânimes na afirmação de que a
grilagem não se iniciou no período ditatorial de 1964 – 1985, mas que ganhou um fôlego e um impulso como
política legalizada institucionalmente pelas frações de classe no poder no período. A aliança entre terra e capital
demonstra seu vigor na incorporação monstruosa de patrimônio público para a realização privada de sua
reprodução como elite econômica, social e política a partir do domínio de amplas frações do território.
36

funcionários do IBRA e de cartórios públicos na venda de mais de 20 milhões de hectares de
terras a estrangeiros, sobretudo na Amazônia.
A aliança entre terra e capital demonstra seu vigor na incorporação monstruosa de
patrimônio público para a realização privada de sua reprodução como elite econômica, social e
política a partir do domínio de amplas frações do território. A partir da ditadura civil-militar
engendrou-se uma aliança de classes entre capitalistas e latifundiários que convergiu para um
projeto político de cunho eminentemente oligárquico travestido de modernidade econômica e
que se reproduz na contemporaneidade. O golpe militar realizou a transformação da pauta da
reforma agrária como bandeira de luta e reivindicação pela distribuição de terra em farsa
jurídica – no qual o Estatuto da Terra, conforme problematizamos, figura como caso
emblemático – e forma de acesso à terra para o empresariado urbano-industrial e grandes
empresas e indústrias capitalistas, realizando uma nova rodada de concentração fundiária e
acumulação originária do capital.
Em 1984 – fruto do conhecimento da Proposta de Emenda Constitucional Dante de
Oliveira51 – organizou-se um dos maiores movimentos populares do Brasil, denominado
Diretas Já. Esse movimento foi formado pela população, que pedia a volta de eleições diretas
para presidente da República. Nesse ano o movimento não atingiu o seu objetivo e o próximo
presidente a assumir ainda foi eleito através de eleição indireta, findando a período ditatorial
militar em 1985, com Tancredo Neves sendo escolhido como presidente por um colégio
eleitoral e não pelo voto direto. Por problemas de saúde, que logo em seguida o levaram à
morte, ele não assumiu o cargo. Em março de 1985, seu vice, José Sarney, assumiu a
presidência do país e governou até março de 1990.
Redemocratização a partir da Década de 1990: O Avanço do Neoliberalismo
Ainda na década de 80 (1985), o então Presidente José Sarney elabora um plano previsto
no Estatuto da Terra, o Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) para o qual é criado o
Ministério Extraordinário para o Desenvolvimento e a Reforma Agrária52 (MIRAD). Porém
51 Recebeu o nome de Emenda Dante de Oliveira a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 05/1983,
apresentada pelo Deputado Federal Dante de Oliveira (PMDB – MT), que tinha por objetivo reinstaurar as eleições
diretas para presidente da República no Brasil, através da alteração dos artigos 74 e 148 da Constituição Federal
de 1967 (Emenda Constitucional nº1 de 1969), uma vez que o processo democrático foi interrompido no País pelo
golpe civil-militar de 1964;
52 Tinha por competências a reforma agrária e reordenamento agrário, regularização fundiária na Amazônia,
promoção do desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e das regiões rurais e a identificação,
37
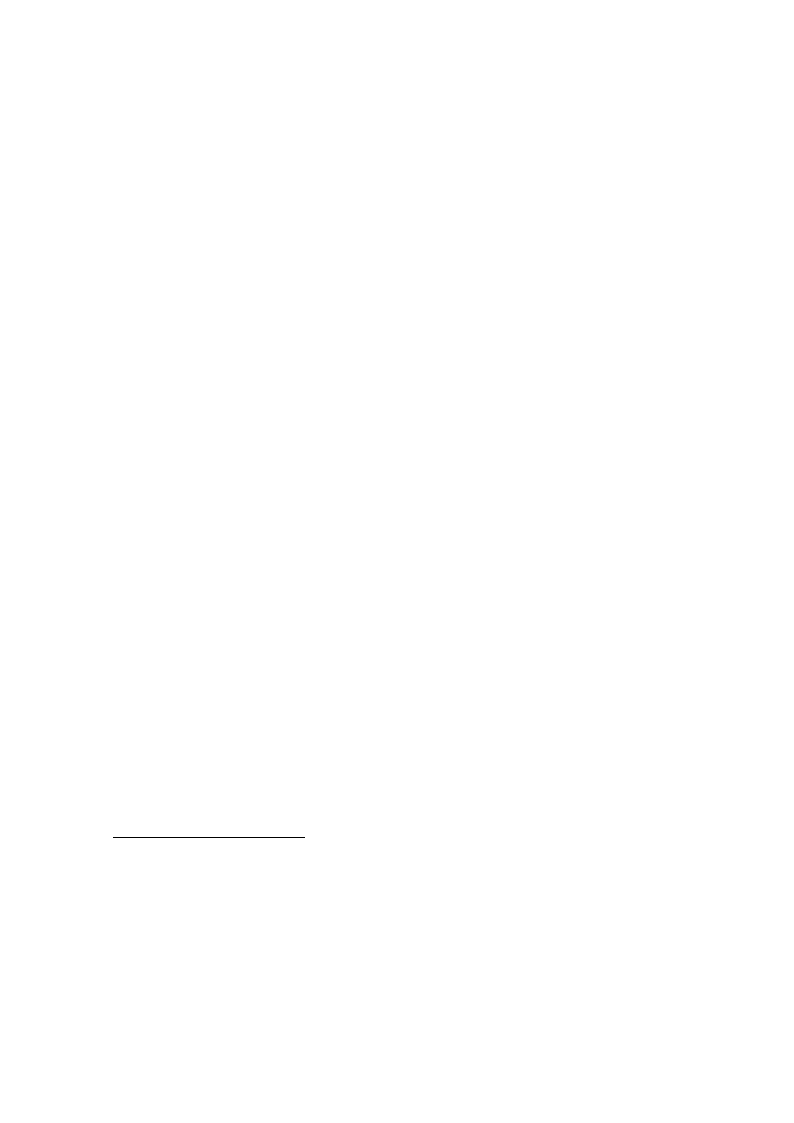
suas metas são irreais para época e acabam fracassando. Em 1987 é extinto o INCRA, dois anos
depois a MIRAD e a responsabilidade sobre a reforma agrária passa a ser do Ministério da
Agricultura. Segundo Mendonça (2010) nos anos de 1980, o debate sobre a reforma agrária e
seus atores é reposto em novos termos, visto que se buscava romper com análises
economicistas, partindo da representação dos trabalhadores como sujeitos sociais e políticos,
sinalizando algum avanço em termos de propostas políticas cujos reflexos estendem-se até o
presente.
A disputa pela presidência da República em 1989 – primeira eleição de voto direto desde
fim da ditadura militar – acabou polarizada entre Fernando Collor de Mello (PRN) e Luis Inácio
Lula da Silva (PT). Os movimentos populares saíram às ruas, ao mesmo tempo em que greves
eclodiam por todo o país. Enquanto isso, forças empresariais e militares agitavam bandeiras
como o anticomunismo, a modernização do país, o combate à corrupção e aos “privilégios” do
funcionalismo público. Grandes grupos de comunicação veicularam a ideia de que o país vivia
uma “guerra interna” (DREIFUSS, 1989, pag. 266-294). Ao fim e ao cabo, a derrota de Lula
representou não a derrota de um partido, mas de um projeto democrático-popular alimentado
por uma década de lutas sociais no campo e nas cidades (DAGNINO, 2004).
Analisando o contexto global, com o fim da União Soviética, queda do muro de Berlim
e, principalmente, com Consenso de Washington53, abrem-se caminhos para uma hegemonia
política/economia neoliberal54 na América Latina. Sendo assim, segundo Pereira (2015),
“A Gestão de Fernando Collor de Melo (1990 – 1992) promoveu uma política
econômica que deteriorou severamente as condições de vida e de emprego no campo
e nas cidades. Em nome do combate a “privilégios” na administração pública e da
modernização administrativa, avançou no desmantelamento do modelo de
intervenção do Estado em vários setores, inclusive na agricultura, por meio da redução
drástica do volume de recursos para a política agrícola, da liquidação da política de
estoques públicos de alimentos, da abertura comercial unilateral e da extinção da
Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER)
(FERREIRA et al., 2009). O INCRA permaneceu paralisado por falta de recursos”
(PEREIRA, 2015, p.389).
recolhimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades
quilombolas.
53 O Consenso de Washington foi uma recomendação internacional elaborada em 1989, que visava a propalar a
conduta econômica neoliberal com a intenção de combater as crises e misérias dos países ditos subdesenvolvidos,
sobretudo os da América Latina. Estados Unidos da América (EUA) e, posteriormente, o Fundo Monetário
Internacional (FMI) adotaram medidas ditas como obrigatórias para fornecer ajuda aos países em crises e negociar
as dívidas externas, tais como: reforma fiscal; abertura comercial; política de privatizações e redução fiscal do
Estado;
54 Acerco do conceito de neoliberalismo: AMARAL (2011), J. C. S. R. do; A Política de Gestão da Educação
Básica na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul (2007 – 2010), cap.1, Jundiaí: Paco Editorial, 2011;
38
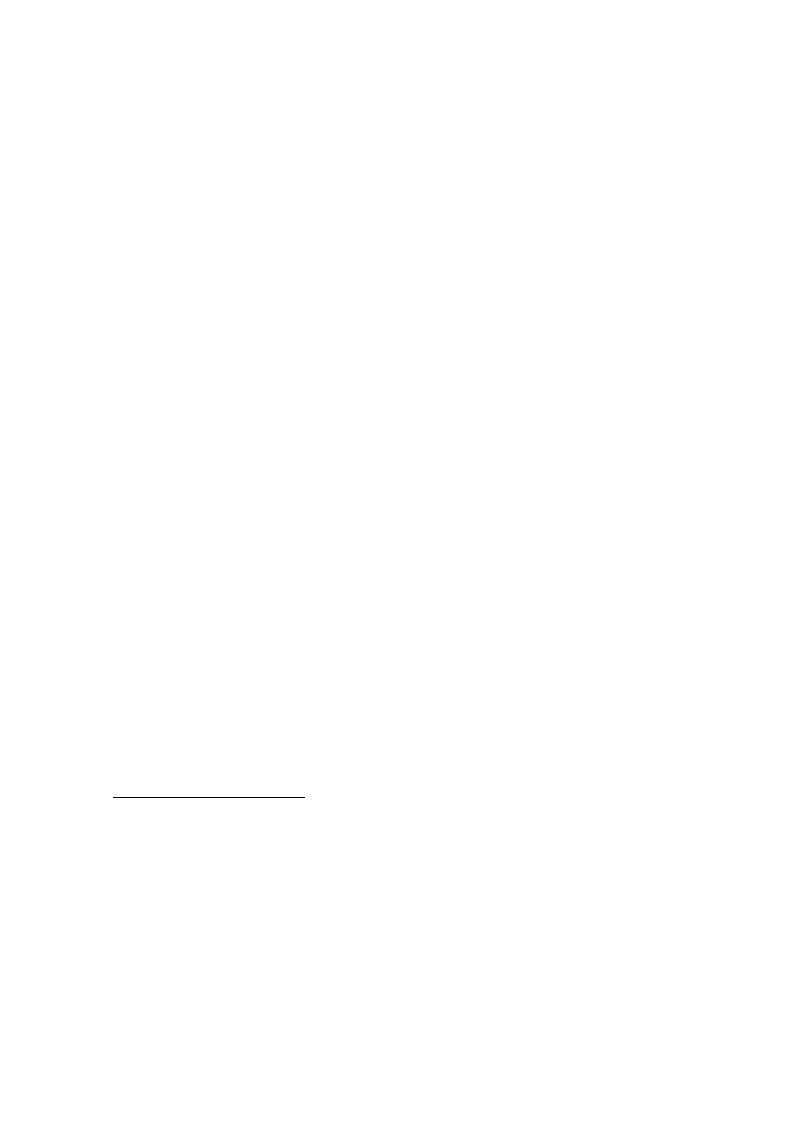
Segundo Cox et al. (2003), isto se traduziu na emergência de propostas como a
distribuição das terras realizada via livre-mercado (laissez-faire) e políticas de privatização de
setores prestadores de assistência e apoio aos produtores rurais. Na gestão de Collor, o
tratamento dado às lutas populares se limitou à repressão e à criminalização. Além disso, esse
governo não efetuou nenhuma nova desapropriação para fins de reforma agrária, ocorrendo a
política de bolsas de arrendamento e outros instrumentos para aquisição de terras sob uma
lógica mercantil. Em suma, o governo neoliberal Collor, no qual muitos brasileiros colocaram
suas expectativas, começou a mostrar graves falhas estruturais.
O Plano Collor de contenção da inflação foi um desastre, além de denúncias de
corrupção que iam aparecendo por todos os lados, com declarações contundentes vindas do
próprio irmão do presidente, envolvendo pessoas ligadas diretamente a Collor, em especial um
personagem que ficou muito conhecido à época: Paulo César Farias, o PC Farias, tesoureiro da
campanha eleitoral de Collor. (PREITE SOBRINHO, 2008). Em 1992 então é aberto o processo
de impeachment55 na Câmara dos Deputados impulsionado pela maciça presença do povo nas
ruas, como o movimento dos Caras-Pintadas56. A Câmara autoriza a abertura de processo de
impedimento do presidente, o que implica seu afastamento temporário até decisão final do
processo pelo Senado Federal. Fernando Collor de Mello renuncia antes de ser condenado. A
presidência é assumida pelo então vice-presidente, Itamar Franco.
O Governo de Itamar Franco (1992 – 1994) foi o presidente pioneiro em receber,
fazendo uma inflexão ao Governo de Collor, representantes do MST e reconhecendo a
organização como interlocutor legítimo, nomeando alguns atores do Movimento para a direção
do INCRA no início de 1993 (STÉDILE e FERNANDES, 1999; MEDEIROS, 2002). O
destaque do governo é a Lei 8629/9357, chamada de Lei Agrária, regulamenta e disciplina
disposições relativas à reforma agrária. O tema voltou a ter algum espaço na agenda
55 Impeachment é um termo inglês que corresponde a um processo político-criminal instaurado por denúncia
no Congresso para apurar a responsabilidade do presidente da República, governador, prefeito, ministros
do Supremo Tribunal ou de qualquer outro funcionário de alta categoria, por grave delito ou má conduta no
exercício de suas funções, cabendo ao Senado, se procedente a acusação, aplicar ao infrator a pena de destituição
do cargo;
56 Os Caras-Pintadas foi o nome pelo o qual ficou conhecido o movimento estudantil brasileiro realizado no
decorrer do ano 1992 que teve, como objetivo principal, o impeachment do presidente do Brasil na época, Fernando
Collor de Mello. Entre os manifestantes, havia um enorme número de estudantes secundaristas e universitários
participavam ativamente das manifestações e eram apoiados por entidades representativas da sociedade civil como
OAB, ABI, CUT, UNE e UBES;
57 Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no
Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal de 1988.
39
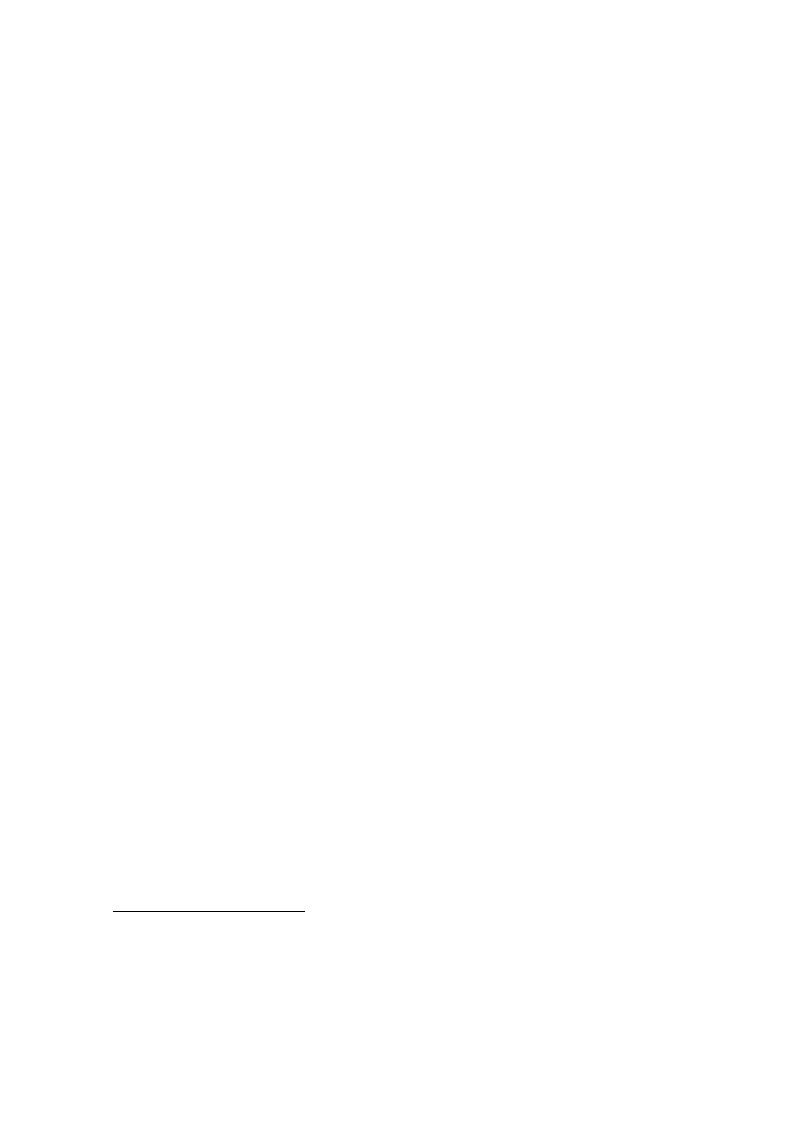
governamental, tanto pela pressão de movimentos sociais como pela sua associação com o
combate à fome. Não obstante, com a implantação do programa de estabilização monetária
(Plano Real), pressões políticas de diversos setores dentro e fora do governo minaram a
execução do limitado programa de assentamentos (PEREIRA, 2015).
A disputa presidencial de 1994, novamente polarizada, contudo entre Luís Inácio Lula
da Silva (PT) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB) gerou uma pauta em torno da política
macroeconômica e do combate à inflação. O tema da reforma agrária apareceu discretamente e
ambos os candidatos se posicionaram a favor da medida, porém com propostas distintas
(CARVALHO FILHO, 2001). Novamente Lula é derrotado nas urnas assumindo outro
presidente com uma plataforma neoliberal. O Governo Fernando Henrique Cardoso (1994 –
1998; 1999 – 2002) no que tange à política fundiária, o programa do PSDB prescrevia medidas
assistencialistas, tanto que o programa de reforma agrária estava vinculado ao Comunidade
Solidária58, o que contribuiu para alterar conjuntura agrária.
A realização da “Marcha Nacional por Reforma Agrária, Emprego e Justiça”,
organizada pelo MST, a marcha durou três meses e chegou à Brasília em 17 de abril de 1997,
um ano depois do massacre em Eldorado dos Carajás59 e expos a condição objetiva de exclusão
e marginalização da maioria da população rural produzida, sobretudo, nas últimas três décadas
pelo processo de transformação capitalista acelerada da agricultura brasileira. Apesar do
descaso das autoridades e da campanha sistemática de desqualificação dos grandes meios de
comunicação, a marcha, pacífica do início ao fim, conseguiu conquistar a simpatia de parte da
opinião pública urbana. Aos “sem-terra” se somaram, então, os “sem teto”, os “sem emprego”,
entre outros, reunindo cerca de cem mil pessoas na primeira manifestação de massas contra as
políticas neoliberais.
Uma política neoliberal executada entre 1997 e 2002 foi a Cédula da Terra (PCT) que,
segundo o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), representou
uma experiência exemplar, por isso mesmo replicável em maior escala como modelo
preferencial de acesso à terra por trabalhadores rurais sem terra ou com terra insuficiente para
a sua reprodução social. Segundo o Banco Mundial (BM),
58 O Programa Comunidade Solidária, criado pelo Decreto nº 1.366, de 12 de janeiro de 1995, foi conduzido
principalmente pelo Gabinete Civil da Presidência da República e tinha uma Secretaria Executiva, cujo principal
papel foi coordenar e promover a articulação com todos os setores envolvidos nesse plano de combate à exclusão
social. Foi encerrado em dezembro de 2002, sendo substituído pelo Programa Fome Zero;
59 O Massacre de Eldorado dos Carajás foi a morte de dezenove sem-terra que ocorrera em 17 de abril de 1996, no
município de Eldorado dos Carajás, no estado do Pará, decorrente da ação repressiva da polícia militar estadual;
40
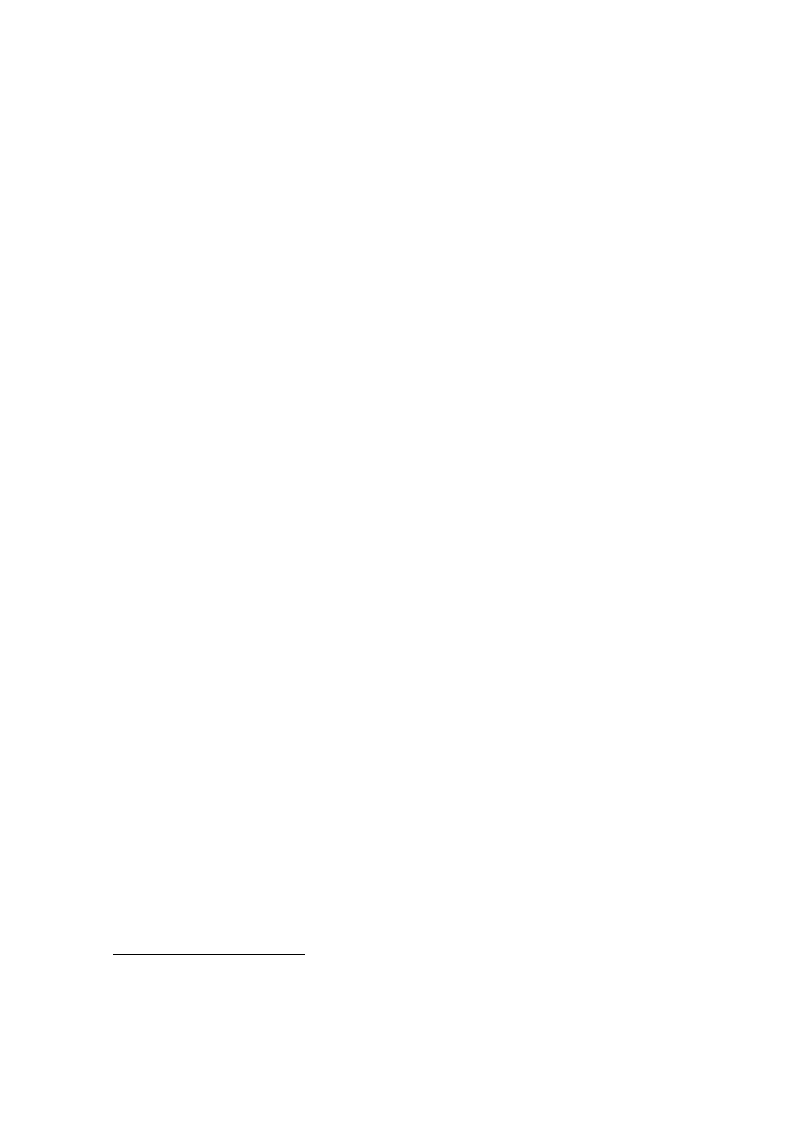
o modelo de reforma agrária através da distribuição de terras pelo governo é um
círculo vicioso: a terra é redistribuída onde há conflitos sociais e os conflitos sociais
pressionam o programa de redistribuição de terras do governo (...). À medida que
novas alternativas começam a fazer efeito, o governo poderá reduzir a ênfase nas
desapropriações e, consequentemente, quebrar a ligação entre sua política de reforma
agrária e os conflitos rurais (BANCO MUNDIAL 2003, p.127).
Ou seja, o PCT tem como característica fundamental a alteração institucional do direito
sobre a terra através do uso do mercado de terras e, como consequência, maior agilidade e
menor custo, uma vez que as estruturas de “governança do programa estão articuladas de forma
a selecionar somente os indivíduos interessados, priorizando a ação coletiva e criando
mecanismos eficientes de fomento à produção” (SILVA, 2013). Essa proposta emerge na
década 1990 – chamada de Reforma Agrária “via do mercado” – tendo como aspectos
indutores: a conscientização por parte de organismos multilaterais60 (tais como o Banco
Mundial) da importância dessa estratégia como política de combate à pobreza nos países
subdesenvolvidos e a questão dos elevados custos e a intensa burocracia do modelo de Reforma
Agrária baseado na desapropriação, demonstrando possíveis falhas institucionais na execução
da política realizada pelo Estado.
O Governo de FHC argumentou que o orçamento da União não tinha condições de
financiar um programa efetivo de reforma agrária, dadas as indenizações elevadas arbitradas
pelo Judiciário (TEÓFILO, 2003). Além de ineficaz e anacrônico, o modelo desapropriacionista
seria caro demais. Era fundamental criar outras fontes de recursos para os programas agrários,
sendo que o BIRD estava oferecendo tais recursos. Além disso, o intuito era diminuir o número
de ocupações de terra e esvaziar a ascensão das lutas sociais no campo, introduzindo um
mecanismo capaz de disputar a adesão de trabalhadores rurais (CARVALHO FILHO, 2001).
Essas justificativas vieram das críticas do BM à reforma agrária desapropriacionista e se
basearam na construção de um tipo ideal, atribuindo a responsabilidade pelo suposto fracasso
da imensa maioria das reformas agrárias realizadas pelo mundo afora.
O PCT foi criticado pelo MST como expressão do neoliberalismo no campo Francisco
Urbano, então presidente da CONTAG, fez uma crítica contundente tanto à política de reforma
agrária como ao PCT. Segundo ele,
o que se faz no Brasil é uma enganação da sociedade (...). Uma reforma agrária
envolve uma decisão política de intervenção na estrutura agrária, criando um novo
modelo de desenvolvimento, em que se desconcentra poder, riqueza e se estabelece
60 Organismos Multilaterais de uma forma ou de outra, acabam por contribuir para o capitalismo e defender as
necessidades de domínios de competências básicas para atender à demanda do mercado de trabalho, por exemplo,
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF); a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (UNESCO) e o Banco Mundial.
41

um novo patamar do processo de desenvolvimento do país. O que se faz hoje é apagar
fogo de um lado e de outro: desapropria-se um pedaço aqui pela ocupação,
desapropria-se um outro pedaço ali porque o fazendeiro ofereceu. Não se muda nada
da estrutura agrária da região (Senado, Comissão de Assuntos Econômicos,
04/09/1997).
O latifúndio que não cumprisse com a sua função social, seria “premiado” na medida
em que o pagamento aos proprietários seria em dinheiro a preço de mercado, como também se
pensarmos no quesito financiamento, a introdução de um mecanismo de compra de terra num
período de queda da rentabilidade agrícola e de endividamento dos agricultores familiares,
talvez contribuiria ainda mais para a inadimplência e a possível falência desse segmento. Em
suma, a transferência voluntária de terras via transação de mercado em detrimento da
desapropriação. Portanto, como sustentar a tese de falência do “modelo desapropriacionista” no
Brasil, se ele nunca foi levado adiante de maneira adequada?
Embora FHC tenha propagandeado que realizou a maior reforma agrária da história do
Brasil, essa realidade produziu pelo menos dois resultados lamentáveis: o represamento com o
crescimento do número de famílias acampadas, que em 2003, chegou a cento e vinte mil
famílias, e a precarização dos assentamentos implantados, que foram implantados como
projetos incompletos, que além de não terem infraestrutura básica, a maior parte também não
recebeu crédito agrícola e de investimento (FERNANDES, 2006). Na verdade, o governo FHC
nunca possuiu um projeto de reforma agrária. Durante os mandatos de seu governo, 90% dos
assentamentos implantados foram resultados de ocupações de terra. Todavia, no seu segundo
mandato, quando criminalizou as ocupações e os movimentos camponeses entraram em refluxo
e, por consequência, diminuíram as ocupações de terra, também diminuiu o número de
assentamentos implantados.
Com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (2003 – 2006; 2007 – 2010) contra o
candidato, o sucessor partidário de FHC, José Serra (PSDB) – já na sua primeira gestão –
coloca-se em xeque o problema agrário que poderia ser resolvido pelo mercado, pela integração
ao capital e com políticas públicas determinadas e dirigidas pelo Estado, devido as articulações
do ex-presidente com MST e a CUT. Contudo, é importante destacar que mesmo o governo
petista emergiu como “esperança” na questão/reforma agrária, não obstante adotou procurar
uma solução a partir da realidade capitalista, embora os movimentos camponeses participaram
nas indicações de nomes para cargos de segundo escalão do governo Lula.
O ambiente político da Reforma Agrária em 2003 ressaltou principalmente três sujeitos:
os movimentos sociais, os ruralistas e o governo. Nessa contradição entre os dois sujeitos, o
governo, que por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), anunciou uma série
42
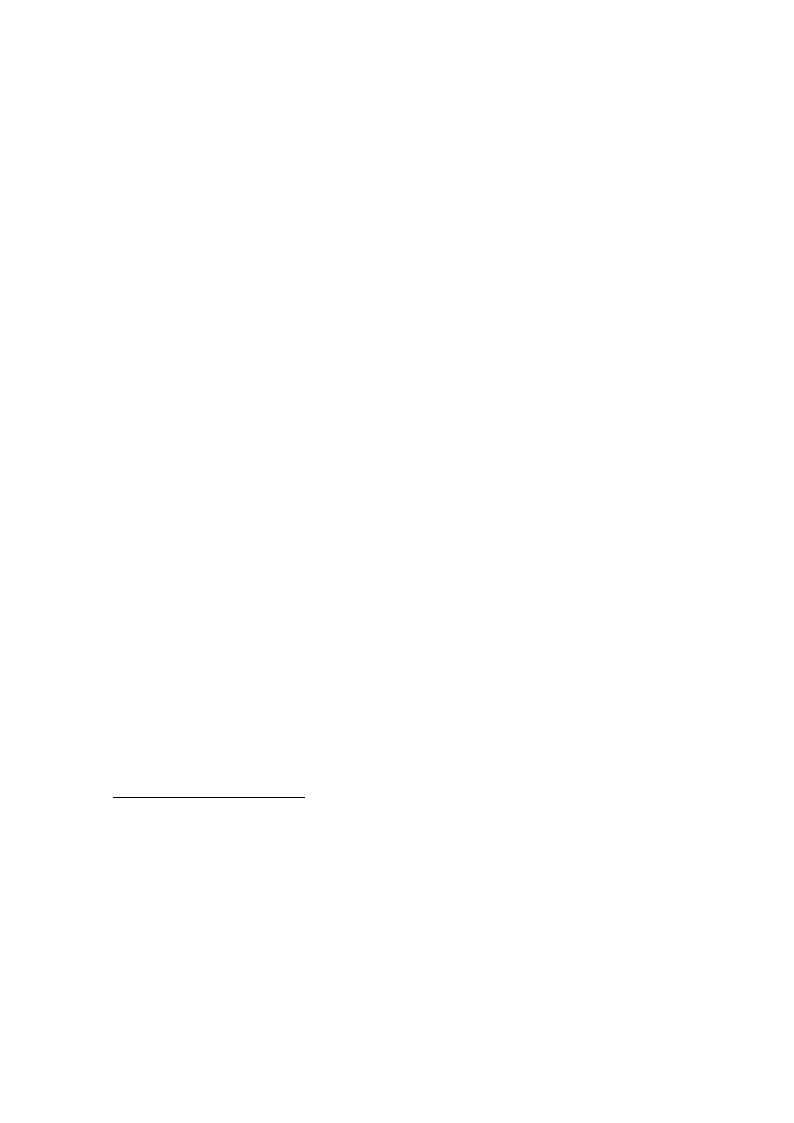
de medidas e no final do ano, em meio a controvérsias, aprovou o II Plano Nacional de Reforma
Agrária. O II Plano Nacional de Reforma Agrária61 de outubro de 2003 renovou as esperanças
entre os movimentos de luta pela terra e os apoiadores da reforma agrária. O plano previa
democratizar o acesso a terra e fortalecer expressivamente a agricultura familiar e camponesa,
nas bases do desenvolvimento territorial sustentável, em um modelo agrícola que contemplasse
as especificidades e demandas de cada região. O documento explicita,
O II PNRA é tradutor de uma visão ampliada de reforma agrária, que reconhece a
diversidade de segmentos sociais no meio rural, prevê ações de promoção da
igualdade de gênero, garantia dos direitos das comunidades tradicionais e ações
voltadas para as populações ribeirinhas e aquelas atingidas por barragens e grandes
obras de infraestrutura. [...] O meio rural brasileiro precisa se tornar, definitivamente,
um espaço de paz, produção e justiça social. A reforma agrária é uma ação
estruturante, geradora de trabalho, renda e produção de alimentos, portanto,
fundamental para o desenvolvimento sustentável da nação. (BRASIL, 2005).
Além disso, II PNRA foi construído num amplo debate democrático com diversos
setores do campo, principalmente com representação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais,
reconhecendo a diversidade social e cultural da população rural e as especificidades vinculadas
às relações de gênero, geração, raça e etnia que exigem abordagens próprias para a superação
de toda forma de desigualdade, como também reconhecendo os direitos territoriais das
comunidades rurais tradicionais, suas características econômicas e culturais, valorizando seu
conhecimento e os saberes tradicionais na promoção do etnodesenvolvimento62.
Outra política importante da gestão de Lula – no sentido de incorporação – foi o
reconhecimento de terras, quando projetos de assentamentos obtidos por estados e municípios
são reconhecidos pelo INCRA e relacionados no Sistema de Informações e Projetos de Reforma
Agrária63 (SIPRA), para que as famílias possam acessar os programas de crédito e assistência
61 II Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) foi apresentado em novembro de 2003, durante a Conferência
da Terra, em Brasília. Construído num amplo diálogo social, o Plano é fruto do esforço coletivo de servidores e
técnicos, com o acúmulo dos movimentos sociais e da reflexão acadêmica. O II PNRA combina qualidade e
quantidade, eficiência e transparência na aplicação dos recursos numa ação integrada de governo e com a
participação social na sua implementação. O I PNRA foi instituído em 1985, pelo então presidente José Sarney;
62 O etnodesenvolvimento é uma forma de pensar o desenvolvimento mais profícuo para determinadas
comunidades cuja cultura é marginalizada pelos ideais capitalistas;
63 O SIPRA destina-se ao tratamento, sistematização e recuperação de dados sobre os Projetos de Reforma Agrária
(desde a criação até a sua emancipação), bem como, dos beneficiários (da fase de cadastro, seleção,
desenvolvimento socioeconômico à titulação), propiciando desta forma o conhecimento da realidade nas áreas dos
assentamentos. Atualmente o SIPRA tem informações de aspecto econômico-sociais, com registro dos programas
ali desenvolvidos, e ainda, o cadastro atualizado de todos os assentados;
43
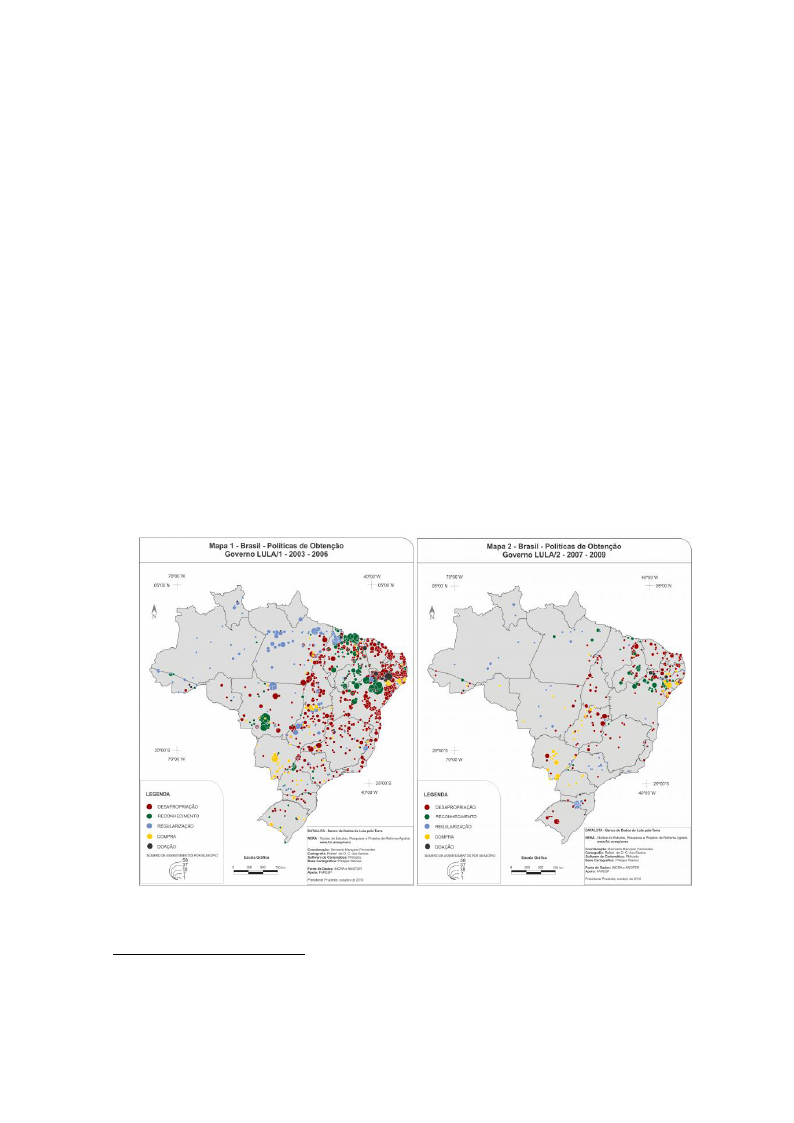
do Governo Federal, como o Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar64
(PRONAF). Oliveira (2006) aponta que se trata de reordenação fundiária, pois além de projetos
antigos, muitas vezes são substituídas famílias desistentes do lote por novas famílias. O
reassentamento de famílias com direitos adquiridos em decorrência de grandes obras de
barragens e linhas de transmissão de energia realizadas pelo Estado e/ou empresas
concessionárias privadas são também incorporados aos números oficiais da reforma agrária.
A contradição nesse contexto político provocou uma distribuição espacial generalizada
de assentamentos rurais por todas as regiões do País, com assentamentos cercados de latifúndios
por todos os lados. Esse desarranjo é uma das muitas evidências da não existência de uma
política de reforma agrária. Pois o que determinou a implantação desses assentamentos foram
lutas populares e conjunturas políticas e não um projeto estruturado pelo Estado. A reforma
agrária – em sua forma suscinta – é/deve ser uma política pública de desconcentração fundiária
por meio da desapropriação de terras. Crédito fundiário para compra de terras não deve ser
confundido com reforma agrária, para não se repetir a esdrúxula expressão: “reforma agrária de
mercado” do governo FHC.
Figura 1: Comparação de Políticas de Obtenção nas Gestões de Lula
Fonte: SANTOS (2011)
64 O PRONAF está vinculado ao Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) cujo o objetivo é financiar à
implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços
no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas, visando à geração de renda e à melhora do uso
da mão de obra familiar;
44
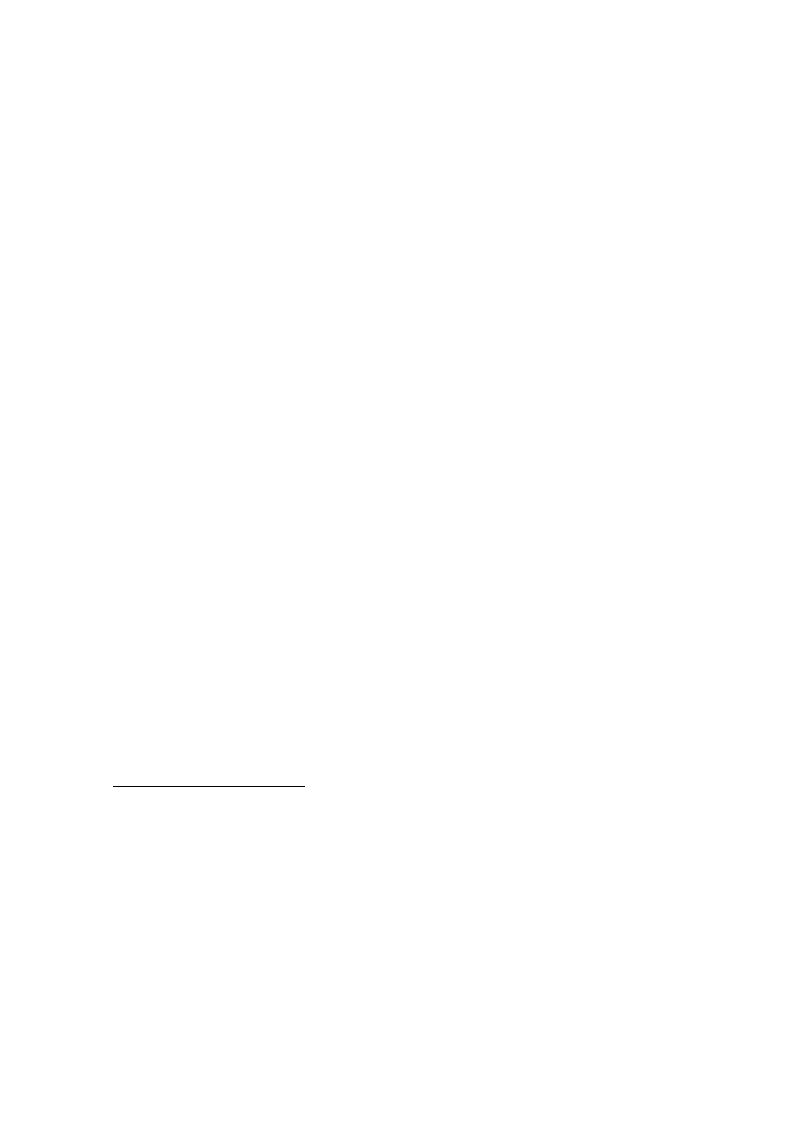
Na figura 1, há dois mapas65 comparativos referente às políticas de obtenção
(desapropriação, reconhecimento, regulamentação, compra e doação) nas duas gestões de Luiz
Inácio Lula da Silva. As políticas de regularização e reconhecimento de assentamentos antigos
são expressivas, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, o que significa aumento do número
de famílias assentadas divulgado pelo governo. Já no segundo mandato de Lula vem confirmar
a tendência do que Fernandes (2010) denominou de “reconceitualização da reforma agrária”,
ou seja, o governo se utiliza cada vez mais de políticas de incorporação na obtenção de terras,
enfrentando menos o latifúndio e o agronegócio com as desapropriações. Fernandes (2008)
explica que
De forma velada, o governo Lula não desapropria terras nas regiões de interesses das
corporações para garantir o apoio político do agronegócio. Mesmo em regiões de
terras declaradamente griladas, ou seja, terras públicas sob o domínio dos
latifundiários e do agronegócio, o governo não tem atuado intensamente no sentido
de desapropriar as terras (FERNANDES, 2008, p.8).
No primeiro mandato de Lula, esperávamos, como apontado por Mortensen et al (2001),
que o primeiro ano de governo teria grandes alterações estruturais e legais com impactos na
questão agrária, especialmente para a expansão da reforma agrária. Todavia, o que assistimos
foi que o PRONAF ganhou força, com o aumento dos recursos financeiros disponíveis,
destinados ao desenvolvimento rural. Outras iniciativas foram: a política de titulação de área
no nome da mulher, políticas de segurança alimentar e outras destinadas aos quilombolas e
indígenas entre outras ações voltadas para o desenvolvimento rural. Contudo, é importante
ressaltar que Lula foi eleito com slogan de ser “a esperança” para setores da sociedade
desvalidos, embora o seu governo teve muito mais proximidade política com o paradigma do
capitalismo agrário do que para com o paradigma da questão agrária, de modo que a questão
65 Desapropriação: procedimento pelo qual o Poder Público, retira de seu dono a propriedade de certo bem móvel
ou imóvel, fundado na necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente, adquirindo-
o para si em caráter originário, mediante justa prévia indenização;
Reconhecimento: assentamento reconhecido pelo INCRA viabilizando o acesso das comunidades que ali vivem
aos direitos básicos estabelecidos para o PNRA;
Regularização: constituição do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR de uso múltiplo com a utilização
de imagens de satélite e do georreferenciamento de todos os imóveis rurais, que resultará progressivamente num
novo mapa fundiário do país e em referência obrigatória para a formulação e implementação de políticas de
desenvolvimento rural;
Compra: ocorre o processo de desapropriação, seguida do processo de compra e venda. Posteriormente os imóveis
rurais de particulares serão incorporados à reforma agrária;
Doação: Estado faz o processo de doação de terras públicas.
Os processos políticos de obtenção estão legitimados pelo Estatuto da Terra (Lei 4.504/64) e, posteriormente, ao
PNRA (Decreto 91.766/85).
45

agrária pode ser tratada como problema inexistente, e ainda poderemos ouvir que o tempo da
reforma agrária já passou.
A contradição e o paradoxo devem ser tratados no campo político de acordo com a
essência da questão agrária, que explicita a luta de classe construindo territórios diferentes em
distintos modelos de desenvolvimento. Segundo Santos (2011) esses modelos de
desenvolvimento geram tensionamentos que aumentam a conflitualidade por causa da
expropriação e concentração da terra e das riquezas. E ainda complementa que, em uma visão
geral, ao final dos oito anos do governo Lula os números se mostram favoráveis nas esferas
econômica e social. No entanto, o campo brasileiro ainda enfrenta sérias contradições geradas
pelas consequências de um modelo de desenvolvimento pautado nos interesses do grande
capital nacional e estrangeiro, e no latifúndio. A sociedade continua arcando com as
dificuldades, e muitas vezes desinteresse do Estado brasileiro em concretizar a reforma agrária.
46
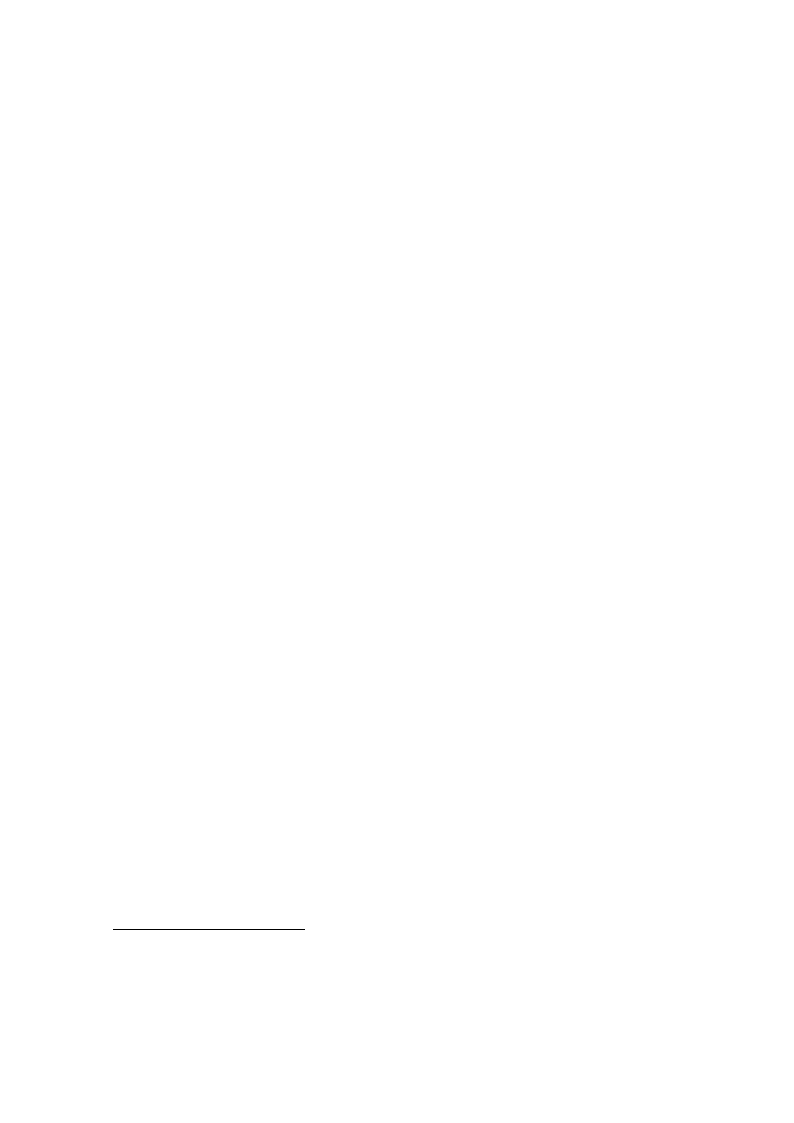
CAPÍTULO II – “A luta pela terra não tem volta”: O surgimento do MST
“Madre terra nossa esperança
Onde a vida dá seus frutos
O teu filho vem cantar
Ser e ter o sonho por inteiro
Ser sem-terra, ser guerreiro
Com a missão de semear
À Terra, terra”
(Pedro Munhoz, Canção da Terra)
O Movimento surge num contexto brasileiro de luta pela democracia, transição política
e rupturas. A principal justificativa para tal ação, foram pessoas inconformadas com a nova
política de desenvolvimento agropecuário implantado no período da Ditadura Militar, levando
a classe trabalhadora (rural) a se reunir em movimentos sociais. Primeiramente, há necessidade
de se aprofundar o conceito de campesinato, especialmente, no Brasil para compreensão do
surgimento do MST.
Para se resistir, se deve produzir: A gênese do campesinato
Na sua forma mais suscinta, campesinato corresponde a uma conjectura social de
produção, cujos “fundamentos se encontram no caráter familiar, tanto dos objetivos da atividade
produtiva – voltados para as necessidades da família – quanto do modo de organização do
trabalho, que supõe a cooperação entre os seus membros” (WANDERLEY, 2014, p.26).
Corresponde, portanto, forma de viver e de trabalhar no campo que, mais do que uma simples
forma de produção, corresponde a um modo de vida e a uma cultura. Além disso,
[...] o campesinato, forma política e acadêmica de reconhecimento conceitual de
produtores familiares, sempre se constituiu, sob modalidades e intensidades distintas,
um ator social da história do Brasil. Em todas as expressões de suas lutas sociais, seja
de conquista de espaço e reconhecimento, seja de resistência às ameaças de destruição
ao longo do tempo e em espaços diferenciados, prevalece um traço comum que as
define como lutas pela condição de protagonistas dos processos sociais (HISTÓRIA
SOCIAL DO CAMPESINATO, 2008/2009)66
O campesinato67 é uma categoria social, um modo de vida que se formou e que
permanece existindo no Brasil – contrapondo-se aos meios de instalação da pequena produção
independente – e que a sua compreensão nos permite entender como esta parcela da população
66 A Coleção História Social do Campesinato, composta, até o presente momento, de nove livros publicados entre
2008 e 2010, dedica-se ao estudo das diversas dimensões do campesinato. As passagens aqui citadas são da
Apresentação Geral, assinada pelos membros do Conselho Editorial da Coleção e se encontra em todos os seus
volumes;
67 Lenin (1917).
47

se organiza e se articula para permanecer reproduzindo-se enquanto camponês, concomitante à
margem e dentro de um sistema que o subjuga, ou seja, os fluxos e refluxos dos recursos de
repressão da força de trabalho. A origem do campesinato no Brasil (ainda) é uma incógnita,
pois entendendo o camponês como uma classe68, houve, contudo, a “existência de uma classe
camponesa que corresponde aos agricultores excluídos do pacto político, os sem-vozes”
(SABOURIN, 2009, p.8). Reelaboram-se novas categorias científicas que ressignificam o
campesinato. E isso ocorre de duas formas:
a) quando realizada pelo Estado, que procura introduzir uma nova categoria através
de políticas públicas de financiamento, afirmando a existência de uma agricultura
familiar. Com a produção da categoria “agricultor familiar”, nega-se, politicamente, a
existência de uma classe camponesa brasileira e das lutas historicamente travadas por
ela;
b) quando esta categoria é ressignificada pelos próprios camponeses – e os
movimentos sociais ligados a eles – que procuram se fortalecer. Em suas
reivindicações políticas por direitos a conquistar, passam a se nomear de acordo com
suas características identitárias vinculadas aos seus territórios (CUNHA, 2012).
Além de Karl Marx, Lênin vai tratar dos camponeses no interior do desenvolvimento
das relações capitalistas na Rússia:
As relações sociais de produção e o desenvolvimento das forças produtivas são uma
questão central no entendimento da sociedade capitalista, ou seja, há uma
correspondência entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais.
Entretanto, embora haja esta vinculação e interdependência entre as relações sociais e
o desenvolvimento das forças produtivas, não há entre elas uma harmonia e
uniformidade sincronizada. É neste contexto, de desigual relacionamento entre as
forças de produção e as relações sociais que se pode compreender a existência
camponesa (FABRINI, 2002, p.79).
Esta desigual relação entre as forças produtivas da sociedade fez com que Lênin se
referisse ao campesinato como uma “massa reacionária, apoiada em formas arcaicas e
patriarcais de vida, na verdade a principal fortaleza do absolutismo” (ABRAMOVAY, 1998,
p.39). Na Rússia, o que Lênin queria mostrar era “que o peso imenso das pequenas propriedades
mostrava, era a massa de indivíduos paupérrimos que, embora possuindo um lote de terra, eram
obrigados a assalariar-se para viver”. A partir dessa perspectiva de Lênin, criou-se um
verdadeiro paradigma marxista no estudo da questão agrária, que segundo o autor acima
referido: “o esforço permanente de encontrar na diferenciação social dos produtores a essência
da vida agrária de qualquer país capitalista” (IDEM, p.42).
Para Lênin a migração do camponês para cooperação na agricultura evitaria a
possibilidade sólida de retorno ao capitalismo, pois a grande preocupação de Lênin com os
68 A divisão da sociedade em classes é consequência dos diferentes papéis que os grupos sociais têm no processo
de produção.
48

camponeses estava ligada com a dispersão entre esses, quando se desuniam se aliavam
economicamente e politicamente à burguesia. Sendo assim, tornavam-se inimigos dos anseios
da classe operária revolucionária. Fiel a tradição marxista, Lênin vê este processo como
necessário, pois relacionado com a extração de mais-valia69 (expropriação da força de trabalho
pelo capitalista que detém os meios de produção), sem a qual o capital não pode seguir seu
processo de valorização contínua.
A tese leninista influenciou todo o debate do desenvolvimento da agricultura no Brasil
até meados dos anos 80. As incursões das ciências sociais agrárias no país foram movidas pelo
enfoque leninista, argumentando que a expansão do capital no campo aconteceria através da
concentração de terra e capital nas grandes unidades de produção de trabalho assalariado
(REDIN e SILVEIRA, 2010). Embora as primeiras lutas camponesas organizadas com
proporção nacional ocorreram nas décadas de 1950 e 1960 com as Ligas Camponesas formadas
no Nordeste brasileiro. Estas, como afirma Stédile (2006) “foram poderoso movimento de
massas, com enorme capacidade de mobilização, para defender a urgência da realização da
reforma agrária com a palavra de ordem: „reforma agrária na lei ou na marra”. As lutas de
Canudos70, na Bahia; Contestado71, entre Santa Catarina e Paraná; a guerrilha de Porecatu72,
também no Paraná; as greves de colonos nas fazendas de café em São Paulo; Trombas73 e
Formoso em Goiás; dentre outras, representaram importantes capítulos do enfrentamento
camponês ao Estado e aos latifundiários. Porém, foram conflitos localizados, sem articulação
nacional.
69 Marx (2014);
70 Guerra de Canudos foi o confronto entre um movimento popular de fundo socioreligioso e o Exército da
República – contra os latifúndios improdutivos – que durou de 1896 a 1897, na então comunidade de Canudos, no
interior do estado da Bahia, no Brasil. O livro Os Sertões, de Euclydes da Cunha, publicado em 1902, retrata este
confronto;
71 A Guerra do Contestado foi um conflito que envolveu posseiros e pequenos proprietários de terras, de um lado
e os poderes estaduais e federal, de outro, entre 1912 e 1916, numa região rica em erva-mate e madeira, entre os
estados de Santa Catarina e Paraná;
72 A Guerra de Porecatu, que teve seu início em 1940, foi um conflito entre posseiros, apoiado pelo PCB e grandes
proprietários de terras, que tinham do seu lado o Estado. O conflito só se encerrou em 1951, com a intervenção
policial do Estado, que defendia a posse dos fazendeiros para seu projeto de industrialização do campo;
73 O movimento político de Trombas e Formoso configura a resistência armada de camponeses do norte do Estado
de Goiás, em meados da década de 1950, que se rebelaram contra o processo de expropriação de terra liderada por
um grupo de grileiros e fortalecidos pelo suporte do governo do Estado.
49

Somente entre 1950 e 1960 que as Ligas Camponesas foram se organizando no Nordeste
brasileiro contra o latifúndio (OLIVEIRA, 1988). O apogeu das Ligas Camponesas ocorrera
em 1964 com atuação em aproximadamente 14 estados, que segundo Morais:
O apogeu das Ligas Camponesas como organização de massas rurais deu-se nos
primeiros meses de 1964, época em que se conseguiu organizar a Federação das Ligas
Camponesas de Pernambuco, integrada por quarenta organizações camponesas
(ligas), um liga de mulheres, uma liga de pescadores, uma liga urbana, uma liga de
desempregados e quatro sindicatos de assalariados agrícolas (MORAIS, 1997. p 67).
Nos meses antecedentes ao golpe militar as Ligas tinham entre 70 e 80 mil pessoas
distribuídos pelo território nacional. A partir do seu ressurgimento em 1955, elas deixaram de
ser organizações isoladas para se tornarem um movimento camponês de massa com grande
repercussão nacional e internacional. “Não se pode negar o importante papel que as Ligas
desempenharam entre 1955 a 1964 na consciência nacional em favor da reforma agrária”
(MORAIS, 1997. p.71). Contudo, o golpe civil-militar em 1964 interrompeu todo esse
processo. Sua organização foi desarticulada, líderes foram presos, torturados, exilados e mortos,
alguns deles pelos próprios fazendeiros e usineiros.
Nas sociedades camponesas a relação sociedade-natureza ocorre de forma inversa, dado
que a natureza é considerada um dom, envolvendo relações com o sagrado. A retribuição de
uma dádiva – como a chuva que favorece a colheita – ocorre nas orações, nos ritos e nas festas
realizadas em agradecimento a uma divindade. Herédia (1979) relata a relação existente entre
a festa de São José, em março – que coincide com o início do plantio de certos produtos – e a
festa de São João, em junho – que ocorre no período da colheita – na Zona da Mata
Pernambucana. Nesse sentido, o campesinato é uma categoria histórica por sua condição de
saber manter as bases da reprodução biótica dos recursos naturais (GUZMÁN e MOLINA,
2013), como também a energia utilizada; autossuficiência e natureza da força de trabalho.
Neste cenário que houve aumento da monocultura no campo – com o financiamento e o
processo de “modernização74” da agricultura – havendo uma massa de assalariados no campo,
contrapondo-se, ao agravamento da situação de expropriação e pobreza vivenciada por milhares
de trabalhadores rurais, surge a Comissão Pastoral da Terra (CPT). Organismo ligado à Igreja
Católica, criado para atuar juntamente com os trabalhadores rurais assalariados e camponeses.
Segundo Jesus (2013), o trabalho dos agentes da CPT criou subsídios em vários estados,
possibilitando à organização da luta e o surgimento de diversos Movimentos Sociais.
Inicialmente a CPT atuou junto aos trabalhadores e trabalhadoras com o serviço pastoral, porém
74 Martine (1991, p.7-37).
50

foi se envolvendo, gradativamente na luta diária e passou a organizar mais politicamente esses
trabalhadores.
Atualmente, há um movimento internacional camponês, a Via Campesina, que visa
articulações nos processos de mobilização social dos povos do campo em nível global. É uma
organização camponesa de pequenos e médios agricultores, trabalhadores e trabalhadoras
agrícolas, mulheres camponesas e comunidades indígenas dos continentes asiático, africano,
americano e europeu, como também adota uma perspectiva autônoma e pluralista.
Terra para quem nela Vive e Trabalha
É nesse contexto que, inspirado pelo trabalho da Comissão Pastoral da Terra, juntamente
com a ação de sindicatos de trabalhadores rurais do Sul do país, surge o Movimento dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem-Terra (MST). Sobre o processo de gestação do
movimento, Fernandes descreve que:
O Movimento começou a ser formado no Centro-Sul, desde 7 de setembro de 1979,
quando aconteceu a ocupação da gleba Macali, em Ronda Alta no Rio Grande do Sul.
Essa foi uma das ações que resultaram na gestação do MST. Muitas outras ações dos
trabalhadores sem-terra que aconteceram nos estados de Santa Catarina, Paraná, São
Paulo e Mato Grosso do Sul, fazem parte da gênese e contribuíram para a formação
do Movimento. Assim a sua origem não pode ser compreendida por um momento ou
uma ação, mas por um conjunto de ações que duraram um período de pelo menos
quatro anos (FERNANDES, 1999. p.65).
Com a implantação do atual modelo de desenvolvimento econômico da agropecuária,
apostou-se no fim do campesinato. Contudo, por causa da repressão política e da expropriação
resultantes do modelo econômico, nasceu um novo movimento camponês na história da
formação camponesa do Brasil. Aos que acreditaram no fim do camponês, não atentaram para
o fato que o capital não comporta somente uma forma de relação social, ou seja: o
assalariamento. Ainda, a propósito, o próprio capital, em seu desenvolvimento desigual e
contraditório, cria, destrói e recria o campesinato. É por essa lógica que podemos compreender
a gênese do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra. Segundo Silva,
A atividade do campesinato era subjugada por todas as contradições próprias das
economias de mercado e do capitalismo: a concorrência, a luta pela independência
econômica, a monopolização da terra (comprada ou arrendada), a tendência à
concentração da produção nas mãos de uma minoria, a proletarização da maioria e sua
exploração pela minoria que dispunha do capital comercial e que empregava operários
agrícolas (SILVA, 2012, p. 114).
51

Essa resistência e lutas históricas do campesinato brasileiro têm como fruto o MST. É
importante destacar que a gênese do movimento é inspirada em teóricos como Karl Marx75,
Moisey Pistrak76 e Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido pelo pseudônimo Lenin77, esse
último principalmente pelo seu conceito de centralismo democrático78 (LENIN, 1901; LENIN,
1904). Nesse processo, os fatores econômicos, políticos e ideológicos são fundamentais para a
compreensão da natureza do MST. Segundo Bernardes (1999), de 1979 a 1984 aconteceu o
processo de gestação do MST. Denominamos de gestação o movimento iniciado desde o seu
surgimento, que reuniu e articulou as primeiras experiências de ocupações de terra, bem como
as reuniões e os encontros que proporcionaram, em 1984, o nascimento do MST ao ser fundado
oficialmente pelos trabalhadores em seu Primeiro Encontro Nacional, realizado nos dias 21 a
24 de janeiro, em Cascavel, no estado do Paraná. Além disso, em 1985, de 29 a 31 de janeiro,
os então sem-terra realizaram o Primeiro Congresso, incitando o processo de territorialização79
do MST pelo Brasil.
O ponto de partida para construção do MST foi um processo organizacional básico,
composto por coordenação, direção, secretaria e setores, baseando-se desde as práticas das
organizações camponesas históricas e, principalmente, das experiências vivenciadas, quando as
famílias organizaram comissões e núcleos nos acampamentos e nos assentamentos. O seu
começo foi a ocupação da terra e com o slogan: “terra não se ganha, terra se conquista e a
ocupação é a única solução”. Esses processos acontecem concomitante em vários municípios,
estados e regiões. Foram lutas simultâneas, desde a organização para a ocupação da terra até as
lutas por infraestrutura no assentamento, na conquista do Programa Especial de Crédito para a
Reforma Agrária (Procera), “na elaboração de um projeto de educação para as escolas dos
acampamentos e assentamentos, na alfabetização de jovens e adultos, na organização do
trabalho e da cooperação” (BERNARDES,1999).
75 Karl Marx (1818 – 1883);
76 Moisey Pistrak (1888 – 1937);
77 Lenin (1870 – 1924);
78 Centralismo democrático é um sistema de organização interna adotado nos partidos comunistas leninistas, pelo
qual as divergências programáticas são debatidas democraticamente em todas as instâncias do partido, devendo
todos os membros cumprir a decisão sob pena de sofrerem sanções;
79 Territorialização enquanto formas de organização e reorganização social, modos distintos de percepção,
ordenamento, reordenamento em termos de relações com o espaço;
52
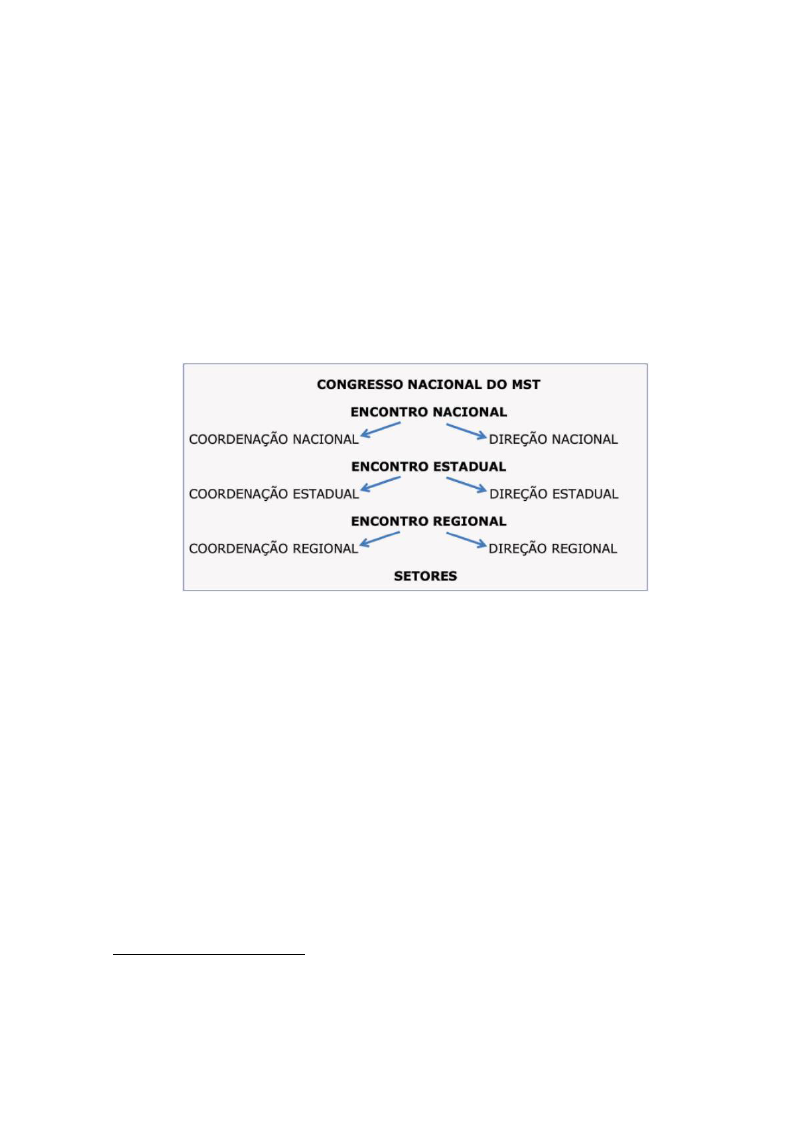
Em janeiro de 1984, na cidade de Cascavel – PR80, inspirados pelo trabalho pastoral da
CPT, lideranças camponesas de dezesseis estados brasileiros decidem fundar o MST. Com
objetivo de organizar um movimento de massa nacionalmente organizado, que pudesse
conscientizar os camponeses a lutarem por terra e por uma sociedade mais justa, surge o maior
movimento camponês que o Brasil já conheceu. Sobre isso, Stédile (2009. p. 2) destaca que
“queríamos, enfim, combater a pobreza e a desigualdade social. A causa principal dessa
situação no campo era a concentração da propriedade da terra, apelidada de latifúndio”
(www.mst.org.br).
Figura 2: Estrutura organizacional do MST
Fonte: GARCIA (2004, p. 62)
A Coordenação Nacional, composta por militantes representantes dos estados; uma
Direção Nacional na qual cada Estado possui um representante; uma coordenação e uma direção
estadual; uma coordenação e uma direção regional. As Coordenações e as Direções estaduais
são eleitas, bienalmente no Encontro Nacional, onde participam os representantes escolhidos
em cada um dos Estados. O Encontro Nacional, além de ser um espaço de caráter eletivo, é um
espaço também de revisão e avaliação dos processos e diretrizes de organização de regime
interno (GARCIA, 2004). Seus líderes são essencialmente de origem camponesa. Eles residem
em geral em assentamentos rurais, vivem modestamente, e mantêm laços próximos com as suas
bases.
80 O estado do Paraná é referência nos movimentos do campo devido a revolta dos posseiros do Sudoeste, em
1957, e as lutas de Porecatu, no Norte Central, são marcas da histórica luta pela terra; primeiro estado a ter
diretrizes para educação do campo e ter em seu território o maior assentamento da América Latina, o assentamento
Marcos Freire.
53
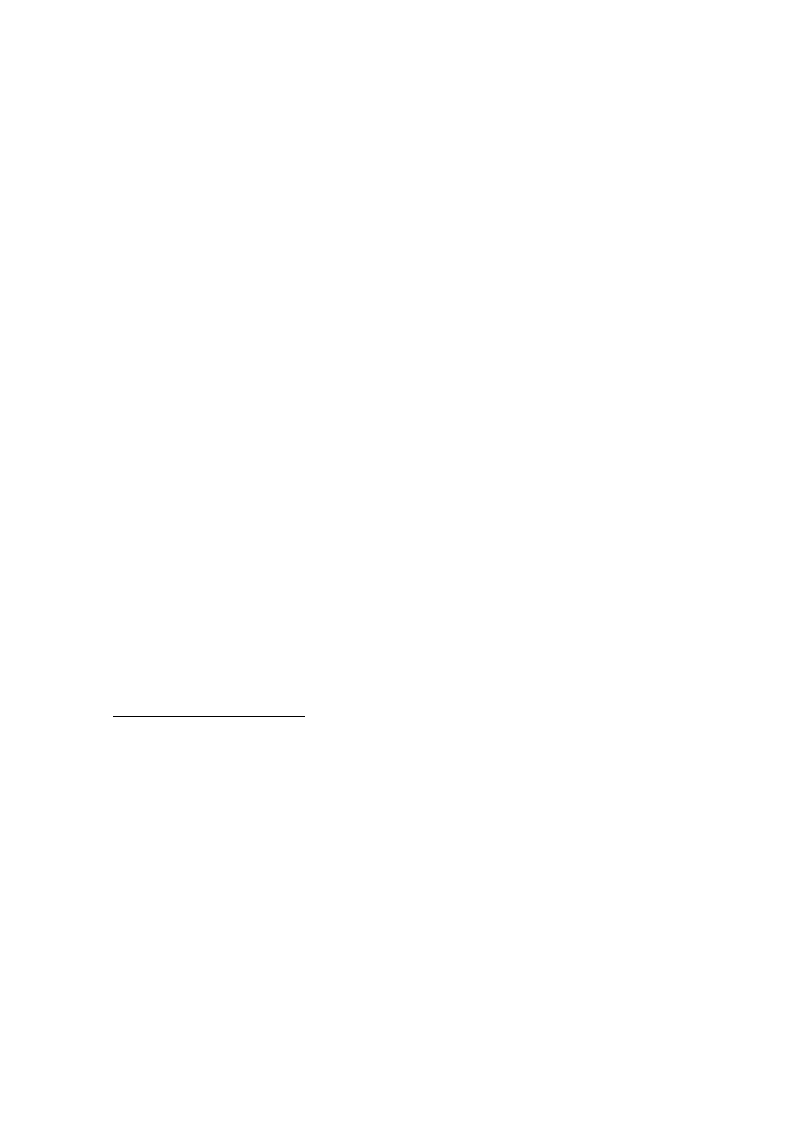
Geralmente, os militantes do MST passam por um processo que envolve inicialmente o
acampamento e, na sequência, o assentamento. O acampamento, caracterizado pelos barracos
de lona, geralmente na beira das estradas, prepara a ocupação da terra ou é organizado
imediatamente após essa. Nele, as famílias são organizadas com o objetivo principal de ocupar
e conquistar a terra. “Os sem-terra chegam a viver quatro anos embaixo da lona-preta e, sem
dúvida alguma, é um exercício ‘pedagógico’ fundamental para a formação política de cada um”
(MACHADO, 2005, p. 82). Depois que a terra é plenamente conquistada, as famílias saem da
condição de acampadas e se tornam assentadas. No assentamento, cada família tem seu pedaço
de terra e a sobrevivência desses depende da produção agrária. Ao se tornarem assentados, os
indivíduos passam a uma nova condição de vida, mas continuam precisando de suporte
(MARCONI e SANTOS, 2016).
Os últimos dados do INCRA81 apontam que atualmente há 9.394 assentamentos em todo
o território nacional ocupando uma área de 88.276.525,7811 hectares. Especificamente no
estado do Rio Grande do Sul (RS) há 12.413 famílias assentadas no período de 1986 a 2016.
Além disso, o Instituto classifica em dois grupos: O Grupo I (projetos criados pelo Incra
atualmente) é formado pelos: Projeto de Assentamento Federal82 (PA); Projeto de
Assentamento Agroextrativista83 (PAE); Projeto de Desenvolvimento Sustentável84 (PDS);
Projeto de Assentamento Florestal85 (PFA); Projeto de Assentamento Casulo86 (PCA); Projeto
Descentralizado de Assentamento Sustentável (PDAS). Já o Grupo II (modalidades de áreas
reconhecidas pelo Incra) é composto por: Projeto de Assentamento Estadual87 (PE); Projeto de
Assentamento Municipal88 (PAM); Reservas Extrativistas89 (RESEX); Território
81 Disponível em: <http://www.incra.gov.br/assentamento>;
82 Infraestrutura básica (estradas de acesso, água e energia elétrica) de responsabilidade da União;
83 Os beneficiários são geralmente oriundos de comunidades extrativistas;
84 Projetos de Assentamento estabelecidos para o desenvolvimento de atividades ambientalmente diferenciadas e
dirigido para populações tradicionais (ribeirinhos, comunidades extrativistas, etc.);
85 É uma modalidade de assentamento, voltada para o manejo de recursos florestais em áreas com aptidão para a
produção florestal familiar comunitária e sustentável, especialmente aplicável à região norte;
86 Diferencia-se pela proximidade à centros urbanos e pelas atividades agrícolas geralmente intensivas e
tecnificadas;
87 Aporte de recursos de crédito e infraestrutura de responsabilidade das Unidades Federativas segundo seus
programas fundiários;
88 Aporte de recursos de crédito e infraestrutura de responsabilidade dos municípios;
89 Reconhecimento pelo Incra de áreas da Resex como Projetos de Assentamento viabilizando o acesso das
comunidades que ali vivem aos direitos básicos estabelecidos para o Programa de Reforma Agrária;
54
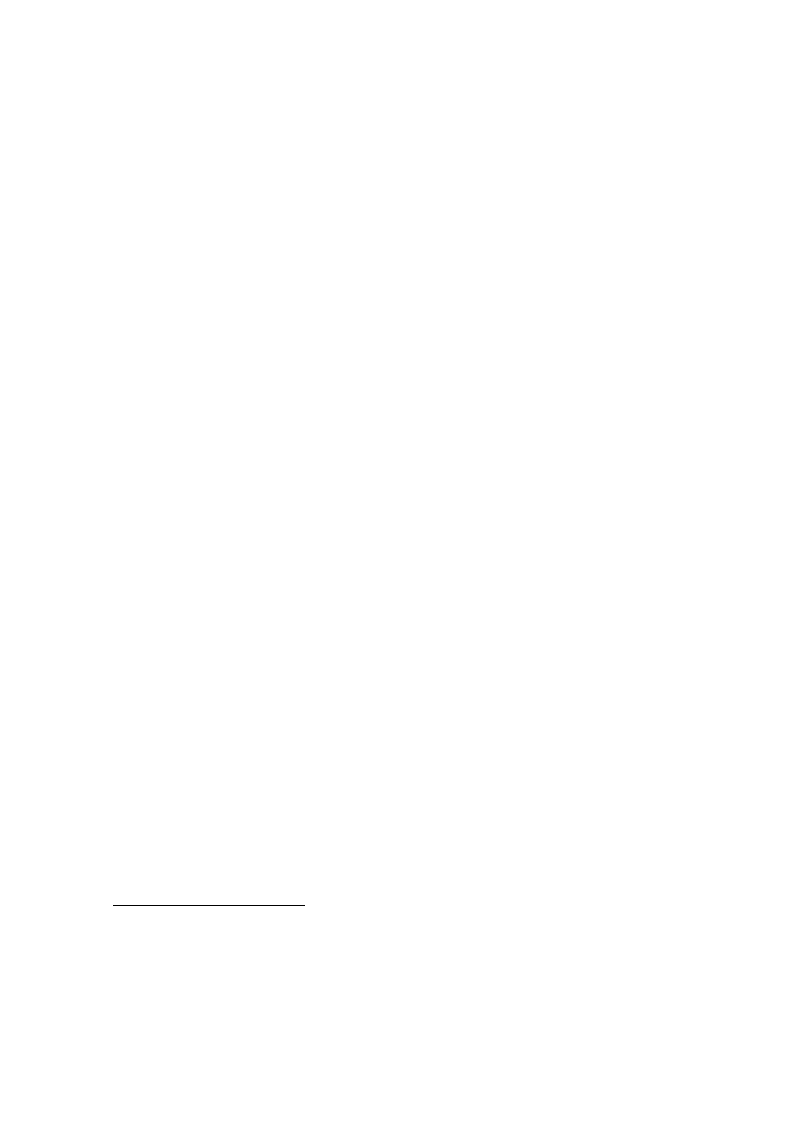
Remanescentes Quilombola90 (TRQ); Reconhecimento de Assentamento de Fundo de Pasto91
(PFP); Reassentamento de Barragem92 (PRB); Floresta Nacional93 (FLONA); Reserva de
Desenvolvimento Sustentável94 (RDS).
Há uma visão de totalidade da vida e da sociedade, não dividindo o social, o político e
o econômico em compartimentos estanques, mas encarando-os como uma totalidade, de forma
integrada. A lógica de fraternidades dá prioridade à cultura de produtos destinados para
autoconsumo e, em seguida, ao mercado interno, embora também desenvolva a cultura de
produtos de exportação e estabeleça indústrias de beneficiamento de produtos agrícolas, dando
prioridade absoluta ao sistema cooperativista, onde cada produtor é um cooperativado e,
consequentemente, tem igual participação na mesma. Dada a natureza desta luta agrária – e as
reais opções disponíveis para o MST – a orientação contestatória e política de pressão do
movimento devem ser entendidas, antes de tudo, como baseadas em considerações práticas em
vez de qualquer ideologia dogmática. Segundo Carter (2009) o MST contribui para o
aperfeiçoamento da democracia brasileira, devido:
1 – Fortalecer a sociedade civil brasileira através da organização e incorporação dos
setores marginalizados da população;
2 – Realçar a importância do ativismo público como um catalisador para o
desenvolvimento social;
3 – Facilitar a extensão e exercício dos direitos básicos do cidadão – direitos civis,
políticos e sociais – entre os pobres; e
4 – Engendrar um senso de utopia e afirmação de ideais impregnando ao longo,
complexo e inconclusivo processo de democratização do Brasil (CARTER, 2009,
p.129).
Embora operando com recursos escassos, não tem somente desenvolvido uma
sofisticada estrutura organizacional e afiado sua capacidade estratégica, mas também tem
desenvolvido meios engenhosos para lidar com problemas logísticos. Através dos anos, o
movimento tem mostrado uma destacada capacidade para inovação e a habilidade de aprender
com os erros do passado, a incursão dialética. A inventividade do MST é mais clara na forma
como seus ativistas locais planejam e executam suas, em geral, arriscadas ocupações de terras
– mobilizações não-violentas de massa, as quais são conduzidas com uma precisão quase militar
(CARTER, 2009). O movimento também tem sido criativo em seus esforços para levantar
90 Regularização e o estabelecimento de comunidades remanescentes de quilombos;
91 Projetos criados pelo Estado ou Municípios;
92 A implantação é de competência dos empreendedores e o Incra reconhece como beneficiário do PNRA;
93 A obtenção de terras não é feita pelo Incra, mas pelos órgãos ambientais federal quando da criação das FLONAS;
94 São unidades de conservação de uso sustentável.
55
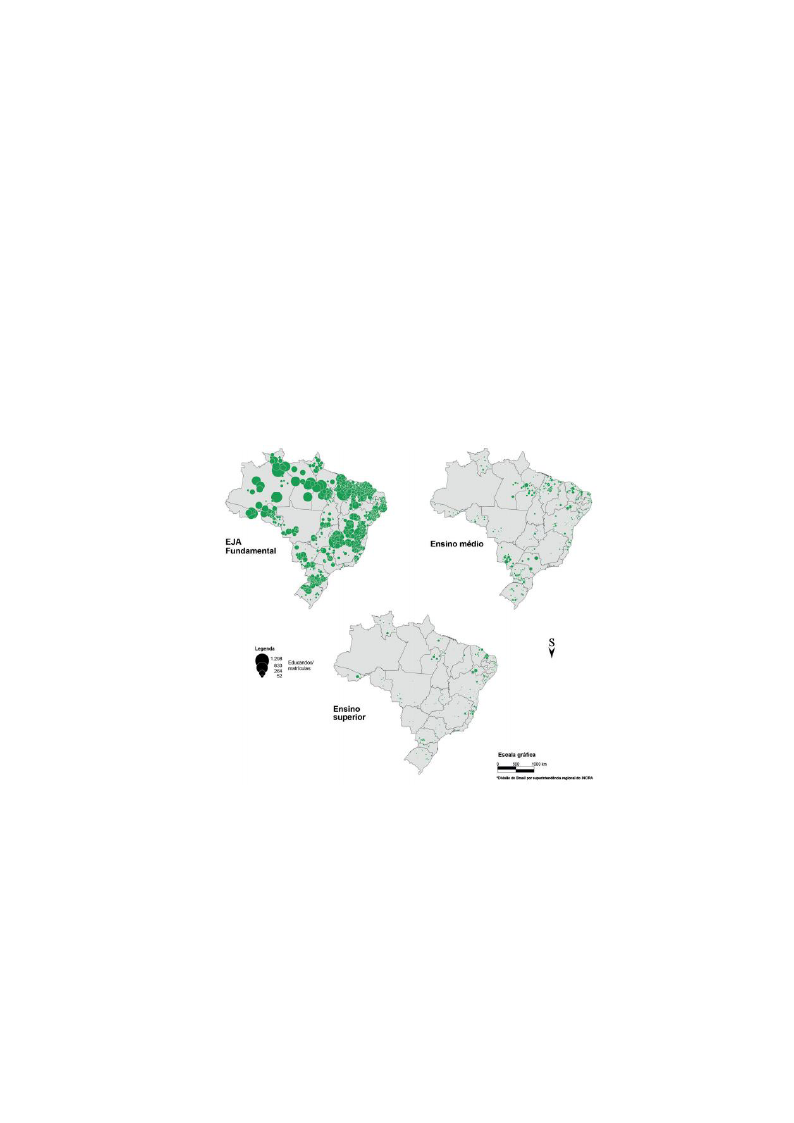
fundos. Dois exemplos justificam essas questões: o episódio da marcha nacional a Brasília –
Eduardo de Carajás, em 1996, descrita no capítulo anterior – como também a formação de
cooperativas para participação em pregões, leilões e/ou créditos agrícolas na aquisição de
maquinário e insumos.
Além disso, o MST enfatiza a educação de seus participantes. Segundo o levantamento
disponível em seu site há mais de 2.000 escolas públicas construídas em acampamentos e
assentamentos; 200.000 crianças, adolescentes, jovens e adultos com acesso à educação; 50.000
adultos alfabetizados, 2.000 estudantes em cursos técnicos e superiores; mais de 100 cursos de
graduação em parcerias com as Universidades públicas (www.mst.org.br). Portanto, o MST
tornou-se um movimento com destaque na América Latina essas articulações entre lutas sociais
e educação.
Figura 3: Educandos/matrículas de cursos do Pronera por município de origem do educando e nível (1998-2011)
Fonte: Relatório do II PRONERA (BRASIL, 2015)
O relatório do II PRONERA aponta que 75.280 (90,8%) dos educandos matriculados
na EJA fundamental; 4.900 (5,9%) no Ensino Médio e 2.715 (3,3%) na Educação Superior
(BRASIL, 2015). Com esses dados é possível destacar a demanda alta pela conclusão do Ensino
Fundamental, como discutido anteriormente, fruto da precarização escolar no ambiental rural
ou para classe trabalhadora rural e seus descendentes. Experiências como as Escolas
56

Itinerantes95, EJA saberes do campo96 na Educação Básica; Licenciaturas em Educação do
Campo97 e Escola da Terra98 são exemplos de programas de formação inicial e continuada,
vinculadas ao Programa Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO99).
As proposições relativas à dimensão objetiva do ensino, ou seja, as relações de produção
pedagógicas encontram-se no mesmo plano de importância da dimensão subjetiva. É nesse
ponto que reside a maior originalidade da práxis100 educativa do MST e, possivelmente,
também o seu mais importante aporte para uma concepção pedagógica geral dos trabalhadores
e trabalhadoras. István Mészáros, por exemplo, em sua obra Para além do Capital101, num
esforço para tentar compreender o que houve de errado com as revoluções populares realizadas
e fracassadas, afirma com ênfase um dos princípios da autogestão: ou a emancipação dos
trabalhadores será feita pelos próprios trabalhadores, ou não haverá emancipação nenhuma. Já
em A Educação para Além do Capital102 aborda a construção de um pensamento educacional
contra hegemônico antagônico combatendo a internalização e a consciência de subordinação
dos valores mercantis mediante uma teoria e uma práxis educativa emancipadora.
95 É uma escola que está voltada para toda a população acampada, o barraco da escola itinerante, é construído antes
do barraco de moradia e tem também a função de se converter em um centro de encontros de toda comunidade
acampada (www.mst.org.br);
96 Elevar a escolaridade de jovens e adultos em consonância a um projeto de desenvolvimento sustentável do
campo a partir da organização e expansão da oferta da modalidade educação de jovens e adultos, anos iniciais e
finais do ensino fundamental de forma integrada à qualificação profissional e ensino médio
(http://pronacampo.mec.gov.br);
97 Ofertadas pelas Universidade Públicas, as Licenciaturas em Educação do Campo são dividas por área de
conhecimento (Ciências da Natureza, Ciências Agrícolas, etc.) e possui uma organização curricular baseada na
pedagogia da alternância, ou seja, tempo-universidade e tempo-comunidade;
98 Formação de professores que atuam nas turmas dos anos iniciais do ensino fundamental compostas por
estudantes de variadas idades, e em escolas de comunidades quilombolas, fortalecendo a escola como espaço de
vivência social e cultural. Portaria MEC 579/13;
99 Portaria MEC 86/2013.
100 O pensamento marxista descreve práxis como uma atividade que tem a sua origem na interação entre o homem
e a natureza, sendo que esta só começa a fazer sentido quando o homem a altera através da sua conduta;
101 Mészáros (2002);
102 Mészáros (2008)
57
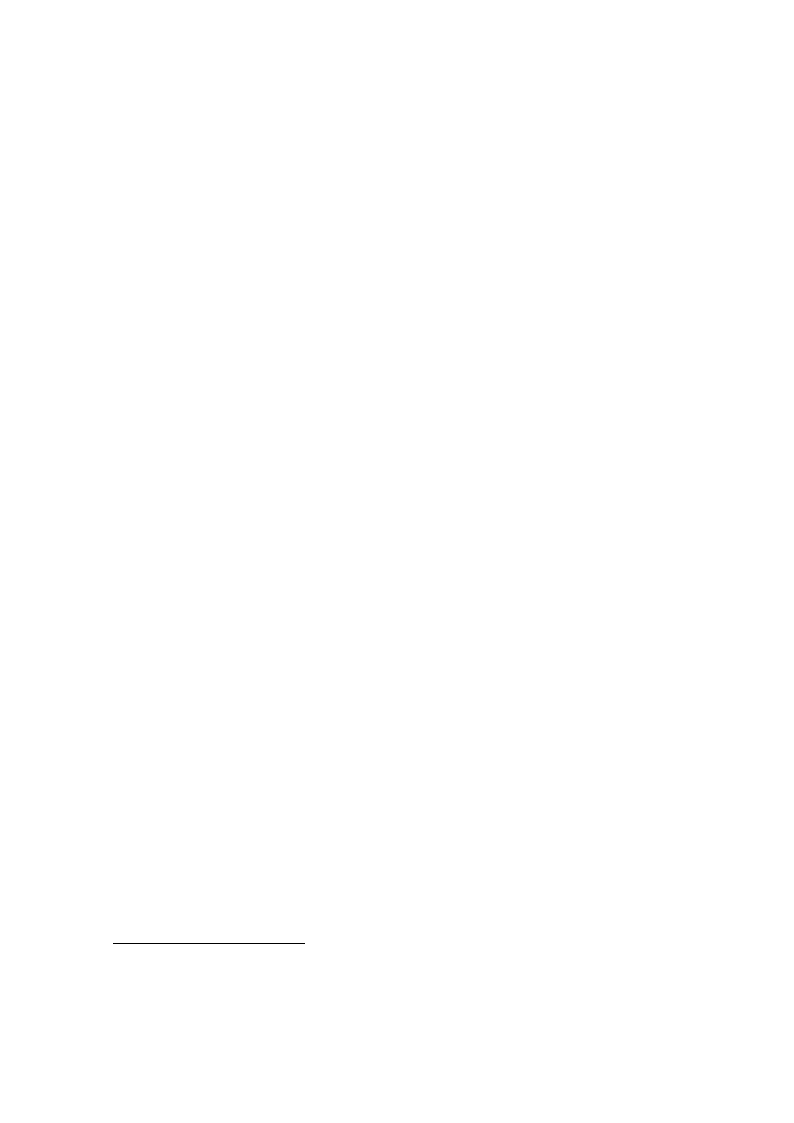
ARTIGO I – A Relação Educação e Trabalho no Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra: O Trabalho como Princípio Educativo103
Guilherme Franco Miranda
José Vicente Lima Robaina
Resumo: Este trabalho é fruto de uma interlocução com o referencial teórico de dissertação de Mestrado
e tem como objetivo analisar o conceito trabalho e seu aspecto ontológico como princípio educativo na
formação dos trabalhadores do Movimento Rural dos Trabalhadores Sem Terra (MST). Esse movimento
social do campo atua em múltiplas dimensões, como educação, cultura, saúde, direitos humanos, sendo
essas questões relacionadas ao trabalho. E essa intersecção com a perspectiva do trabalho encontra
basicamente no princípio filosófico da “educação para o trabalho e cooperação”. A metodologia deste
trabalho Revisões da literatura são caracterizadas pela análise e pela síntese da informação
disponibilizada por todos os estudos relevantes publicados sobre um determinado tema, de forma a
resumir o corpo de conhecimento existente e levar a concluir sobre o assunto de interesse. É importante
destacar que a relação trabalho-educação irá sofrer uma nova determinação com o surgimento do modo
de produção capitalista. Nessa nova forma social, inversamente ao que ocorria na sociedade feudal, é a
troca que determina o consumo, denominada de sociedade do mercado e a escola, sendo o instrumento
por excelência para viabilizar o acesso a cultura, é erigida na forma principal, dominante e generalizada
de educação. Sendo assim, a educação deve estar a serviço da emancipação humana, na qual relação
entre movimentos sociais, trabalho e educação devem articular-se constantemente.
Palavras-chaves: Educação, Trabalho, MST
Introdução
O Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra ou Movimento dos Sem Terra ou
MST surgiu na articulação de questões agrárias no final da década de 70, especialmente na
região Centro-Sul do Brasil. O MST teve sua gestação no período de 1979 a 1984. Ele busca a
formação de “novos seres humanos” que fazem parte do movimento, uma busca coletiva na
formação de seu individuo, onde propõem “a reflexão e elaboração teórica de princípios
político-pedagógicos articulados às práticas educativas desenvolvidas no interior das lutas
sociais levadas a efeito pelos povos do campo” (SAVIANI, 2008, p.172). O movimento atua
em múltiplas dimensões, como educação, cultura, saúde, direitos humanos, sendo essas
questões relacionadas ao trabalho. E essa intersecção com a perspectiva do trabalho encontra
basicamente no princípio filosófico da “educação para o trabalho e cooperação” e nos seguintes
princípios pedagógicos: relação permanente entre a prática e a teoria, combinação metodológica
entre processos de ensino e de capacitação, educação para o trabalho e pelo trabalho, auto-
organização dos/das estudantes.
103 Publicado nos anais do Congresso Interinstitucional Brasileiro de Educação Popular e do Campo da UFG.
MIRANDA, G.F; ROBAINA, J.V.L.; A Relação Educação e Trabalho no Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra: O Trabalho como Princípio Educativo. Congresso Interinstitucional Brasileiro de Educação
Popular e do Campo da UFG. Catalão: UFG, 2018.
58

Ainda nas sociedades primitivas, o processo educativo constituía-se basicamente por
métodos informais, por um mecanismo denominado endoculturação, no qual os valores,
princípios e costumes eram transmitidos às gerações futuras por meio da convivência em
sociedade (COSTA; RAUBER, 2009). Não obstante, a “transmissão” desses valores, limitava-
se somente à memória, ou seja, não havia nenhum outro mecanismo além da convivência que
registrasse esses valores culturais nas sociedades antigas. Analisar a trajetória educacional no
Brasil implica refletir sobre o modelo estrutural de ensino e investimentos nessa área, que nos
permite a problematizar, sob o ponto de vista histórico, o modelo pedagógico atual. Duas
concepções metodológicas são rotineiramente adotadas em nosso país: modelo tradicional
(modelo fonético) e o construtivismo (escola nova). Segundo Xavier:
[...]de um lado está a escola tradicional, aquela que dirige que modela, que é
‘comprometida’; de outro está a escola nova, a verdadeira escola, a que não dirige,
mas abre ao humano todas as suas possibilidades de ser. É, portanto,
‘descompromissada’. É o produzir contra o deixar ser; é a escola escravizadora contra
a escola libertadora; é o compromisso dos tradicionais que deve ceder lugar à
neutralidade dos jovens educadores esclarecidos (XAVIER, 1992, p.13).
Sendo assim, as comunidades campesinas (seringueiros, trabalhadores nos faxinais,
ilhéus, índios, pescadores ou quilombolas) sofreram o processo de exclusão, devido a uma
“despedagogização” do campo, ou seja, suas formações pautavam-se principalmente na mão-
de-obra para os grandes latifúndios. O princípio de educação rural – pedagogicamente contrária
à Educação do Campo – é uma perspectiva da educação que reproduz, praticamente em modus
operandi, as escolas urbanas, utilizando como método de ensino a reprodução de informações
e “conhecimentos”, sem debater a realidade concreta do homem do campo (BRANDÃO, 2012).
Ao se discutir essa problemática, Caldart (2002) aponta que o “[...] conceito de Educação do
Campo é novo, mas já está em disputa, exatamente porque o movimento da realidade que ele
busca expressar é marcado por contradições sociais muito fortes”. Essas contradições fortes se
dão nos campos político, econômico, social, cultural e geográfico, pois ao discutirmos
Educação do campo, discutimos educação para as comunidades do campo, um direito humano
para além da alfabetização e reprodução de letras e números.
Como aponta Brandão,
Educação do Campo constitui-se de ações politizadoras, contribuindo com o
desenvolvimento da consciência social e política. É praticada por movimentos sociais
organizados do campo, mas continua defrontando-se com as políticas de Estado de
educação para o campo nos moldes das políticas neoliberais praticadas pelo sistema
político capitalista em vigência no Brasil (BRANDÃO, 2012).
Esses movimentos sociais organizados do campo, caracterizado principalmente pelo
MST, são trabalhadores e trabalhadoras, que de certa maneira, sofrem o processo de exclusão
59
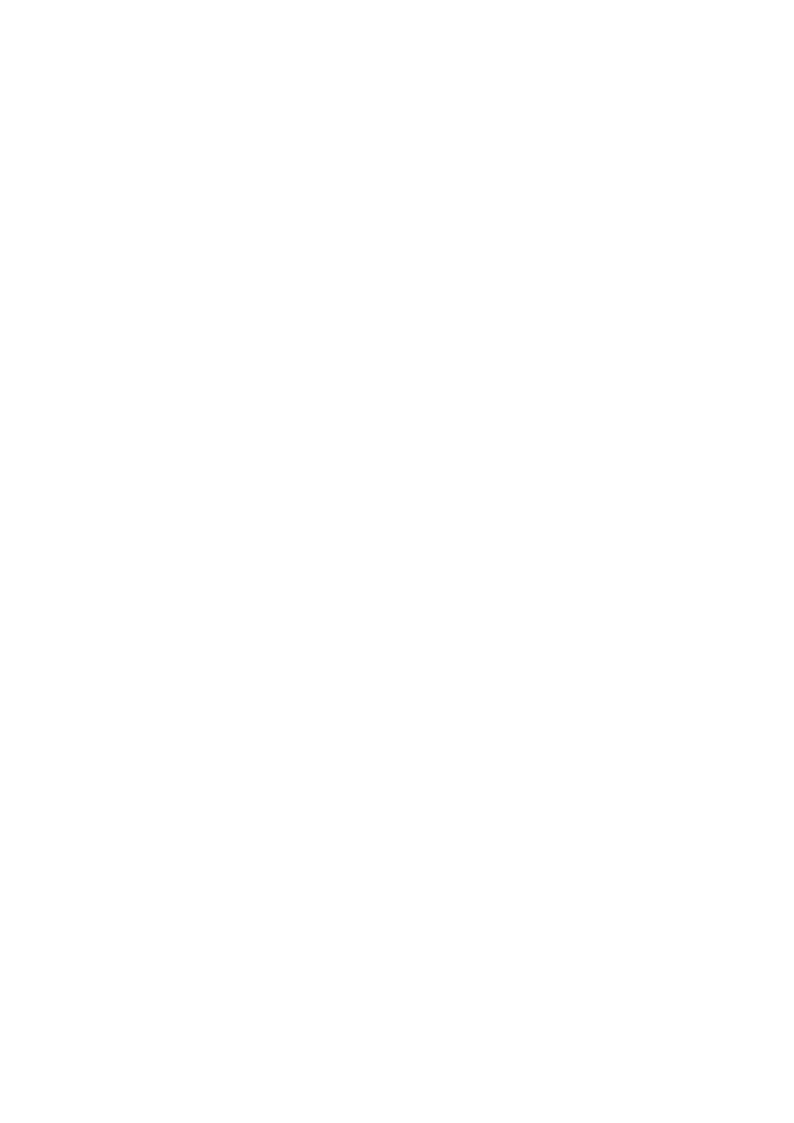
social do trabalho, porém no contexto de lutas nos ensinam algo mais sobre processos de
transformação social, e sobre práticas de educação a eles vinculadas. Nesse sentido, pensamento
marxista, a categoria trabalho está no centro de sua teoria, visto que desempenha o papel
fundante na construção e desenvolvimento da humanidade, expressado como fio condutor da
obra marxiana, desde suas primeiras elaborações teóricas até às da sua maturidade, na busca de
explicitar, como os seres humanos se produzem e reproduzem a sua existência humana.
O conceito de trabalho no pensamento de Marx pode ser encontrado desde os seus
primeiros escritos, culminando na sua análise das relações capitalistas de produção na obra O
Capital. Nos Manuscritos Econômicos Filosóficos, Marx desenvolve uma crítica sobre a
filosofia hegeliana assinalando que: “[...] Hegel descobriu apenas a expressão abstrata, lógica,
especulativa do processo histórico, que não é ainda a história real do homem enquanto sujeito
pressuposto, mas só a história do ato da criação da gênese do homem” (MARX, 2001, p.174).
Sendo assim, argumento de Marx aponta para o lócus em que se desenvolve a verdadeira
existência do homem – o mundo universal espiritual, segundo a abstração de Hegel. Entretanto,
Marx infere nesse processo de abstração conceitos primordiais que sustentaram o
desenvolvimento de seus argumentos, que será discutido posteriormente.
Trabalho e Educação: de Marx a Pistrak
Da segunda metade do século XX ao início do século XXI, o marxismo tem
testemunhado um vasto debate entre os seus teóricos acerca da categoria trabalho, da sua
centralidade e importância na filosofia de Marx como categoria ontológica fundamental da
existência humana. É no trabalho que se manifesta a superioridade humana ante os demais seres
vivos. Ele seria a realização do próprio homem, a fonte de toda riqueza e bem material. Essa
dialética do trabalho, no sistema da propriedade privada, é fundamental para compreendermos
o modo como Marx trata as questões fundamentais de sua filosofia, como a emancipação, a
política, o homem, entre outras (OLIVEIRA, 2010). O processo histórico humano objetiva-se
na medida que o ato de produção de sua existência material se realiza pelo trabalho. Ou seja,
segundo Lukács (1978, p.5) “o carecimento material, enquanto motor do processo de
reprodução individual ou social” que “põe efetivamente em movimento o complexo do
trabalho.”
Marx caracteriza o trabalho como uma interação do homem com o mundo natural, de
tal modo que os elementos deste último são conscientemente modificados para alcançar um
determinado propósito. O trabalho é a forma pela qual o homem se apropria da natureza a fim
de satisfazer suas necessidades. No processo de trabalho a atividade humana é materializada ou
60

objetivada em valores de uso. “O processo de trabalho, como o apresentamos em seus elementos
simples e abstratos, é atividade orientada a um fim para produzir valores de uso, apropriação
do natural para satisfazer a necessidades humanas [...].” (MARX,1985, p.153). O trabalho, nos
seus elementos simples, é aquele produtor de valores de uso, pois:
[...] a existência [...] de cada elemento da riqueza material não existente na natureza,
sempre teve de ser mediada por uma atividade especial produtiva, adequada a seu fim,
que assimila elementos específicos da natureza a necessidades humanas específicas.
Como criador de valores de uso, como trabalho útil, é o trabalho, por isso, uma
condição de existência do homem, independente de todas as formas de sociedade,
eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre homem e natureza e,
portanto, da vida humana (MARX, 1985, p.50).
Sob um ponto de vista mais geral, Marx caracteriza o trabalho como a interação entre o
homem e a natureza, com o objetivo de transformar a natureza nos bens necessários à
sobrevivência do homem. Deste ponto de vista, só seria trabalho a atividade que promovesse
esta interação e consequentemente somente seria trabalho produtivo o que resultasse em um
produto. Esta é uma primeira determinação do trabalho em Marx. Não obstante, o autor já faz
uma ressalva, na qual afirma que “essa determinação de trabalho produtivo, tal como resulta do
ponto de vista do processo simples do trabalho, não basta de modo algum, para o processo de
produção capitalista.” (MARX, 1985, p.151). Neste trecho Marx contrapõe o trabalho sob o
aspecto do processo simples ao modo como deve ser apreciado do ponto de vista específico da
produção capitalista, ou seja, de um ponto de vista historicamente determinado.
Assim, o trabalho não pode ser analisado somente segundo aspectos técnicos, pelo seu
conteúdo material, mas, deve ser analisado segundo sua forma social histórico-concreta. Isso
não significa que Marx, ao realizar seus estudos, tenha ignorado o grau de desenvolvimento das
forças produtivas, pelo contrário. Ele busca desvendar o segredo do modo capitalista de
produção que muitas vezes fica oculto sob o deslumbrante desenvolvimento das forças
produtivas (COLMÁN e POLA, 2009). No capítulo V do livro I de O Capital, Marx inicia
analisando o processo de trabalho sem considerar a forma social na qual o trabalho se dá, diz
que “[...] o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em que o homem,
por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a Natureza.” (MARX,
1985, p.149) Entretanto, o trabalho em Marx não é só aquela atividade que promove a
transformação da natureza, mas é uma atividade previamente idealizada que promove a
transformação do próprio homem.
Nesta perspectiva, outro autor que corrobora na perspectiva do trabalho e inclui o
processo educativo é Pistrak, pois a relação trabalho-educação são iminentemente humanas.
Pistrak afirma que o marxismo não dá apenas a análise das relações sociais nem somente o
61

método de análise para compreender a essência dos fenômenos sociais em suas relações
recíprocas, mas, também, o método de ação eficaz para transformar a ordem existente no
sentido determinado pela análise (FELIX, MOREIRA e SANTOS, 2007, p.214). Como fazer
para que o método dialético seja utilizado como instrumento de produção do conhecimento nas
escolas?
Para que a organização do ensino nas escolas e os estudos dos conteúdos escolares sejam
trabalhados numa perspectiva dialética, o trabalho pedagógico deve ser pensado e organizado
em complexos temáticos na medida em que este é o único sistema que garante uma
compreensão da realidade de acordo com o método dialético. Pistrak ao afirmar que o complexo
não é método, pontua:
[...] o objetivo do esquema do programa oficial é ajudar o aluno a compreender a
realidade atual de um ponto de vista marxista, isto é, estudá-la do ponto de vista
dinâmico e não estático. Estuda-se a realidade atual pelo conhecimento dos
fenômenos e dos objetos em suas relações recíprocas, estudando-se cada objeto e cada
fenômeno de pontos de vista diferentes. O estudo deve mostrar as relações recíprocas
existentes ente os aspectos diferentes das coisas, esclarecendo-se a transformação de
certos fenômenos em outros, ou seja, o estudo da realidade atual deve utilizar o
método dialético (PISTRAK, 2003, p.134),
É necessário compreender o complexo como “o desenvolvimento de ideias sugeridas
por um objeto, a concentração de todo programa de ensino sobre um dado objeto, durante um
tempo determinado”. (PISTRAK, 2003, p. 133). Poderíamos classificar esta abordagem como
inspirada nos métodos da Escola Nova e da pedagogia de projetos que tem na
interdisciplinaridade3 a possibilidade de superação da produção de um conhecimento
fragmentado.
MST e a suas Relações de Trabalho
O movimento que se destaca pela busca da educação no campo é o MST, ele ultrapassa
o conceito de apenas um movimento social. Ele busca a formação de “novos seres humanos”
que faz parte do movimento, uma busca coletiva na formação de seu sujeito, onde propõem “a
reflexão e elaboração teórica de princípios político-pedagógicos articulados às práticas
educativas desenvolvidas no interior das lutas sociais levadas a efeito pelos povos do campo”
(SAVIANI, 2008, p.172). O MST tem sua consolidação em 1984, e promove a luta social contra
o latifúndio pela efetivação da política agrária e entre outras demandas. Sendo de uma forma
autônoma, mas sem deixar de cobrar do estado os direitos sociais (COSTA; TIBOLA, 2013).
Devida à alta taxa de analfabetismo nos assentamentos, o MST busca lutar pela educação de
suas crianças, jovens e adultos. Segundo Branford e Rocha:
Da mesma forma que agiam para conquistar suas terras, os sem-terra começaram a
mobilizar-se para exigir escola [...] Muitos sem-terra passaram a acreditar que era tão
62

importante vencer obstáculos para obtenção de serviços como educação quanto a
derrubar as cercas que os mantinha fora das terras (BRANFORD e ROCHA, 2002,
p.159).
A partir de algumas reuniões entre os integrantes do movimento, eles passam a ter outra
visão sobre educação. Em meados da década de 1990, o MST na década de 1990, a educação
do MST passa a ter uma redefinição que acompanha o movimento. Ou seja, o movimento passa
a ter um diálogo e convênios com universidades, entidades jurídicas que, como consequência,
contribuíram para consolidação das políticas públicas educacionais do campo. Segundo Arroyo
(1999, p.71) “é preciso analisar que, no interior da organização do MST [...] sua história, é
possível observar as ações em torno da educação que o movimento social se propõe a fazer”.
O MST chama a atenção dos diversos segmentos da sociedade por apresentar
determinadas características que o distinguem em sua trajetória de movimento social de
trabalhadores e trabalhadoras do campo. Uma trajetória fruto de processo histórico de lutas, que
se compararmos aos outros movimentos camponeses do Brasil, já estaria extinto. Segundo
Caldart (2002), o MST se caracteriza pela radicalidade do seu jeito de fazer a luta e os sujeitos
que ela envolve, pois é a partir da ocupação do latifúndio como a principal forma de luta pela
terra, e a mobilização em massa dos sem-terra como o jeito de fazê-la. Segundo é a
multiplicidade de dimensões que o movimento atua bem como o trabalho cotidiano em torno
do que são suas metas, e que envolvem questões relacionadas à produção, à educação, à saúde,
à cultura, aos direitos humanos. E o último aspecto é a capacidade que vem construindo de
universalizar, ou de tornar a sociedade como um todo, uma bandeira de luta que nasce de um
grupo social específico e de seus interesses sociais imediatos, principalmente com o lema da
Reforma Agrária.
A partir destas lutas sociais que o MST busca constantemente, a educação do campo se
torna destaque sendo que ela é um espaço de possibilidades e transformações sociais e a
construção de vida do campo. A Educação do Campo tem suas características centradas em três
aspectos, segundo Souza (2011): 1) identidade construída no contexto de das lutas
empreendidas pela sociedade civil organizada, especialmente a dos movimentos sociais do
campo; 2) organização do trabalho pedagógico, que valoriza trabalho, identidade e cultura dos
povos do campo; 3) gestão democrática da escola, com intensa participação da comunidade. O
sujeito é essencial para definir o projeto político pedagógico e na organização do trabalho
pedagógico. A proposta pedagógica que o MST traz para a educação do campo é emancipatória
e filosófica.
63

As relações de trabalho no MST se dão de diversas maneiras, porém destaca-se a relação
com o cooperativismo. Essas associações tinham o objetivo de viabilizar melhores condições
relativas à compra de máquinas, insumos, ferramentas e acesso ao escasso crédito
disponibilizado pelo Estado. A organização coletiva por meio de associações foi a principal
forma de cooperação agrícola adotada pelo MST até a crise ocorrida na Constituinte e na
sucessão presidencial em 1989 (governo Collor). Num cenário político eminentemente
perverso, o Movimento voltou-se para a consolidação de um novo paradigma de organização
da produção nos assentamentos rurais: o cooperativismo.
Na base do cooperativismo estava presente a proposta de organização baseada na
produção mecanizada e na inserção no mercado. Isso possibilitaria maior competitividade e
produtividade, através da incorporação de novas técnicas e acesso a recursos financeiros. O
horizonte almejado por essa organização estava alicerçado na produção em larga escala
comparada à produção dos grandes proprietários rurais (BORGES, 2009). Segundo o autor, “o
cooperativismo adotado pelo MST estava associado a construção de uma estrutura político-
organizacional pautada em objetivos que assegurariam a minimização da pobreza no campo”,
através do desenvolvimento das relações de trabalho superiores àquelas tradicionalmente
constituídas. Em suma, conforme Fabrini (2002), as propostas de constituição de cooperativas
do MST estão inseridas num contexto de luta dos trabalhadores do campo, sendo estas a maior
forma de organização social, econômica e política dos assentamentos. Nos assentamentos, as
cooperativas surgiram num contexto de resistência e luta ao poder do grande capital e do
latifúndio.
Metodologia
Este trabalho é um recorte da revisão de literatura de uma pesquisa de mestrado
vinculada ao Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências – Química da Vida e Saúde
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Revisões da literatura são
caracterizadas pela análise e pela síntese da informação disponibilizada por todos os estudos
relevantes publicados sobre um determinado tema, de forma a resumir o corpo de conhecimento
existente e levar a concluir sobre o assunto de interesse.
A metodologia de revisão de literatura tem seu propósito de revisar e relatar em maior
detalhe um leque específico de estudos anteriores, diretamente dirigidos a seu provável tema de
estudo, método e fonte de dados (YIN, 2016). Em suma, essa etapa do processo da pesquisa
acadêmica demonstra o reconhecimento do aspecto cumulativo do conhecimento científico
produzido historicamente acerca de determinado assunto.
64

Em outras palavras, essa etapa do processo da pesquisa acadêmica demonstra o
reconhecimento do aspecto cumulativo do conhecimento científico produzido acerca de
determinado assunto. Revisar significa retomar os discursos de outros pesquisadores e
estudiosos não apenas para reconhecê-los, mas também para interagir com eles por meio de
análise e categorização a fim de evidenciar a relevância da pesquisa a ser realizada (SANTOS,
2012). Essa tarefa pode parecer tediosa e lenta, mas é quase impossível apresentar uma pesquisa
de qualidade em uma monografia, dissertação ou tese sem uma boa revisão da literatura. Alves
(1992) lembra que
[...] a produção do conhecimento não é um empreendimento isolado. É uma
construção coletiva da comunidade científica, um processo continuado de busca, no
qual cada nova investigação se insere, completando ou contestando contribuições
anteriormente dadas ao estudo do tema (ALVES, 1992, p.54).
Considerando que a elaboração de um trabalho científico exige, no mínimo, uma ideia
clara do problema a ser resolvido ou respondido, bem como a metodologia mais apropriada
para fazê-lo, nenhum pesquisador deveria menosprezar o potencial de benefícios de uma boa
revisão de literatura. O fato é que essa etapa possibilita a clareza de entendimento para o
desenvolvimento do projeto desejado. Mediante a análise de literatura publicada sobre o tópico
de seu interesse, o pesquisador pode estabelecer um quadro teórico e define o referencial
conceitual que dará sustentação ao desenvolvimento de sua pesquisa. Essa etapa é fundamental
não apenas para a definição do referencial teórico, mas também para a estruturação das
hipóteses e organização do material a ser abordado em cada subdivisão do trabalho.
A revisão de literatura deste resumo baseou-se teoricamente nos pensadores Karl Marx
(1818 – 1883), Moicei Mikhaylovich Pistrak (1888 – 1940) e Antônio Gramsci (1891 – 1937).
Além disso, para aproximação teórica, foram observados os conjuntos de documentos
elaborados pelo “setor de educação” do MST e ainda a produção científica acadêmica
disponível sobre a temática.
MST e Educação
Trabalho e educação são atividades especificamente humanas. Isso significa que,
rigorosamente falando, apenas o ser humano trabalha e educa. Além disso, é importante
destacar que a relação trabalho-educação irá sofrer uma nova determinação com o surgimento
do modo de produção capitalista. Nessa nova forma social, inversamente ao que ocorria na
sociedade feudal, é a troca que determina o consumo, denominada de sociedade do mercado
(SAVIANI, 2007, p.158). Ou seja, a sociedade agricultura (campo) migra para indústria
(cidade), como também a estrutura dessa abandona os laços naturais, por laços sociais,
65

produzido pelos seres humanos. E a escola, sendo o instrumento por excelência para viabilizar
o acesso à cultura, é erigida na forma principal, dominante e generalizada de educação.
Gramsci propôs a “escola do trabalho”, uma proposta de escola que formasse a nova
geração de produtores, ou melhor, a preparação de técnicos que não fossem apenas executores
mecânicos, mas que dominassem a sua arte ao adquirir o saber sobre a técnica, seus limites e
possibilidades. Segundo Schlesener
a escola do trabalho defendida por Gramsci tinha características especiais: supunha
não só a formação para o trabalho, mas a possibilidade da elaboração de uma cultura
autônoma, bem diversa da cultura burguesa. Para os trabalhadores, o desejo de
aprender surgia de uma concepção de mundo que a própria vida lhes ensinava e que
eles sentiam necessidade de esclarecer para atuá-la concretamente. (SCHLESENER,
2002, p.69).
Em outras palavras, os espaços escolares devem contribuir para a concretização entre
teoria e prática, elemento este que a escola burguesa, pela sua característica e função na
sociedade capitalista, não proporciona a classe trabalhadora. Sendo assim, o equilíbrio entre
trabalho intelectual e trabalho manual é “como elemento de uma atividade prática geral, que
inova perpetuamente o mundo físico e social, torne-se o fundamento de uma nova e integral
concepção de mundo” (GRAMSCI, 1977, p.1551).
Além disso, perspectiva de Pistrak, relativamente semelhante a de Gramsci, tratou em
seu livro “Fundamentos da Escola do Trabalho”, as práticas pedagógicas que promovam
realmente a educação das massas; a educação mais que um processo de ensino e aprendizagem
escolar; a escola como referência entre o trabalho e a atividade produtiva; a auto-organização,
principalmente dos educandos; a escola vinculada aos aspectos da vida social (como seus
movimentos, no caso, a revolução socialista); tomar o materialismo histórico dialético, de Karl
Marx, como método e, por fim, salienta o caráter da formação científico-teórica e a ação
transformadora: “sem teoria pedagógica revolucionária, não há prática pedagógica
revolucionária” (PISTRAK, 2000).
O “setor Educação” do MST volta-se para as atividades educativas formais, que não
abandona ambas as perspectivas acima referenciadas, o que pode ser visualizado nos princípios
que o documento defende para a prática educativa realizada em seu interior. Segundo seu
caderno de educação (MST: 1999), em síntese, esses princípios são:
[...] a educação para a transformação social; Educação para o trabalho e cooperação;
Educação voltada para as várias dimensões das pessoas humanas; Educação com e
para valores humanistas e socialistas e Educação como um processo permanente de
formação/ transformação humana.
66

Especificamente, a contextualização trabalho-escola, voltada ao cotidiano escolar nas
unidades escolares existentes, nos acampamentos e assentamentos, no mesmo texto, o MST
elenca seus princípios pedagógicos da seguinte forma:
1) Relação entre prática e teoria; 2) Combinação metodológica entre processos de
ensino e capacitação; 3) A realidade como base da produção de conhecimento;
4)Conteúdos Formativos socialmente úteis; 5) Educação para o trabalho e pelo
Trabalho; 6) Vínculo orgânico entre processos educativos e processos políticos; 7)
Vínculo orgânico entre processos educativos e processos econômicos; 8) Vínculo
orgânico entre educação e cultura; 9) Gestão Democrática; 10) Auto organização
dos/das estudantes; 11) Criação de coletivos pedagógicos e formação permanente dos
educadores/das educadoras; 12) Atitudes e habilidades de pesquisa; 13) Combinação
entre processos pedagógicos coletivos e individuais (MST, 1999, p. 11-23).
Olhar para a formação humana, “é enxergar o MST como sujeito pedagógico, uma
coletividade em movimento, que é educativa e que atua intencionalmente no processo de
formação das pessoas que a constituem” (CALDART, 2012, p. 319). Nos últimos anos, o MST
tem se dedicado ao resgaste histórico, ao resgate da memória, da mística da luta do povo, de
uma simbologia na qual os identifique. Ou seja, perceber o MST como sujeito pedagógico,
significa trazer duas dimensões importantes para reflexão da pedagogia.
A educação no MST é um movimento que surge de dentro da dinâmica social no campo,
colocando no foco de sua pedagogia a formação humana em sua relação com a dinâmica de luta
social e, mais especificamente com a luta pela Reforma Agrária.
Conclusões
“A revolução e a escola devem agir paralelamente, porque a escola é uma arma
ideológica da revolução.” (PISTRAK, 2000, p.30). Dessa maneira, percebe-se que,
diferentemente de uma perspectiva idealista de educação como redentora e por si
transformadora, e ainda, diversa da visão reprodutivista corrente, as duas posições analisadas
acentuam o papel social de destaque no processo de transformação da educação, porém, sempre
associando-o a outros dispositivos e à necessidade de construção de outro processo, na qual a
educação esteja a serviço da emancipação humana, na qual relação entre movimentos sociais,
educação e trabalho devem articular-se constantemente.
Referências
ALVES, A. J.; A “revisão da bibliografia” em teses e dissertações: Meus tipos inesquecíveis.
Cadernos de Pesquisa 81, maio 1992, p. 53-60;
ARROYO, M. G.; A Educação Básica e o Movimento Social do Campo. Brasília:
Articulação Coleção Por uma Educação Básica no Campo, 1999;
67
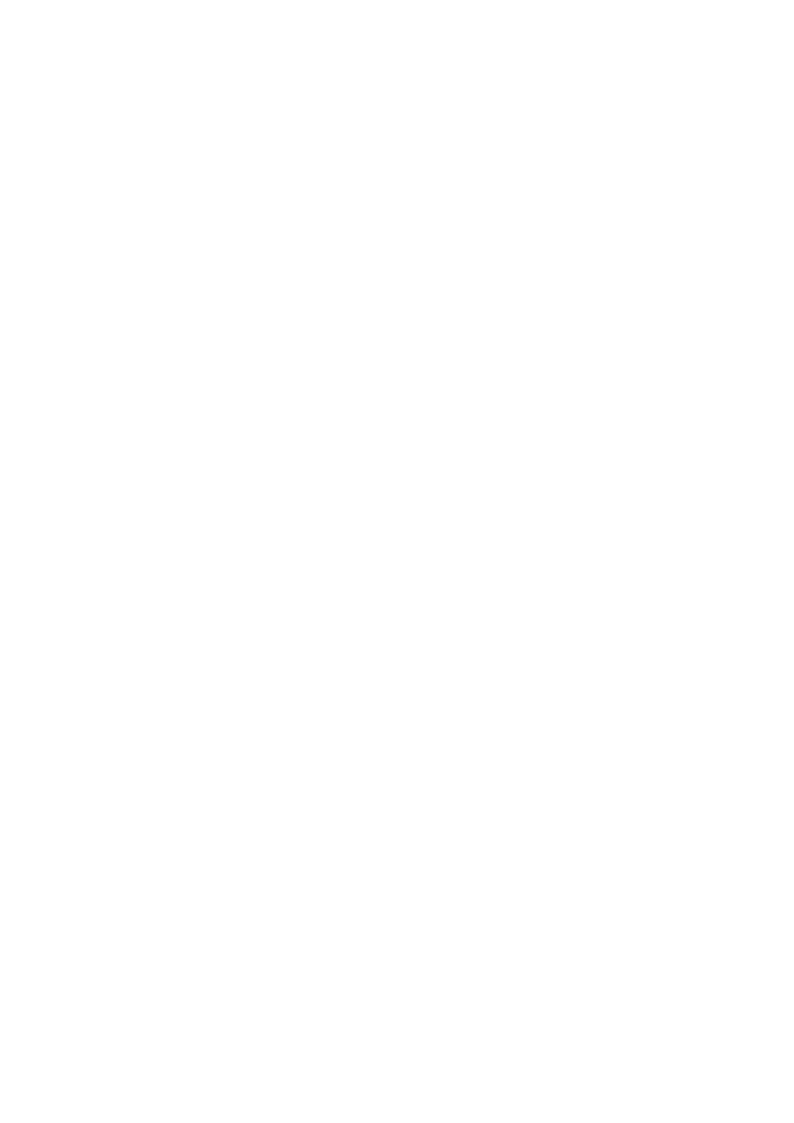
BORGES, J. L.; MTS: Produtivismo e Agroecologia. I Seminário Nacional de Sociologia e
Política da UFPR, Curitiba, 2009;
BRANDÃO, E. C. A educação do campo no Brasil e desenvolvimento da consciência.
Seminário do Trabalho: Trabalho e Políticas Sociais no Século XXI, Marília, n. 8, 2012;
CALDART, R. S. Sobre educação do campo. 2002 Disponível: <
http://web2.ufes.br/educacaodocampo/down/cdrom1/ii_03.html >. Acesso em: 03 nov 2017.
CALDART, R. S.; Pedagogia do Movimento Sem Terra. São Paulo: Expressão Popular,
2012;
COLNAN, E; POLA, K. D.; Trabalho em Marx e Serviço Social. Serviço Social em Revista,
vol. 11, nº 2, jan/jun, 2009, p. 1-21;
COSTA, E. de B.; RAUBER, P.; História da educação: surgimento e tendências atuais da
universidade no brasil. Revista Jurídica UNIGRAN, v. 11, n. 21, jan./jun. Dourados, 2009;
FABRINI, J. E. Os assentamentos de trabalhadores rurais sem terra no centro oeste do
Paraná enquanto território de resistência camponesa. (Tese de doutorado). Presidente
Prudente. Unesp, 2002.
GRAMSCI, A. Quaderni del carcere. Turim: Einaudi, 1977;
LUKÁCS, G.; As Bases Ontológicas do Pensamento e da Atividade do Homem. In: Temas de
Ciências Humanas. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Livraria Editora
Ciências Humanas, 1978;
MARX, K. O Capital: crítica da economia política. Tradução por Regis Barbosa e Flávio R.
Kothe. São Paulo: Abril Cultural, 1985a. Livro 1, v.1, t.1;
MARX, K.; Manuscritos econômicos filosóficos. São Paulo: Editora Martin Claret, 2001.
MST. Princípios da educação no MST. Caderno de formação N° 8: 3ª ed. 1999;
OLIVEIRA, R. A. de; A Concepção de Trabalho na Filosofia do Jovem Marx e suas
Implicações Antropológicas. Revista Kinesis, vol, II, nº3, 2010, p.72-88;
PISTRAK, M. M.; Fundamentos da Escola do Trabalho. São Paulo: Expressão Popular,
2000;
SAVIANI, D.; A Pedagogia no Brasil: história e teoria. Campinas, São Paulo: Autores
Associados, 2008;
SAVIANI, D.; Trabalho e Educação: fundamentos ontológicos e históricos. Revista Brasileira
de Educação, v. 12 n. 34, 152-180, jan./abr. 2007;
SCHLESENER, A. Revolução e cultura em Gramsci. Curitiba: UFPR, 2002;
SOUZA. M. A. de.; Práticas educativas do/no campo. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2011.
XAVIER, A. A lógica de quem não aprende a matemática escolar. 1992. 192 pg. Dissertação
de mestrado da FAE-UFMG. Belo Horizonte: UFMG, 1992.
YIN, R.; Pesquisa Qualitativa: Do Início ao Fim. Porto Alegre: Penso, 2016;
68

ARTIGO II – O Conceito de Natureza na Educação do Campo104
Resumo
Guilherme Franco Miranda
Dr. José Vicente Lima Robaina
Este ensaio tem o objetivo de fazer uma revisão teórica acerca do conceito de natureza e como
este conceito está implicado na Educação do Campo. Assim, o olhar se focaliza na perspectiva
histórica e evolucional sobre o conceito de natureza e, posteriormente, complementa- se com
os aportes teóricos da Educação do Campo. Primeiramente, discorre-se sobre a evolução no
conceito de Natureza no campo da filosofia, como advento no surgimento das ciências e
matemática, visa facilitar a percepção de integração do homem com o espaço em que vive, de
modo que este fosse uma relação de harmonia consciente do equilíbrio dinâmico da natureza
proporcionando, por meio de novos conhecimentos, atitudes e valores, a inserção de educando
e educador como cidadãos no processo de transformação do atual quadro ambiental de nosso
planeta. Nesta perspectiva, é importante compreender como o conceito de natureza está
implicado a Educação do Campo, pois o meio rural continua sendo palco de lutas, e a educação
do campo surge como um elemento que possibilita assim a construção de um sentimento de
pertencimento nos sujeitos envolvidos no processo educativo.
Palavras-chave: Natureza, Educação do Campo, Filosofia
Introdução
Ao longo do processo histórico, o meio rural esteve associado a concepção de natural,
ou seja, é tido como espaço no qual o homem está em contato direto com a natureza. Essa falta
de rigor na utilização dos conceitos, embora não seja importante para os leigos, dificulta o
entendimento para aqueles que se dedicam a estudar, por exemplo, as questões ambientais. No
contexto brasileiro, esse processo esteve intimamente ligado à proposta pedagógica promovida
pelo Estado junto às comunidades rurais. Conforme Leite (1999), excetuando os movimentos
de educação de base e de educação popular, o processo educativo no rural sempre esteve
atrelado à vontade dos grupos hegemônicos do poder, não conseguindo deslocar seus objetivos
e a própria ação pedagógica para esferas de caráter sociocultural especificamente campesinas.
A partir da década de 90, a escola do campo – que ao longo da história serviu
basicamente como instrumento para o preparo mínimo de mão-de-obra que atendesse as
prerrogativas político-econômicas do país, limitando-se a perpetuar um modelo excludente e
antidemocrático de escolarização – transpassou para a construção de um novo modelo
pedagógico, que leva em conta as características e necessidades próprias ao aluno do campo no
seu espaço cultural. A partir desse novo rumo, um novo perfil de escola rural que almeja a
104 Ensaio publicado na Revista Brasileira de Educação do Campo da UFT. MIRANDA, G. F.; ROBAINA, J. V.
L.; O conceito de natureza na educação do campo. Revista Brasileira em Educação do Campo. v2, n2,
Tocantinópolis, jul/dez, 2017, p. 793-810.
69

valorização do campo, que engloba espaços da floresta, da pecuária, das minas, da agricultura,
dos pescadores, dos caiçaras, dos ribeirinhos e dos extrativistas, como um (novo) espaço de
inclusão social foi inserido no contexto do ensino do campo. Portanto, hoje, produção,
sobrevivência, reconhecimento pessoal e coletivo, politização e outros quesitos socioculturais,
bem como a valorização e preservação do habitat ecológico do homem do campo são
fundamentos na composição e estruturação do processo escolar rural.
Nesse sentido, a busca da escola do campo converge ao encontro dos objetivos, das
finalidades e das práticas pedagógicas que baseiam a Educação Ambiental. Extremamente
integrada ao contexto atual, a Educação Ambiental, em sua definição mais modesta, visa o
desenvolvimento de novas formas de relação dos homens entre si e com a natureza, a
preservação dos recursos naturais e a redução das desigualdades sociais em prol de uma
sociedade mais justa e sustentável. A consonância entre ambas permite inferir que a Educação
Ambiental é uma poderosa ferramenta na construção do comprometimento socioambiental
almejado pela escola rural (SOARES, 2007).
Buscou-se, portanto, neste ensaio resgatar o pensamento de diversos autores sobre o
conceito de Natureza, as bases da educação do campo no Brasil e os entrelaçamento de ambos
às discussões que salientem a valorização do campo, e as dinâmicas rurais.
Construção do Conceito de Natureza
A perspectiva da construção do conceito de natureza deste ensaio, delimita-se no
contexto ocidental e traceja ao longo do processo histórico que abrange as épocas de ascensão
da cultura grega (século VI a.C. até o século III d.C.), época medieval, a modernidade (séculos
XVI e XVII) e, finalmente, a visão contemporânea. É importante salientar que a discussão dos
conceitos de natureza transpassa sua filiação filosófica. O maior legado da Grécia Clássica foi
a filosofia. Ela se caracterizou por uma abordagem completamente original, que procurava
substituir o pensamento mitológico (mithos) pelo racional (logos) como estratégia principal
para conceber a realidade (POLITO & SILVA FILHO, 2013). Entre os elementos peculiares de
um novo aspecto de natureza e do homem que emergiu desse processo criativo, estavam noções
que se tornariam muito caras à ciência moderna, tais como as de unidade, uniformidade,
constância, regularidade e causalidade (REALE e ANTISERI, 1990; GODFREY-SMITH,
2003; LLOYD, 1970).
Primeiramente o conceito de natureza provém do latim: “natura”, palavra relacionada a
“nasci” que pode ser traduzida por “ser nato”. A raiz indogermânica dessas palavras é o gen.
Outras palavras de mesma raiz são, por exemplo: “gignere” (nascer, resultar), “gyné”
70

(“mulher”, em grego) e “kind” (“criança”, em alemã). A raiz gen está onipresente também na
língua portuguesa. A palavras “gênese”, “gene”, “gênero”, “generosidade”, “gênio”, “genitor”,
“genro”, etc. A raiz gen, tem, então, um significado básico de “nascer”, “ser nato”, “resultar”
(KESSELRING, 2000). Além disso, a raiz indo-germânica – gno – da qual provém palavras
portuguesas como “conhecer”, “conhecimento”, “consciência”, bem como palavras providas
do latim, como “ignorar”, “cognitivo”, “gnose”, etc. Por enquanto, a linguística não conseguiu
mostrar nem uma proveniência idêntica dessas raízes nem uma proveniência diferente
(KESSELRING, 2000).
Remetendo-se ao conceito latino de natureza, há uma ruptura com a perspectiva de
permutação do pensamento mitológico, pelo pensamento racional representada com o término
da explicação dos fenômenos observados da natureza como frutos de vontade divina, ou seja,
essas “vontades divinas” como causa de processos naturais foram praticamente eliminadas. Em
consequência – em termos do conceito de causalidade – foi o princípio da busca por regras que
permitissem descrever a relação constante entre efeitos-causas e suas tipologias. Nesse
contexto, a substituição da mitologia pela razão permitiu a fundação do pensamento teórico –
em contraposição ao pensamento prático –caracterizado pela construção de sistemas de
explicação que, indo além da mera compilação de conhecimentos e técnicas úteis para os mais
diversos fins, procurava submeter o todo da natureza a princípios gerais de funcionamento
(REALE e ANTISERI, 1990).
Adicionando as necessidades de rigor e objetividade, normas para a elaboração do
discurso, para a correção do raciocínio e para a articulação conceitual dos elementos concretos
da realidade sensível foram formuladas. Sendo assim, a lógica e a matemática, foram criadas
como disciplinas propriamente ditas, ambas passando por um desenvolvimento único entre os
gregos. A lógica, como uma disciplina puramente linguística e conceitual, formulou-se nas
obras de Aristóteles e da escola estoica. Já a matemática grega – a qual era constituída quase
que inteiramente pela geometria (euclidiana) e pela aritmética – foi concebida como paradigma
de correção de pensamento e demonstração de verdades. A formulação que os gregos lhes
deram na antiguidade é praticamente a mesma de hoje, embora o entendimento que hoje
tenhamos a seu respeito, sobretudo da geometria, seja radicalmente diferente (BOYER, 1974).
Sendo assim, as investigações sobre os fenômenos da natureza e seu funcionamento foi
considerado como parte da filosofia. Essa “submissão” – pois era atribuição da própria filosofia
investigar a natureza, conhecida como teoria do conhecimento ou epistemologia – teve alguns
períodos de relaxamento, o mais longo e promissor deles no período conhecido como
71

helenístico (323 a.C.-146 a.C.) (LLOYD, 1973), não obstante surgem elementos cruciais para
diferenciação não só entre a metafísica e a epistemologia, mas também entre essas e a physica,
que era o conjunto de todas as teorias que versavam sobre o mundo natural ou fenomênico
(ARISTÓTELES, 2008a, 2008b). Portanto, processo de sofisticação da investigação, que viu
crescer enormemente o conjunto factual a ser subsumido sob um só escopo, e a invenção da
ideia de natureza como “coisa” que sofre mudança. É, sobretudo, essa última concepção que
marcará, definitivamente, a separação entre filosofia e ciência (REALE e ANTISERI, 1990).
Retrocedendo, novamente, à época grega clássica, o conceito de Natureza (physys) é
oposto de Arte e Artesanato (tèchne). Kesselring (2000) aponta que a palavra grega tèchne
denota a capacidade humana de construção, construir coisas. Da palavra physys advém o
conceito de física. O grande paradigma grego da palavra physys era a vida orgânica, pois a
natureza era vista como um ato de surgir e desvanecer e que esse processo seja repetitivo, como
os dias e noites, sol e lua. A partir da a filosofia grega, há algo que é a physys – a Natureza, a
essência, o princípio – de cada ser singular (KESSELRING, 2000). As contribuições deste
conceito foram a aspiração ao seu lugar natural: objetos pesados tendem para baixo, objetos
leves tendem para cima, como também o surgimento do termo que resigna o princípio de
movimento nos seres vivos – psyche, a alma –, ou seja, é singular no princípio de qualidades e
características específicas de cada ser vivo. Em suma, ter capacidades e compreender
cientificamente a Natureza faz parte da razão. A possibilidade de Ciência e do conhecimento
na Natureza pertencem, então, à natureza humana (KESSELRING, 2000).
Na segunda fase, na Idade Média (restringindo ao Ocidente Cristão), a tradição bíblica
tange o conceito de natureza. Segundo a tradição cristã, natureza designa o âmbito da criação,
ou seja, o mundo tem um início e um fim e existe um criador, no qual não faz parte ou não
reside da natureza. Segundo Kesselring (2000) ao conceituar natureza deve-se considerar três
pontos: 1. O pensamento teológico da Idade Média; 2. O fato da Antiguidade ter sido
redescoberta no século XV (o que marcou humanismo da época); 3. O aprofundamento de uma
tradição experimental na pesquisa científica sobre a Natureza, tradição essa que se formará
por volta do século XIII. A importância da experimentação cresceu nessa época, opondo-se as
tradições mágicas ou ocultistas, tendo o seu auge no Renascimento Clássico com Copérnico
(desenvolveu a teoria heliocêntrica do Sistema Solar), Kepler (formulou três leis fundamentais
da mecânica celeste) e o surgimento da Ciências Naturais (opondo-se à ideia de Deus criador o
mundo), porém a ideia de criador que alterava a natureza sempre que necessário.
72

É importante destacar que na Idade Média as perspectivas das leis naturais
sobrepunham-se as “as mãos de Deus”, que segundo Kesselring (2000):
a razão humana não está mais apresentada segundo o modelo da razão divina, mas, ao
contrário, uma está representada pela outra. Isso tem um bom exemplo naquilo que
Laplace denomina “inteligência quase divina”, a saber, uma inteligência que sabe
calcular na maneira de um cientista natural, mas com uma velocidade demoníaca –
que hoje chamaríamos de “velocidade eletrônica”.
O determinismo mecânico ascende-se a partir do século XVII colocando a liberdade
fora da natureza, pois o nosso agir, nosso querer, nosso planejar, ora acontecem fora da natureza
física, ora somos marionetes da casualidade natural. Essa liberdade está banida para um mundo
ideal e além da natureza (KESSELRING, 2000), como Kant dispõe que trazemos formas e
conceitos a priori (aqueles que não vêm da experiência) para a experiência concreta do mundo,
os quais seriam de outra forma impossíveis de determinar. A perspectiva de Kant – acerca das
condições de possibilidade do conhecimento natural –, entre a liberdade e o determinismo
coloca o ser humano no dever de modificar a natureza para justificar suas leis por meio de
experimentos, porém expõe sua impossibilidade de alterar os eventos naturais – visto que já
estão pré-determinados e contínuos –, visível somente sob o olhar da Filosofia.
Com o início da modernidade científica e o avanço das ciências (Ernest Becquerel e
Marie Curie na descoberta da radioatividade, por exemplo), a modernidade foi uma época de
insegurança e de incertezas, numa nova experiência do espaço e do tempo. Para Karl Marx e
Friedrich Engels, essa época é marcada pelo domínio da burguesia. Para eles, caracteriza-se
pelo revolucionamento permanente da produção, o abalo contínuo de todas as categorias
sociais, (...) tudo que é sólido desmancha no ar, tudo que era sagrado é profanado (MARX &
ENGELS, 2001). A burguesia, segundo os autores, tenta propiciar uma imagem de
sobrevivência de seguridade, que assegure o seu capital, e que “almejam as condições de vida
da sociedade moderna sem as lutas e perigos necessariamente decorrentes”. Dessa forma, a
modernidade burguesa é a busca pela superação da angústia, a tentativa de se equilibrar entre o
eterno e o fugidio, entre o contingente e o imutável. Como aponta Davi Harvey
a ideia era usar o acúmulo de conhecimento gerado por muitas pessoas trabalhando
livre e criativamente em busca da emancipação humana e do enriquecimento da vida
diária. O domínio científico da natureza prometia liberdade da escassez, da
necessidade e da arbitrariedade das calamidades naturais. O desenvolvimento das
formas racionais de organização social e de modos racionais de pensamento prometia
a libertação das irracionalidades do mito, da religião, da superstição, liberação do uso
arbitrário do poder, bem como do lado sombrio da nossa própria natureza humana.
Somente por meio de tal projeto poderiam as qualidades universais, eternas e
imutáveis de toda a humanidade ser reveladas (HARVEY, 1992).
73
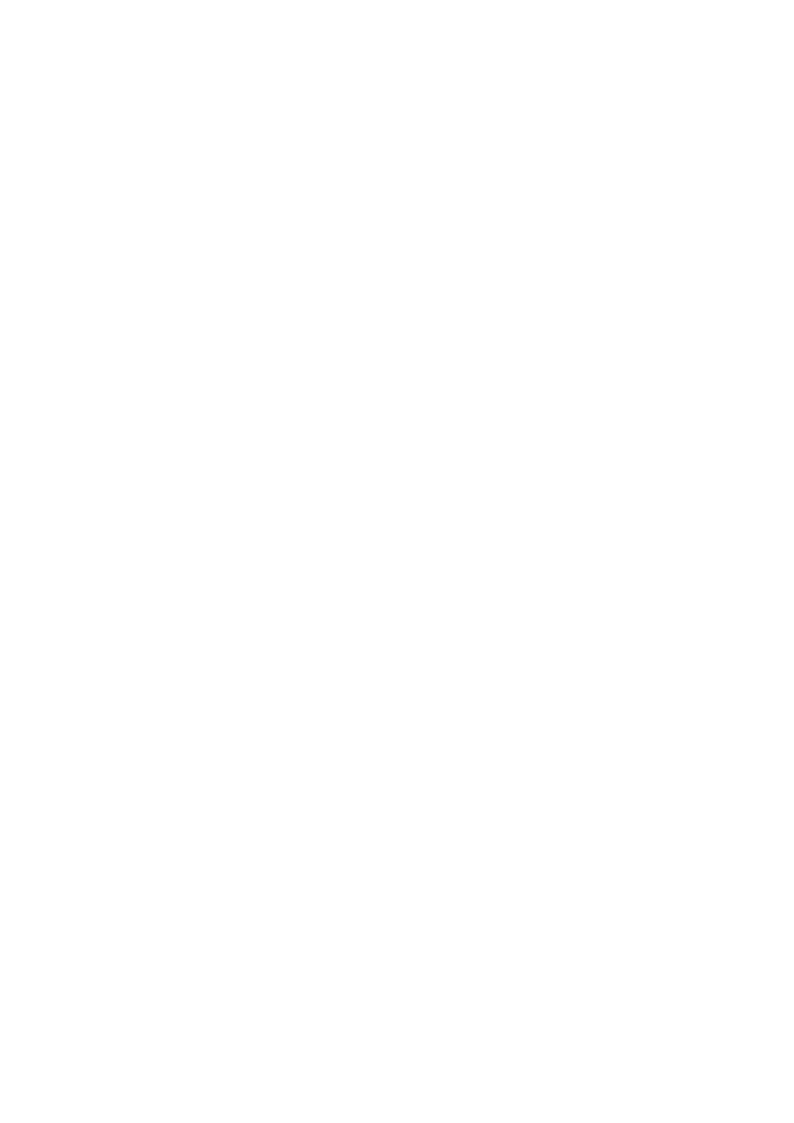
A procura pelas verdades dos fenômenos globais, sob a perspectiva do movimento
iluminista, obteve como consequência um avanço extraordinário nas ciências, sendo assim, o
acúmulo de conhecimento e o processo de dessacralização da natureza eram as ignições
necessárias para essa nova fase da sociedade. Como aponta Kesselring (2000), três fatores
contribuíram para uma tremenda transformação posterior no conceito de Natureza e de
processos naturais: 1. Teoria Geral da Evolução; 2. Descobrimento do acaso nas Teorias sobre
a Natureza; 3. Segunda Lei da Termodinâmica. A primeira, pauta-se que o homem perde sua
prioridade ontológica em relação aos animais e às plantas, afirmando, mais uma vez, que o ser
humano é um produto da natureza. O segundo item, menciona a inclusão das leis das
probabilidades e as leis estatísticas na física, ampliando as Leis da Mecânica. E por último, a
descoberta da energia que se transforma em calor, sendo que uma parte dela volta ao estado de
energia mecânica, apontando para irregularidade caótica.
Sendo assim, foi na modernidade que se estabeleceu uma relação entre técnica e
natureza, causando, às vezes a confusão conceitual. Hoje é possível a manipulação de
radioisótopos, existentes na natureza, como também a tecnologia genética na manipulação de
microrganismos, ou seja, a fronteira entre engenhosidades técnicas e natureza caíra. O processo
de dessacralização da natureza foi o ponto de partida para compreender a natureza como um
mercado antropológico. Há inúmeras perdas de reservas ecológicas naturais, milhares de
espécies extintas, êxodo rural, industrialização. Nesse sentido, a ideia de concorrência que
permeia a sociedade atual – em um sistema econômico que domina o nosso comportamento
social – o conceito de natureza do século XIX permanece intacto, à medida que os avanços das
Ciências são pautados em poder e lucro. Contrapondo-se a esta logística, os movimentos sociais
do campo rompem com a barreiras de dominação humana sobre a natureza, o qual não é só o
lugar da produção agropecuária e agroindustrial, do latifúndio e da grilagem de terra, mas a
natureza como um espaço territorial, reflexivo e de demandas sociais
Educação do Campo: Um Novo Olhar sobre o Campo
Primeiramente, para pensarmos e refletirmos sobre o modelo de educação no campo no
contexto brasileiro atual, nos dirigimos a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, que
um dos direitos sociais garantido pelo Estado é o acesso à educação e, especificamente no artigo
205, “a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). A Constituição
de 1988 propiciou a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei
74

9394/98), que em seu artigo 8º, §1º diz que caberá à União a coordenação da política nacional
de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa,
redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais (BRASIL, 1998) e
congrega, articuladamente, três níveis de ensino (art. 21): Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio. E no artigo 22, estabelece o objetivo da educação básica “tem
por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para
o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores” (BRASIL, 1988).
Cabe salientar que essa perspectiva de educação básica no Brasil foi motivo de
tensionamentos e lutas, por parte dos educadores, para a formalização de uma legislação
nacional. A educação básica – termo básico: pôr em marcha, avançar – é um conceito mais do
que inovador para um país que, por séculos, negou, de modo elitista e seletivo, a seus cidadãos
o direito ao conhecimento pela ação sistemática da organização escolar (CURY, 2002). A
educação básica torna-se um direito obrigatório e ofertado de forma qualificada, considerado
um direito social e tendo eminente participação ativa e crítica a sociedade que a compõe,
baseado nos princípios de uma sociedade justa e democrática. Sendo o Brasil um país
federativo, Art. 1º da Constituição Federal, é uma República Federativa formada pela união
indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal (BRASIL, 1988).
Nesse sentido, é de praxe que numa organização federativa haja a não centralização do
poder, na qual se cruzam novos mecanismos de participação social com um modelo
institucional cooperativo e recíproco que amplia o número de sujeitos políticos capazes de
tomar decisões. Por isso mesmo a cooperação exige entendimento mútuo entre os entes
federativos e a participação supõe a abertura de arenas públicas de decisão. A LDBEN
denominará tal pluralidade consociativa de Sistema de Organização da Educação Nacional, em
seu Título IV. É desta concepção articulada entre os sistemas que decorre a exigência de um
Plano Nacional de Educação (art. 214 da Constituição Federal) que seja, ao mesmo tempo,
racional nas metas e nos meios, e efetivo nos seus fins (CURY, 2002). Além disso, os três entes
da federação devem garantir, por meios de suas arrecadações fiscais e repasses da União, a
Educação Infantil e Ensino fundamental (Municípios) e Ensino Médio (Estado).
Sob a perspectiva da Educação do Campo, a LDBEN, em seu artigo 28, aponta que “na
oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as
adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região.”
(BRASIL, 1996). Tendo em vista que:
75

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e
interesses dos alunos da zona rural;
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às
fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural.
Segundo o Decreto 7.532/10,
a política de educação do campo destina-se à ampliação e qualificação da oferta de
educação básica e superior às populações do campo, e será desenvolvida pela União
em regime de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
(BRASIL, 2009).
E em seu § 1o, entende-se populações do campo e escolas do campo como:
I - populações do campo: os agricultores familiares, os extrativistas, os
pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária,
os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta,
os caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do
trabalho no meio rural; e
II - escola do campo: aquela situada em área rural, conforme definida pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquela situada em
área urbana, desde que atenda predominantemente a populações do campo.
Como princípios da Educação do Campo, no artigo 2º, aponta o respeito à diversidade
do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero,
geracional e de raça e etnia e valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos
pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades dos
alunos do campo, bem como flexibilidade na organização escolar, incluindo adequação do
calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas (BRASIL, 2010). De
modo geral, o universo da educação no meio rural é ainda bastante marcado pela presença das
escolas isoladas multisseriadas que possuem um(a) único(a) professor(a) para duas, três e até
quatro séries diferentes. Em 2002, 62% das escolas primárias brasileiras e 74% das classes de
1ª a 4ª séries estavam localizadas em áreas rurais e 95% das escolas com apenas uma sala de
aula (aproximadamente 60 mil) encontravam-se no meio rural (SILVA, MORAIS e BOF,
2006).
Um dos fatores da escolarização no meio rural é desenvolvimento da agroindústria, cada
vez mais percebida pelos vários setores da sociedade. Segundo Capelo (2000) “o interesse pela
escolaridade dos empregados, nas grandes fazendas, pode aumentar em razão das tecnologias
que estão sendo implantadas no trabalho rural que exigem um certo grau de conhecimento”.
Cabe salientar que a perspectiva de uma educação voltada para as zonas rurais deve estar
associada as lutas e movimentos de distintos segmentos populacionais campesinos, como o
Movimentos dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) e a Confederação Nacional do Trabalhador
76
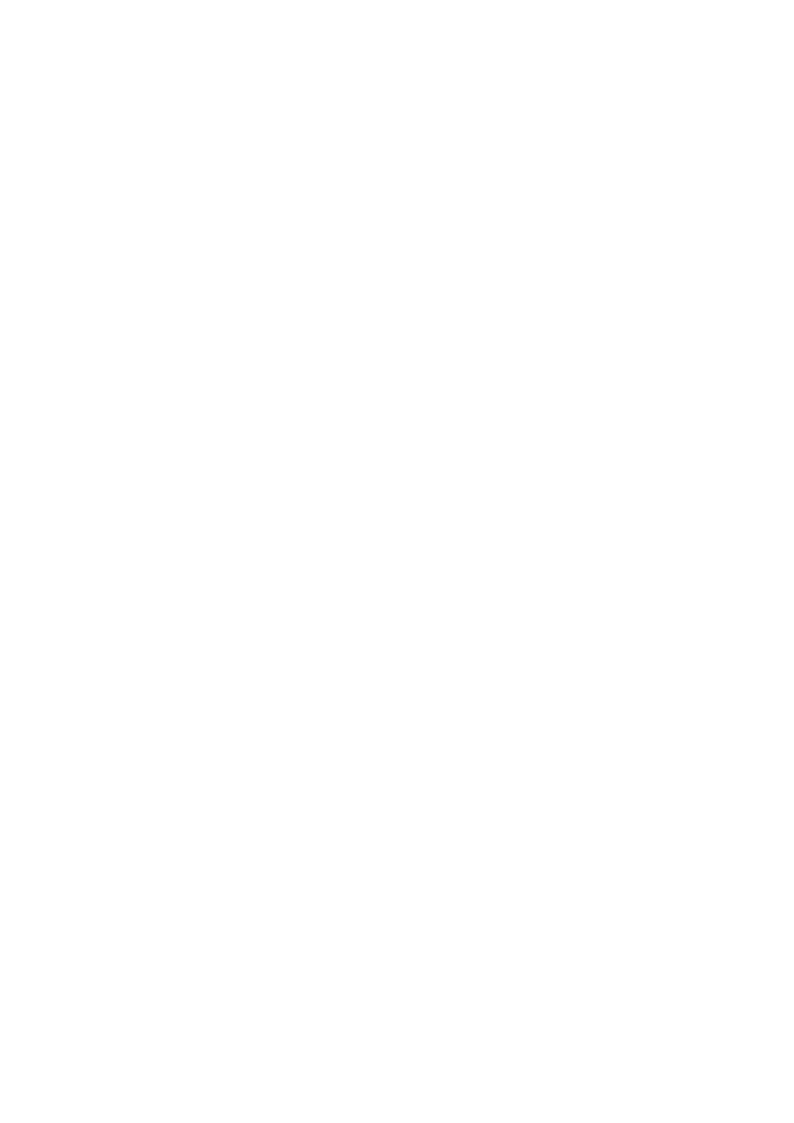
e Trabalhadora na Agricultura (Contag). A realidade de lutas pela terra e reforma agrária nos
permite perceber que a educação do campo se entrelaça a esses movimentos, como também e
contexto educacional se dá em acampamentos e assentamentos, ou de outras áreas
regulamentadas para a ocupação de grupos de quilombolas, indígenas, povos da floresta,
ribeirinhos, etc. A educação é defendida não como um fim em si mesmo, mas como instrumento
de luta pela terra e por condições de vida, de afirmação de sua identidade (CALDART, 2000).
Os Entrelaces entre Natureza e Educação do Campo
A problematização da realidade do campo faz emergir uma temática que conterá
situações cotidianas e suas contradições, cujo estudo demandará a compreensão de ciência e
natureza. Nas civilizações pastoris ou agrícolas, denominadas de primitivas, o ser humano
integrava-se natureza interferindo neste de forma restrita e harmoniosa. Não obstante, com o
aumento da população, e das demandas populacionais, surgiu formas sociais mais complexas
e, sobretudo com o processo de industrialização, as interferências e as perturbações provocadas
pelo ser humano nos ecossistemas tornaram-se drásticas causando danos preocupantes no
conjunto do ambiente global.
Essa ideia moderna, iluminista, de dominação completa e a qualquer preço da
"natureza" está, ao nosso ver, estreitamente vinculada à gênese de grandes questões
de nossa época, e dentre essas, a degradação ambiental. Essa degradação não está
restrita à degradação ecológica dos territórios físicos/biológicos da vida, mas também,
e definitivamente, à degradação do homem nas suas múltiplas dimensões (lúdicas,
estéticas, éticas, filosóficas, culturais...) (BARCELOS, 1998).
Nesta perspectiva, a educação tornou-se um elemento fundamental de formação de uma
nova sociedade – que em suas distintas dimensões –, reflita sobre os aspectos do ambiente. A
complexidade da natureza, seja ela o seu conceito, seja ela enquanto fenômeno, passam a ser
vistos como partes de todo, ou seja, a Natureza que interage com os demais componentes e seus
aspectos. Como dito anteriormente, no caso da espécie humana, seu espaço corresponderia a
natureza conhecida, modificada em relação aos interesses do seu sistema social produtivo.
Como nele convivem interesses econômicos sociais contraditórios entre objetivos dos que
contemplam a preservação do ambiente e outros que não contemplam, esse sistema poderia ser
pensado tanto para promover a sua preservação quanto para a sua depredação. Considera-se que
a natureza não é estática, e sim dinâmica, está sempre se transformando de modo imperceptível
e/ou violento, mas nela sempre atuam mecanismos próprios ou naturais que buscam restaurar o
equilíbrio (DULLEY, 2004).
77

Os sistemas produtivos sociais humanos, ora trabalhem no sentido favorável, ora
desfavorável ao ambiente e natureza, não têm capacidade de destrui-lo(a). Além disso, “[...]
Toda ideia da natureza pressupõe, com efeito, uma complexa aliança de elementos científicos
(o que são as coisas?), morais (que atitude deve tomar o homem perante o mundo?), religiosos
(a natureza é o todo ou é a obra de Deus?)” (LENOBLE, 1969). Nesse sentido, o campo (ainda)
está vivo, com uma dinâmica social, cultural própria e que está em pauta propostas alternativas
de educação para a população rural em cujo centro estejam os interesses de seus sujeitos.
A identidade sociocultural é dada pelo conceito de cultura. Schelling (1991) traz uma
definição de cultura como práxis que pode ser útil à educação do campo. Para a autora, a
capacidade do homem de se transformar e ser transformado é uma característica humano-
genérica (estruturar e ser estruturado) e essa capacidade está na base do conceito de cultura
como práxis, por meio da qual
[...] o homem não só se adapta ao mundo, como também o transforma. Essa
transformação ocorre em dois níveis: em primeiro lugar no nível da interação do
homem com a natureza e como ser da natureza, modificando o ambiente natural com
o uso de ferramentas. Ocorre também no nível da consciência, da interação
comunicativa entre os indivíduos e sua organização social (SCHELLING, 1991,
p.32).
Morin (1988) complementa ainda que “... A sociedade hominídea... constitui a sua
economia organizando e tecnologizando as suas duas práxis ecológicas da caça e da colheita,
que se transformam em práticas econômicas”. Conclui afirmando: “...a organização econômica
emerge como cultura no sentido forte do termo...”; e essa cultura deve ser “... transmitida,
ensinada, apreendida, quer dizer, reproduzida em cada novo indivíduo no seu período de
aprendizagem, para poder auto perpetuar-se e para perpetuar a alta complexidade social.”
(MORIN, 1988). O homem nasce num ambiente natural, mas simultaneamente num ambiente
sociocultural (DULLEY, 2004).
Nesta perspectiva, a exploração da natureza assume, cada vez mais, caráter científico e
racional no âmbito da racionalidade instrumental, fruto de uma organização socioeconômica,
política, cultural e tecnicista imposto pela burguesia. Os povos do campo, ao longo da história,
foram explorados e expulsos de seus territórios devido a um modelo de agricultura capitalista,
cujo eixo é a monocultura e a produção em larga escala para a exportação, com o agronegócio,
os insumos industriais, agrotóxicos, as sementes transgênicas, o desmatamento irresponsável,
a pesca predatória, as queimadas de grandes extensões de florestas, a mão-de-obra escrava. Ou
seja, houve uma emergência de uma educação no campo e para o campo – entendida como uma
78

dimensão da social – que estabelece a relação entre reflexão e ressignificação na relação homem
e natureza.
“O homem vive na natureza, isto significa que a natureza é seu corpo, com o qual ele
deve permanecer em contínuo intercurso, se não quiser morrer [...]. A vida física e espiritual do
homem está vinculada à natureza [...], pois o homem é parte da natureza (MARX, 2004). Marx
suscita a ideia de interdependência entre o homem e o meio, pela própria necessidade de
sobreviver (alimentação e de reprodução biológica) para garantir a espécie humana. Sendo
assim, a leitura sobre a natureza na perspectiva da educação do campo, tem se fundamentado
na luta do povo do campo, por exemplo, por políticas públicas que garantem ferramentas
culturais de uma leitura mais precisa da realidade em que vivem. A dimensão educativa do
campo se vincula à ação organizativa do povo, das massas, para alcançar um objetivo de
construir uma sociedade nova, de acordo com os seus interesses. Portanto, a educação do
campo, partindo da premissa de educação popular, rompe com a concepção de natureza de uma
maneira, visto, pelo menos no mundo ocidental, como recurso, como algo a ser dominado, por
alguém que não faz parte desse mundo, ou seja, o homem, entendido como não-natureza.
Além disso, o esforço da educação do campo para uma educação significativa as classes
populares vêm tentando construir um novo enfoque pedagógico, expresso nas experiências
concretas de ruptura com o paradigma dominante da educação (COSTA, 2012). Como a
ocorrência de conflitos entre os saberes tradicionais, considerados mitos pela ciência, e o saber
científico-moderno, sendo apenas umas das formas de conhecimento. Novamente, a dicotomia
homem-natureza aparece. Nesse caso, como se houvesse uma natureza intacta, sobre a qual a
intervenção humana seria deletéria. A inserção do conceito de natureza na Educação do Campo,
assume, portanto, um papel de formar cidadãos capazes de transformar o meio em que vivem,
com o desenvolvimento comunitário, a partir da ideia de que o local, o território, pode ser
reinventado por meio de suas potencialidades, considerando seus conhecimentos acerca da
dinâmica da natureza.
Considerações Finais
O debate sobre o conceito de natureza é bastante extenso, e inclui também aspectos
filosóficos, religiosos e éticos, porém a partir da natureza, e do seu estudo sistemático que o
homem foi construindo seu espaço, através do acúmulo de conhecimento sobre ela. Portanto,
compreendermos o meio como um espaço notado, no qual elementos naturais e sociais estão
interagindo constantemente. Como consequência, essas relações implicam em novos processos
culturais, tecnológicos, históricos e transformação do meio natural e construído.
79

A adoção do conceito de natureza como algo exterior ao homem, como algo a ser
dominado pelo homem, trouxe consequências socioespaciais e socioambientais dramáticas. É
de extrema importância incorporar práticas de educação que contextualizem a realidade nos
âmbitos culturais, ambientais, sociais e econômicos, ou seja, que possuam uma visão
interdisciplinar, contribuição para uma educação que abranja um conjunto de processos
formativos já constituídos pelos sujeitos do campo em seu processo histórico. Pensar a educação
enquanto política desde os interesses sociais, políticos, culturais de um determinado grupo
social, desde seus sujeitos concretos no seu contexto social em um tempo histórico, sem
esquecer de considerar que antes de tudo o que se busca é a formação de seres humanos.
Sendo assim, a educação do campo tem como fundamento o interesse por um modelo
cujo foco seja o desenvolvimento humano, especialmente o do campo. Um desenvolvimento
que articule a dinâmica do cotidiano dos povos do campo, estabelecendo a relação ser humano
e natureza, visando quebrar o paradigma do humano e à ciência moderna, unicamente, como
forma de domínio, controle e subordinação da natureza aos seus interesses e aos interesses do
capitalismo já florescentes. Uma educação do campo de cunho emancipatório, participativo e
contextualizado é um dos processos favoráveis para tal criação, a qual visa formar sujeitos
ambientalmente críticos e pensantes.
Referências
ARISTÓTELES (2008). Metaphysics. Tradução para o inglês: J. Sachs. Oxford: Oxford
University Press;
ARISTÓTELES (2008). Physics. Tradução para o inglês: R. Waterfield. Oxford: Oxford
University Press;
BARCELOS, V. H. L (1998); et al. Tendências da Educação Ambiental Brasileira. Santa
Cruz do Sul: EDUNISC;
BOYER, C. B. (1974). História da Matemática. São Paulo: Ed. Edgard Blucher LTDA;
BRASIL, Ministério da Agricultura (2010). Decreto 7.352, Dispõe sobre a política de
educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária – PRONERA, Brasília: Censo Gráfico;
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília,
DF: Senado Federal: Centro Gráfico;
BRASIL. (1996). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: MEC;
CALDART, R. S. Sobre educação do campo. Disponível: <
http://www.ce.ufes.br/educacaodocampo/down/cdrom1/pdf/ii_03.pdf>. Acesso em: jul 2017;
80

CAPELO, M. R. C. C. (2000); Educação rural e diversidade cultural no meio rural de
Londrina: quando o presente reconta o passado. Tese (Doutorado) – UNICAMP,
Campinas/SP,;
CURY, C. R. J. (2002). A Educação Básica no Brasil. Educação e sociedade, v. 23, nº 20.
Campinas-SP;
DULLEY, R. D. (2004) Noção de natureza, ambiente, meio ambiente, recursos ambientais e
recursos naturais. Agricultura em São Paulo, São Paulo, v. 51, n. 2, p. 15-26;
GODFREY-SMITH, P. (2003). Theory and Reality: an introduction to the philosophy of
science. Chicago: The University of Chicago Press;
HARVEY, D. (1992) Condição Pós-Moderna. São Paulo: Loyola;
KESSELRING, T.; O Conceito de Natureza na História do Pensamento Ocidental. Episteme,
Porto Alegre, n. 11, p. 153-172, jul-dez, 2000.
LEITE, S. C. (1999) Escola Rural: urbanização e políticas educacionais. São Paulo: Cortez;
LENOBLE, R. (1969) História da ideia de natureza. Lisboa: Edições 70;
LLOYD, G. E. R. (1970) Early Greek Science: Thales to Aristotle. New York: W.W. Norton
& Company;
MARX, K.; ENGELS, F. (2001) Manifesto do Partido Comunista. São Paulo: L&PM Pocket;
MORIN, E. (1988) O paradigma perdido: a natureza humana. 4. ed. Portugal: Publicações
Europa-América;
POLITO, A. M. M.; SILVA FILHO, O. L. da (2013) A Filosofia da Natureza dos Pré-
Socráticos. Caderno Brasil Ensino de Física, v. 30, n. 2: p. 323-361, ago;
REALE, G.; ANTISERI, D. (1990). História da Filosofia. São Paulo: Ed. Paulus;
SCHELLING, Vivian. (1991) A presença do povo na cultura brasileira. Campinas: Editora
da UNICAMP;
SILVA, J. J. (2007) Filosofias da Matemática. São Paulo: Editora UNESP;
SILVA, L. H da; MORAIS, T. C de; BOF, A. M.; (2006) A Educação no Meio Rural do Brasil:
Revisão da Literatura. In: Alvana Maria Bof, Carlos Eduardo Moreno Sampaio, [et al.] (org.).
A educação no Brasil rural, Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira;
SOARES. N. B. (2007) Educação Ambiental no Meio Rural: Estudo das Práticas Ambientais
da Escola Dario Vitorino Chagas – Comunidade Rural Do Umbu - Cacequi/RS. Monografia de
Especialização.
81

ARTIGO III – A Pedagogia do Movimento Sem Terra (MST) na
Consolidação das Políticas de Educação do Campo e Educação Ambiental105
Guilherme Franco Miranda
José Vicente Lima Robaina
RESUMO
O objetivo deste artigo é discutir a importância da Pedagogia do Movimento Sem Terra (MST) na articulação e
consolidação das políticas educacionais do campo e educação ambiental. Primeiramente, as políticas públicas
podem, ser entendidas como um conjunto de observações, de caráter descritivo, explicativo e normativo, acerca
das políticas públicas, que correspondem, respectivamente, às perguntas a respeito de “o que/como é?”, “por que
é assim?” e “como deveria ser?”. Partindo da perspectiva de que a educação no campo enquanto fundamento
histórico recria o conceito de camponês, utilizando o “campo” como símbolo significativo, referindo-se assim, ao
conjunto de trabalhadores que habita no campo, a investigação contextualiza como ocorre o processo gênese e
desenvolvimento de Educação junto ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST e quais os reflexos
encontrados nas políticas públicas da educação do campo e as políticas de educação ambiental no Brasil. Durante
a década de 70 do século XX a emergência dos debates sobre a questão ambiental surgiu com muita força, dando
lugar também ao aparecimento da consciência ecológica e do movimento ambientalista, que percebia a
problemática ambiental como uma crise que então começava atingir toda a civilização frente à degradação
ambiental. A pesquisa de natureza bibliográfica descreve as principais obras escritas sobre a Educação do Campo,
Educação Ambiental e a Educação proposta pelo MST. Após as análises das obras os autores apresentam que a
educação crítica, transformadora e emancipatória do MST foi fundamental para a construção de políticas públicas
no âmbito da Educação do Campo no Brasil e um desafio tanto em relação às políticas públicas para a educação
como em relação às concepções pedagógicas, para que a educação possa ter o seu caráter universalizante, pois
como já foi mencionada a educação ambiental confere a possibilidade de se adotar abordagens mais abrangentes
possibilitando assim a construção de um sentimento de pertencimento nos sujeitos envolvidos no processo
educativo.
Palavras-chaves: Movimento Sem Terra, Educação do Campo, Pedagogia do Movimento, Educação Ambiental
Introdução
O Estado, da forma que o conhecemos, sofreu uma série de transformações
significativas deste a sua constituição, até a forma como o mesmo é percebido pelos sujeitos.
Nos séculos XVIII e XIX, por exemplo, a preocupação do Estado restringia-se a promoção da
segurança pública e a defesa de fronteiras especificamente. Porém, com o amadurecimento do
espaço e até mesmo da percepção do conceito de democracia participativa, o Estado acabou
incorporando em seus deveres outras responsabilidades, responsabilidades estas relacionadas
diretamente com as demandas da população. A Constituição Federal, em seu Art. 3º, inciso VI,
destaca como um dos objetivos fundamentais da república, “promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”,
ideia reforçada mais adiante em seu Art. 193º ao discorrer sobre a ordem social como elemento
fundamental para o trabalho e como objetivo fim promover “o bem-estar e a justiça social”
105 Publicado nos anais do V Seminário Internacional de Políticas Públicas da Educação Básica e Superior da
UFSM. MIRANDA, G.F.; ROBAINA, J.V.L.; A Pedagogia do Movimento Sem Terra (MST) na Consolidação
das Políticas de Educação do Campo e Educação Ambiental. V Seminário Internacional de Políticas Públicas
da Educação Básica e Superior da UFSM. Santa Maria: UFSM, 2017.
82

(BRASIL, 1988). Para atender o que preconiza a legislação, o Estado necessita promover uma
série de ações/planos/articulações nas esferas que compõem a sociedade (como saúde,
educação, meio ambiente, segurança, entre outros), este conjunto, quando constituído e tem por
objetivo a promoção do bem-estar da sociedade, nominamos de Políticas Públicas.
Ainda nas sociedades primitivas, o processo educativo constituía-se basicamente por
métodos informais, por um mecanismo denominado endoculturação no qual os valores,
princípios e costumes eram transmitidos às gerações futuras por meio da convivência em
sociedade (COSTA e RAUBER, 2009). Não obstante, a “transmissão” desses valores, limitava-
se somente à memória, ou seja, não havia nenhum outro mecanismo além da convivência que
registrasse esses valores culturais nas sociedades antigas. Pensarmos na formação educacional
no Brasil que implica analisar o modelo estrutural de ensino e investimentos nessa área, contudo
a problemática histórica gira em torno do modelo pedagógico. Duas concepções são
rotineiramente adotadas em nosso país: Modelo tradicional (modelo fonético) e o
construtivismo (escola nova).
Segundo XAVIER
de um lado está a escola tradicional, aquela que dirige que modela, que é
‘comprometida’; de outro está a escola nova, a verdadeira escola, a que não dirige,
mas abre ao humano todas as suas possibilidades de ser. É, portanto,
‘descompromissada’. É o produzir contra o deixar ser; é a escola escravizadora contra
a escola libertadora; é o compromisso dos tradicionais que deve ceder lugar à
neutralidade dos jovens educadores esclarecidos (XAVIER, 1992, p. 13).
Nesse contexto, a educação do campo no Brasil é um dos desafios do século XXI, devido
à uma educação excludente das comunidades do campo, sejam eles seringueiros, trabalhadores
nos faxinais, ilhéus, índios, pescadores ou quilombolas. A educação rural – pedagogicamente
contrária à Educação do Campo – é extensão da educação praticada nas escolas urbanas,
utilizando como método de ensino a reprodução de informações e “conhecimentos”, sem
debater a realidade concreta do homem do campo (BRANDÃO, 2012). Ao se discutir a disputa,
disse CALDART (2007, s/p) que o “[...] conceito de Educação do Campo é novo, mas já está
em disputa, exatamente porque o movimento da realidade que ele busca expressar é marcado
por contradições sociais muito fortes”. Essas contradições fortes se dão nos campos político,
econômico, social, cultural e geográfico, pois ao discutirmos Educação no campo, discutimos
educação para as comunidades do campo, um direito humano para além da alfabetização e
reprodução de letras e números.
Como aponta BRANDÃO,
Educação do Campo constitui-se de ações politizadoras, contribuindo com o
desenvolvimento da consciência social e política. É praticada por movimentos sociais
83

organizados do campo, mas continua defrontando-se com as políticas de Estado de
educação para o campo nos moldes das políticas neoliberais praticadas pelo sistema
político capitalista em vigência no Brasil (BRANDÃO, 2012).
A partir desse novo rumo, um novo perfil de escola do campo que almeje a valorização
do campo, que engloba espaços da floresta, da pecuária, das minas, da agricultura, dos
pescadores, dos caiçaras, dos ribeirinhos e dos extrativistas, como um (novo) espaço de inclusão
social. Portanto, hoje, produção, sobrevivência, reconhecimento pessoal e coletivo, politização
e outros quesitos socioculturais, bem como a valorização e preservação do habitat ecológico do
camponês e camponesa são fundamentos na composição e estruturação do processo escolar do
campo. Nesse sentido, a busca da escola do campo converge ao encontro dos objetivos, das
finalidades e das práticas pedagógicas que baseiam a Educação Ambiental. Extremamente
integrada ao contexto atual, a Educação Ambiental, em sua definição mais modesta, visa o
desenvolvimento de novas formas de relação dos homens entre si e com a natureza, a
preservação dos recursos naturais e a redução das desigualdades sociais em prol de uma
sociedade mais justa e sustentável. A consonância entre ambas permite inferir que a Educação
Ambiental é uma poderosa ferramenta na construção do comprometimento socioambiental
almejado pela escola rural (SOARES, 2007).
Educação do Campo: Um Olhar na Legislação
Afim de que reflitamos sobre o modelo de educação no campo no contexto brasileiro,
nos dirigimos a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, que um dos direitos sociais
garantido pelo Estado é o acesso à educação e, especificamente no artigo 205, “a educação é
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). A Constituição de 1988
propiciou a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei 9394/98),
que em seu artigo 8º, §1º que caberá à União a coordenação da política nacional de educação,
articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e
supletiva em relação às demais instâncias educacionais (BRASIL, 1998) e congrega,
articuladamente, dois níveis de ensino (art. 21): Educação Infantil e Ensino Fundamental e
Ensino Médio. E no artigo 22, estabelece o objetivo da educação básica.
Sob a perspectiva da Educação do Campo, a LDBEN, em seu artigo 28, aponta que “na
oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as
84

adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região.”
(BRASIL, 1996). Tendo em vista que:
I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e
interesses dos alunos da zona rural;
II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às
fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
III – adequação à natureza do trabalho na zona rural.
Segundo o Decreto 7.532/09,
a política de educação do campo destina-se à ampliação e qualificação da oferta de
educação básica e superior às populações do campo, e será desenvolvida pela União
em regime de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
(BRASIL, 2010).
E em seu § 1o, entende-se populações do campo e escolas do campo como:
I – populações do campo: os agricultores familiares, os extrativistas, os
pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária,
os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta,
os caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do
trabalho no meio rural; e
II – escola do campo: aquela situada em área rural, conforme definida pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquela situada em
área urbana, desde que atenda predominantemente a populações do campo.
A necessidade de escolarização no meio rural em função do desenvolvimento da
agroindústria é cada vez mais percebida pelos vários setores da sociedade. Segundo Capelo
(2000) “o interesse pela escolaridade dos empregados, nas grandes fazendas, pode aumentar
em razão das tecnologias que estão sendo implantadas no trabalho rural que exigem um certo
grau de conhecimento”. Cabe salientar que a perspectiva de uma educação voltada para as zonas
rurais deve estar associada as lutas e movimentos de distintos segmentos populacionais
campesinos, como o Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e a
Confederação Nacional do Trabalhador e Trabalhadora na Agricultura (Contag). A realidade
de lutas pela terra e reforma agrária nos permite perceber que a educação do campo se entrelaça
a esses movimentos, como também e contexto educacional se dá em acampamentos e
assentamentos, ou de outras áreas regulamentadas para a ocupação de grupos de quilombolas,
indígenas, povos da floresta, ribeirinhos, etc. A educação é defendida não como um fim em si
mesmo, mas como instrumento de luta pela terra e por condições de vida, de afirmação de sua
identidade (CALDART, 2012).
Educação Ambiental e os seus Marcos Históricos
Ao longo do século 20, a Educação Ambiental começou a tomar formas. Na década de
60, a jornalista Rachel Carson lançava um livro intitulado Primavera Silenciosa tornando-se um
85

clássico do movimento ambientalista mundial, na qual efeitos danosos de ações humanas sobre
o ambiente como a perda da qualidade de vida produzida pelo uso indiscriminado e excessivo
de produtos químicos. Além disso, eventos mundiais marcaram discussões em torno da
perspectiva de um ambiente com menos impactos antropológicos e “mais sustentável”, a
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (1972), na qual saiu
Declaração de Estocolmo, um guia para preservar e melhorar o meio ambiente humano, aceitem
as responsabilidades que possuem e que todos participem equitativamente somando esforços
para resgatar, preservar e melhorar o planeta Terra em benefício do homem e da natureza como
um todo, hoje e no futuro106.
A lógica antropológica – nas décadas seguintes – perpetuou a integração com a natureza,
procurando sempre estar em equilíbrio dinâmico com ela. Mas com o passar do tempo o
homem, como tudo que é da natureza, vai evoluindo, e criando o que Guimarães (1995) afirma
ser uma consciência individual e passa assim, ao longo do tempo se afastando cada vez mais
do equilíbrio dinâmico com a natureza, passando a apresentar uma relação totalmente
desarmônica e acabando por causar grandes desequilíbrios ambientais no planeta todo,
esquecendo que ele não é um ser independente e que cedo ou tarde as outras partes afetadas por
este farão toda a diferença.
No contexto nacional, a Lei 9795/99, Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA)
conceitua, em seu art. 1º, “que educação ambiental abrange os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” e, no art. 2º, A educação ambiental
deve ser um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente,
de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal
e não-formal (BRASIL, 1999).
É necessária uma Educação Ambiental com ênfase interdisciplinar que proporcione
melhor leitura da realidade e promova outra postura do cidadão frente aos problemas sócio -
ambientais. E essa reflexão precisa ser aprofundada na medida em que a saúde e a qualidade de
vida dessa geração, e das futuras, dependem de um desenvolvimento sustentável (SOARES et.
al 2001). No âmbito do Estado, enquadra-se naquilo que Bourdieu (1998) denomina “mão
esquerda do Estado”, que reúne trabalhadores sociais, educadores, professores e cujas ações são
ignoradas pela chamada “mão direita do Estado” (áreas de finanças, de planejamento, bancos).
106 Disponível em: <www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc>
86
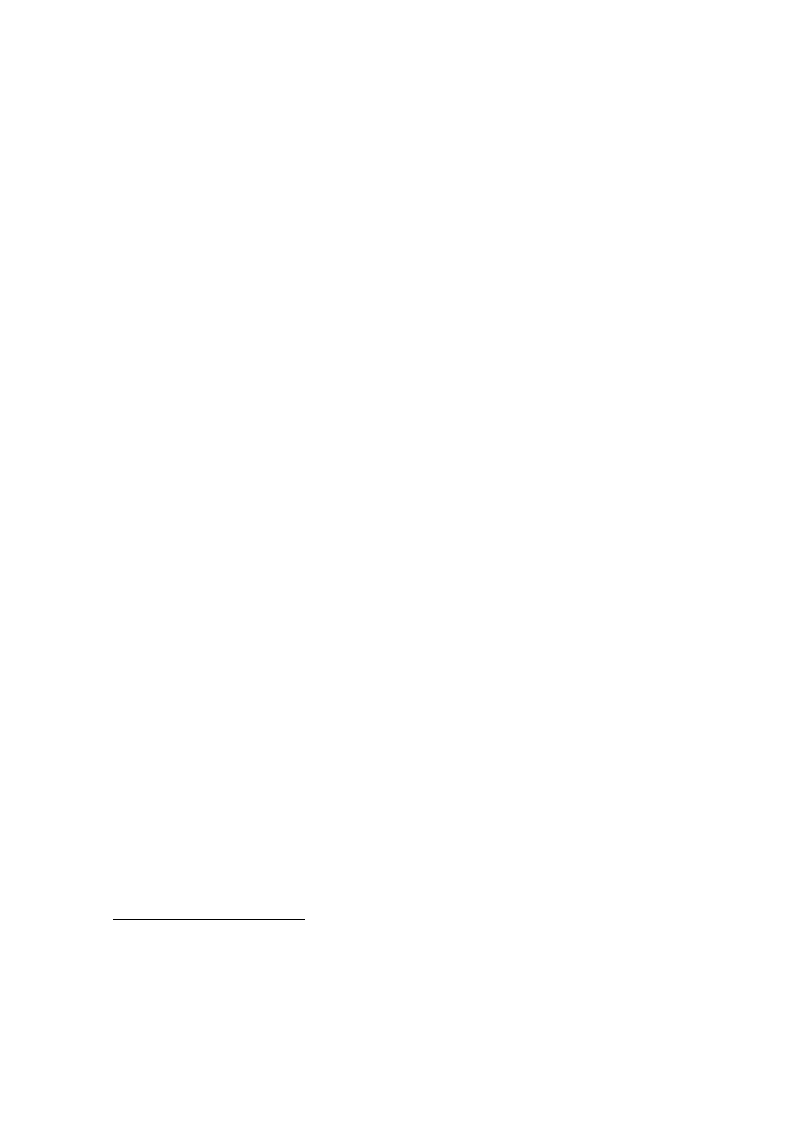
Ao operar na reparação dos danos sociais e ambientais da lógica de mercado, os sujeitos da
“mão esquerda” podem, muitas vezes, se sentir iludidos e desautorizados em função dos
paradoxos vividos de forma crônica, como falta de recursos, luta pela biodiversidade
convivendo com avanço das fronteiras agrícolas por monoculturas ou transgênicos, grandes
obras com alto impacto, revisão de antigas conquistas etc. (SORRENTINO et. al, 2005).
A Política Pública no Contexto da Prática: seu Papel Social
A forma com que se entende uma política pública está diretamente relacionada com a
percepção que se tem do Estado107, frequentemente, compreende-se a política pública como
uma ação ou conjunto de ações por meio das quais o Estado interfere na realidade, geralmente
com o objetivo de atacar algum problema. Essa definição se mostra um tanto quanto simplista,
uma vez que trata o Estado como um ator que opera de forma autônoma e beneficia a sociedade
como um todo através de suas ações. As sociedades modernas têm, como principal
característica, a diferenciação social. Isto significa que seus membros não apenas possuem
atributos diferenciados (idade, sexo, religião, estado civil, escolaridade, renda, setor de atuação
profissional, entre outros), como também possuem ideias, valores, interesses e aspirações
diferentes e desempenham papéis diferentes no decorrer da sua existência. Tudo isso faz com
que a vida em sociedade seja complexa e frequentemente envolva conflito: de opinião, de
interesses, de valores, etc.
Entretanto, para que a sociedade possa sobreviver e progredir, o conflito deve ser
mantido dentro de limites administráveis, para isto, existem apenas dois meios: a coerção108
pura e simples e a política, como coloca Hossoé (2014). De acordo com Rua (1998), “o
problema com o uso da coerção é que, quanto mais é utilizada, mais reduzido se torna o seu
impacto e mais elevado se torna o seu custo”, ou seja, nos resta então, a política como meio de
transformação/modificação, mas afinal, o que é política? Schmitter (1984) conceitua a política
como sendo o meio para a “resolução pacífica de conflitos”, embora este conceito no fornece
algum norte sobre o tema, percebemos que neste molde, este conceito é extremamente amplo e
pouquíssimo restringente. Rua (1998), complementa este conceito a trazer esta percepção para
107 O Estado é entendido neste trabalho como a principal entidade responsável por promover o desenvolvimento
nacional, percepção esta gerada pelas próprias experiências históricas dos países da região;
108 Referimo-nos à possibilidade de levar alguém a fazer alguma coisa contra a respectiva vontade, à força por
meio da qual se pode obrigar outrem a obedecer, aquela heteronomia que consiste em impor a outrem algo que
este não deseja espontaneamente a possibilidade de alguém impor a outrem a sua vontade (por exemplo, o caso de
uma entidade conquistar, pela guerra, um determinado país).
87

o campo do “conjunto de procedimentos formais e informais que expressam relações de poder”
e dessa forma acabam direcionando os encaminhamentos das articulações para, aí sim, à
resolução pacífica dos conflitos.
As políticas públicas reverberam na sociedade, ou seja, qualquer teoria de política
pública explica as relações diretas e indiretas do Estado com a política, economia e sociedade.
Sendo as políticas públicas fruto de um campo histórico, há duas implicações. Primeiramente,
embora seja formalmente um ramo da ciência política, a não ser que se resume somente a ela,
podendo também ser objeto analítico de outras áreas do conhecimento. A segunda é que o
caráter holístico da área não significa que ela careça de coerência teórica e metodológica, mas
sim que ela comporta vários “olhares”. Por último, políticas públicas, após desenhadas e
formuladas, desdobram-se em planos, programas, projetos, bases de dados ou sistema de
informação e pesquisas. Quando postas em ação, são implementadas, ficando daí submetidas a
sistemas de acompanhamento e avaliação (SOUZA, 2006).
Analisar os desdobramentos das políticas públicas, principalmente aqueles associados
ao âmbito da educação, possibilita vislumbrarmos de fato de que forma a mesma é
implementada em um determinado contexto e ainda como os sujeitos foco dessas políticas
acabam (re)significando-as a partir das suas vivencias. Algumas metodologias nos auxiliam na
compreensão desses fenômenos, como por exemplo a Abordagem do Ciclo de Políticas (BALL;
BOWE; GOLD, 1992 e MAINARDES, 2006) e a Análise de Política (DYE, 1984), ambos os
autores compreendem que suas análises construiriam um conjunto teórico de informações que
possibilitariam o entendimento sobre o que os governos fazem, porque fazem e que diferença
isso faz. Contudo, a principal contribuição dos estudos desenvolvidos no âmbito do campo da
Análise de Política talvez seja ainda uma outra: a compreensão de “como os governos fazem”
ou, em outras palavras, como se desdobram os processos políticos que conformam as políticas
públicas e, por extensão, o próprio Estado.
Educação do Campo e o MST
O movimento que se destaca pela busca da educação no campo é o MST, ele ultrapassa
o conceito de apenas um movimento social. Ele busca a formação de “novos seres humanos”
que faz parte do movimento, uma busca coletiva na formação de seu individuo, onde propõem
“a reflexão e elaboração teórica de princípios político-pedagógicos articulados às práticas
educativas desenvolvidas no interior das lutas sociais levadas a efeito pelos povos do campo”
(SAVIANI, 2008, p.172). O MST tem sua consolidação em 1984, e promove a luta social contra
88

o latifúndio pela efetivação da política agrária e entre outras demandas. Sendo de uma forma
autônoma, mas sem deixar de cobrar do estado os direitos sociais (COSTA e TIBOLA, 2013)
Devida à alta taxa de analfabetismo nos assentamentos, o MST busca lutar pela
educação de suas crianças, jovens e adultos. Segundo BRANFORD e ROCHA:
Da mesma forma que agiam para conquistar suas terras, os sem-terra começaram a
mobilizar-se para exigir escola [...] Muitos sem-terra passaram a acreditar que era tão
importante vencer obstáculos para obtenção de serviços como educação quanto a
derrubar as cercas que os mantinha fora das terras. (BRANFORD e ROCHA, 2002,
p.159).
A partir de algumas reuniões entre os integrantes do movimento, eles passam a ter outra
visão sobre educação. Em meados da década de 1990, o MST na década de 1990, a educação
do MST passa a ter uma redefinição que acompanha o movimento. Ou seja, o movimento passa
a ter um diálogo e convênios com universidades, entidades jurídicas que, como consequência,
contribuíram para consolidação das políticas públicas educacionais do campo. Segundo Arroyo
(1999) “é preciso analisar que, no interior da organização do MST (...) sua história, é possível
observar as ações em torno da educação que o movimento social se propõe a fazer”.
A partir destas lutas sociais que o MST busca constantemente, a educação do campo, se
torna destaque sendo que ela é um espaço de possibilidades e transformações sociais e a
construção de vida do campo. A Educação do Campo tem suas características centradas em três
aspectos, segundo Souza (2011): 1) identidade construída no contexto de das lutas
empreendidas pela sociedade civil organizada, especialmente a dos movimentos sociais do
campo; 2) organização do trabalho pedagógico, que valoriza trabalho, identidade e cultura dos
povos do campo; 3) gestão democrática da escola, com intensa participação da comunidade. O
sujeito é essencial para definir o projeto político pedagógico e na organização do trabalho
pedagógico. A proposta pedagógica que o MST traz para a educação do campo é emancipatória
e filosófica. Como aponta ADORNO:
Quanto mais a educação procura se fechar ao seu condicionamento social, tanto mais
ela se converte em mera presa da situação social existente. É a situação do “sonho de
uma humanidade que torna o mundo humano, sonho que o próprio mundo sufoca com
obstinação na humanidade!” (ADORNO, 1995 p.11)
Olhar para a formação humana, “é enxergar o MST como sujeito pedagógico, uma
coletividade em movimento, que é educativa e que atua intencionalmente no processo de
formação das pessoas que a constituem” (CALDART, 2012, p. 319). Nos últimos anos, o MST
tem se dedicado ao resgaste histórico, ao resgate da memória, da mística da luta do povo, de
uma simbologia na qual os identifique. Ou seja, perceber o MST como sujeito pedagógico,
significa trazer duas dimensões importantes para reflexão da pedagogia. O campo brasileiro
89

está vivo, com uma dinâmica social e cultural própria, e que o MST surge não só questionando
as estruturas sociais e a cultura que as legitima, mas também questionando a estrutura escolar
e sua concepção pedagógica correspondente. A educação no MST é um movimento que surge
de dentro da dinâmica social no campo, colocando no foco de sua pedagogia a formação
humana em sua relação com a dinâmica de luta social e, mais especificamente com a luta pela
Reforma Agrária.
Educação Ambiental no Contexto da Educação para o Campo: Um Saber Necessário
A educação do campo tem sua identidade, pois há sujeitos sociais concretos, e com um
recorte específico de classe, mas sem deixar de considerar a dimensão da universalidade: antes
(durante e depois) de tudo ela é educação, formação de seres humanos. É importante salientar
que a educação do campo dialoga com a teoria pedagógica desde a realidade particular dos
camponeses, contudo preocupada com a educação da classe trabalhadora do campo como
também, de forma mais ampliada, com a formação humana. E, sobretudo, busca construir uma
educação do povo do campo e não apenas com ele, nem muito menos para ele. A educação
ambiental tem por objetivos um enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;
concepção de meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio
natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; o pluralismo de ideias
e concepções pedagógicas na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; a vinculação
entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; a garantia de continuidade e
permanência do processo educativo; a permanente avaliação crítica do processo educativo; a 9
abordagem articulada das questões ambientais, locais, regionais, nacionais e globais; o
reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural.
Nesse sentido, a educação ambiental no ensino das escolas do campo tem por dever,
fazer parte dos objetivos da educação, porque contribui para resgatar valores diversos e
fundamentais para um olhar e abranger as instâncias ética, ecológica, econômica, política,
social, histórico-cultural e a tecnológica. Estes valores são necessários para preparar cidadãos
como (co)responsáveis não só na resolução de problemas não apenas ambientais, mas também
para outras transformações, como à superação das desigualdades sociais, da dominação da
natureza, da degradação ambiental. É de extrema importância incorporar práticas de educação
que contextualizem a realidade nos âmbitos culturais, ambientais, sociais e econômicos, ou seja,
que possuam uma visão interdisciplinar, contribuição para uma educação que abranja um
conjunto de processos formativos já constituídos pelos sujeitos do campo em seu processo
histórico. Pensar a educação enquanto política desde os interesses sociais, políticos, culturais
90

de um determinado grupo social, desde seus sujeitos concretos no seu contexto social em um
tempo histórico, sem esquecer de considerar que antes de tudo o que se busca é a formação de
seres humanos.
A literatura sobre a educação para a população do campo está muito voltada para a
discussão da perspectiva da população a que se destina, ou seja, os habitantes das áreas rurais.
Tal tendência parece se dar em função das próprias circunstâncias da realidade estudada, isto é,
os próprios camponeses através de sua organização política, tornaram-se suficientemente
visíveis para chamarem sobre si a atenção dos estudiosos (DAMASCENO & THERRIEN,
1993; BESERRA, 1996). A partir daí a educação do campo (ainda chamada de rural) deixou de
fazer parte apenas de um plano geral de desenvolvimento da nação e tornou-se uma
reivindicação de uma classe social. Apesar de não serem guiados pelos mesmos interesses
teórico-metodológicos, a maioria dos estudos produzidos na área apresenta dados que instigam
a discussão de propostas alternativas de educação para a população rural em cujo centro estejam
os interesses de seus sujeitos.
Conclusões
O projeto político da educação para as comunidades do campo tem de abranger novas
relações entre os sujeitos da educação e os seus conhecimentos, saberes, culturas e tradições.
Sendo assim, a necessidade de implementação da educação ambiental em todos os níveis e
modalidades de ensino – principalmente no ensino básico – seguindo a proposta dos parâmetros
curriculares. A interlocução ambiente-campo deve a objetivar a formação de cidadãos
reflexivos, críticos e participativos que objetivem encontrar a solução dos problemas
ambientais. Sobretudo de incentivar novas práticas educativas, consideramos a educação
ambiental como uma proposta articula às causas, aos desafios, aos sonhos, à história e à cultura
do povo trabalhador do campo (KOLLING et al, 1999) e um desafio tanto em relação às
políticas públicas para a educação como em relação às concepções pedagógicas, para que a
educação possa ter o seu caráter universalizante, pois como já foi mencionada a educação
ambiental confere a possibilidade de se adotar abordagens mais abrangentes possibilitando
assim a construção de um sentimento de pertencimento nos sujeitos envolvidos no processo
educativo.
Referências
ADORNO, T.W.. Educação e Emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995;
91

ARROYO, M. G.. A Educação Básica e o Movimento Social do Campo, Brasília, Articulação
Coleção Por uma Educação Básica no Campo, 1999;
BALL, S.; BOWE, R.; GOLD, A. (1992). Reforming Education & Changing Schools: case
studies in policy sociology. London: Routledge.
BOURDIEU, P. Contraf Contrafogos –Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1998;
BRANDÃO, E. C. A educação do campo no Brasil e desenvolvimento da consciência.
Seminário do Trabalho: Trabalho e Políticas Sociais no Século XXI, Marília, nº 8, 2012;
BRANFORD, S. ROCHA, J.. Rompendo a cerca: a história do MST. São Paulo, Casa
Amarela, 2004;
BRASIL, Ministério da Agricultura . Decreto 7.352, Dispõe sobre a política de educação do
campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA, Brasília:
Censo Gráfico, 2010;
BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. Lei 9795/99, Dispõe sobre a educação ambiental,
institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências: Brasília,
1999;
BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988;
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996;
CALDART, R. S. Sobre educação do campo. Disponível: <
http://www.ce.ufes.br/educacaodocampo/down/cdrom1/pdf/ii_03.pdf>. Acesso em: 13 abr
2017;
CALDART, R. S.; Pedagogia do Movimento Sem Terra. São Paulo: Expressão Popular,
2012;
CAPELO, M. R. C. C.; Educação rural e diversidade cultural no meio rural de Londrina:
quando o presente reconta o passado. 2000. Tese (Doutorado) –UNICAMP, Campinas/SP,
2000;
COSTA, C. O.; TIBOLA, N. G.. MST precursor da educação do campo no Brasil. In: XI
Jornada nacional do HISTED. UNICAMP, Campinas, 2013;
92

COSTA, E. de B.; RAUBER, P.; História da educação: surgimento e tendências atuais da
universidade no brasil. Revista Jurídica UNIGRAN, v. 11, n. 21, Jan./Jun. Dourados, 2009;
DAMASCENO, M. N.; THERRIEN, J. Educação e escola no campo. Campinas: Papirus, 1993;
DYE, T. R. Policy Analysis: what governments do, why they do it, and what difference it
makes. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1984;
GUIMARÃES, M.. A dimensão ambiental na educação. 1ª ed. Campinas, SP : Papirus,1995;
HOSSOÉ, H. S. Políticas Públicas Na Sociedade Em Rede: novos espaços de intermediação na
arena midiática. Revista Políticas Públicas, São Luís, v. 18, n. 1, p. 269-279, jan./jun. 2014;
KOLLING, E. J.; NERY I. I. J.; MOLINA M. C. (orgs). Por uma educação básica no campo.
3ª edição. Brasília: Fundação Universidade de Brasília, 1999;
RUA, M. das G. Análise de políticas públicas: conceitos básicos. 1998;
SAVIANI, D. A pedagogia no Brasil: história e teoria. Campinas, São Paulo: Autores
Associados, 2008;
SCHMITTER, P. Reflexões sobre o Conceito de Política. In: BOBBIO, N. et al. Curso de
Introdução à Ciência Política. Brasília: UnB, 1984;
SOARES. N. B.; Educação Ambiental no Meio Rural: Estudo das Práticas Ambientais da
Escola Dario Vitorino Chagas – Comunidade Rural Do Umbu - Cacequi/RS. Monografia de
Especialização. Universidade de Santa Maria: Santa Maria, 2007;
SORRENTINO, M.; TRAJBER, R.; MENDONÇA, P.; FERRARO JUNIOR, L. A.; Educação
ambiental como política pública. Revista Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 285-
299, maio/ago, 2005;
SOUZA, C. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, ano 8, nº
16, jul/dez 2006;
SOUZA. M. A. de.. Práticas educativas do/no campo. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2011;
XAVIER, A. A lógica de quem não aprende a matemática escolar. Dissertação de mestrado
da UFMG. Belo Horizonte, 1992.
93

CAPÍTULO IV – Trajetória Metodológica
“Não se trata, portanto, de uma discussão sobre
técnicas qualitativas de pesquisa, mas sobre maneiras
de se fazer ciência. A metodologia é, pois, uma
disciplina instrumental a serviço da pesquisa; nela,
toda questão técnica implica uma discussão teórica”
(MARTINS, 2004, p.291)
Os paradigmas contemporâneos no âmbito educacional nos permitem abarcar não só
novas formas de pensar, mas também de produzir conhecimento. Nesta perspectiva, a pesquisa
social aparece como importante papel na produção deste conhecimento, pois a investigação das
relações sociais estabelecidas entre os indivíduos – que possuem uma historicidade, crenças e
valores – é o campo de atuação da pesquisa social. Um breve olhar sobre a história da sociologia
nos permite perceber que essa área do conhecimento foi notoriamente pautada na necessidade
de definir seu objeto com clareza e precisão, como também compreender como se aplicam os
fundamentos da ciência e os princípios do método científico no campo sociológico. Essa busca
teve como objetivo a superação das análises impressionistas e extra científicas acerca das
sociedades e a valorização da ciência enquanto forma de saber positivo, um discurso intelectual
diante da realidade, que pressupõe “determinados procedimentos de obtenção, verificação e
sistematização do conhecimento e uma concepção do mundo e da posição do homem dentro
dele” (FERNANDES, 1977, p.50).
Em suma, está pesquisa abordou uma análise qualitativa, metodologia de história oral e
utilizando o método dialético com sujeitos estudantes-trabalhadores da Cooperativa de
Produção Agropecuária Nova Santa Rita (COOPAN), nas dependências do Assentamento
Capela, localizado na cidade de Nova Santa Rita/RS – Brasil (29º 51' 24" S).
A Pesquisa Qualitativa: Alguns apontamentos
A necessidade da investigação dos fenômenos sociais, trouxe o “fazer ciência” segundo
os procedimentos do método científico, porém delimitar seu objeto não é/foi uma tarefa fácil,
em decorrência das dificuldades de tratamento de um objeto como o ser humano, tão sujeito a
modificações, complexo e que, principalmente, reage a qualquer tentativa de caracterização e
previsão. Maria Cecilia Minayo destaca que,
o objeto de estudo das ciências sociais é histórico. Isto significa que cada sociedade
humana existe e se constrói num determinado espaço e se organiza de forma particular
e diferente de outras. Por sua vez, todas as que vivenciam a mesma época histórica
tem alguns traços comuns, dado o fato de que vivemos num mundo marcado pelo
influxo das comunicações. Igualmente, as sociedades vivem o presente marcado por
seu passado e é com tais determinações que constroem seu futuro, numa dialética
94

constante entre o que está dado e o que será fruto de seu protagonismo (MINAYO,
2010, p.12).
A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o
pesquisador como seu principal instrumento. Segundo Bogdan e Biklen (1982), a pesquisa
qualitativa supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que
está sendo investigada, via de através do trabalho intensivo de campo. Por exemplo, se a questão
que está sendo estudada é a da indisciplina escolar, o pesquisador procurará presenciar o maior
número de situações em que esta se manifeste, o que vai exigir um contato direto e constante
com o dia-a-dia escolar. Um primeiro aspecto abordado pela crítica à metodologia qualitativa
diz respeito à questão da representatividade. Como essa metodologia trabalha sempre com
unidades sociais, ela privilegia os estudos de caso — entendendo-se como caso, o indivíduo, a
comunidade, o grupo, a instituição.
O maior problema, neste sentido, segundo os críticos, se encontraria na escolha do caso:
como delimitar o que seria representativo do conjunto de casos de uma sociedade? Esse
questionamento acerca da representatividade está relacionado às possibilidades de
generalização e se baseia na noção estatística de amostra. Pensar em amostra é reportar-se a um
conjunto selecionado em determinada população, da qual seria representativo (MARTINS,
2008, p.289). A constituição da amostra deve ser casual, aleatória. É possível, a partir desse
ponto de vista, dimensionar o desvio da amostra em relação a determinada população e
empregar coeficientes que possibilitem indicar com precisão a existência de possíveis
distorções ou erros, bem como as possibilidades de efetuar uma generalização em direção à
população. Entretanto, ao se trabalhar com o caso, como garantir que o indivíduo escolhido ou
a comunidade selecionada, por exemplo, são representativos do conjunto do qual fazem parte?
Seja como for, do ponto de vista estatístico, restarão sempre dúvidas acerca da
representatividade.
Outro aspecto importante são questões éticas, principalmente, devido à proximidade
entre pesquisador e pesquisados. Há uma elaborada discussão — principalmente entre os
antropólogos — que procura dar conta dos problemas decorrentes da relação de alteridade entre
os dois polos na situação de pesquisa. Ou seja, refere-se particularmente, às possíveis
consequências para a vida de pessoas, grupos e culturas da presença (e da “intromissão”) de
indivíduos portadores de saber, estilo de vida e cultura diferentes. A autonomia dos sujeitos
pressupõe precisamente a liberdade no uso da razão. Não cabe ao cientista reforçar ideologias
existentes, mas fornecer instrumentos para desvendá-las e superá-las.
95

As origens dos métodos qualitativos de pesquisa remontam aos séculos 18 e 19, quando
vários sociólogos, historiadores e cientistas sociais, insatisfeitos com o método de pesquisa das
ciências físicas e naturais que servia de modelo para o estudo dos fenômenos humanos e sociais,
buscam novas formas de investigação. As questões postas pelos pesquisadores ao pensar em
estudos desta natureza, diziam respeito a se é possível conhecimento sobre o humano-social, o
humano-educacional, sem um mergulho em interações situacionais onde sentidos são
produzidos e procurados, e significados são construídos (ANDRÉ, 2013). É com base nesses
pressupostos que se configura a nova abordagem de pesquisa, chamada de qualitativa porque
se contrapõe ao esquema quantitativista de ciência, que divide a realidade em unidades passíveis
de mensuração, estudando-as isoladamente. A abordagem qualitativa defende uma visão
holística dos fenômenos, isto é, que leve em conta todos os componentes de uma situação em
suas interações e influências recíprocas.
Assim como em todas as pesquisas científicas, a pesquisa qualitativa também pode optar
por se utilizar de hipóteses, de observações, de análises, de conceitos, de teses, abstrações e
teorias. Além disso, objeto da pesquisa tem alguma característica de relevância para esse ou
aquele pesquisador nesse ou naquele tempo e espaço. A trajetória descontinua e histórica de
homens e mulheres têm lugar na pesquisa qualitativa e, portanto, não há como se criar leis
gerais. O sujeito e o objeto estão em intensa interação. Nessa situação busca-se a compreensão
e não a visão terminalista da explicação. A matemática e a estatística ainda têm lugar na
pesquisa qualitativa, não só para não para mensurar quantidades, mas também para estabelecer
as regularidades e correlações entre as variáveis que puderem ser quantificadas. Sendo assim
faz-se necessário compreender rigorosamente a análise dos aspectos ideológicos, teóricos,
metodológicos e técnicos visto que estão todos inter e intra-relacionados no conjunto dos fatos
históricos próprios de cada cenário a ser pesquisado (MARQUES, 1997. p.22).
Lênin (1973, p.148) que "o método é a alma da teoria", distinguindo a forma exterior
com que muitas vezes é abordado tal tema (como técnicas e instrumentos) do sentido
benevolente em pensar a metodologia como a articulação entre conteúdos, pensamentos e
existência.
Trajetórias Narrativas são Memórias: Metodologia de História Oral
“A história oral devolve a história
às pessoas em suas próprias palavras.
E ao lhes dar um passado,
ajuda-as também a caminhar
para um futuro construído
96

por elas mesmas.”
(THOMPSOM, 1998, p.337)
A história oral é, talvez, o campo da história e das ciências sociais em que mais se têm
produzido textos de cunho teórico-metodológico nos últimos anos. É grande a quantidade de
artigos, palestras e até livros que discutem questões como o papel do pesquisador, o transcurso
da entrevista, a relação com a memória, entre outras. Poder-se-ia dizer que a história oral já se
implantou atrelada à discussão teórico-metodológica que pretende garantir sua validade. A
força da história oral, é dar voz àqueles que normalmente não a têm: os esquecidos, os excluídos
ou, retomando a bela expressão de um pioneiro da história oral, Nuno Revelli, os "derrotados"
(JOUTARD apud FERREIRA, FERNANDES e VERANI, 2000, p.33). A história oral revela
o “indescritível”, ou seja, toda uma cadeia de realidades que raramente aparecem nos
documentos escritos, seja porque são consideradas irrelevantes – questões da cotidianidade –
ou pela impossibilidade de ser transcrito, talvez, devido a sua subjetividade.
A história oral embasa-se na realização de entrevistas com pessoas que presenciaram ou
testemunharam acontecimentos ou conjunturas, como forma de se aproximar do objeto de
estudo. Ampliando o trecho anterior, a história oral significa:
em outras palavras, é um instrumento privilegiado por recuperar memórias e resgatar
experiências de histórias vividas, trabalhando com o testemunho oral de indivíduos
ligados por traços comuns. Como consequência, a história oral produz fontes de
consulta para estudos, podendo ser reunidas em um acervo aberto a pesquisadores.
Trata-se de estudar acontecimentos históricos, instituições, grupos sociais, categorias
profissionais, momentos, à luz de depoimentos de pessoas que deles participaram
(CAPELLE, BORGES e MIRANDA, 2010, p.2).
Segundo Queiroz (1988), Thompson (1992) e Becker (1993), a história oral foi utilizada
desde o início do século XX até a década de 50, por sociólogos como W.I. Thomas e F.
Znaniecki1 e também por antropólogos, como forma de preservação da memória oral de tribos.
Ferreira (1998) explica que a história oral se desenvolveu, de forma significativa, em países da
Europa ocidental e Estados Unidos, onde foram realizados vários encontros que agregavam,
também, mesmo que com participação menor, pesquisadores da Ásia e América Latina. Para
Alberti (2000, p.1) “a consolidação da história oral como metodologia de pesquisa se deve ao
fato de a subjetividade e a experiência individual passarem a ser valorizadas como componentes
importantes para a compreensão do passado”. Isso significa que, a partir de relatos de indivíduos
ou de um coletivo, memórias e elementos constituintes da subjetividade, podia-se tentar
reconstruir acontecimentos, épocas e histórias, que, compreendidos em uma esfera coletiva,
ajudavam a apreender fenômenos do tempo presente.
97

Pereira (2000) conceitua a história oral como um “lugar de encontro de várias
disciplinas”, uma articulação e um diálogo entre história, sociologia, antropologia e educação,
entre outras áreas do conhecimento. Além disso, é importante destacar que esta pesquisa trata
a história oral como metodologia Verena (1990), como também conceituada na Associação
Brasileira de História Oral (ABHO), pois as representações criadas pelos indivíduos são, na
verdade, fatos advindos de acontecimentos relacionados à realidade. Sendo assim, a história
não é uma ficção, mas uma possibilidade de reconstruir fatos que aconteceram no passado e
que estão vinculados a um determinado contexto e realidade.
A história oral caracteriza-se como uma metodologia de pesquisa que busca ouvir e
registrar as vozes dos sujeitos desvalidos da história oficial e inseri-los dentro dela. Sendo
assim, esta pesquisa incorporou as vozes dos assentados e trabalhadores do MST, possibilitando
movimentos de mudanças e de posturas, tanto para o pesquisador quanto para o sujeito
pesquisado. Sendo assim, a autora afirma:
[História oral] preocupa-se, fundamentalmente, em criar diversas possibilidades de
manifestação para aqueles que são excluídos da história oficial, tanto a “tradicional”
quanto a contemporânea, e que não possuem formas suficientemente fortes para o
enfrentamento das injustiças sociais (GUEDESPINTO, 2002, p.95).
Complementando, interessa ao pesquisado relatar aquilo que lhe é significativo, que lhe
é importante e que, por isto, para ele, deve e merece ser narrado. O êxito da entrevista começa
antes mesmo de ela acontecer, quando é feita a preparação para realizá-la e quando há o contato
e um compartilhamento da realidade a ser enfocada entre pesquisador e o sujeito a ser
entrevistado (ALVES, 2016, p.4). Conforme a autora, o pesquisador pretende ver o que é
relevante para sua investigação. Diante das entrevistas, “pode-se fazer recortes das partes do
todo para atender aos objetivos propostos pelo estudo”, tendo ciência de que tais recortes devem
respeitar a perspectiva da narrativa apresentada pelo entrevistado. Um dos compromissos éticos
do pesquisador com os sujeitos e com a pesquisa: ao fazer uso dos depoimentos, deve respeitar
e procurar ser fiel à visão do entrevistado. Portelli, ao referir-se à história oral e às
especificidades que ela possui dentro das ciências humanas, afirma:
[...] a história oral é uma forma específica de discurso: história evoca uma narrativa
do passado, oral indica um meio de expressão. No desenvolvimento da história oral
como um campo de estudo, muita atenção tem sido dedicada às suas dimensões
narrativa e linguística (2001, p.10).
98

A dialogicidade109 do discurso oral, o autor diz que “[...] podemos definir a história oral
como o gênero de discurso no qual a palavra oral e a escrita se desenvolvem conjuntamente, de
forma a cada uma falar para a outra sobre o passado” (PORTELLI, 2001, p.13). Portanto, a
escolha da história oral como metodologia é possibilitar estratégias narrativas – “relatos orais
de vida” – na medida em que permitem apreender os distintos significados que os indivíduos
atribuem à identidade coletiva de “assentados” e reconstituir sua trajetória social e a percepção
na concepção de natureza.
Nessa linha, a história oral, centra-se na memória humana e sua capacidade de
rememorar o passado enquanto testemunha do vivido. Podemos entender a memória como a
presença do passado, como uma construção psíquica e intelectual de fragmentos representativos
desse mesmo passado, nunca em sua totalidade, mas parciais em decorrência dos estímulos para
a sua seleção. Não é somente a lembrança de um certo indivíduo, mas de um indivíduo inserido
em um contexto familiar ou social, por exemplo, de tal forma que suas lembranças são
permeadas por inferências coletivas, moralizantes ou não. Para Halbwachs (2004, p.85), toda
memória é coletiva, e como tal, ela constitui um elemento essencial da identidade, da percepção
de si e dos outros.
Nada escapa ao movimento: O Materialismo Histórico Dialético
Quem diz história, diz mudança,
e mudança na sociedade
A sociedade tem uma história,
no decurso da qual muda continuadamente [...]
Então põe-se o seguinte problema:
uma vez que na história, as sociedades mudam,
o que é que explica essas mudanças?
(POLITZER, 1979, p.91)
Discutir os paradigmas de interpretação da realidade e suas contribuições para o
processo educacional e sua relação com o trabalho — tarefa filosófica para educadores em
formação nos cursos de pós-graduação — exige a localização da relação sujeito-objeto como a
questão central. A história da filosofia tem demonstrado ser esta preocupação um dos principais
problemas da filosofia (GRAMSCI, 1991; OIZEMANN, 1973). Compreender a relação sujeito-
objeto é compreender como o ser humano se relaciona com as coisas, com a natureza, com a
vida. Este problema, central em todas as ciências, pode ser compreendido a partir de diferentes
abordagens. A dialética (movimento de ideias) pode ser uma delas, assim como, mais
109 O diálogo é tratado como um fenômeno humano em Paulo Freire, “nos revela como algo que já poderemos
dizer ser ele mesmo: a palavra. Mas, ao encontrarmos a palavra, na análise do diálogo, como algo mais que um
meio para que ele se faça, se nos impõe buscar, também seus elementos constitutivos” (FREIRE, 2005, p.89).
99
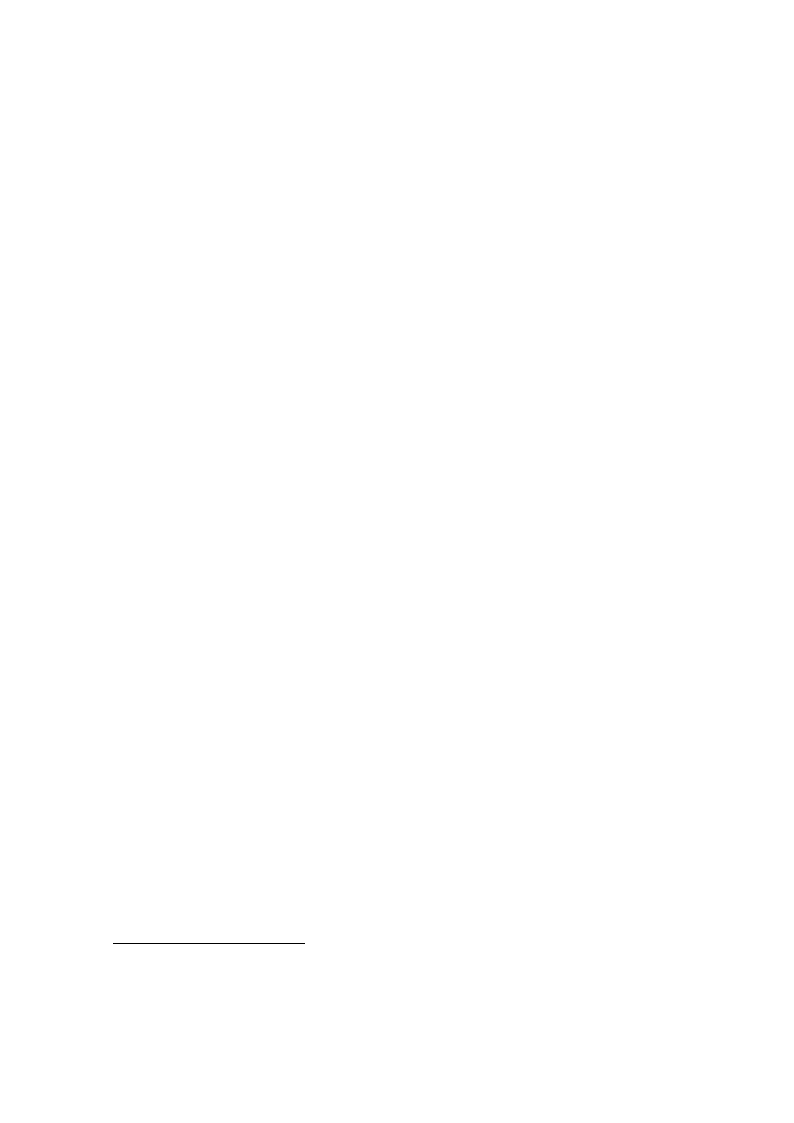
especificamente, o materialismo histórico-dialético, ou a dialética marxista. Dialética que
aparece no pensamento de Marx surge como uma tentativa de superação da dicotomia, da
separação entre o sujeito e o objeto.
A dialética surgiu, na história do pensamento humano, muito antes de Marx. Em suas
primeiras versões, a dialética foi entendida, ainda na Grécia antiga, como a arte do diálogo, a
arte de conversar. Sócrates emprega este conceito para desenvolver sua filosofia. Platão utiliza,
abundantemente, a dialética em seus diálogos. A verdade é atingida pela relação de diálogo que
pressupõe minimamente duas instâncias, mas até aqui o diálogo acontece sob um princípio de
identidade, entre os iguais. Entretanto, tal posicionamento foi precedido por uma visão distinta
encontrada principalmente em Heráclito, filósofo grego que viveu de 530 a 428 a.C. Para este,
a conversa existe somente entre os diferentes. A diferença é constituidora da contrariedade e do
conflito. Não é a concórdia que conduz ao diálogo, mas a divergência, isto é, a exacerbação do
conflito (NOVELLI e PIRES, 1996).
Platão (427 a.C. – 347 a.C.) – discípulo de Sócrates – define a dialética a arte de pensar,
questionar e hierarquizar ideias. Para Platão, a dialética é um instrumento que permite o alcance
a verdade. A dialética nasce da Escola Eleática110, na perspectiva de desmontar teses e
argumentos múltiplos e diversos, para analisar a realidade e afirmar, pela filosofia, a existência
do ser. O centro do pensamento do filósofo é denominado como a Teoria das Ideias. As ideias
não são simples conceitos ou representações mentais na filosofia de Platão como poderíamos
crer, mas constituem “[...] o verdadeiro ser, o ser por excelência. São as essências das coisas.
Aquilo que faz com que cada coisa seja aquilo que é. Representam o modelo permanente de
cada coisa” (NODARI, 2004, p.360). Como essência das coisas, as ideias não são relativas a
um sujeito particular, contudo impõem-se como algo absoluto sendo, portanto, “o ser
verdadeiro” (id., ibidem, p. 360). Reale (1994 e 1997) resume a caracterização da Teoria das
Ideias de Platão a partir de seis conceitos: inteligibilidade111; incorporeidade112;
110 Escola eleática é uma escola filosófica pré-socrática. Nessa escola encontramos quatro grandes filósofos:
Xenófanes, Parmênides, Zenão e Melisso;
111 Qualidade de inteligível, do que se pode entender, compreender, depreender sentido;
112 Que não possui corpo; sem matéria; desprovido de forma física; incorporal;
100
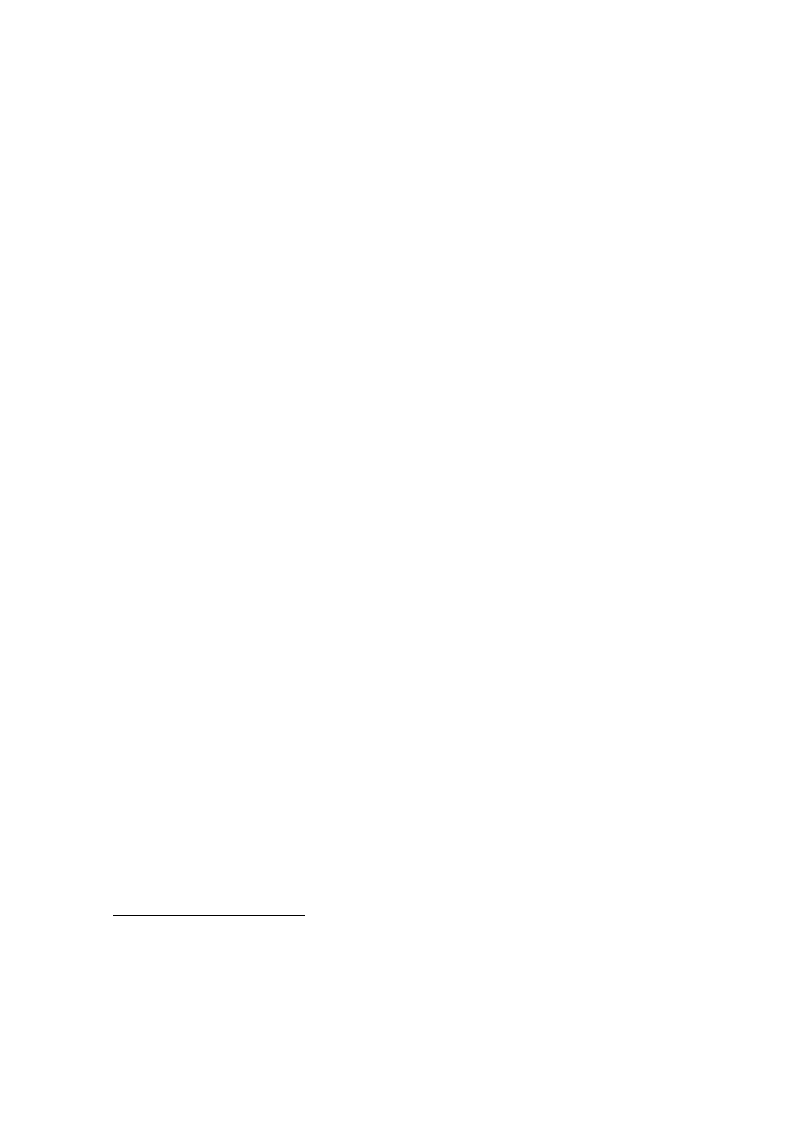
imutabilidade113; plenitude114; perseidade115; unidade116. A ideia só pode ser captada pela
inteligência, uma vez que pertence a uma dimensão incorpórea e não pode ser percebida pelos
sentidos do corpo, são verdadeiramente plenas e imunes a todo tipo de mudanças, são em se e
por si e cada ideia é una.
Além disso, Platão distingue a realidade material (o mundo sensível) e uma outra
realidade imaterial (o mundo as ideias), ou seja, o mundo que vivemos é reflexo de um ambiente
de essências eternas e imutáveis. Enquanto o nosso corpo (que pertence a realidade material) é
mortal e sujeito a inúmeras transformações, até a decomposição total no fenômeno da morte, a
alma (que tem sua origem no mundo das ideias) é divina e imortal, não suscetível de
decomposição e imperecível. Platão concebe a respeito do que é a sua filosofia do
conhecimento: a alegoria da caverna, encontrada no livro VII (514a – 519d). Castro narra a
obra:
havia homens acorrentados em uma caverna que se acostumaram a ver apenas
sombras em uma parede, advindas da luz do sol e, como seu reflexo, de uma fogueira
perto deles; além destas coisas, estavam condenados a ver apenas reflexos e sombras
de estátuas e dos que passavam em uma estrada ao lado. O mundo real constituía-se
de sombras para eles: o conhecimento deles era reduzido a elas. Esses homens
representam a humanidade; a caverna, o mundo em que o ser humano vive (CASTRO,
2015, p.45)
Segundo Paviani, “as sombras representam o domínio da opinião na alma dos homens
e na opinião pública, constituindo um reino de tal ordem gigante e poderoso que os filósofos
necessariamente se sentem mal frente a ele, pois não se baseia no Bem” (PAVIANI 2003, p.
45-46). Neste trecho da Alegoria da Caverna117:
Sócrates: E agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar exatamente essa alegoria ao que
dissemos anteriormente. Devemos assimilar o mundo que apreendemos pela vista à
estada na prisão, a luz do fogo que ilumina a caverna à ação do sol. Quanto à subida
e à contemplação do que há no alto, considera que se trata da ascensão da alma até o
lugar inteligível, e não te enganarás sobre minha esperança, já que desejas conhecê-
la. Deus sabe se há alguma possibilidade de que ela seja fundada sobre a verdade. Em
todo o caso eis o que me aparece tal como me aparece; nos últimos limites do mundo
inteligível aparece-me a ideia do Bem, que se percebe com dificuldade, mas que não
se pode ver sem concluir que ela é a causa de tudo o que há de reto e de belo. No
mundo visível, ela gera a luz e o senhor da luz, no mundo inteligível ela própria é a
soberana que dispensa a verdade e a inteligência. Acrescento que é preciso vê-la se
113 Que não pode ser mudado; que não se consegue mudar; sem possibilidades de mudança;
114 Condição daquilo que está completo, inteiro, sem espaço;
115 Qualidade das coisas que têm substância independentemente de qualquer objeto;
116 Qualidade do que é um ou único.
117 Disponível em: < http://www.usp.br/nce/wcp/arq/textos/203.pdf >;
101

quer comportar-se com sabedoria, seja na vida privada, seja na vida pública
(SÓCRATES, 514a-517c)
Se o homem liberta-se da caverna é porque, necessariamente, a dialética foi exercida;
desde então, pode o homem retornar à caverna, sabendo que os reflexos e as sombras aos quais
estava aprisionado são reais e, mais precisamente, sabendo com maior clareza e propriedade
quais são os segmentos da linha, isto é, cada grau de realidade que existe. “Assim a dialética
eleva a inteligência à contemplação dos mais excelentes seres inteligíveis, tal como as
clarividentes e superiores imagens advindas do Sol” (CASTRO, 2015, p.46). O diálogo é uma
espécie de “aprimoramento” em que a argumentação deve caminhar à procura da razão e da
essência das coisas, partindo de noções sensíveis e incertas até alcançar as ideias perfeitas e
imutáveis.
[A dialética] tinha por finalidade conduzir paulatinamente o interlocutor à intuição
imediata de uma essência, de uma verdade, ou seja, encontrar a essência material ou
espiritual daquilo que se queira apreciar. Para que se obtivesse sucesso na investigação
dever-se-ia discutir sucessivamente todos os conceitos afins para evitar confusão de
ideias. Assim, dialogando, afastavam-se as impressões da linguagem, até se chegar ao
sentido essencial daquilo que se discute. Platão, com maestria, conduzia o debatedor
até o momento preciso em que a verdade se manifestava (NIELSEN NETO, 1985,
p.55).
A dialética platônica tem como ponto de partida o senso comum, a opinião, submetidos
a um exame crítico. A Filosofia deve, por meio do diálogo, conduzir seu interlocutor a descobrir
ele próprio a verdade. Esse método dialético visa expor a fragilidade das falsas opiniões e
superar tais obstáculos, fazendo com que o interlocutor tenha consciência disso. A opinião não
se dá conta de sua ignorância. Através do diálogo, a opinião, que se crê certa de si mesma, ao
se expor se revela contraditória e inconsequente. O conhecimento de Platão quebra a
contradição havida entre ser e conhecer serem coisas não correspondentes, a tarefa própria da
dialética é, assim, o contemplar o Bem, fazer conhecer a verdadeira natureza de cada coisa
existente, sob o pressuposto de perfeita correspondência entre ser e conhecer.
O Reflexo do Movimento Real
Mas é com Hegel118, filósofo alemão que viveu de 1770 a 1831, que a dialética retoma
seu lugar como preocupação filosófica, como importante objeto de estudo da filosofia (PIRES,
118 A dialética de George Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831) é fragmentada em três momentos: tese
(proposição); antítese (oposição); síntese (conclusão);
102
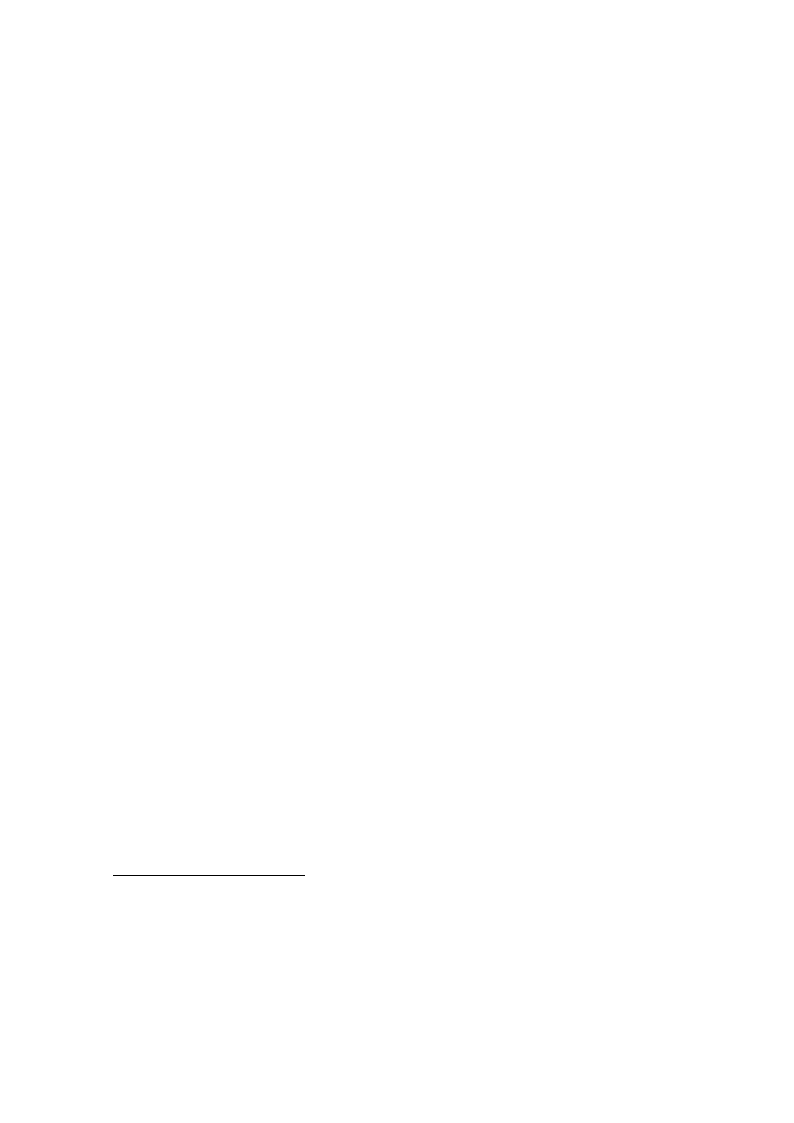
1997). Partindo das ideias de Kant119 (1724 – 1804) sobre a capacidade de intervenção do
homem na realidade, sobre as reflexões acerca do sujeito ativo, Hegel tratou da elaboração da
dialética como método, desenvolvendo o princípio da contraditoriedade afirmando que uma
coisa é e não é ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Esta é a oposição radical ao dualismo
dicotômico sujeito-objeto e ao princípio da identidade. Por isso Hegel preconiza o princípio da
contradição, da totalidade e da historicidade (NOVELLI e PIRES, 1996). Porém, é a dialética
de Marx, construção lógica do método materialista histórico, que fundamenta o pensamento
marxista, que será aqui apresentada como possibilidade teórica (instrumento lógico) de
interpretação da realidade na concepção de natureza sob a perspectiva do MST – um movimento
social que usa Marx em suas bases teóricas – que queremos compreender.
Mas é apenas com Marx e Engels que a dialética adquire um status filosófico (o
materialismo dialético) e científico (o materialismo histórico). Marx aponta dois pontos para
descrever a dialética: caráter material (os homens se organizam na sociedade para a produção e
a reprodução da vida) e caráter histórico (como eles vêm se organizando através de sua história).
A partir dessas intersecções, Ele desenvolve o Método que, contudo, não se encontra
sistematizado em suas publicações. Podemos encontrar elementos para a compreensão do
Método nos primeiros escritos de Marx como na Ideologia Alemã e nos Manuscritos
Econômicos Filosóficos, por exemplo, mas é em O Capital120, sua mais importante obra, que
encontraremos, não uma exposição do Método, mas sua aplicação nas análises econômicas ali
empreendidas.
O materialismo histórico dialético entende que não existem oposições
dualistas/dicotômicas entre as instâncias sociais e individuais, objetividade-subjetividade,
interno-externo. O marxismo fundou na história do pensamento uma ontologia121 ancorada em
bases de uma dialética eminentemente histórica, que redimensionou um conjunto de questões
concernentes à relação do homem com sua história, do homem consigo mesmo (SILVEIRA,
1989). O homem marxiano se recusa como um ser apenas determinado na/pela história, mas
como transformador da história, sendo a práxis, a forma por excelência desta relação. A
119 Immanuel Kant cria o conceito de dialética transcendental, em que o intelecto é a faculdade de julgar, a razão
é a faculdade de silogizar, isto é, de pensar em conceitos e juízos puros, deduzindo mediatamente conclusões
particulares a partir de princípios supremos e não condicionados (KANT, 2001);
120 A Contribuição à Crítica da Economia Política – texto introdutório de O Capital – talvez seja o texto de Marx
que mais se aproxima de uma sistematização do Método. Além disso, muitos estudos têm sido empreendidos no
século XX para a identificação e análise da metodologia do pensamento marxista, como Gramsci (1991); Kosik
(1976); Kopnin (1978); Ianni (1985); Konder (1981, 1991); Frigotto (1989); Limoeiro (1991); etc;
121 Reflexão a respeito do sentido abrangente do ser, como aquilo que torna possível as múltiplas existências;
103

dialética de Hegel fechava-se no mundo do espírito, e Marx a inverte, colocando-a na terra, na
matéria (GADOTTI, 1990). A dialética explica a evolução da matéria, da natureza e de homens
e mulheres; é a ciência das leis gerais do movimento, tanto do mundo exterior como do
pensamento humano. Essa origem hegeliana do pensamento marxista é reconhecida por Lênin
nos Cadernos Filosóficos122 afirmando que não é possível compreender O Capital sem ter antes
estudado e compreendido toda a lógica de Hegel.
Segundo Gadotti (1990, p.4), quando se refere à subjetividade no conhecimento, aponta
que “o mundo é sempre uma ‘visão’ do mundo para o homem, o mundo refletido. Mas ele não
tem uma existência apenas na ideia. Sua existência é real, material, independente do
conhecimento deste ou daquele homem”. Existe uma determinação recíproca entre as ideias da
mente humana e as condições reais de sua existência, como indica Marx:
o essencial é que a análise dialética compreenda a maneira pela qual se relacionam,
encadeiam e determinam reciprocamente, as condições de existência social e as
distintas modalidades de consciência. Não se trata de conferir autonomia a uma ou
outra dimensão da realidade social. É evidente que as modalidades de consciência
fazem parte das condições de existência social (MARX, 1979, p.23)
Essa passagem nos dá a ideia de que a história nada mais é do que o resultado, as
consequências e as mudanças geradas pelas ações dos seres humanos sobre a natureza e sobre
os próprios seres. À medida que o homem modifica suas necessidades materiais, sua maneira
de pensar e agir, ele gera mudanças no seu ser social que irá resultar em outras mudanças na
forma de organização da sociedade, são essas mudanças que darão origem a história. Portanto,
é necessário levar em consideração os seres humanos, visto que a humanidade é o agentes de
transformação histórica e social. Em virtude disso é possível considerar que:
Para compreender a marcha da história, não se deve tomar como ponto de partida a
atividade do indivíduo, mas as ações das massas populares, das classes sociais. É o
povo que sempre trabalhou e que trabalha ainda hoje. Desse modo, são as massas as
verdadeiras criadoras da história, e não as forças celestes misteriosas ou os reis, os
capitães e os legisladores (SPIRKINE e YAKHOT, 1975, p.14).
É a classe trabalhadora – em particular o MST – que luta para que as mudanças sociais
e econômicas aconteçam. Em muitas situações lutam de forma inconsciente, contudo é essa
classe que está trabalhando para manter o equilíbrio econômico da sociedade em que estão
inseridos, o campo. Portanto, “ao se analisar um fato histórico deve-se ater à classe operária
como peça principal para o processo de transição” (PEREIRA e FRANCIOLI, 2011). Esse
entendimento sustenta que “[...] a dialética é a ciência das leis mais gerais do movimento e do
desenvolvimento da natureza, da sociedade e do pensamento, a ciência da ligação universal de
122 Lênin (1973);
104

todos os fenômenos que existem no mundo” (SPIRKINE e YAKHOT, 1975, p.20). Segundo
Lênin (1979) o materialismo dialético busca compreender as mudanças do mundo a partir da
realidade material, utilizando os critérios de análise da dialética para assim alcançar o
conhecimento mais abrangente e detalhado da evolução. A dialética em uma concepção
materialista não se limita em analisar e compreender as transformações e mudanças, mas sim
busca compreendê-las a partir da realidade em que aconteceram.
A educação – entendendo com uma área de conhecimento – coloca a necessidade de
conhecer os mais variados elementos que envolvem a prática educativa, a necessidade de
compreendê-la da forma mais completa possível. Contudo, não se pode fazer isto sem um
método, um caminho que permita, filosófica e cientificamente, compreender a educação. E, se
a lógica formal, porque é dual, separando sujeito-objeto, foi se mostrando insuficiente para esta
tarefa, parece possível buscar, no método materialista histórico-dialético, este caminho. É
preciso esclarecer, porém, que o ponto de vista a partir do qual a dialética marxista neste
trabalho é tratada é a educação e o ponto a partir do qual a educação é tratada, aqui, é o
pensamento marxista.
O Método Dialético e a Análise do Real
Segundo Saviani (2005) faz-se necessário retomar um discurso crítico, onde se leve em
consideração às relações entre educação e os contextos sociais, de maneira em que não se possa
dissociar prática social de prática educativa. O objetivo da prática educativa é que o aprendente
compreenda o saber historicamente produzido e que os homo sapiens não nasce sabendo, ele se
torna homem conforme se apropria do que foi produzido pelas gerações que o antecederam.
Nas próprias palavras do autor:
[...] O homem não se faz homem naturalmente; ele não nasce sabendo ser homem,
vale dizer, ele não nasce sabendo sentir, pensar, avaliar, agir. Para saber pensar e agir;
para saber querer, agir ou avaliar é preciso aprender, o que implica o trabalho
educativo (SAVIANI, 2005 p.7)
Ao evidenciar que são as relações estabelecidas por homens e mulheres com o meio
concreto que engendram o real a dialética torna exequível a revolução do status quo, por
possibilitar a compreensão de que o mundo é sempre resultado da práxis humana, seja ela
marcada por relações de dominação que reificam e fetichizam a prática social seja marcada por
relações que operam a humanização dos homens e mulheres. Esta possível eficiência da
dialética, no entanto, não deve se confundir com arrogância mas com o desejo sincero não só
de ampliar os limites do conhecimento mas, principalmente, de diminuir os equívocos falados
105

em nome da ciência porque, como nos diz Bertolt Brecht, “a principal finalidade da ciência não
é abrir a porta à infinita sabedoria, mas colocar um limite ao erro infinito.”
Quando no cotidiano o todo é percebido sem clareza estrutura-se um pensamento de
senso comum que tende a representar os objetos como se eles estivessem desligados de suas
condições históricas e sociais. Como citado anteriormente, o materialismo é toda concepção
filosófica que aponta a matéria como substância primeira e última de qualquer ser, coisa ou
fenômeno do universo. Transcendendo o idealismo de Hegel, Marx e Engels, indica que a
verdadeira ciência era a história, enquanto a economia política dissociava a economia do
contexto social e político, baseado no caráter concreto dos fatos básicos da produção e
reprodução das formas materiais de existência social (ALVES, 2010, p.2).
É necessário entender que o modo de produção capitalista como uma categoria histórica
e opunham-se também à redução abstrata das relações econômicas a um tipo ideal e à
pulverização dos eventos e processos históricos entre várias ciências históricas especiais, porém
nunca abandonaram o recurso à filosofia (FERNANDES, 1984). O método de Marx, embora
naturalista123 e empírico124, não é positivista125, mas sim realista126. Sua dialética
epistemológica leva-o também a uma dialética ontológica específica (um conjunto de leis ou
princípios que governam um setor ou a totalidade da realidade) e a uma dialética relacional
condicional (o movimento da história). Contrapondo-se ao pensamento de senso comum, a
dialética se propõe a compreender a “coisa em si”, construindo uma compreensão da realidade
que considere a totalidade como dinâmica e em constante construção social. Foi por isso que
Hegel (2007, p.36) preconizava: “O verdadeiro é o todo. Mas o todo é somente a essência que
se implementa através de seu desenvolvimento.”
O método dialético irá justamente buscar as relações concretas e efetivas por trás dos
fenômenos. Sobre esta posição marxiana escreveu (Walhens apud Kosik, 1976, p.17): “O
123 Doutrina que, negando a existência de esferas transcendentes ou metafísicas, integra as realidades anímicas,
espirituais ou forças criadoras no interior da natureza, concebendo-as redutíveis ou explicáveis nos termos das leis
e fenômenos do mundo;
124 Doutrina segundo a qual todo conhecimento provém unicamente da experiência, limitando-se ao que pode ser
captado do mundo externo, pelos sentidos, ou do mundo subjetivo, pela introspecção, sendo ger. descartadas as
verdades reveladas e transcendentes do misticismo, ou apriorísticas e inatas do racionalismo;
125 Sistema criado por Auguste Comte (1798 – 1857) que se propõe a ordenar as ciências experimentais,
considerando-as o modelo por excelência do conhecimento humano, em detrimento das especulações metafísicas
ou teológica;
126 Corrente filosófica que enfatiza a independência ontológica da realidade em realidade a nossos esquemas
conceituais, crenças ou pontos de vista.
106
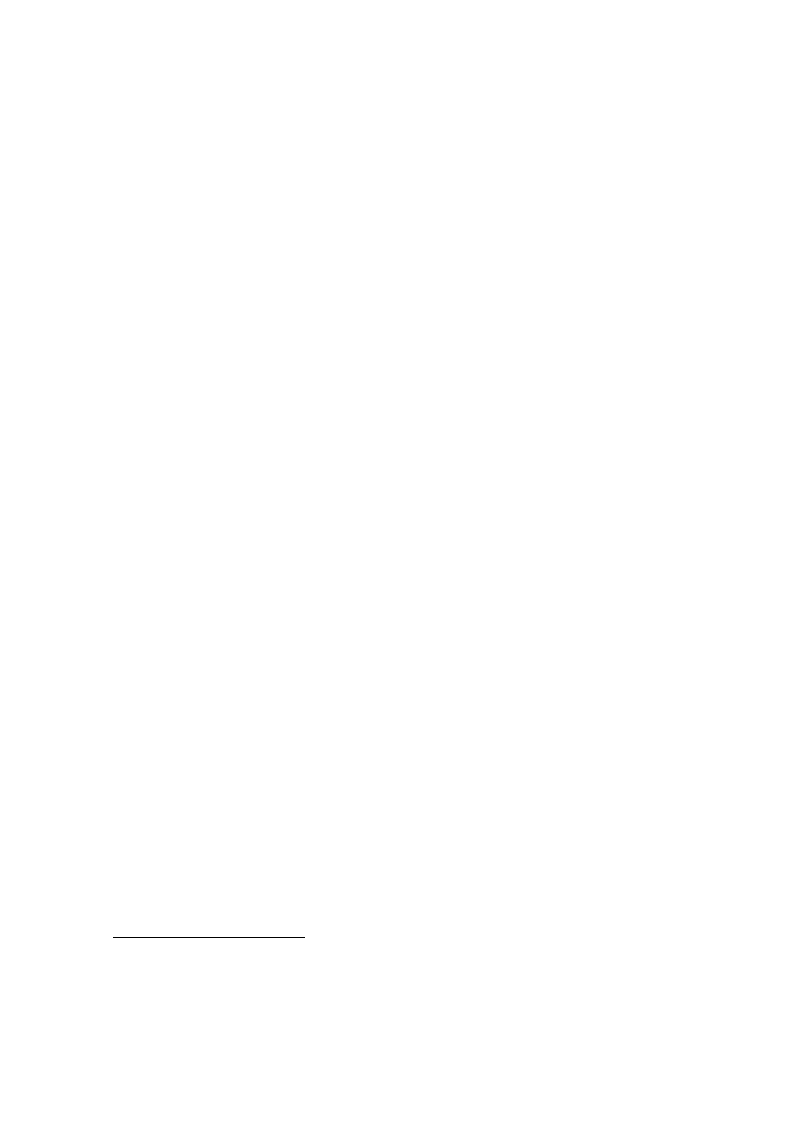
marxismo é o esforço para ler, por trás da pseudoimediaticidade do mundo econômico reificado
as relações inter-humanas que o edificaram e se dissimularam por trás de sua obra”. O método
materialista histórico dialético postula que apesar de o conhecimento ser construído pelo
pensamento ele ainda assim é social127 e, quando o processo é feito de forma correta, um reflexo
da realidade. A lógica dialética incorpora a lógica formal por superação, por isso a necessidade
de uma profunda compreensão do que seja oposição e contradição. A questão é reconhecer que
não são opostos confrontados exteriormente, mas são interiores um ao outro – preceito da
identidade dos contrários. Essa é a contraposição marxista aos dualismos dicotômicos dos
princípios de identidade e exclusão da lógica formal (ALVES, p.5).
Assentamento Capela e o Contexto da Pesquisa
“Nosso objetivo principal, quando fomos acampar, era
conseguir um pedaço de terra para trabalhar, mas, com
o desenvolver da luta, fomos adquirindo outros
conhecimentos, e vimos que a terra por si só não era
suficiente para viver, que era necessário lutar também
por outros direitos.”
(Luiz Zanette, núcleo COOPAN)
A pesquisa ocorreu no Assentamento, o qual possui 2.169,37ha (INCRA/RS), dos quais
580ha pertencem a COOPAN, localizado no Município de Nova Santa Rita/RS. A área onde
está situado o Assentamento Capela foi ocupada pelas famílias Sem Terra em 18 de setembro
de 1993, porém o Assentamento veio a se consolidar oficialmente no dia 05 de maio de 1994.
Começava neste momento uma nova etapa de luta, agora para se manter no assentamento. As
famílias tinham pela frente a árdua tarefa de organizar o assentamento nos seus diferentes
aspectos: social, político e econômico. Cada família possui aproximadamente 20 hectares de
terra, que estão titulados no nome da mulher e do homem. É importante destacar que a descrição
do contexto de pesquisa fez parte da primeira etapa, que culminou em conhecer o locus da
pesquisa.
O Assentamento está organizado em quatro núcleos familiares denominados COOPAN,
Santa Maria, Santa Clara e Barragem. As famílias que compõem cada núcleo familiar já se
organizaram desde o acampamento a partir dos laços de afinidade existentes entre as mesmas,
127 Sobre a primazia do material escrevem Marx e Engels (2007, p.106): “A matéria é, um ser atual, real, mas o é
apenas em si, como algo oculto; apenas ela ‘se estende e se realiza ativamente na multiplicidade’ (um ‘ser atual,
real’ ‘se realiza’) é que ela se torna natureza. Existe, em primeiro lugar, o conceito de matéria, o abstrato, a
representação, e esta realiza a si mesma na natureza real. Temos aqui, textualmente, a teoria hegeliana da
preexistência das categorias criadoras;
107

e a escolha das áreas para formar cada núcleo se deu a partir de sorteio organizado pelas próprias
famílias. Para a escolha dos lotes dentro de cada núcleo foi feito um sorteio interno entre as
famílias que passaram a compor cada núcleo, com exceção das famílias do núcleo COOPAN
que, pelo fato de terem feito a escolha de produzir coletivamente, mantiveram o núcleo sem
divisão de lotes, tirando alguns casos, dentro deste núcleo, de famílias que se desvincularam do
coletivo e que hoje produzem a partir de outras formas de cooperação.
Residem no Assentamento Capela 100 famílias (aproximadamente 500 pessoas), dando
uma média de 370 adultos e 130 crianças e adolescentes. Estas famílias são oriundas de
diferentes municípios do Estado do Rio Grande do Sul (Ronda Alta, Constantina, Liberato
Salzano, Palmeiras das Missões, Ibirubá, Sarandi, Erechim, etc.) e constituem diferentes grupos
étnicos: caboclo, germânico, itálico e afro-brasileiro.
No Assentamento Capela, as casas foram organizadas no formato de agrovila ou de
núcleos de moradia. As famílias dos núcleos Santa Clara, Santa Maria e Barragem organizaram-
se em núcleos de moradia, ou seja, cada família construiu a sua casa sobre o seu lote. Já o núcleo
COOPAN foi organizado no formato de agrovila, de modo que as casas foram construídas sobre
um único lote escolhido pelas famílias deste núcleo. As duas formas de organização têm como
característica garantir a proximidade das moradias. Mesmo nos casos em que as casas foram
construídas sobre o lote correspondente a cada família, a proximidade das moradias foi
assegurada. Esta aproximação foi essencial para a formação de um núcleo social que, além de
promover a convivência e manter o sentido de coletividade que move os assentados desde os
tempos dos acampamentos, facilitou o acesso a algumas infraestruturas básicas, como a energia
elétrica e a água encanada.
Os núcleos familiares que compõem o Assentamento Capela são considerados pelas
famílias núcleos de base. Toda a organização social, política e produtiva do Assentamento
depende do diálogo e da articulação dentro de cada núcleo e entre os núcleos, dando uma
unidade ao Assentamento. Em cada núcleo de base existe uma coordenação escolhida por todos
os membros do núcleo, a qual é composta por um homem e uma mulher, contrariando mais
uma vez o formato de sociedade vigente, onde a lógica patriarcal vigora, ora explicitamente,
ora veladamente. A coordenação de cada núcleo acaba por formar a coordenação geral do
Assentamento. Esta coordenação é responsável por promover discussões para o conjunto das
famílias de cada núcleo acerca da organização política, social e econômica do Assentamento.
Nas reuniões promovidas nos núcleos, o que vigora é a democracia direta, pois todos opinam e
decidem, desde as crianças até os idosos. As famílias do Assentamento Capela também
108

escolhem representantes de cada núcleo para participar dos encontros e congressos estaduais e
nacionais do MST. Estes, assim com os núcleos de base, são espaços políticos onde se analisam
as conjunturas e se traçam as linhas gerais de atuação política.
Além do grupo de mulheres, existe no Assentamento Capela um grupo de jovens,
composto pelos(as) jovens do núcleo COOPAN, o qual se reúne seguidamente tanto para
promover festas, organizar passeios e místicas128, como para realizar discussões políticas
acerca, por exemplo, dos encontros estaduais e nacionais da juventude Sem Terra. Este grupo
tem o acompanhamento não periódico de um psicanalista, que trabalha com as motivações
dos(as) jovens para o trabalho e para a militância no contexto local do Assentamento e no
contexto geral do MST. Nos últimos dois anos, o grupo também teve o acompanhamento de
uma estagiária em Serviço Social, mas é importante ressaltar que o mesmo já existia antes da
intervenção destes dois colaboradores, a partir da iniciativa dos(as) próprios(as) jovens. Em
conjunto com esta estagiária, o grupo promoveu dinâmicas e também a exibição e o debate de
filmes, que retratavam os sentimentos experimentados pelos(as) jovens no mundo
contemporâneo, de modo que foram problematizados os valores hegemônicos da sociedade
capitalista, em especial o consumo. A proposta era confrontar a identidade Sem Terra com as
várias identidades oferecidas pelo atual modelo mercadológico de sociedade.
As crianças também são envolvidas em atividades. São levadas a parques aquáticos,
museus, pontos turísticos, etc.. Contudo, a principal atividade, é o Encontro dos Sem Terrinha,
que acontece todos os anos, no mês de outubro e contemplam crianças de até 10 anos. Neste
encontro, as crianças participam de atividades culturais, recreativas e educativas: oficinas de
dança, música, desenho, pintura, teatro, etc.. Todas estas atividades são voltadas para temas
relacionados à luta pela terra e pela Reforma Agrária. Durante o encontro, as crianças também
participam de passeatas organizadas nas grandes cidades, chamando a atenção da sociedade
quanto aos problemas agrários. Também fazem a entrega de reivindicações, construídas durante
o encontro, em diversas instâncias governamentais ligadas à questão da terra, crédito, educação
e infraestrutura.
A Ciranda Infantil é outra conquista para as crianças. Está localizada dentro do núcleo
COOPAN, por ser fruto da organização das famílias deste núcleo. A Ciranda é um espaço
educativo para crianças de zero a dez anos de idade, onde os(as) próprios(as) assentados(as) são
responsáveis pelo processo educativo. Crianças de zero a seis anos ficam em turno integral na
128 A palavra mística é a representação de mistério. Usa-se geralmente a palavra “mistério” para designar coisas
inexplicáveis ou coisas indecifráveis, mas neste caso não é. Mistério para a mística é saber a razão porque na luta
as coisas extraordinárias acontecem.
109
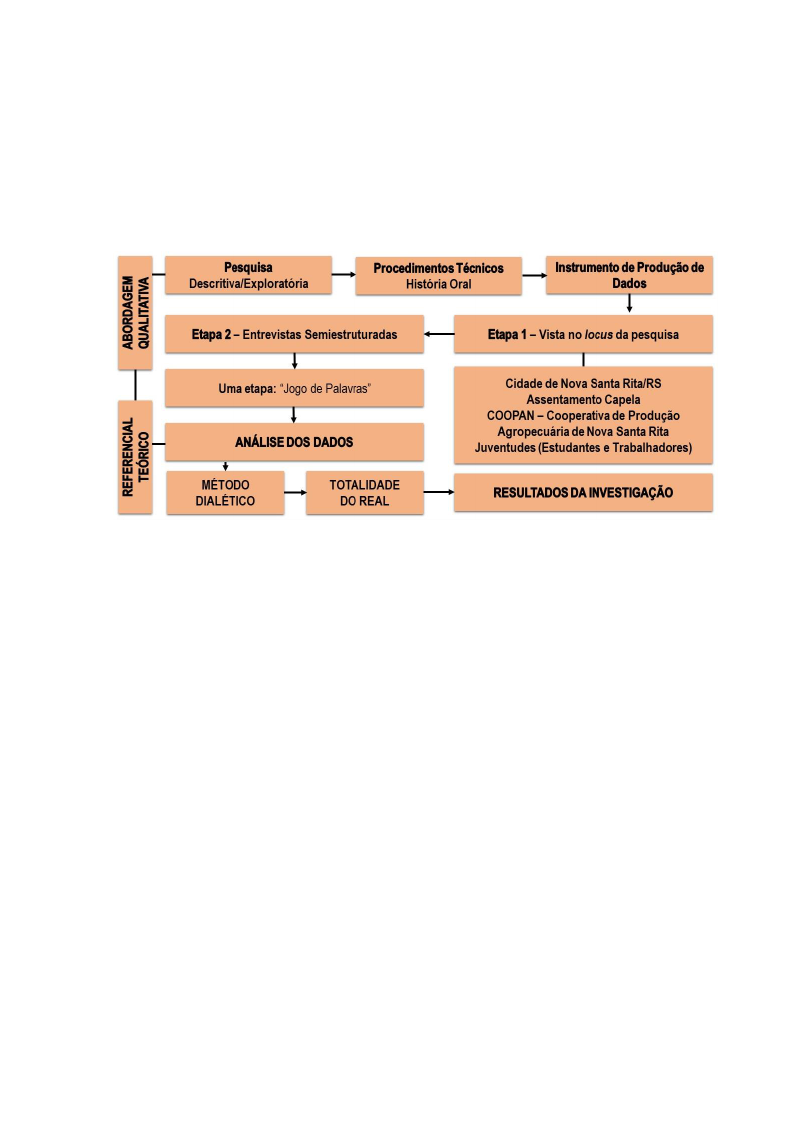
Ciranda. Dos seis aos dez anos, as crianças passam a ficar na Ciranda somente no contra turno
escolar. Neste local, as crianças cantam, desenham, brincam, escrevem, etc.. A cor vermelha,
os símbolos da luta pela terra, os cantos camponeses, a fascinante mística do MST compõem a
pedagogia. As crianças são envolvidas pela cultura camponesa, aprendendo e ensinando a partir
da própria realidade vivida.
Figura 4: Esquema simplificado da trajetória metodológica
Fonte: Autor
Os sujeitos da pesquisa foram quatro mulheres (18 anos; 18 anos; 19 anos e 22 anos),
todas com ensino médio completo, sendo que 1 das entrevistadas cursava o Ensino Superior e
um homem (18 anos), com ensino médio completo. É importante salientar que este número foi
aleatório, pois a cooperativa estava com uma ampla demanda devido as comemorações de final
de ano (2017-2018), então, fora disponibilizado este grupo, o qual aceitou voluntariamente
participar da pesquisa, mediante a assinatura de duas vias do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). Na COOPAN as mulheres trabalhavam no setor de panificação e
confeitaria e o entrevistado como auxiliar de serviços gerais. As entrevistas iniciais com a
coordenadora do setor Educação do Assentamento, que ocorreram nas primeiras visitas ao
Assentamento, construiu-se uma base de informações acerca do espaço, como descrito nos
parágrafos anteriores. Já em diálogo com os entrevistados organizou-se a proposta denominada
“jogo de palavras”, consistia na disposição de 4 palavras (natural, natureza, trabalho e
movimento social) aos participantes. Na primeira etapa abordava-se a concepção individual de
cada substantivo e, no segundo momento, fazia-se a articulação delas, por exemplo, qual a
relação de natureza e trabalho? O grupo optou por respostas no âmbito coletivo, fora pedido
para articular as concepções com as trajetórias de vida e/ou memórias no Assentamento e todo
o diálogo foi captado por um gravador de áudio.
110
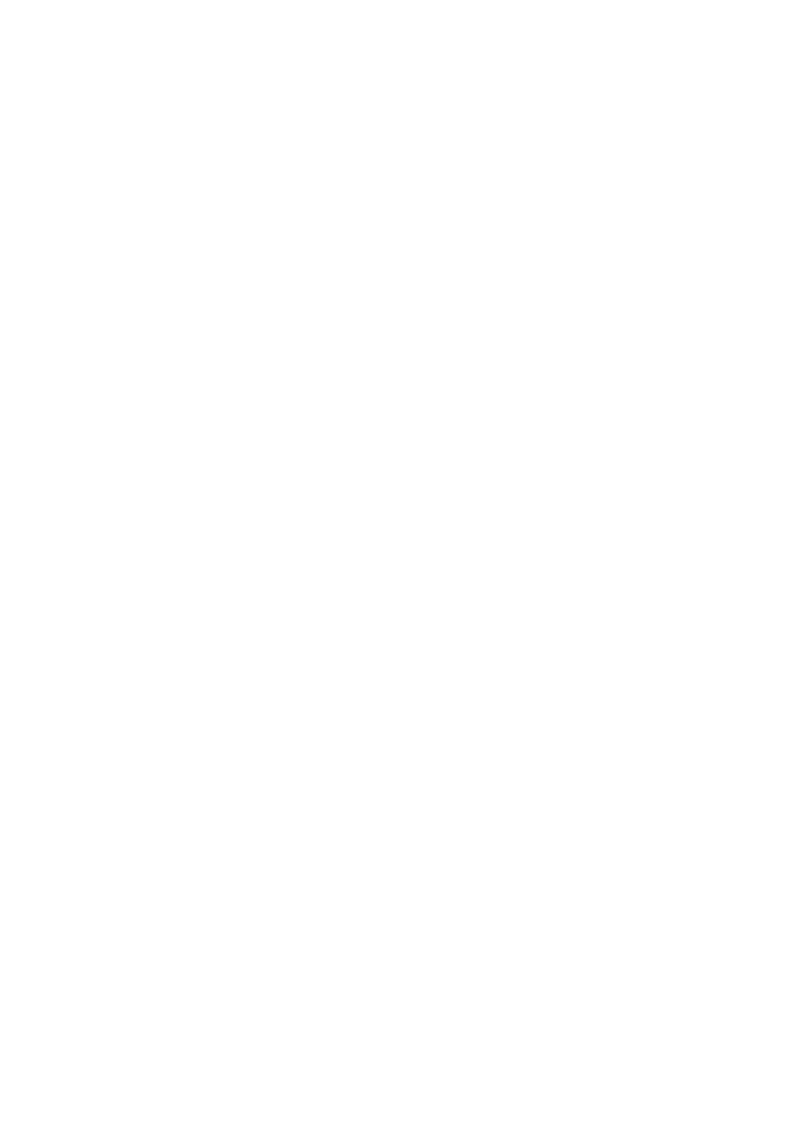
As juventudes – grupo escolhido para esta pesquisa – seria o momento no qual valores
e práticas assimilados no âmbito familiar seriam confrontados com novas experiências, que
podem ser vivenciadas tanto em um plano microssocial (relações interpessoais de amizade e no
assentamento, relacionamentos afetivos, vínculos associativos, etc.), como também pelos
desafios macrossociais, materializados em determinadas conjunturas políticas, econômicas e
sociais nas quais os jovens estão inseridos, em particular, as relações de trabalho no
Assentamento. Além disso, é preciso considerar que, de modo geral, os estudos sobre as
juventudes, ao longo do século XX, inscreveram-se no interior de um espectro analítico que ia
da percepção dos jovens como “motor de mudanças” da sociedade até como um grupo
potencialmente perigoso ou ameaçador, em diferentes sentidos (BOGHOSSIAN & MINAYO,
2009; SPOSITO, 2000). Em suma, os jovens estariam em um momento no qual a influência
familiar pode ser relativizada, em função do desejo de integração a outras esferas da vida social,
tais como o grupo de pares, a escola, o trabalho, o matrimônio, e isso se desdobra em novos
aprendizados e processos de ressocialização.
CAPÍTULO III – O DIÁLOGO QUE BROTOU DA JUVENTUDE SEM-
TERRA
Damos o Nome de Ambiente ou Natureza?
O ambiente como natureza é aquele percebido de forma original e “puro”, do qual os
seres humanos estão dissociados e no qual devem aprender a relacionar-se. Ambiente, nossa
vida em geral. Nós vivemos no campo, no meio da natureza... A partir deste trecho é possível
estabelecer a relação sociedade e natureza sendo uma realidade cotidiana, porém a dissociação
ser humano-natureza. A sua mediação pela atividade sensível, categoria pela qual o homem se
exterioriza e produz seu mundo, é um traço fundamental na filosofia de Marx. A adaptação do
homem ao meio ambiente e sua relação primordial com o mesmo são consideradas por Marx,
a partir da práxis, da ação humana, o ponto de partida para qualquer investigação filosófica ou
científica e de toda transformação do mundo. Em Marx, portanto, a consciência perde o caráter
autônomo e passa a ser um atributo da existência social.
Os termos ambiente e natureza são quase que sinônimos. Essa falta de rigor na utilização
dos conceitos – embora não seja importante, talvez, para os entrevistados – dificulta o
entendimento e diferenciação nessa conceitual. Lenoble (1969) aponta que essas reflexões
foram feitas há mais de 30 anos e sua ideia básica é a natureza que o homem conheceu e conhece
é sempre pensada. Como também aponta que
111

não existe uma Natureza em si, existe apenas uma Natureza pensada. [...] A natureza
em si, não passa de uma abstração. Não encontramos senão uma ideia de natureza que
toma sentido radicalmente diferente segundo as épocas e os homens (LENOBLE,
1969).
Portanto, o significado da natureza não é o mesmo para grupos sociais de diferentes
lugares e épocas na história, ou seja, é pensada. Com relação à natureza é interessante notar
que, no caso do Brasil, a Constituição Federal de 19884 não contempla os termos natureza e
ambiente, referindo-se apenas ao meio ambiente como objeto de regulação e preservação.
Dispõe em seu Capítulo VI, Do meio ambiente, no seu artigo n. 225, que
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
(BRASIL, 1988).
Natureza é a terra, água, árvore, plantas, os bichos. Tudo faz parte da natureza... Além
disso, em ambas os trechos se denotam uma visão estática da natureza, um “termo genérico que
designa organismos e o ambiente onde eles vivem: o mundo natural” (ART, 1998), contrapondo
a concepção moderna e darwinista sobre a evolução das espécies. Essas concepções de natureza
segundo Whitehead (1993) além de ser interpretação/representação é também realidade, a
natureza pode referir-se a um complexo de entidades existentes que são percebidas por meio da
apreensão sensível e que são passíveis de expressão no pensamento – corroborando com a
citação de Lenoble – como aquilo que se observa pela percepção através dos sentidos, o que
implica dizer que ela independe do pensamento, ou seja, a natureza existe em si mesma e é
factível de ser percebida, portanto, “o pensamento sobre a natureza é diferente da percepção
sensível da natureza” (WHITEHEAD, 1993, p.8). Esta natureza abstrata é mais ampla e permite
acréscimos de qualidades secundárias que estão relacionadas ao modo pelo qual o pensamento
age sobre a natureza (WHITEHEAD, 1993). E, assim, adquire dinamicidade e caráter temporal,
sendo sempre nova a cada percepção (MERLEAUPONTY, 2000).
Se pensarmos sob a perspectiva de Whitehead, natureza ora pode ser entendia como um
relato daquilo que o pensamento conhece (mente, natureza), ora como um relato da ação da
própria natureza sobre a mente (natureza, mente). Assim, adquire dois significados, realista
(quando é percebido) e representativo (quando é pensado). Portanto, são esses (des)caminhos
pelos quais surgem inúmeras confusões conceituais, ou seja, uma mesma expressão é utilizada
para referir-se a duas abordagens distintas. Contudo, trechos citados dos entrevistados
aproximam-se do conceito de ambiente, como um “[...] conjunto de condições que envolvem e
sustentam os seres vivos na biosfera, como um todo ou em parte desta, abrangendo elementos
do clima, solo, água e de organismos” (ART, 1998). O ambiente percebido como recurso é
112

aquele que precisa ser gerenciado/administrado. Nesta ótica, os recursos naturais (água, ar, solo,
fauna, bosque, enfim, o patrimônio natural), são percebidos como nossa herança coletiva
biofísica, que sustenta a qualidade de nossas vidas.
Elaborar qualquer raciocínio, quando estes termos passam a ser representados por uma
mente, passamos a falar de ambiente, não mais de natureza. Assim, o conceito de natureza se
refere ao objeto mundo natural e a expressão ambiente à interpretação/representação desse
objeto (RIBEIRO e OSMAR CAVASSAN, 2013). Consolidando o conceito, poder-se-ia dizer
que ambiente seria, portanto, a natureza conhecida pelo sistema social humano (composto pelo
meio ambiente humano e o meio ambiente das demais espécies conhecidas). A figura 4 explicita
que a natureza 100% natural só pode ser pensada como um ideal, uma vez que o homem está
sempre modificando-a para sobreviver.
Figura 5: Diferenciação dos termos natureza e ambiente
Fonte: (DULLEY, 2004, p.20)
A natureza conhecida pelos homens e mulheres acolhe, progressivamente, as
características de ambiente, à medida que os elementos da natureza são necessários à
sobrevivência humana. Logo, considera-se que “a natureza não é estática, e sim dinâmica, está
sempre se transformando de modo imperceptível e/ou violento, mas nela sempre atuam
mecanismos próprios ou naturais que buscam restaurar o equilíbrio” (DULLEY, 2004, p.21). E
a noção de ambiente pode ser considerada como resultado do pensamento e conhecimento
humano e do seu trabalho intelectual e físico sobre a natureza, corresponde, portanto, à natureza
trabalhada e constantemente ressignificado. O conhecimento sobre a natureza, baseia-se na
apreensão dos processos e elementos existentes e que podem ser observados.
Consequentemente, elaboramos esquemas mentais que estão intimamente relacionados com as
experiências individuais de cada um. Cada ser humano está cercado por um mundo “adequado”
ou acomodado (Uexküll, 1951), que se refere ao mundo circundante, ao meio ambiente.
113

Trabalho, Ambiente e Natureza: Dos conceitos à Praxis
O meio ambiente humano é determinado temporalmente e percebido em função de
representações particulares; está em relação dinâmica no sentido de que é permanentemente
construído e, portanto, estabelecido e caracterizado por diferentes culturas em espaços
específicos (REIGOTA, 1998, 2009). Assim, construímos nosso próprio mundo, pelas
atividades receptoras e efetoras que caracterizam a nossa espécie. O trabalho por ser do campo,
ele é da natureza, na Cooperativa [COOPAN] em alguns momentos é uma forma direta ou
indireta, por exemplo, na lavoura de arroz é uma forma, já no frigorífero é uma maneira
indireta...129 O conhecimento humano, então, foi construído em estreita relação com o ambiente
no qual o homem está inserido, e do qual não pode fugir, pelo menos até os dias atuais.
Conforme o trecho grifado acima recorre a interação ser humano-natureza, essa significa
entender um e outro numa equação não disjuntiva, na qual o homem faz parte da natureza e, ao
mesmo tempo, dela se distingue por sua capacidade de transformá-la pelo trabalho. Marx
argumenta que o homem participa da natureza, mas não pode ser confundido com ela. O lado
natural do homem significa não só o caráter material e físico do ser humano e sua submissão às
leis naturais, mas, também, o fato de o homem depender da natureza para a sua sobrevivência
e para a sua reprodução biológica (RAMOS, 1996). Então, o trabalho ocorre a transformação
da natureza, para manter e melhorar suas condições de vida.
Para Marx os seres humanos são também natureza, não estão desligados da natureza
(exterior), mas são constituidores de múltiplas relações pretéritas, presentes e futuras:
as condições originais de produção surgem como pré-requisitos naturais, como
condições naturais de existência do produtor, do mesmo modo que seu corpo vivo,
embora produzido e desenvolvido por ele, não é, originalmente, estabelecido por ele,
surgindo antes como seu pré-requisito; seu próprio ser (físico) é um pressuposto
natural não estabelecido por ele mesmo” (MARX, 1986, p.83).
Os seres humanos ao modificarem a natureza modificaram-se juntamente, sendo que,
quando passaram das formas nômades, que ocorriam nas comunidades primitivas, para formas
de organização sociais sedentárias, quando finalmente se fixaram em determinados locais a
maneira como estas comunidades se modificavam dependia de várias “condições externas”. A
intensidade e a forma como o ser humano interage com a natureza, historicamente, a sociedade
se organiza em suas forças produtivas e relações sociais. A equação trabalho-natureza-produto
do trabalho (valor de uso), evidencia a materialidade da natureza, é o conhecimento dessas
estruturas que possibilitam ao homem servir-se delas em seu proveito.
129 Todos os grifos são diálogos dos participantes.
114

Schmidt sustenta que:
com efeito, para Marx a natureza não é só uma categoria social. De nenhuma maneira
ela pode ser dissolvida sem resíduo segundo a forma, o conteúdo, o alcance e a
objetividade, nos processos históricos de sua apropriação. Se a natureza é uma
categoria social, também vale a proposição inversa de que a sociedade representa uma
categoria natural (SCHMIDT, 1976, p.78).
A noção de ambiente pode ser considerada como resultado do pensamento e
conhecimento humano e do seu trabalho intelectual e físico sobre a natureza, e corresponde,
logo, à natureza trabalhada. Então o “trabalho por ser do campo”, Marx aponta:
a terra é o grande laboratório, o arsenal que proporciona tanto os meios e objetos do
trabalho como a localização, a base da comunidade. As relações do homem com a
terra são ingênuas: eles se consideram como seus proprietários comunais, ou seja,
membros de uma comunidade que se produz e reproduz pelo trabalho vivo (MARX,
1986, p.67).
Marx continua sua reflexão dizendo que:
Por maiores que sejam os obstáculos que a terra possa opor aos que a trabalham e dela
se apropriam, não é difícil estabelecer uma relação com ela, enquanto natureza
inorgânica do indivíduo vivo, como sua oficina, meio de trabalho, objeto de trabalho
e meio de subsistência do sujeito (MARX, 1986, p.69).
A “domesticação da natureza” tem seu marco importante: o surgimento da agricultura.
homem passou da coleta daquilo que a natureza “naturalmente” dá para a coleta daquilo que se
planta, que se cultiva. Com a agricultura nos tornamos sedentários e não mais nômades. Com a
agricultura irrigada alguns povos se estabelecem sobre um determinado território de maneira
mais permanente, mais estável. Nesta visão da natureza como objeto, como algo a ser
apropriado, e o homem como centro, deu suporte ideológico à utilização da natureza como
recurso, sendo um dos fatos que legitimaram o modo de produção capitalista (MODANESE,
2009). Em contrapartida, a agricultura, também pode ser considerado meio ambiente (um meio
ambiente específico do homem, visando fins específicos). Esse meio ambiente, por sua vez,
inter-relaciona determinado número de elementos do ambiente (global), objetivando fins
bastante específicos (no sentido do interesse da espécie humana).
A natureza tem uma história boa e ruim. Nossos pais não sabiam plantar arroz
convencional quando chegaram aqui [Nova Santa Rita], e eles usavam veneno (agrotóxico),
pois eles só sabiam plantar milho, pois vieram do interior do estado do RS. E hoje já estamos
plantando o arroz orgânico, sem veneno, só que não adianta nós não usarmos veneno e o nosso
vizinho continuar usando, pois a água que nós usamos é a mesma”. No trabalho, então, só a
partir da atividade sensível é que a realidade toma existência para o ser social. A partir do
trabalho, a naturalidade humana torna-se cada vez mais suplantada. Tanto sua objetividade
quanto sua subjetividade aparecem como frutos dos produtos históricos e humanos do ser social.
115
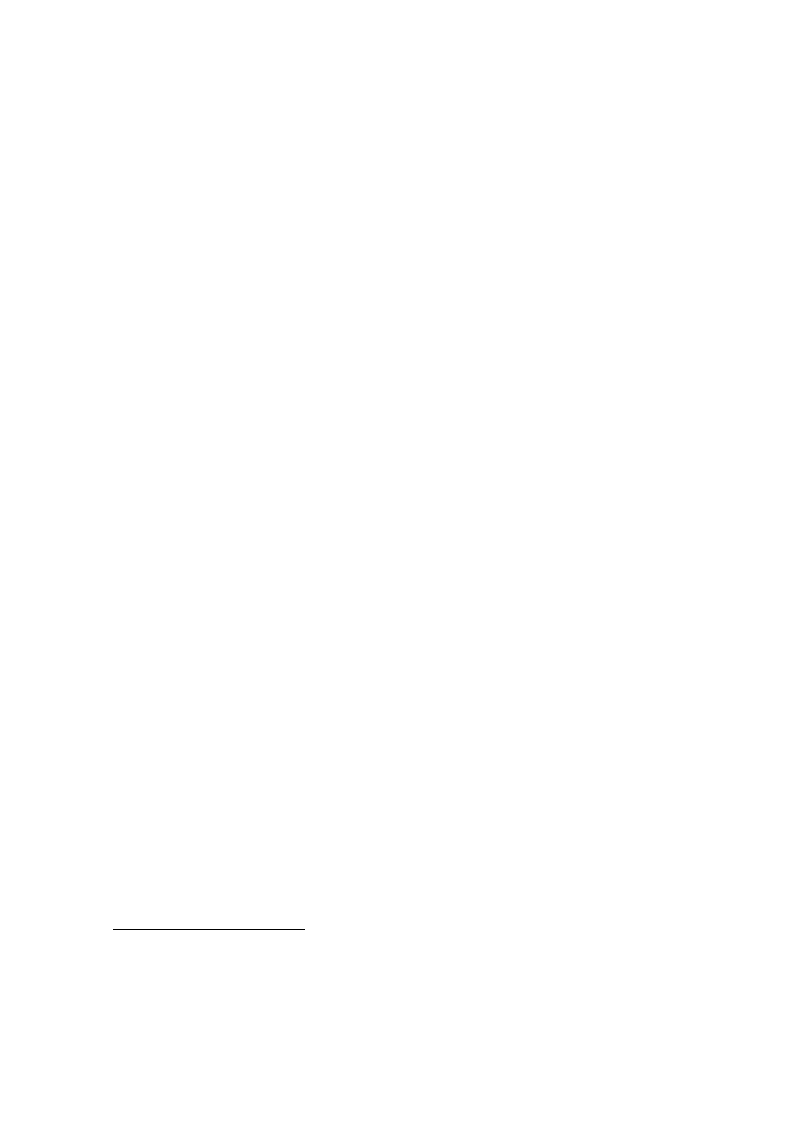
A atividade vital [agricultura] descrito no trecho acima emerge as relações dos seres humanos
com o ambiente, “processa-se uma descaracterização das coisas e não apenas uma redução dos
homens a condição de coisas” (COMPARATO, 1999, p.111).
A natureza e suas potencialidades de apropriação humana (materiais e imateriais)
viraram mercadorias ou foram vistas apenas enquanto obstáculos para realizações lucrativas,
principalmente com o uso de agrotóxicos, a famosa fetichização130 imposta pelo capital e
intensa verticalização da divisão social do trabalho. Os sistemas sociais produtivos humanos,
quer trabalhem no sentido favorável, quer desfavorável ao ambiente e natureza, não têm
capacidade de destrui-lo. Podem sim, tornar o seu meio ambiente impróprio para a
sobrevivência da espécie humana, evidenciado na trecho “só que não adianta nós não usarmos
veneno e o nosso vizinho continuar usando, pois a água que nós usamos é a mesma”, de tal
modo que a espécie seja eventualmente excluída da natureza com a deterioração e extinção do
seu meio ambiente. “O ambiente pode, portanto, ser considerado como todo produto do
conhecimento que o sistema social produtivo tem sobre a natureza e o meio ambiente”
(DULLEY, 2004, p.21).
Mészaros aponta que:
a degradação da natureza ou a dor da devastação social não têm qualquer significado
para seu sistema de controle sociometabólico131, em relação ao imperativo absoluto
de sua auto-reprodução numa escala cada vez maior (MÉSZÁROS, 2002, p.253).
O valor principal do capital é o de sua própria reprodutibilidade, cuja necessidade de
ampliação, de caráter totalizante, vem levando aos limites do esgotamento total a natureza e as
condições da existência humana, nas mais diversas regiões do planeta. Mészaros continua:
as práticas de produção e distribuição do sistema do capital na agricultura não
prometem, para quem quer que seja, um futuro muito bom, por causa do uso
irresponsável e muito lucrativo de produtos químicos que se acumulam como venenos
residuais no solo, da deterioração das águas subterrâneas, da tremenda interferência
nos ciclos do clima global em regiões vitais para o planeta, da exploração e da
destruição dos recursos das florestas tropicais etc. Graças à subserviência alienada da
ciência e da tecnologia às estratégias do lucrativo marketing global, hoje as frutas
exóticas estão disponíveis durante o ano inteiro em todas as regiões – é claro, para
quem tem dinheiro para comprá-las, não para quem as produz sob o domínio de meia
dúzia de corporações transnacionais. Isso acontece contra o pano de fundo de práticas
irresponsáveis na produção, que todos nós observamos impotentes. Os custos
envolvidos não deixam de colocar em risco – unicamente pela maximização do lucro
130 “Fetichismo do mundo das mercadorias decorre conforme demonstra a análise precedente, do caráter social
próprio do trabalho que produz mercadorias” (MARX, 1982, p. 81);
131 “O conceito de metabolismo, com suas noções subordinadas de trocas materiais e ação regulatória, permitiu
que ele expressasse a relação humana com a natureza como uma relação que abrangia tanto as “condições impostas
pela natureza” quanto a capacidade dos seres humanos de afetar este processo” (FOSTER, 2005, p.223).
116

– as futuras colheitas de batata e safras de arroz. Hoje, o “avanço de métodos de
produção” já coloca em risco o escasso alimento básico dos que são compelidos a
trabalhar para as “safras de exportação” e passam fome para manter a saúde de uma
economia “globalizada” paralisante (MÉSZÁROS, 2002, p.255).
Marx complementa:
E todo progresso da agricultura capitalista significa progresso na arte de despojar não
só o trabalhador, mas também o solo; e todo aumento da fertilidade da terra num
tempo dado significa esgotamento rápido das fontes duradouras dessa fertilidade. [...]
A produção capitalista, portanto, só desenvolve a técnica e a combinação do progresso
social de produção, exaurindo as fontes originais de toda riqueza: a terra e o
trabalhador (MARX, 1985, p.578-579).
Nesse sentido, adentramos o termo recurso humano, entendendo recurso como algo a
que se possa recorrer para a obtenção de alguma coisa”, ou seja, através da fala coletiva, a
Cooperativa recorre aos recursos naturais, isto é, aqueles que estão na Natureza, para satisfazer
suas necessidades. Para Art (1998) recurso pode ser: a) componente do ambiente (relacionado
com frequência à energia) que é utilizado por um organismo e b) qualquer coisa obtida do
ambiente vivo e não-vivo para preencher as necessidades e desejos humanos. Essa visão mais
abrangente sobre o que sejam recursos naturais torna-se cada vez mais importante. Trabalho e
movimento social é bem ligado a terra, por nós sermos o MST, pensamos em igualdade na
terra.
O trabalho é a produção de alimentos. Produzir pra alimentação, tem um questão
social, e a produção de orgânicos, preserva a natureza. A ressignificação do ambiente e
natureza pelo Assentamento é perceptível nos trechos anteriores, pois a transição entre o uso,
não uso de agrotóxico e a compreensão do MST como uma movimento que atua na
ressignificação do modo de produção, à medida que produção estável e eficiente dos recursos
produtivos, a segurança e autossuficiência alimentar, o uso de práticas de manejo
agroecológico, autogestão [descrito na gestão do MST], participação dos agricultores, bem
como a conservação e recuperação dos recursos naturais.
O trabalho foi muito importante para o nosso aprendizado sobre a natureza, se nós não
tivéssemos mudado, hoje essa terra estaria toda ruim. Ou seja, é um polo oposto que caminha
em uma (nova) relação com o ambiente, como aponta Vilela:
trata-se, sim, de um novo ambiente produtivo, concebido a partir de uma reação ao
modelo degradante até então em vigor. Esse novo ambiente caracteriza-se pela
convivência com todo o arsenal tecnológico desenvolvido ao longo do tempo e com
um mercado consumidor mais numeroso, disperso, ávido por praticidade e agilidade
e que eleva o conjunto de exigências em relação ao processo produtivo (VILELA,
1999, p.47).
Então o primado da atividade humana sensível — a práxis — como fundamento da
esfera social do ser conduz a que o indivíduo seja imediatamente implicado como sujeito
117

histórico, pois é ele o portador e o realizador da atividade prática sensível. Nessa perspectiva,
a dinâmica social tem de processar-se por meio da práxis dos indivíduos que exercitam sua
atividade sensível sempre no seio e através de um conjunto de relações que os imbricam com a
dinâmica total da sociedade (MARX e ENGELS, 2003, p.111). O caráter evolutivo no manejo
com o ambiente, produzindo novos meios de satisfazê-los, Lukács aponta que a práxis ocorre
(1981, p.146) “pela combinação da atividade social dos homens na reprodução da própria vida,
[...], nascem categorias e relações categoriais completamente novas, qualitativamente diversas
que [...] modificam também a reprodução biológica da vida humana”. A determinação social é
a forma como algo assume, que altera sua forma natural, à medida que ocorre a ação social dos
indivíduos.
Já as Relações de Trabalho...
Trabalho em grupo, de ajudar, produzir. Aqui [assentamento] é feita a matéria-prima
e até o produto final, então tem toda cadeia produtiva, sem exploração diverge com a lógica
que Marx aponta em O Capital quando refere-se “a produção capitalista [...] só desenvolve a
técnica e a combinação do processo social de produção, exaurindo as fontes originais de toda a
riqueza: a terra e o trabalhador”. Essa frase mostra que Marx estava ciente do caráter
duplamente destrutivo do capital, de sua destrutividade em relação ao trabalhador e à natureza,
contudo, a ciência do grupo de entrevistados sobre as relações de trabalho no sistema capitalista.
O tempo da natureza não acompanha o ritmo do capital.
A instauração de uma outra forma de relação entre o homens e mulheres e a natureza
requer a superação da propriedade privada da terra e, no lugar desta, a restituição do significado
original de propriedade, que, segundo Marx, “não é nada mais que o comportamento do homem
diante de condições naturais de produção como lhe pertencendo, como suas, dadas ao mesmo
tempo em que sua própria existência” (MARX, 1985, p.454). A COOPAN, enquanto
cooperativa do MST, veta o intercâmbio entre o homem e a natureza orientado para atendimento
das exigências estreitas de capital, não obedecendo a qualquer planejamento que leve em conta
as exigências da natureza e os interesses da humanidade, das gerações presentes e das gerações
futuras.
Marx também sustenta que:
a coletividade tribal que surge naturalmente, ou, se preferirmos, o gregarismo, é o
primeiro pressuposto — a comunidade de sangue, linguagem, costumes etc. — da
apropriação das condições objetivas da sua vida e da atividade que a reproduz e
objetiva (atividade como pastor, caçador, agricultor etc.) (MARX, 2011, p.380).
118

Isto quer dizer que o trabalho engasta o caráter comunal originário num processo de
complexificação que culmina com a própria dissolução da totalidade originária, dando lugar a
formações superiores lastreadas em relações sociais. A produção de excedentes econômicos é
um dos feitos do trabalho social que respondem pela socialização crescente da vida humana.
Uma mudança na relação seres humanos/natureza só poderá ocorrer com profunda mudança na
forma como os homens se relacionam entre si, enfim, apenas quando os homens já não mais
estiverem submetidos à dominação do capital.
119

PODEMOS CHAMAR DE CONSIDERAÇÕES FINAIS?
Esta curta trajetória de imersão no Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadores
Rurais sem Terra foi importante para ampliação e qualificação das discussões acerca de
diversos e distintos conceitos, principalmente, os termos natureza e trabalho. A evolução
histórica da relação entre a sociedade e a natureza, articulada pelas diferentes formas de se
compreender essa última, mostrou que o vetor de tal desenvolvimento foi marcado pelo
distanciamento cada vez maior entre o ser humano e a natureza. Como também, a essência dessa
possibilidade está no fato de o ser humano negar a sua unidade imediata com a natureza por
meio daquilo que o diferencia do animal; em outras palavras, o homem como ser espiritual e
orgânico, é tanto parte da natureza quanto a sua negação.
No entanto, esta investigação está longe de ser finalizada, porém que diferença tudo isso
faz? Mais especificamente, que implicações essas discussões conceituais podem ter? Primeiro
item importante fora a discussão dos conceitos bases das/nas atividades humanas, na produção
da materialidade, entendendo que o ambiente, natureza e natural devem incluir
obrigatoriamente as questões econômicas, políticas e sociais, pois o ser humano se apropria
destes sempre mediante relações sociais que constituem formas de vida grupal e comunitária.
Em segundo lugar, coloca-se como a natureza foi tratada, enquanto categoria teórica,
principalmente com dois significados. O primeiro, a natureza física, constituída por todos os
elementos existentes no planeta e, entre eles a presença dos seres humanos enquanto espécie
particular e diferenciada por suas relações socioambientais específicas, interagindo de diversas
formas com a natureza e constituindo relações sociais nos diferentes momentos da história. O
outro significado foi constituído em decorrência do primeiro, com a interação dos seres
humanos no meio externo através do trabalho, que com o afastamento destes em relação à
natureza criaram suas próprias formas de existência; as sociedades, as classes sociais, as
civilizações. Podemos inferir, então, que assim apareceu a natureza humana a partir de muitas
transformações físicas e sociais na história planetária, à qual não poderia ter ocorrido sem uma
base primeira que é o ambiente natural.
Todos e todas buscamos nos tornar melhores e mais felizes. Não podemos ser gente,
tornarmo-nos melhores, sem educação, sem formação permanente. Aprendemos ao longo de
toda a vida, não só na escola, conhecendo nossas circunstâncias e o mundo em que vivemos,
mas “em todos os cantos”. A educação procura superar o nosso inacabamento, a nossa
incompletude. Neste sentido e através da fala coletiva que o MST também se destaca por ser
um sujeito pedagógico. Quando percebemos no diálogo a transição de uma agricultura com e
120

sem agrotóxico, entendemos que educação sempre foi entendida como um processo que se dá
ao longo de toda a vida, com aprendizagens, e não um processo que se reduz à população jovem.
Além disso, a questão não está apenas no ato de aprender, mas no que se aprende. Trata-se de
garantir uma aprendizagem e atitudes transformadoras, politizando assim a própria luta pelo
direito às formas de educação consagradas pela sociedade atual e fortalecendo seu engajamento
massivo nas lutas pela superação do modelo econômico capitalista. Isso inclui uma dimensão
grandiosa, que é a de perceber-se como sujeito da história, que é também ser sujeito do próprio
processo de formação para se construir como tal.
A famosa Pedagogia do Movimento assume também uma intencionalidade educativa na
direção de preparar os trabalhadores para a construção prática deste novo modelo de produção,
de tecnologia, e para as novas relações sociais que poderão começar a ser produzidas no MST,
o que implicaria na (re)apropriação crítica de iniciativas já existentes e bem antigas,
especialmente no âmbito de uma produção diversificada e comprometida com o equilíbrio
ambiental e humano. A Ciranda, com as crianças, as místicas e educação ao longo da vida
contemplam efetivamente o artigo 1º da LDBEN quando refere-se a educação e seus processos
formativos, que somente será construído no enfrentamento concreto das tendências projetadas
pelas contradições em que seu percurso foi constituído, potencializando as contradições da
realidade social explicitadas pelo momento de crise estrutural do capitalismo, um
enfrentamento que dificilmente será protagonizado por outros sujeitos que não os movimentos
sociais que hoje assumem o embate de projetos como sua ação política principal.
“Nós vivemos no campo, no meio da natureza”. A retomada do protagonismo dos
movimentos sociais – que justifica-se na Metodologia de História Oral – atualmente é um
desafio e que passa por uma interpretação mais rigorosa e pela difusão ampliada da
compreensão desse momento da luta de classes, que “inclui o debate das contradições da fase
atual do capitalismo e as consequências que traz para a agricultura e para a vida (ou morte) dos
camponeses, bem como para o conjunto da sociedade” (CALDART, 2009, p.60). Estamos
entrando em um período muito propício para esse debate, e a questão dos conceitos de natureza,
ambiente, recursos naturais e identificar matriz como fora construída, podem ser uma boa porta
de entrada à discussão da realidade ou do ‘quadro’ em que nossas ações educativas se inserem.
E, por fim, a partir dos resultados obtidos desta pesquisa, é possível afirmar que a
natureza não é apenas fruto da mente, mas possui um caráter dual, sendo tanto uma entidade
passível de pensamento quanto uma entidade real. O trabalho da/na COOPAN também se
destaca como inovador (quebrando paradigmas vigentes) e valorizando elementos como:
121

autonomia, alternatividade e união enquanto classe trabalhadora. Na compreensão de Lukács
esse intercâmbio,
são nestas somas e sínteses que se exprime [...] a continuidade do social. Elas
constituem um tipo de memória da sociedade, que conserva o adquirido do passado e
do presente fazendo deles os veículos, as premissas, os pontos de apoio para o
desenvolvimento futuro (LUKÁCS 1981, p.186).
O mundo humano emerge, assim, como processo fundado nas sínteses relacionais das
práxis humanas. A práxis implica que a subjetividade se confirma na medida em que intervém,
ativa e produtivamente, sobre o mundo exterior, o qual oferece os limites e possibilidades da
ação do sujeito, na medida mesma de sua plasticidade ou de sua maleabilidade para ser outro c.
O MST nos mostra a sua dinâmica, exige e projeta dimensões relacionadas ao modo de vida
das pessoas em uma sociedade, trabalhando com valores, posturas, visões de mundo, tradições,
costumes e assim provocando a reflexão da sociedade de forma geral.
122

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABRAMOVAY, R.; Paradigmas do capitalismo agrário em questão. Campinas: Editora
Hucitec & Editora da Unicamp, 1998;
ALBERTI, V. Indivíduo e biografia na história oral. Rio de Janeiro: CPDOC, 2000;
ALENCASTRO, L. F. de.; 0 Trato dos Viventes: Formação do Brasil no Atlântico Sul. São
Paulo: Companhia das Letras, 2000;
ALTHUSSER, L.; Aparelhos Ideológicos de Estado. Rio de Janeiro: Graal, 1985;
ALVES M. C. S. de O.; A importância da história oral como metodologia de pesquisa.
Anais eletrônicos da IV Semana de História do Pontal. Pontal, 2016;
ANDRADE, M. C de.; O Movimento dos Sem Terra e sua Significação. Mercator - Revista
de Geografia da UFC, ano 01, nº 02, 2002;
ANDRÉ, M.; O Que é um Estudo de Caso Qualitativo em Educação? Revista da FAEEBA –
Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 22, n. 40, p. 95-103, jul./dez. 2013;
ARROYO, M. G.; CALDART, R. S.; MOLINA, M. C.; Por Uma Educação do Campo.
Petrópolis: Vozes, 2011;
ART, W. H. Dicionário de ecologia e ciências ambientais. São Paulo:
UNESP/Melhoramentos, 1998;
BALTAZAR, P. H. B.; Sindicalização Rural no Governo De João Goulart (1961-1964): As
Discussões Historiográficas acerca do Campo Brasileiro. Anais do XXVIII Simpósio
Nacional de História – ANPUH, São Paulo, 2011;
BANCO MUNDIAL; Rural Poverty Alleviation in Brazil: Toward an Integrated Strategy.
Washington, DC, 2003;
BECKER, H. S.; Métodos de pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo: Editora Hucitec, 1993;
BENEVIDES, M. H. C.; PINHEIRO, C. H. L.; Narrativas e Trajetórias: abordagens
metodológicas a partir da UNILAB. Cadernos CRH, vol.31, n.82, 2018, p.169-186;
BOGDAN, R.; BIKLEN, S.K.; Qualitative Research for Education. Boston: Allyn and
Bacon, 1982;
Boghossian, C. O., & Minayo, M. C. de S.; Revisão sistemática sobre juventude e participação
nos últimos 10 anos. Saúde e Sociedade, 18(3), 411-423, 2009;
BRASIL, INCRA. Relatório do II PRNA, Brasília, 2005;
BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988;
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996;
BRASIL. Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra. Brasília
– DF, 1964;
123

BRASIL. Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada à investigar a
ocupação de terras públicas na região amazônica. Relator: Deputado Sérgio Carvalho.
Brasília – DF, 2001;
CALDART, R. S.; Educação do Campo: Notas para Uma Análise de Percurso. Trab. Educ.
Saúde, Rio de Janeiro, v. 7 n. 1, p. 35-64, mar./jun, 2009;
CALDART, R. S.; Pedagogia do Movimento. São Paulo: Expressão Popular, 2012;
CAMARGO, A. A.; A questão agrária: crise de poder e reformas de base (1930-1964). In:
GOMES, A. M. C. et al. História Geral da Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2007;
CAPELLE, M. C. A. BORGES, C. L. P. MIRANDA, A. R. A. Um Exemplo do Uso da
História Oral como Técnica Complementar de Pesquisa em Administração. In:
ENCONTRO DE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS. SANTA CATARINA, 2010. Anais...
Florianópolis: ANPAD, 2010;
CARTER, M.; O Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e a Democracia no
Brasil. Agrária, São Paulo, Nº 4, pp. 124-164, 2009;
CARVALHO FILHO, J. J. de.; “Política agrária do governo FHC: desenvolvimento rural e a
Nova Reforma Agrária” In: LEITE, S. (org.), Políticas públicas e agricultura no Brasil. Porto
Alegre: EDUFRGS, 2001;
CARVALHO FILHO, J. J. de.; Política agrária do governo FHC: desenvolvimento rural e a
Nova Reforma Agrária. In: LEITE, Sérgio (org.) Políticas públicas e agricultura no Brasil.
Porto Alegre: EDUFRGS, 2001;
CASTRO, H. L.; Platão: A Dialética do Bem Versus o Caos da Realidade. Revista Eletrônica
de Filosofia da UESB, ano3, nº 2, 2015;
COMPARATO, F. K.; A Afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 1999;
Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil Ltda. – Concrab.; O que levar
em conta na organização do assentamento: a discussão no acampamento (Cadernos de
Cooperação Agrícola, 10). São Paulo: Concrab /MST, 2001;
COX, M.; MUNRO-FAURE, P.; MATHIEU, P., HERRERA, A.; PALMER, D.; GROPPO, P.;
FAO in Agrarian Reform. Land Reform, Land Settlement and Cooperatives. Roma, 2003;
CURY, C. R. J.; A Educação Básica no Brasil. Educação e sociedade, v. 23, nº 20. Campinas,
2002;
DAGNINO, E.; Construção democrática, neoliberalismo e participação: os dilemas da
confluência perversa. Revista Política e Sociedade, v.5, 2004;
DREIFUSS, R. A.; O jogo da direita. Petrópolis: Vozes, 1989;
DREIFUSS, R.; 1964: A conquista do Estado (Ação política, poder e golpe de classe).
Petrópolis: Vozes, 1981;
124

DULLEY, R. D. (2004) Noção de natureza, ambiente, meio ambiente, recursos ambientais e
recursos naturais. Agricultura em São Paulo, São Paulo, v. 51, n. 2, p. 15-26;
ENGELS, F.; Dialética da Natureza. Porto Alegre: Editora Leitura, 2000;
FABRINI, J. E.; O Projeto do MST de Desenvolvimento Territorial dos Assentamentos e
Campesinato. Revisão Terra Livre, v. 18, n. 19, 2002;
FERNANDES, B. M.; MST formação e territorialização. São Paulo: Hucitec, 1996;
FERNANDES, F.; O padrão de trabalho científico dos sociólogos brasileiros. A sociologia no
Brasil A sociologia no Brasil. A sociologia no Brasil Petrópolis, p. 50-76, 1977;
FERNANDES, S. A.; Gênero e Políticas de crédito para mulheres rurais em Santa
Catarina. 2006. Florianópolis. Dissertação apresentada a Universidade Federal de Santa
Catarina, 2006;
FERREIRA, B., et al. Constituição vinte anos: caminhos e descaminhos da reforma agrária –
embates (permanentes), avanços (poucos) e derrotas (muitas). In: Políticas Sociais -
acompanhamento e análise nº 17, Vinte Anos da Constituição Federal - volume 2, IPEA, 2009;
FONSECA, A.; Juros compensatórios ou juros de dano: discussão das súmulas 618, 416,
345 e 164 do STF (exposição de motivos para provocar o cancelamento das súmulas 618, 416,
345 e 164). Brasília, 2005;
FOSTER, J. B. A ecologia de Marx: materialismo e natureza. Rio de Janeiro, RJ: Civilização
Brasileira, 2005;
GADOTTI, Moacir. “A dialética: concepção e método”. In: Concepção Dialética da
Educação. São Paulo: Cortez/Autores Associados, 1990;
GARCIA, M. F.; A luta pela terra sob enfoque de gênero: os lugares da diferença no Pontal
do Paranapanema. Tese (Doutorado em Geografia) – Unesp, Presidente Prudente, 2004;
GOHN, M. da G.; Movimentos sociais na contemporaneidade. Revista Brasileira de
Educação, v. 16, n. 47, maio-ago, 2011, p.333-361;
GRAMSCI, A. A concepção dialética da história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1991;
GRAMSCI, A.; A concepção dialética da história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1991;
GUEDES-PINTO, A. L.; Rememorando trajetórias da professora- alfabetizadora: a
leitura como prática constitutiva de sua identidade e formação profissionais. Campinas:
Mercado de Letras, 2002;
GUZMÁN, E. S.; MOLINA, M. G.; Sobre a Evolução do Conceito de Campesinato. São
Paulo: Expressão Popular, 2013;
HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Centauro, 2004;
HEREDIA, B. M. A. de.; A Morada da Vida: Trabalho familiar de pequenos produtores
do Nordeste do Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979;
125

IANNI, O. A luta pela terra. Petrópolis: Vozes, 1979;
IANNI, O.; Dialética & Capitalismo: ensaio sobre o pensamento de Marx. Petrópolis:
Vozes, 1982;
JOUTARD, P.; Desafios à história oral do século XXI. Apud. FERREIRA, M. de M. et all;
História Oral: desafios para o século XXI – Rio de Janeiro : Editora Fiocruz/Casa de Oswaldo
Cruz / CPDOC - Fundação Getulio Vargas, 2000;
KOPNIN, P.V.; A dialética como lógica e teoria do conhecimento. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1978;
KOSIK, K.; Dialética do concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976;
LEITE, S. C.; Escola Rural: urbanização e políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 1999;
LÊNIN, K. Teoria de campo em Ciências Social. São Paulo: Pioneiro, 1965;
LÊNIN, V. I. Que fazer? São Paulo: Hucitec, 1986;
LENIN; O desenvolvimento do capitalismo na Rússia. SP: Nova Cultural, 1985;
LENOBLE, R; História da ideia de natureza. Lisboa: Edições 70, 1969;
LIBÂNEO, J. C.; Didática. São Paulo: Cortez, 1990;
LIPIETZ, A.; As relações capital-trabalho no limiar do século XXI. Ensaios FEE, ano 12, n°
1, Porto Alegre, 1991;
LUKACS, G.; Il lavoro. In: LUKACS, G. Per l’ontologia dell’essere sociale. Roma: Riuniti,
1981;
MACHADO, E. M.; KYOSEN, R. O.; Políticas e política social, v. 03 n.1., Londrina, 2000;
MACHADO, E.; Na contra-mão do neoliberalismo: sem-terra e piqueteiros. Revista
Mediações, Londrina, v. 10, n. 2, p. 75-89, 2005;
MARQUES, W.; O quantitativo e o Qualitativo na Pesquisa Educacional. Revista Avaliação.
V. 2, nº 3(5), 1997;
MARTINE G.; A trajetória da modernização agrícola: a quem beneficia? Lua Nova, São
Paulo, nº 23, 1991;
MARTINS, H. H. T. de S.; Metodologia qualitativa de pesquisa. Educação e Pesquisa, São
Paulo, v.30, n.2, p. 289-300, maio/ago. 2004;
MARTINS, J. de S.; A questão agrária brasileira e o papel do MST. In: STÉDILE, João Pedro
(org.) A reforma agrária e a luta do MST. Petrópolis: Vozes, 1997;
MARTINS, S. P.; Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2014;
MARX K., ENGELS, F.; A sagrada família. São Paulo: Boitempo, 2003;
MARX K.; Grundrisse. São Paulo: Boitempo; Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2011;
MARX, K. Formações Econômicas Pré-Capitalistas. 5ª ed. São Paulo. Paz e Terra, 1986;
MARX, K.; Estrutura social e formas de consciência. São Paulo: Boitempo, 2009;
126

MARX, K.; Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2004;
MARX, K.; O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Abril Cultural, 1985;
MARX, K.; Sociologia (Octavio Ianni, org.). São Paulo: Ática, 1979;
MASCARO, A.; Estado e Forma Política. São Paulo: Editora Boitempo, 2013;
Mason, H. y Langenheim, J.; Language analysis and the concept “environment”. Ecology,
38(2), 325-340, 1957;
MEDEIROS, L.; Movimentos sociais, disputas políticas e reforma agrária de mercado no
Brasil. Rio de Janeiro: CPDA/UFRRJ e UNRISD, 2002;
MELUCCI, Alberto. A invenção do presente: movimentos sociais nas sociedades
complexas. Petrópolis: Vozes, 2001;
MENDONÇA, M. L.; Avança o monopólio da terra para produção de agrocombustíveis.
Revista Caros Amigos, 2010;
MERLEAU-PONTY, M.; A Natureza. São Paulo: Martins Fontes, 2000;
MÉSZÁROS, I.; Educação para Além do Capital. São Paulo: Boitempo, 2008;
MÉSZÁROS, I.; Para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2002;
MINAYO, M.C.S.; Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2010;
MIRANDA, G., e ROBAINA, J. V. (). O conceito de natureza na educação do campo. Revista
Brasileira De Educação Do Campo, 2(2), 2017, p.793-810;
MODANESE, I. A. Z.; Diferentes Concepções de Natureza. Anais do 12º EGAL, Cidade do
México, 2009;
MORAIS, C. S. de.; História das Ligas Camponesas do Brasil. In: STÉDILE João Pedro. (Org.)
História e natureza das Ligas Camponesas – 1954-1964. São Paulo: Expressão Popular,
2006;
MORTENSEN, P.B. et al. Comparing Government Agendas: Executive Speeches in the
Netherlands, United Kingdom, and Denmark. In: Comparative Political Studies. Vol.44,
2011;
NATIVIDADE, M. de M.; A questão agrária no Brasil no governo João Goulart: uma arena
de luta de classe e intraclasse (1961-1964). Anais do XXVI Simpósio Nacional de História –
ANPUH, São Paulo, 2011;
NIELSEN NETO, H.; Filosofia Básica. São Paulo: Atual, 1985;
NODARI, P. C.; A doutrina das Ideias em Platão. Síntese – Revista de Filosofia, v. 31, n. 101,
p. 359-374, 2004;
NORGAARD, R. B.; Uma sociología del medio ambiente coevolucionista. In: REDCLIFT, M.
WOODGATE, G. Sociología del medio ambiente: uma perspectiva internacional. Madrid:
McGraw-Hill, 1995;
NOVELLI, P. G. A., PIRES, M.F.C. A dialética na sala de aula. Botucatu: UNESP, 1996;
127

OIZERMAN, T. Problemas de História da Filosofia. Lisboa: Livros Horizonte, 1973;
OLIVEIRA, A. U. de.; Geografia das lutas no campo. São Paulo. Contexto, 1988;
OLIVEIRA, A. U.; A fronteira amazônica mato-grossense: grilagem, corrupção e violência.
1997. 2v. Tese (Livre Docência) - Fac. de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 1997;
OLIVEIRA, A. U.; A questão da aquisição de terras por estrangeiros no Brasil – um retorno
aos dossiês. AGRÁRIA, São Paulo, n. 12, p. 3-113, 2011.
OLIVEIRA, A. U.; Grilagem de terras. Le Monde Diplomatique, São Paulo, v. 01, 2009;
OLIVEIRA, A. U.; Modo capitalista de produção, agricultura e reforma agrária. São
Paulo: FFLCH/ LABUR Edições, 2007;
OLIVEIRA, V. F. Educação, memória e histórias de vida: uso da história oral. História Oral,
v. 8, n. 1, jan- jun. 2005;
OLIVEIRA. A. U. de. A “não reforma agrária” do MDA/INCRA no governo Lula. Porto
Alegre: CIRADR-FAO, 2006;
Ortiz, H. S.; O banquete dos ausentes: a Lei de Terras e a formação do latifúndio no norte do
Rio Grande do Sul (Soledade 1850-1889). Dissertação. Universidade de Passo Fundo, Passo
Fundo, 2006;
PADILHA, P. R.; Educar em todos os cantos: reflexões e canções por uma Educação
intertranscultural. São Paulo: Instituto Paulo Freire/Cortez, 2007;
PAVIANI, J. Platão & A República. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 2003;
PEREIRA, H. Criar ilhas de sanidade: Os Estados Unidos e a Aliança para o Progresso no
Brasil. 2005. Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências Sociais, Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, PUC/SP, 2005;
PEREIRA, J. M. M.; Estado e Mercado na Reforma Agrária Brasileira (1988-2002). Estudos
Históricos Rio de Janeiro, vol. 28, nº 56, 2015;
PIOVESAN, F.; Temas de Direitos Humanos. São Paulo: Editora Saraiva, 2009;
PIRES, M. F. de C.; O materialismo histórico-dialético e a Educação. Interface, vol.1, n.1,
1997;
PORTELLI, A.; História Oral como gênero. Projeto História. São Paulo, n. 22, p. 9-36, jun.
2001;
PREITE SOBRINHO, W.; Saiba mais sobre os caras-pintadas. Folha de São Paulo online,
São Paulo, 30 abr. 2008;
PRIETO, G. F. T.; A Aliança entre Terra e Capital na Ditadura Brasileira. Mercator, vol.16,
2017;
QUEIROZ, M. I. P. Relatos orais: do “indizível” ao “dizível”. In: Von Simon, Olga de Moraes
(org.). Experimentos com histórias de vida (Itália-Brasil). São Paulo: Vértice, 1988;
128

RAMÍREZ, J.; Movimentos sociais: locus de uma educação para a cidadania. 2 ed. In:
CANDAU, V. M.; SACAVINO, S. (Org.). Educar em direitos humanos: construir
democracia. Rio de Janeiro: DP&A, 2003;
RAMOS E. C.; O Processo de Constituição das Concepções de Natureza. Uma Contribuição
para o Debate na Educação Ambiental. Ambiente & Educação, vol. 15, n.1, 2010;
REALE, G. História da Filosofia Antiga II. Platão e Aristóteles. São Paulo: Loyola, 1994;
REALE, G. Para uma nova interpretação de Platão. Releitura da metafísica dos grandes
diálogos à luz das “Doutrinas não-escritas”. São Paulo: Loyola, 1997;
RIBEIRO, A. Princípio da Função Social na Legislação Agrária Brasileira. São Luís:
UFMA, 2006;
RIBEIRO, A.; Princípio da função social na legislação agrária brasileira. São Luís: UFMA,
2006;
RIBEIRO, J. y CAVASSAN, O.; Um olhar epistemológico sobre o vocábulo ambiente:
algumas contribuições para pensarmos a Ecologia e a Educação Ambiental. Filosofia e
História da Biologia, 7(2), 241-261, 2012;
RIBEIRO, M.; Movimento Camponês: Trabalho e Educação. São Paulo: Expressão Popular,
2013;
SABOURIN, E.; Camponeses do Brasil: entre a troca mercantil e a reciprocidade. Rio de
Janeiro: Garamond, 2009;
SANTOS, B. S.; Um discurso sobre as ciências. Porto: Afrontamentos, 2001;
SANTOS, M.; Metamorfose do espaço habitado. São Paulo: HUCITEC, 1996;
SANTOS, R. de O. C.; Análise das políticas de obtenção dos Assentamentos Rurais no
Brasil de 1985 a 2009: estudo dos assentamentos reconhecidos pelo INCRA no Estado de São
Paulo. Presidente Prudente: Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária,
Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Relatório Final FAPESP.
2011;
SAVIANI, D. A pedagogia no Brasil: história e teoria. Campinas, São Paulo: Autores
Associados, 2008;
SAVIANI, D.; Pedagogia Histórico-crítica: primeiras aproximações. Campinas: Autores
Associados, 2005;
SCHMIDT, A. El concepto de naturaleza en Marx. México: Siglo XXI, 1976;
SENADO FEDERAL. Notas taquigráficas da audiência pública na Comissão de Assuntos
Econômicos em 4 de setembro de 1997;
SILVA, F. C. T. da.; Vargas e a Questão Agrária: A Construção do Fordismo Possível.
Diálogos, v. 02,1998;
SILVA, L. M. O.; Lenin: a questão agrária na Rússia. Crítica Marxista, n.35, p.111-129, 2012;
SILVA, L. O. Desenvolvimentismo e intervencionismo militar. Ideias, v. 12/13, n.1, 2006;
129

SILVA, L. O. Terra, Direito e Poder. Boletim da ABA, Campinas, v. 27, p. 17-22, 1997;
SILVA, P. A. O. O Debate em Torno da Reforma Agrária no Brasil: Uma Análise da
Literatura Pertinente e a Busca de Comparação das Duas Vias em Execução. Dissertação
(Mestrado em Desenvolvimento Econômico). Universidade Estadual de Campinas. Campinas,
2012;
SMITH, R.; Propriedade da Terra e Transição. São Paulo: Brasiliense, 1990;
SOUZA, M. A. de; Educação do Campo: Políticas, Práticas Pedagógicas e Produção Científica.
Revista Educação e Sociedade, vol. 29, n. 105, Campinas, 2008;
SPIRKINE, A. YAKHOT, O. Princípios do Materialismo Dialético. São Paulo: Estampa,
1975;
STÉDILE, J. P. e FERNANDES, B. M.; Brava gente: a trajetória do MST e a luta pela terra
no Brasil. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 1999;
STEDILE, J. P. MST: 25 anos de teimosia. Revista Caros Amigos. São Paulo, jan. de 2009;
TEÓFILO, E.;“Brasil: nuevos paradigmas de la reforma agraria”, In: TEJO, P.(org.);
Mercados de tierras agrícolas en América Latina y el Caribe: una realidad incompleta.
Santiago do Chile: Nações Unidas/CEPAL/GTZ, vol. 1, 2003;
THOMPSON, P. A voz do passado; história oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992;
THOMPSON, Paul. A voz do passado. Trad. Lólio Lorenço de Oliveira. São Paulo: Paz e Terra,
1998;
TIDD, J.; BESSANT, J.; PAVITT, K. Managing innovation: integrating technological, market
and organizational change. 3. ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2005;
TOLEDO, V. M.; The Ecological Rationality of Peasant Production. In: ALTIERI, M. A.,
HECHT, S. (org.); Agroecology of Small-farm Development, USA: CRC Press, 1990;
UEXKÜLL, T. A teoria da Umwelt de Jakob von Uexküll. Galáxia, p.19-48, 2004;
VERENA, A. História oral: a experiência do CPDOC. Rio de Janeiro: Contemporânea do
Brasil, 1990;
VILELA, S.T.U. “Globalização e emergência de múltiplas ruralidades: reprodução social e
agricultores via produtos para nichos de mercado”. Tese de D.Sc., UEC, São Paulo, 1999;
WANDERLEY, M. de N. B.; O Campesinato Brasileiro: uma história de resistência. Revista
RESR, Piracicaba, Vol. 52, 2014;
WEIL, S.; O desenraizamento operário. In BOSI, E.; A condição operária e outros estudos
sobre a opressão. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996;
WHITEHEAD, A.; O conceito de Natureza. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
130

APÊNDICE
131
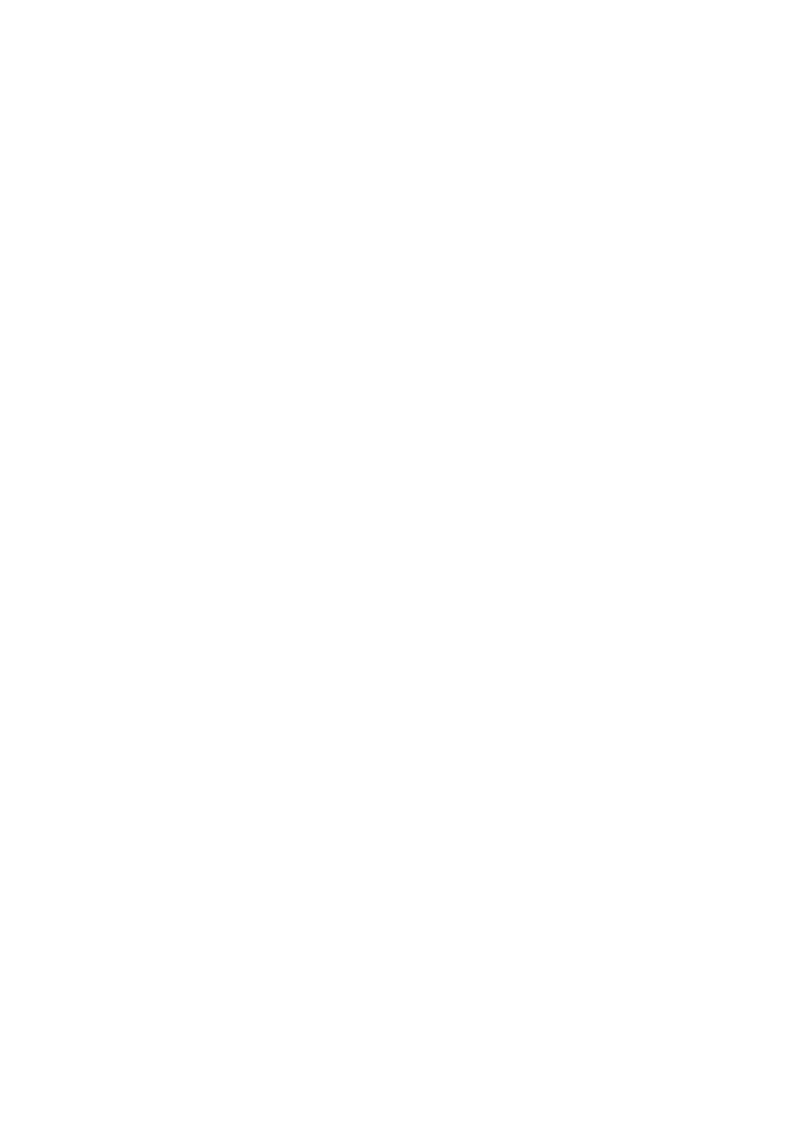
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: QUÍMICA
DA VIDA E SAÚDE
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DE PESQUISA
O Sr.(a) está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa
Trajetórias Narrativas em Assentamentos do MST: Os (Des)Compassos na Concepção de
Natural e Natureza. Neste estudo pretendemos compreender as diferentes percepções dos
sujeitos sobre a ideia de natureza, a partir da perspectiva do Movimento dos Sem Terra, em um
assentamento do RS.
A primeira etapa será entrevistas para conhecer a história do assentamento. Em um
segundo momento será distribuído palavras com o objetivo de analisar as concepções desses
termos. Todas falas serão gravados e estão sob sigilo do pesquisador e orientador.
Esta pesquisa considerará o respeito e a garantia do pleno exercício dos direitos dos
participantes, devendo ser concebida, avaliada e realizada de modo a prever e evitar possíveis
danos aos participantes. Os possíveis serão a possibilidade de danos à dimensão moral,
intelectual, social, cultural dos participantes, em qualquer fase da pesquisa e dela decorrente;
os resultados podem ter implicações sociais, tanto no que diz respeito à omissão quanto à
divulgação dos mesmos; investigação crenças, concepções, teorias implícitas e experiências
significativas; apropriação da produção intelectual dos informantes, assumindo somente para si
a autoria de tais ideias;
Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer
vantagem financeira. Você será esclarecido(a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar
e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou
interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em
participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelo
pesquisador. O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os
resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que
indique sua participação não será liberado sem a sua permissão.
O(A) Sr(a) não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste
estudo. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia
será arquivada pelo pesquisador responsável, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) e a outra será fornecida a você. Caso haja danos decorrentes dos riscos previstos, o
pesquisador assumirá a responsabilidade pelos mesmos.
132
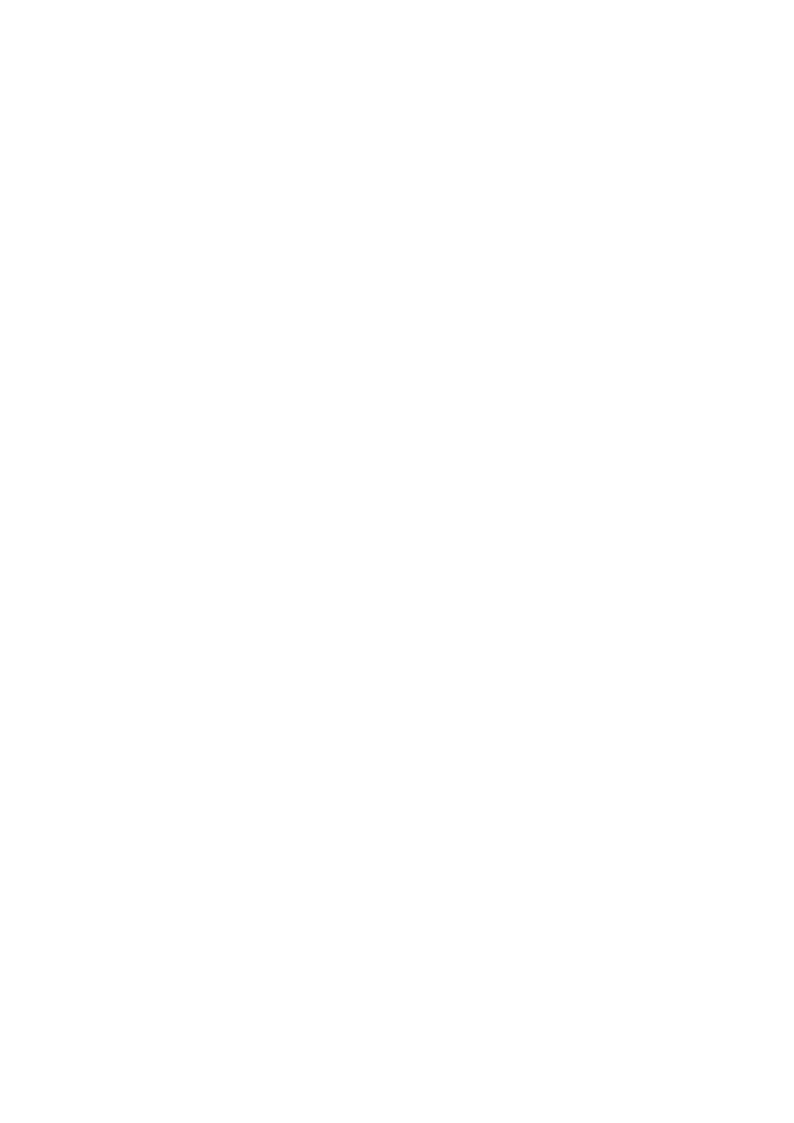
Eu, _______________________________________________________________________,
portador do Documento de Identidade (RG) __________________________ fui informado(a)
dos objetivos da pesquisa e convidado voluntariamente a participar do projeto de pesquisa
Trajetórias Narrativas em Assentamentos do MST: Os (Des)Compassos na Concepção de
Natural e Natureza, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a
qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar
se assim o desejar. Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste
termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as
minhas dúvidas.
___________________________
Nome e Assinatura participante
___________________________
Nome e Assinatura pesquisador
Porto Alegre, _____ de ________________, 20__.
133
