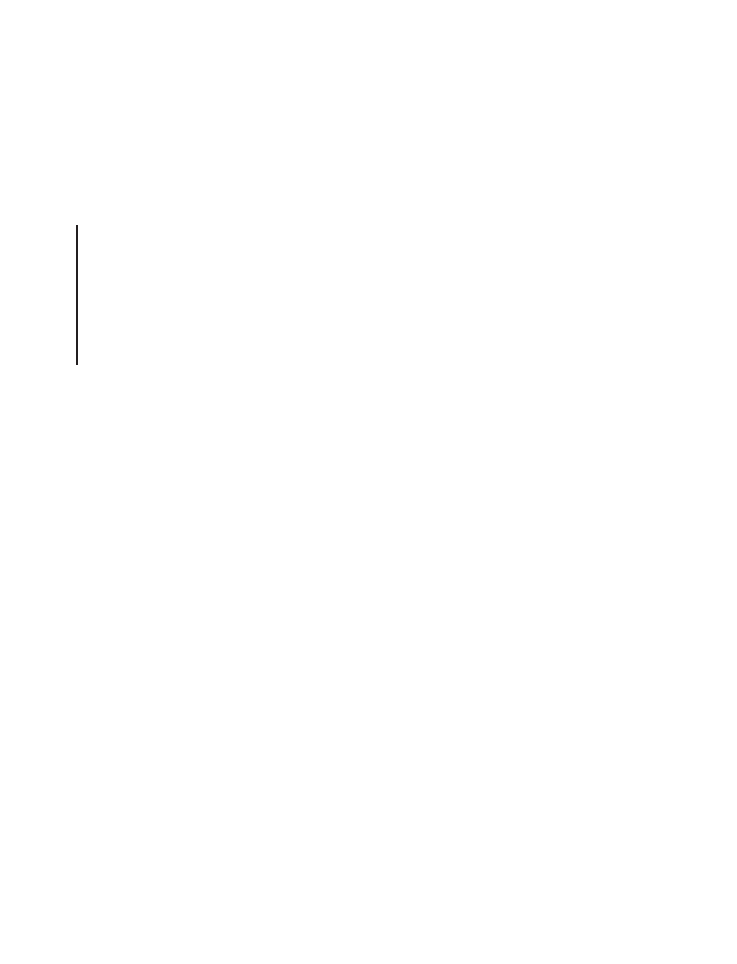
Alberto Torres e os higienistas: intervenção
do Estado na educação do corpo (1910-1930)
Alberto Torres and the sanitarians: State intervention
in body education (1910-1930)
Edivaldo Góis Junior
Doutor em Educação Física. Professor do Programa de Pós-Gradu-
ação em Educação Física da Universidade Estadual de Campinas.
E-mail: edivaldo@fef.unicamp.br
Correspondência
Departamento de Educação Física e Humanidades. Cidade Uni-
versitária: Av. Érico Veríssimo, 701, CEP 13083-851, Campinas,
SP, Brasil.
Resumo
Este artigo descreve a relação de um importante inte-
lectual brasileiro, Alberto Torres, com o pensamento
higienista. Problematiza-se o entendimento de
Torres como um intelectual caracterizado pelo pessi-
mismo em relação ao povo brasileiro. No contexto da
superação do brasileiro, dito “atrasado”, sobretudo
a partir do ponto de vista organizacional e político,
o intelectual fez severas e incisivas reflexões sobre
a política brasileira, bem como a caracterização do
homem brasileiro. Para tanto, foi realizado um levan-
tamento de fontes secundárias sobre o pensamento
do autor e do movimento higienista. Posteriormente,
foram analisadas fontes primárias, delimitadas
pelos livros de Alberto Torres. Concluiu-se que o
intelectual foi contrário ao determinismo racial,
defendendo uma intervenção nos campos públicos
da saúde e da educação. Com isso, ele influenciou e
foi influenciado pelos higienistas brasileiros, cuja
preocupação central também era a intervenção do
Estado, a melhoria das condições ambientais como
ferramenta preventiva, gerando construção de uma
identidade nacional.
Palavras-chave: História; Saúde Pública; Educação;
Brasil.
DOI 10.1590/S0104-12902014000400026
Saúde Soc. São Paulo, v.23, n.4, p.1445-1457, 2014 1445

Abstract
Introdução
This article describes the relation of an important
Brazilian intellectual man, Alberto Torres, to the
sanitarian thought. It discusses Alberto Torres’
understanding as an intellectual man characteri-
zed by pessimism regarding the Brazilian people.
In the Brazilian context of overcoming, named as
“delayed”, above all from the organizational and
political point of view, the intellectual man provided
severe and deep reflections on the Brazilian politics,
as well as the characterization of the Brazilian man.
To do this, a survey of secondary sources was con-
ducted about the thought of this author and that of
the sanitarian movement. Subsequently, primary
sources were analyzed, delimited by Alberto Torres’
books. The study concludes that the intellectual
man was opposed to racial determinism, advocating
for an intervention in the public fields of health
and education. So, he has influenced and has been
influenced by the Brazilian sanitarians, whose
central concern was also the State’s intervention,
the improvement of environmental conditions as
a preventive tool, generating the construction of a
national identity.
Keywords: History; Public Health; Education; Brazil.
Este artigo teve como objetivo descrever a relação de
um importante intelectual brasileiro, Alberto Torres,
com o pensamento higienista.
Na Europa o “movimento higienista” teve
como objetivo central a proteção da população. Os
higienistas mediavam, a partir de “soluções cientí-
ficas”, os conflitos entre o capital e os trabalhado-
res, procurando desenvolver a saúde da população
trabalhadora a partir de melhores condições de
trabalho no horizonte do aumento da produtividade
ou acumulação das empresas (Rabinbach, 1992).
No Brasil o movimento teve papel semelhante no
início da industrialização. Porém, havia um aspecto
especialmente preocupante para os higienistas bra-
sileiros, qual seja, a formação do povo envolvendo o
papel das raças e sua miscigenação, daí decorrendo
a presença, no movimento, de tendências eugênicas,
que tinham como preocupação a higiene da raça. No
início do século XX a sociedade brasileira crescia
em complexidade e diversificação, dando lugar à
emergência de novos setores e atores sociais, em um
contexto de desenvolvimento da ciência médica, de
influência crescente do positivismo e do surgimento
dos movimentos sociais de esquerda, como o anar-
quismo e o comunismo.
Alguns intelectuais brasileiros do início do
século, como Alberto Torres, Oliveira Vianna, Mon-
teiro Lobato, Gilberto Freyre, Fernando de Azevedo
e Manoel Bonfim, postulavam como tarefa pensar
os problemas do Brasil. O que mais interessava a
esses intelectuais era conceber o porquê da falta de
desenvolvimento econômico em um país imenso e
berço de inúmeras riquezas naturais (Leite, 1976;
Micelli, 2001). A sociedade do início de século re-
clama a modernização do Brasil e de suas cidades.
Sob o contexto problemático da superação do
brasileiro dito, “atrasado”, sobretudo a partir do
ponto de vista organizacional e político, Alberto Tor-
res fez severas e incisivas reflexões sobre a política
brasileira, bem como a caracterização deste homem.
Especificamente, denunciava a falta de intervenção
do Estado em demandas sociais do povo brasileiro,
como na educação e saúde.
Para superar essas dificuldades, propunha um
Estado forte, fato que o colocou entre os intelectu-
ais autoritários a partir do ponto de vista de seus
1446 Saúde Soc. São Paulo, v.23, n.4, p.1445-1457, 2014
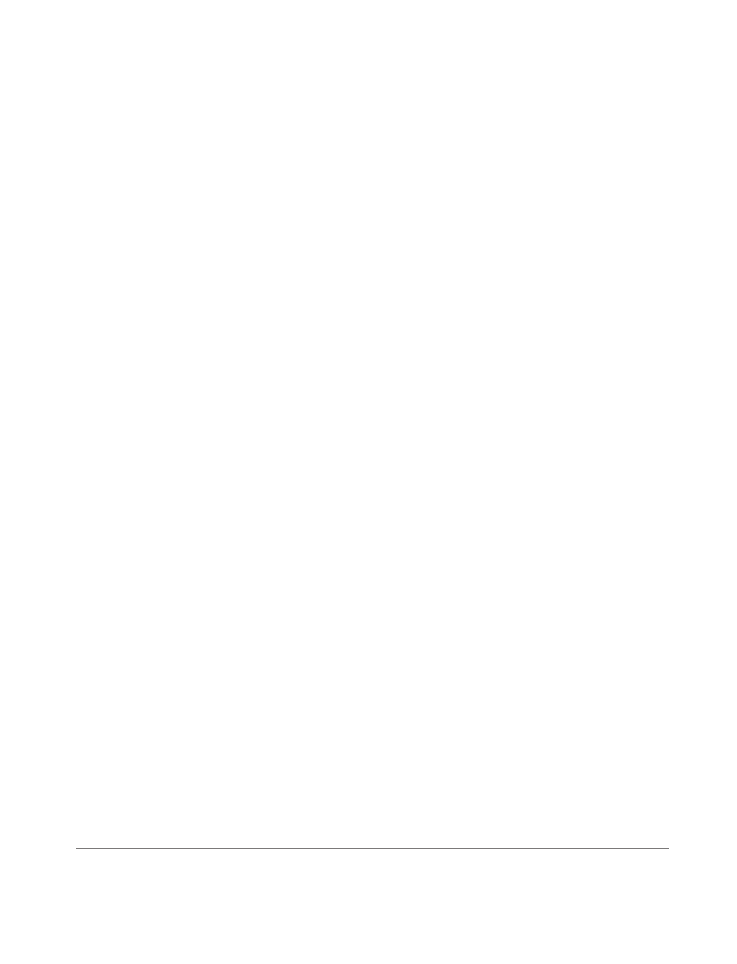
críticos. Do grupo formado por Alberto Torres, nos
anos de 1920, alguns intelectuais se destacaram
no movimento higienista, como Oliveira Vianna,
conhecido por suas interpretações raciológicas e
eugênicas sobre os brasileiros.
Dada essas interpretações iniciais, nos de-
frontamos com o seguinte problema: é possível
entender Alberto Torres como um intelectual ca-
racterizado pelo pessimismo racial em relação ao
povo brasileiro?
Para o estudo do problema de pesquisa, realiza-
mos um levantamento de fontes secundárias sobre
os pensamentos do autor e do movimento higienista
brasileiro. Posteriormente analisamos as fontes pri-
márias, delimitadas pelos livros de Alberto Torres.
Neste artigo, em termos metodológicos, não po-
demos perder a perspectiva de que qualquer discurso
é datado, por isso, sua interpretação descontextua-
lizada apenas pode produzir anacronismos. Ignorar
o contexto e os valores da época comprometeria
essa narrativa. Por isso, tivemos a preocupação de
interpretar as relações entre ideais higienistas e
o pensamento político de Alberto Torres em uma
especificidade marcada pelo tempo e espaço. Ou
seja, o estudo de uma mentalidade própria do início
do século XX, envolvendo um contexto de busca de
modernização do Brasil. Entender os ideais desse
intelectual nos exigiu uma aproximação com o
conceito de história das mentalidades. Na primeira
geração dos Annales, Lucien Febvre e Marc Bloch,
atraídos pela psicologia coletiva, abriram o enfoque
na história das mentalidades (Le Goff, 2005). Eles
abriram o caminho para novos historiadores, os
da terceira geração dos Annales, como Jacques Le
Goff. Mentalidade é uma noção vaga, ambígua, mas,
segundo Le Goff (2005), um dos conceitos que mais
deu oxigênio à história, pois busca a especificidade
de determinado período.
Desse modo, entender o higienismo e a mentali-
dade de Alberto Torres em seu contexto, com suas
contrariedades e especificidades, é relacionar-se
com uma época específica que tinha como objetivo
explicar os problemas do Brasil. A partir desse olhar,
que não busca a construção de um modelo puramen-
te estruturante reproduzível em diversos contextos,
percebe-se, ao contrário, as especificidades de dada
sociedade, em determinado tempo.
O pensamento de Alberto Torres e
o discípulo pessimista (1910-1930)
O Brasil formou, na primeira metade do século pas-
sado, um conjunto de intelectuais que colocaram
como problema discutir o país. Para esses pensa-
dores, os problemas brasileiros residiam na falta
de intervenção do Estado na solução de questões
sociais. Tratava-se de cuidar da população brasileira.
Com essa tese, os intervencionistas construíram
uma mentalidade crítica sobre o cenário político,
social e econômico, apontando os caminhos a serem
seguidos pelo Estado na melhoria das condições de
vida do povo, bem como indicaram como melhor
explorar o potencial natural nacional (Murari, 2002).
Um dos intelectuais mais discutidos nessa pers-
pectiva de intervenção estatal foi Alberto Torres. Ro-
tulado como conservador e autoritário, ele teve seu
pensamento relacionado com o integralismo1, com o
racismo, com o antiliberalismo e o antissocialismo,
estando assim na posição de destacado intelectual
da direita brasileira.
Para Santos (2008, p. 30):
Identificamos componentes de uma grande linha
ou corrente, as figuras de Silvio Romero (1851-1914),
Euclides da Cunha (1866-1909), Alberto Torres
(1865-1917), Oliveira Vianna (1883-1951) e Nina
Rodrigues (1862-1906). Esses intelectuais forne-
ceram as categorias que alimentaram as obras de
um grande número de autores. Um elemento unia
a todos: vários dos elementos conceituais constitu-
tivos de seus textos são originários dos trabalhos
anteriores de intelectuais como Joseph Arthur de
Gobineau (1816-1882), Lapouge e Gustave Le Bon.
Apropriando-se dos estudos de Alberto Torres, es-
pecificamente, analisando a relação destes com uma
mentalidade própria do período, como o higienismo,
1 Alexandre Batista (2006) demonstra a influência de Alberto Torres, Euclides da Cunha e Farias Brito sobre o pensamento de Plínio Sal-
gado, líder integralista brasileiro, responsável pela organização política da Ação Integralista Brasileira, versão nacional do fascismo,
nos anos de 1930.
Saúde Soc. São Paulo, v.23, n.4, p.1445-1457, 2014 1447
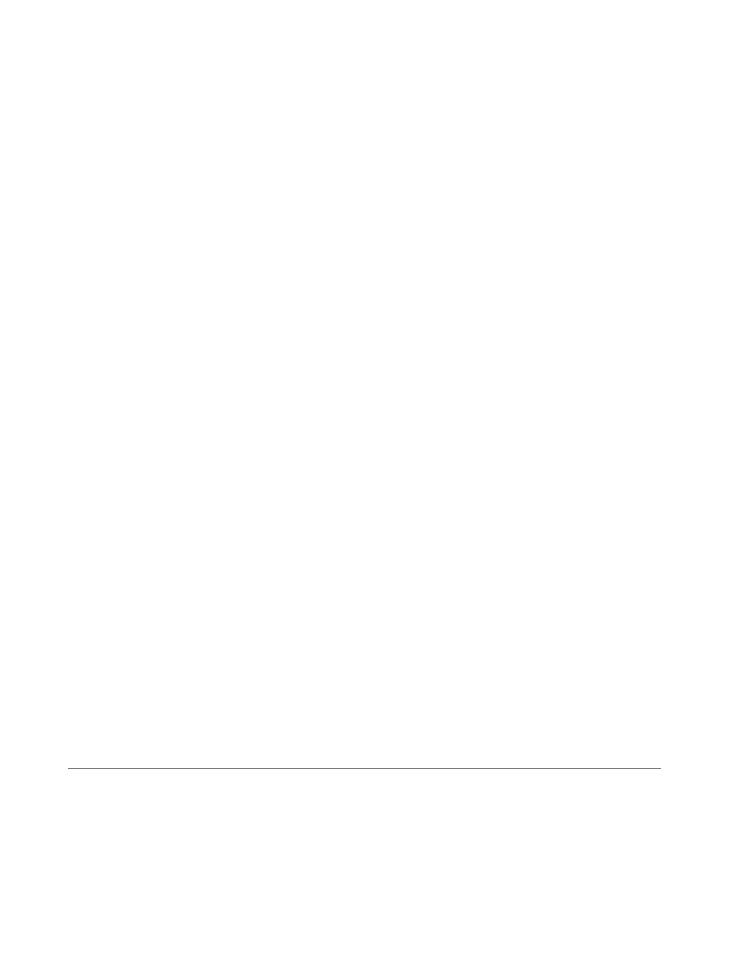
buscamos a compreensão de suas especificidades.
Entender até que ponto o seu pensamento está atre-
lado ao determinismo racial.
Ter os escritos de Alberto Torres como objeto de
estudo não nos possibilita somente conhecer suas
posições, mas nos aproximar de uma mentalidade
intelectual brasileira que não possui uma unidade,
não é homogênea, mas é construída a partir de um
cenário característico daquele tempo e espaço,
envolvendo o ecletismo intelectual, a heterodoxia
política e filosófica e o pensamento engajado nos
problemas do país.
Em termos biográficos, Alberto de Seixas Mar-
tins Torres (1865-1917) formou-se em direito, foi
militante abolicionista e republicano. Na Primeira
República foi deputado estadual, federal e presiden-
te do Estado do Rio de Janeiro; foi também ministro
da Justiça e Negócios Interiores e do Supremo Tri-
bunal Federal. Como presidente de Estado do Rio de
Janeiro, preocupou-se com o saneamento básico e
a instrução pública. Com a aposentadoria precoce,
usou sua experiência política para escrever seus
livros (Bariani, 2007).
Sua obra é bastante polêmica, pois, embora possa
ser apontado como um liberal, também é colocado
como antiliberal, já que suas ideias organizacio-
nais foram referências para fascistas brasileiros,
como Plínio Salgado. Porém, se fossem lidos hoje,
afirma Dante Moreira Leite (1976), seus trabalhos
suscitariam teses da esquerda brasileira. Essas
prerrogativas podem apontar inicialmente para a
complexidade dessa personagem histórica.
Em um primeiro instante, seus estudos não
causaram grande impacto. Tiveram muito mais
repercussão na década de 1930, com a influência
da Sociedade de Amigos de Alberto Torres. Entre os
integrantes desta sociedade encontrava-se Oliveira
Vianna, um nome de destaque no cenário político na-
cional e no movimento higienista, adepto das teorias
deterministas-raciais e da eugenia negativa.2 A rela-
ção de Torres com Vianna é bastante próxima, sendo
este considerado o grande discípulo do primeiro.
Vianna tornou-se um higienista na área do
direito, como importante intelectual, com suas
ideais sendo amplamente divulgadas e associadas
a Alberto Torres. Contudo, existem diferenças entre
os dois pensamentos, o que queremos demonstrar
nas próximas linhas.
Oliveira Vianna era um intelectual muito influen-
ciado por uma mentalidade determinista-racial,
que, embora contrastasse com as propostas inter-
vencionistas, ainda no início do século XX ocupava
um lugar de destaque no debate sobre os problemas
brasileiros. Essa vertente teórica da eugenia ne-
gativa respaldava-se em “teorias científicas” que
pregavam que o conceito de raça era mais do que
ter determinadas características étnicas; era ter
características psicológicas coletivas (Leite, 1976).
Ou, ainda, que a constituição de uma raça homo-
gênea era pré-requisito para a construção de uma
identidade nacional (Maio, 2010).
Os intelectuais adeptos dessas prerrogativas
faziam uma análise do nosso povo a partir de ca-
racterísticas psicológicas coletivas herdadas dos
negros, índios e brancos (Leite, 1976). Influenciados
por escritores europeus, eles acreditavam em um
determinismo biológico que condenava o brasileiro
a ter certas características, que seriam herdadas
geneticamente. Em resumo, nosso povo teria um
pensamento e atitude inatos, que eram herdados da
raça negra, indígena e branca.
Esse discurso em torno da raça tornou-se refe-
rência para as elites brasileiras, e Oliveira Vianna
foi influenciado por esse contexto, defendendo
ideias inspiradas em Georges Vacher de Lapouge,
antropólogo, Gustave Le Bon, psicólogo e sociólogo,
2 Dias (2008) revela as divergências da eugenia francesa (positiva) em relação à inglesa, norte-americana e alemã (negativas), que sus-
tentaram políticas de esterilização dos doentes em seus países, defendendo a seleção dos mais aptos. A eugenia francesa, ou positiva,
fortemente influenciada por uma cultura católica, via na esterilização de doentes um método anticoncepcional que atentava contra a
vida. Na França, a eugenia positiva foi mais influenciada pela puericultura de Adolphe Pinard, que defendia a qualidade da gestação e dos
cuidados com a criança para o desenvolvimento de uma população mais saudável. O eugenismo francês concentrou-se mais em medidas
preventivas e educacionais. “Além disso, a puericultura de Pinard se desenvolvia e ganhava a simpatia do poder público e da Igreja, o que
afastou ainda mais as possibilidades de uma eugenia negativa” (Dias, 2008, p. 76). A eugenia negativa era defendida por Francis Galton,
e teve mais influencia na Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos; postulava a esterilização e regulamentação de casamentos a partir de
uma regulação do Estado e de critérios da ciência eugênica.
1448 Saúde Soc. São Paulo, v.23, n.4, p.1445-1457, 2014

e Joseph Arthur de Gobineau, escritor. Todos eles
franceses, tinham também em comum a defesa da
desigualdade entre as raças.
Sem demora, intelectuais brasileiros, como
Oliveira Vianna, explicavam o fracasso econômico
brasileiro pelo determinismo racial. Segundo esse
pensamento, os brasileiros estavam constituídos
por raças heterogêneas, com baixa capacidade para
o trabalho. Portanto, o Brasil nunca poderia ser uma
nação economicamente forte. Com o intuito de me-
lhorar sua imagem global, os deterministas defen-
diam uma raça homogênea no país (Skidmore, 1998).
O determinismo biológico das limitações das
raças dos brasileiros provocava um ambiente de
pessimismo em relação ao desenvolvimento do
país. Muitos viam as características psicológicas
herdadas dos índios e negros como um obstáculo
intransponível para o desenvolvimento do Brasil,
entre os quais Oliveira Vianna, que defendia a tese de
que o país era formado por uma aristocracia muito
bem dotada geneticamente de qualidades positivas
herdadas dos europeus. Porém, em contraposição,
possuía um povo disperso e heterogêneo, responsá-
vel pelo atraso brasileiro (Vianna, 1959).
Muitos intelectuais estavam preocupados com
uma raça que desenvolvesse o país e garantisse a
formação de um Estado nacional. Essa ideia envolvia
uma unidade de território, língua e raça. Na época,
essa mentalidade era um dos principais definidores
da nação, do povo (Hobsbawm, 1990).
Até mesmo um dos intelectuais estrangeiros
mais importantes ligados à esquerda, influenciado
pelo pensamento da época, indicava a raça como um
elemento relevante na constituição nacional. Anto-
nio Gramsci escreveu: “[...] na América do Sul [...] a
composição nacional é muito desequilibrada mesmo
entre os brancos, mas complica-se ainda mais pela
imensa quantidade de índios, que em alguns países
formam a maioria da população” (1982, p. 21-22).
A valorização da homogeneidade racial foi um
discurso seguido no Brasil, sendo a heterogenei-
dade um mal, como pode ser entendido a partir das
palavras de Gramsci.
Esse discurso em torno da unidade racial era
uma tese defendida veementemente pelo advogado e
eugenista Oliveira Vianna. Ele ganhou notoriedade,
e suas ideias foram associadas ao pensamento de
Alberto Torres. Podemos, então, hipoteticamente
pensar que Torres comungava das mesmas teses.
Contudo, observamos no segundo uma crítica
contundente em relação ao determinismo racial
na constituição nacional. Para ele, a raça não era
relevante para o desenvolvimento do país:
Pareceu-me oportuno destruir essas ilusões. A dú-
vida sobre o valor das raças no Brasil, nos centros
intelectuais de nossas cidades, é mais um resultado
do preparo – todo receptivo – dos que nos dirigem
a opinião, que os conduz a tomar por dogmas tudo
quanto os livros estrangeiros nos trazem, inclusive
suas sentenças condenatórias, arestos com que o
instinto político das nações adiantadas, dando por
superioridade absoluta a superioridade eventual e
relativa que mostram hoje, fazem títulos à domi-
nação das que chamam “raças inferiores” (Torres,
1990, p. 12).
Fica patente em sua obra a condenação das
teorias deterministas. Para Torres, estas teriam
um interesse político e ideológico. Faz uma crítica
aberta a Gobineau, Lapouge e certas filiações políti-
cas e sociais do determinismo. Conta que surgiram
de origens e de fontes diversas, quase na mesma
geração, chegando, por métodos todos científicos,
à mesma conclusão: a afirmação da superioridade
morfológica, irredutível, de certas raças e certos po-
vos. Com esse quadro, a antiga aristocracia recorreu
à ciência na busca de títulos de superioridade. Con-
tudo, outros cientistas, segundo ele, comprovaram
a falsidade dessas teses.3 (Torres, 1982b).
Isso posto, Torres mostrou que a relativa superio-
ridade que a Europa usufruía em relação ao Brasil
era temporária, e não definitiva. Era possível inter-
vir na raça brasileira por meios como a educação e
a saúde. Percebe-se aí a adoção do culturalismo de
Franz Boas, de forte discurso científico antirracista
do período:
3 Torres (1982) argumentava, por exemplo, que a história negou a eterna superioridade branca nos rumos da civilização. Os trabalhos
dos egiptólogos já haviam desvendado uma civilização, anterior à helênica, rica em descobrimentos e investigações, arrojada e perita
nas construções da arte monumental, relativamente apurada, no desenho das artes plásticas. Era uma raça trigueira, se não escura. As
probabilidades de sua origem, asiática ou africana, excluem qualquer filiação à estirpe dos homens do Centro e do Norte da Europa.
Saúde Soc. São Paulo, v.23, n.4, p.1445-1457, 2014 1449

Esta prova bastaria para aniquilar a pretensão
de superioridade das raças loiras, ou antes,
da raça loira teutônica, pois que, dentre os
próprios loiros, alguns – a imensa massa
dos braqúicéfalos do Centro da Europa, por
exemplo – são repelidos pelos grandes eleitores da
ciência selecionista; mas a ciência, prosseguindo
em suas indagações, chegou à conclusão de que,
ao lado das diversidades físicas, verificadas na
estrutura humana, nada, absolutamente nada,
autoriza a afirmação de uma desigualdade radical,
na constituição cerebral, em seu funcionamento,
em seu poder de desenvolvimento. A relação entre
os caracteres físicos e os caracteres psíquicos
jamais se conseguiu afirmar com dados defi-
nitivos e irrefutáveis. Recentes investigações,
do mais ilustre, talvez, dos antropologistas
americanos, o sr. Boas, demonstraram que os
caracteres somáticos de uma raça alteram-se,
notavelmente, de uma geração para outra, com
a simples mudança para um meio novo (Torres,
1982b, p. 59).
Portanto não haveria um caráter hereditário
definitivo. A cultura e a influência do meio é que de-
terminariam as qualidades psíquicas do povo. Então,
condenar o povo brasileiro por suas características
hereditárias nacionais, como pregavam os determi-
nistas, não tinha base científica. Ao contrário, era
possível mudar o povo; só era preciso educá-lo pela
garantia de intervenção na saúde e educação.
Assim, os dois pensamentos, de Torres e de Vian-
na, possuíam uma divergência considerável, como
indica Lima Sobrinho (1978, p. 323):
Havia também, em Oliveira Viana, alguma coisa de
desalento e pessimismo. Não confiava no homem
brasileiro. Deixara-se aprisionar pelo preconceito
de raças e aceitara, em relação aos mestiços, dou-
trinas estrangeiras que não passavam, no caso
brasileiro, de manifestações teorizantes, como
tantas outras que êle profligava. Já Alberto Torres,
libertando-se de todos êsses preconceitos, manifes-
tava sua confiança no homem brasileiro, confiança
no futuro e um otimismo tranquilo com os seus
alicerces firmados na realidade nacional.
Uma ruptura, que indicava em Alberto Torres
a denúncia da importação de teorias raciológicas
europeias, já que ele percebia que elas nos negavam
qualquer otimismo em relação ao futuro. Com isso,
observamos diferenças importantes entre Alberto
Torres e Oliveira Vianna. Contudo, quais são as
aproximações, que caracterizam essa relação de
mestre e discípulo?
Algumas das ideias organizacionais de Torres
eram seguidas por Vianna, principalmente aquela
que indicava a necessidade de um poder centraliza-
dor e moderador no comando dos Estados; e as que
criticavam o absenteísmo liberal estatal. Fato que
faz Nelson Saldanha (1978) sugerir uma continuação
entre os dois pensamentos. A defesa da centraliza-
ção é o ponto-chave para entendermos a relação
entre os dois autores. A crença em um Estado ativo
sobre os problemas nacionais era comum entre eles
(Fernandes, 2007).
Na visão de Torres um Estado forte atuaria como
regulador de todas as funções sociais, estendendo a
sua ação sobre todos os campos possíveis de inter-
venção, como instrumento de proteção, de apoio, de
equilíbrio, de cultura. Ele defendia uma “democracia
social”, que teria a função de forjar, através de um
Estado centralizador, uma identidade nacional.
Essas prerrogativas foram referências nas obras
de Oliveira Viana. Sua influência sobre o discípulo
é caracterizada pela origem da defesa de um Estado
forte (Sousa, 2005).
O princípio político de um Estado forte torna-se
comum nos anos de 1910 e 1920, não somente para
Alberto Torres. O Brasil vivia um clima de decepção
com a República. As críticas feitas à Monarquia
esvaziavam-se, e os mesmos problemas brasileiros
continuavam. Concomitantemente, as críticas caí-
ram também sobre o modelo econômico, e o libera-
lismo se tornou alvo da intelectualidade brasileira.
Essa tradição foi marcada por concepções antilibe-
rais, e ostentava uma ideia “realista”, que resistia
às soluções econômicas transplantadas da Europa
para a realidade brasileira. São representantes dessa
tradição Paulino Soares José de Souza, Silvio Rome-
ro, Oliveira Vianna e Alberto Torres (Freitas, 2000).
Em Alberto Torres podemos observar essa pos-
tura política, que não entendemos como antiliberal,
mas, sim, intervencionista, reformista, dentro do
mesmo liberalismo revisitado. Nos escritos de Alber-
to Torres existe uma intencionalidade de mediação
1450 Saúde Soc. São Paulo, v.23, n.4, p.1445-1457, 2014

entre as elites e o povo, que cria um liberalismo às
avessas, paradoxal, intervencionista, mas ainda
liberal.
Torres: intervenção estatal
e higienismo
Para mudar o quadro adverso que condenava o povo
brasileiro à miséria, a proposta de Torres pautava-
-se na garantia de direitos constitucionais assegu-
rados por recursos estatais. Era preciso mudar as
condições de vida para mudar o Brasil. O primeiro
passo seria a formação de um Estado nacional que
construísse uma unidade política e cultural.
Em seu pensamento, o Brasil seria num primeiro
sentido superficial. Era preciso fomentar um sen-
timento de associação dos indivíduos e famílias
que habitavam aqui, protegidos pelo conjunto dos
órgãos da sua política, ou seja, o Estado. Contudo
em sua época, a formação do Estado nacional esta-
va atrelada à unidade racial. Tese que ele refutava,
pois chegou à conclusão de que a raça é, de todos os
elementos da nacionalidade, o menos ativo. O Brasil
contava exemplares de raças extremas, mas só um
cuidadoso estudo etnológico autorizaria a classifi-
cação de cada alemão de Blumenau como germânico
e de cada italiano, espanhol ou português de São
Paulo, de Minas e do Rio de Janeiro, como latinos.
Portanto, a variedade de raças também não impedi-
ria a formação do Estado nacional, nem mesmo do
sentimento de nacionalidade (Torres, 1982b).
Formado o Estado nacional, o segundo passo
seria a intervenção nos problemas do país. Que para
ele eram claros:
Possuímos uma enorme população ociosa e mise-
rável, sabem-no todos. Esta população ou vagueia
pelos desertos, sem polícia, do país, ou apodrece,
nas regiões centrais, dia a dia mais alheada do
trabalho. Que fazer por esta gente?
Nada? Mas por quê? De todos os tempos, a
ideia da assistência, do socorro, do remé-
dio à calamidade, à miséria, à fome dominou
instituições e regimes sociais, sem que nenhuma
teoria as repelisse; a organização secular das
sociedades não é outra coisa mais que o lento
processo formador desse conjunto de hábitos e de
instituições que entretêm a associação espontânea
dos compatrícios, para a distribuição dos bens da
vida - a partir do mínimo da habitação e do alimento.
Hoje, os órgãos e aparelhos desta organização
espontânea estão mostrando, em toda a parte, a sua
insuficiência: a política acode às necessidades com
a legislação social (Torres, 1990, p. 25).
As políticas adotadas em seu tempo pelo Estado
eram insuficientes para resolver os problemas bra-
sileiros. O nosso povo estava doente e abandonado
pela inanição do Estado. Para Torres, as grandes
causas de fraqueza física do brasileiro tinham,
principalmente, três naturezas: cósmico-sociais,
decorrentes da falta de estudo do clima e das condi-
ções da vida sã em nossos meios, geralmente úmidos
e quentes, e das sucessivas transformações clima-
téricas; escassez e impropriedade dos alimentos; e
causas econômicas, sociais e pedagógicas, relativas
à prosperidade e à educação do povo. Os fatores
patológicos cooperavam para a nossa decadência
física. Em relação às medidas profiláticas, como as
campanhas de controle epidêmico, Torres compre-
endia que todos os esforços governamentais eram
incompetentes, ou simples desvios, na localização
dos fatos reais. Mal atacavam as moléstias e nunca
extinguiam as predisposições mórbidas. Era preciso,
antes de tudo, resolver o problema geral da economia
nacional (Torres, 1982b).
O pensamento de Torres tem muitas relações com
os higienistas, de forma geral, e com os médicos,
em particular. Embora fosse bacharel em direito,
formado pela Escola do Largo São Francisco, em
São Paulo, ele cursou dois anos na Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, desistindo do curso em
1882. Contudo, como intelectual e político, nunca
abandonou os temas referentes à saúde pública. Por
exemplo, tecendo críticas aos governos nacionais no
início da década de 1910:
Faltando-lhes o espirito de conjunto, a filiação de
uma clara e consciente comprehensão da nossa
indole e de nossos destinos, os programmas tan-
genciavam os problemas sem os enfrentar, e as
próprias medidas uteis applicadas caiam por terra,
por incompletas, ou porque não as acompanhassem
outras que as deviam seguir. Durante toda a vida
da Republica, talvez um só problema de caracter
Saúde Soc. São Paulo, v.23, n.4, p.1445-1457, 2014 1451

nacional foi levado a termo: o saneamento do
Rio de Janeiro; mas esta conquista, salvando sua
população de seu voraz inimigo e rehabilitando
nossa reputação no estrangeiro, deixou de produzir
todos os seus benefícios, porque faltaram, por ou-
tros lados, providencias mais vastas e necessárias
(Torres, 1910, p. 1).
Posteriormente, na década de 1930, seu pensa-
mento social torna-se referência para intelectuais
importantes na intervenção higienista, como o mé-
dico Edgar Roquette-Pinto (1884-1954), diretor do
Museu Nacional e membro da Academia Nacional
de Medicina, que destacou-se pela fundação de uma
rádio difusora com objetivos educacionais. Roquette-
-Pinto participava da conhecida Sociedade de Amigos
de Alberto Torres. A associação, por intermédio de
seus intelectuais filiados, médicos, engenheiros,
políticos e advogados, influenciou a formação dos
Clubes Agrícolas, que tinham como objetivo promo-
ver nas escolas uma educação higiênica voltada para
as questões do campo Nos termos da época:
ções de vida da população (Maio, 2010). Eles tiveram
um papel preponderante para que se pensasse à
época, e ainda pensemos hoje, a produtividade como
resultado das condições de saúde dos trabalhadores
e não como produto de suas características raciais.
Assim, as condições sociais, econômicas e educacio-
nais, em suma, as condições ambientais passaram
a ser mais significativas do que os determinantes
raciais (Stepan, 2005; Maio, 2010). Isso provocou
uma mudança na consciência nacional sobre os
problemas brasileiros. Era preciso agir para sanear
o país. Segundo Hochman e Lima (1996, p. 23):
Os conhecimentos dos médicos higienistas sobre
a saúde dos brasileiros e sobre as condições sa-
nitárias em grande parte do território nacional,
revelados ao público em meados da década de 1910,
absolviam-nos enquanto povo e encontravam um
novo réu. O brasileiro era indolente, preguiçoso e
improdutivo porque estava doente e abandonado pe-
las elites políticas. Redimir o Brasil seria saneá-lo,
higienizá-lo, uma tarefa obrigatória dos governos.
Os trabalhos realizados sobre Clubes Agrícolas: ha-
bitação rural, educação sanitária, higiene escolar,
alimentação, estudos sobre Alberto Torres e sua
obra, valor do homem nacional, galinocultura, etc.,
bem atendem o objetivo que tal empreendimento vi-
sava, qual seja fazer crer que dentro do nosso meio,
com os nossos recursos, se forma uma consciência
nacional, tendencia a realizar a grande aspiração
de Alberto Torres que é justamente formar do Brasil
a Patria comum com a organização que lhe é mais
conveniente. (SOCIEDADE..., 1935, p.14)
Os higienistas brasileiros defendiam as mesmas
proposições de Torres. Os médicos, a partir dos argu-
mentos de defesa da ciência, passaram a determinar
a melhor forma para cada um cuidar de seu corpo,
em um projeto de mudanças de hábitos em relação a
ele, o que passaria pela necessidade de construção de
projetos nacionais nos campos da saúde e educação.
Já no século XIX, Gondra (2004), ao analisar as teses
médicas da Faculdade Medicina do Rio de Janeiro,
revela o papel idealizado dos médicos na orientação
de políticas educacionais que sustentassem um
projeto nacional de modernidade.
Os higienistas brasileiros exigiam do Estado
uma atitude construtiva para a melhoria das condi-
Os higienistas e Alberto Torres reconheceram a
educação e a saúde públicas como os principais pro-
blemas do país. Mas esse quadro não era exclusivo
das capitais litorâneas; agravava-se ainda mais no
interior, no campo.
Torres era um defensor incondicional da tradição
agrícola brasileira, daí a importância de se preocu-
par com o interior. Da mesma forma, os médicos,
por meio de um relatório de Artur Neiva e Belisário
Penna, denunciavam o abandono do interior (Pen-
na, 1923). O discurso pelo saneamento dos sertões
habitava as entidades científicas da saúde no início
daquele século, o que aproximava ainda mais o pen-
samento de Alberto Torres da causa higienista, pois
ele era um defensor do desenvolvimento do campo
como mola propulsora da economia brasileira. Essa
tendência de valorização do interior ganhou muito
espaço na década de 1920 (Hochman, 1998).
A preocupação dos higienistas brasileiros com as
doenças da população rural era central em seu dis-
curso, pois defendiam que o trabalhador do campo
estava doente por falta de intervenção, de uma ação
preventiva, e não por inferioridade racial (Stepan,
1998; Hochman, 1998).
Nancy Stepan (2005) analisa que diferentemente,
1452 Saúde Soc. São Paulo, v.23, n.4, p.1445-1457, 2014

por exemplo, da Eugenia negativa os brasileiros e os
latino-americanos não eram radicais na defesa da
esterilização e segregação racial, pois preferiam a
prevenção, com uma política de democratização de
hábitos higiênicos, e valores morais que evitassem
o alcoolismo, doenças infecciosas e sexualmente
transmissíveis. Outra especificidade estava na
discussão de formação de uma identidade nacional
(Stepan, 2005). Para Torres a formação da identidade
nacional perpassava a necessidade de uma organi-
zação nacional. Assim, o Estado brasileiro poderia
intervir com eficiência, e poderíamos confiar na
melhoria das condições de vida e de trabalho de
nosso povo. Poderíamos ter otimismo em relação
ao futuro. Em seus termos:
Não temos senão motivos, assim, para confiar na
energia e na capacidade das nossas raças.
Ao fator moral da confiança cumpre juntar, con-
tudo, outros, mais importantes, que devem visar
à solução dos nossos mais sérios problemas: a
consolidação do caráter do povo, pela educação; a
defesa da sua economia física, pela alimentação e
pela higiene pessoal, doméstica e pública; a defesa
da sua economia social, pela política econômica. A
causa principal do êxito de quase todo imigrante
nos países novos é o estímulo da esperança de
fortuna sobre terras ricas, prometedoras e férteis:
é um fenômeno, verificado, de psicologia social,
na história das migrações. É preciso que a nossa
sociedade mantenha, nos herdeiros, e estimule,
nos indígenas e nos descendentes desses colonos
forçados que foram os escravos, a mesma ambição
laboriosa (Torres, 1982b, p.71).
Nisso consistiu o idealismo de Torres e dos hi-
gienistas brasileiros, na negação das teorias deter-
ministas e na busca da intervenção estatal através
de uma melhor organização.
A degeneração racial do brasileiro, mentalidade
ainda presente entre autores de seu tempo, foi refu-
tada. Ele reagiu a essa concepção e acentuou que os
fatores que levavam a tal abatimento eram de ordem
social, residentes na não intervenção estatal nos
campos da assistência, da saúde pública, da educa-
ção. Inovou contrariando o pensamento brasileiro
determinista e construindo uma análise social da
realidade brasileira (Souza, 2005; Bariani, 2007).
Entender Torres nesse contexto é percebê-lo não
como um antiliberal, mas como representante de
uma transição do predomínio de ideias liberais es-
tritas para a articulação de um ideário republicano.
Como homem público, e de governo, ele passou da
prática à teoria, daí seu “realismo”. Assim, o político
liberal e republicano sofreu uma cisão em seu pensa-
mento político. Seu pensamento, portanto, deriva do
contraste por ele percebido entre a prática política
e as teorias liberais, ressignificadas no contexto
brasileiro. Daí a descrença na importação de ideias
estrangeiras como salvadoras (Souza, 2005).
Essa mentalidade, rotulada como antiliberal,
significou a adesão ideológica de Torres a uma posi-
ção autoritária e fascista? Torres era um antiliberal,
com prenúncios fascistas e autoritários? Ou um
reformista dentro das próprias concepções liberais?
Embora Torres estivesse decepcionado, jamais
renegou seu republicanismo, diferentemente de
Oliveira Vianna, que, a despeito da admiração que
nutria pelo mestre, fazia questão de afirmar e ressal-
tar as divergências frente às posturas extremamente
“liberais” de seu inspirador (Fernandes, 2007).
Torres parece em sua época construir um ideário
reformista liberal, contudo com especificidades para
a realidade brasileira. Sabia que a mão invisível do
Estado não dava conta das demandas sociais do país.
Os intelectuais brasileiros que tinham como
referência o liberalismo econômico clássico não
observavam que os próprios europeus, já nos séculos
XVIII e XIX, também propunham uma reforma do
liberalismo. Pressionadas pelos movimentos sociais,
França e Inglaterra também aderiram a uma menta-
lidade de Estado interventor nas questões sociais,
cedendo à pressão da oposição e de seus críticos.
Comparativamente, na Europa dos séculos XVIII
e XIX começa a se sedimentar um discurso de melho-
ria das condições de vida, o que só se sustentaria com
a intervenção do Estado. Com a Revolução Francesa,
que significou o advento do liberalismo econômico,
as políticas públicas de saúde estavam fadadas ao
abandono. Se antes, em governos absolutistas, o
Estado não se manifestava efetivamente em relação
a essas questões, agora, com o Estado mínimo do
liberalismo, no qual os gastos dos governos deviam
ser reduzidos, o quadro poderia se agravar. Contudo,
o liberalismo promoveu o crescimento do Estado,
Saúde Soc. São Paulo, v.23, n.4, p.1445-1457, 2014 1453

quando atendeu às solicitações dos movimentos
sociais e dos médicos higienistas para a construção
de políticas públicas de saúde.
Segundo Rosen (1994), Robert Owen4 tinha ante-
visto, nos primeiros anos de Revolução Industrial,
a necessidade de ação do Estado para pôr freio em
algumas das consequências da liberdade econômica.
O discurso intervencionista convenceu os governos
da necessidade de ação do Estado, mesmo este sendo
liberal. Entendemos que o discurso de Alberto Torres
representaria, como no caso europeu, a intenção
do intelectual e do político em reformar o Estado,
trazendo para a agenda pautas sociais e cedendo às
demandas populares, dentro de um ideário liberal e
republicano e não antiliberal.
Torres, assim como os higienistas europeus,
desejava uma ação efetiva do Estado sobre os pro-
blemas nacionais. Contudo, isso não significou a
negação do liberalismo. Em seus termos:
Nunca tivemos política econômica, educação eco-
nômica, formação de espírito industrial, trabalho
de propaganda e de estímulo para a aplicação das
atividades. Organizamos, pelo contrário, uma
“instrução pública”, que, da escola primária às
academias, não é senão um sistema de canais de
êxodo da mocidade do campo para as cidades e da
produção para o parasitismo. A política fiscal, moti-
vada unicamente pelas necessidades dos tesouros,
foi sempre adversa à produção - suporte efetivo,
afinal, de toda a carga das tributações, diretas ou in-
diretas. O protecionismo, recente, viu contrabalan-
çadas as vantagens que prometia à produção, pelos
entraves à circulação e ao comércio, pelos tributos
estaduais e municipais, pelos açambarcamentos,
pelo enxerto de intermediários e de especuladores
(Torres, 1982b, p. 129).
Vemos, então, características liberais presentes
em sua obra, como críticas ao protecionismo e à
tributação da produção econômica. Mesmo assim,
de maneira eclética, chamava a atenção do poder pú-
blico para os problemas sociais, o que se explica no
caso europeu pelas pressões dos movimentos sociais
e também higienistas. No contexto brasileiro, os mo-
vimentos populares também preocupavam Torres.
Para ele, era preciso a organização de uma república
social, prudente e conservadora, para que o povo
não se revoltasse e tomasse o poder (Torres, 1982a).
Sevcenko (1995) relata esse contexto negativo, ci-
tando os descontentamentos de Lima Barreto com
o regime republicano real que havia abandonado os
seus princípios e ignorado as parcelas mais pobres
do país. Assim, também, as pressões dos críticos e da
opinião pública no Brasil cresceram, demandando a
necessidade de uma reforma do Estado para ameni-
zar as lutas sociais. Além desse aspecto, houve uma
crescente relação de interdependência entre as elites
e o povo. Nesse cenário tratar a saúde individual-
mente, de forma isolada, tópica, não solucionava os
problemas das novas cidades urbanas, do início do
século XX. Era preciso tratar coletivamente a saúde,
o que demandou uma obrigatória intervenção do
Estado (Maio, 2010; Hochman, 1993)
Comparativamente, na Europa, os higienistas
influenciaram o Estado nessa intervenção (Rabin-
bach, 1992). No Brasil, os higienistas influenciaram
e foram influenciados pela mentalidade dos intelec-
tuais. E juntos, no pós-1930, influenciaram o Estado
brasileiro, que se tornou mais forte, centralizado e
ativo nos problemas sociais.
Além disso, o pensamento de Torres foi referên-
cia para as teorias higienistas. Isso porque, além
desse caráter de Estado interventor nas demandas
sociais, como já observamos, negava as teorias de-
terministas (Marques, 1997).
A partir da década de 1930, o pensamento social
brasileiro e os seus intelectuais abandonaram as teo-
rias que julgavam nossa raça debilitada, valorizando
a mestiçagem (Schwarcz, 1993; Marques, 1997). Nas
palavras de Lilia Schwarcz (1993, p. 287):
Raça permanece, porém, como tema central no
pensamento social brasileiro, não mais como fator
de desalento, mas talvez como fortuna, marca de
uma especificidade reavaliada positivamente. [...]
No país, vez por outra, é ainda possível ouvir a
utilização do argumento, seja para reafirmar certa
diferença cultural entre as raças, seja para afirmar
uma valorização da mestiçagem.
4 Crítico galês do capitalismo e da liberdade econômica. Foi um dos idealizadores do trabalho organizado em cooperativas.
1454 Saúde Soc. São Paulo, v.23, n.4, p.1445-1457, 2014

Na mentalidade do período que envolve os higie-
nistas e Torres, cuidar do povo, usando uma analogia
de Paul Veyne (1995), seria educá-lo como a uma
criança que deve ser cuidada. Antes de tratá-lo como
um fluxo contínuo de água, em que o papel do Estado
era mínimo, era necessário prepará-lo para a auto-
nomia. Tratar o povo como uma criança exigia um
Estado presente, como um bom pai, atento aos seus
problemas, mas criando as demandas para sua fu-
tura autonomia. Não percebemos essa mentalidade
brasileira dos anos de 1910 e 1920 como antiliberal.
A própria filantropia liberal europeia, nos ensina
Jacques Donzelot (1980), no século XVIII, vê os traba-
lhadores europeus como imorais. Ela quer afastá-lo
dos vícios, educá-los, modificar seus hábitos. O povo
passa a ser pensado como uma criança que não sabe
o que é bom, então, o filantropo pretende ensiná-lo
a viver. Racionaliza que isso fará o povo crescer
e ganhar autonomia, podendo se sustentar sem o
auxílio financeiro dos governos.
Alberto Torres e os higienistas contribuem para
a construção de uma mentalidade semelhante, con-
tudo com a especificidade do contexto brasileiro do
início do século XX, quando era necessário primei-
ramente refutar as teses de que a criança, no caso,
o povo brasileiro, era inapta para a autonomia por
condicionantes raciais.
Ao construir essa mentalidade, ambos, Torres
e os higienistas, influenciaram o modelo político
que se estruturou no pós-1930. O Estado, por sua
vez, soube seduzir seus críticos para dentro de sua
máquina administrativa (Micelli, 2001).
Considerações finais
Em um contexto de discussão sobre os problemas
brasileiros, intelectuais das mais diversas vertentes
ideológicas procuraram a explicação para o fracasso
econômico do Brasil frente a países jovens e moder-
nos, como os Estados Unidos.
Mas é uma mentalidade intervencionista que
teve a maior inserção entre os higienistas e Alberto
Torres. Pensamento que criticaria, substancialmen-
te, o determinismo racial, que defendia a produti-
vidade do povo brasileiro, que articulava projetos
nacionais de educação e saúde. Os intervencionistas
exigiam do Estado uma atitude construtiva na me-
lhoria das condições de vida da população.
Em relação a Alberto Torres, suas posições con-
trárias ao determinismo racial o deslocam de um
campo autoritário antiliberal para um intervencio-
nismo no campo da saúde e educação, o caracteri-
zando como um reformista liberal. Um intelectual
inovador para os anos de 1910 e 1920 no contexto
brasileiro, que teve suas proposições consolidadas
na política no pós-1930. Com isso, ele inspirou, in-
fluenciou e foi influenciado pelo pensamento dos
higienistas brasileiros descritos por Stepan (2005),
cuja preocupação central também era a intervenção
do Estado, a melhoria das condições ambientais
como ferramenta preventiva, dando gênese à cons-
trução de uma identidade nacional.
Assim, mesmo com suas heterogeneidades
ideológicas, mal ou bem, podemos afirmar que os
higienistas, nas décadas de 1910 e 1920, se tornaram
responsáveis, ao menos teoricamente, pela transição
de um liberalismo econômico estrito da Primeira
República para a consolidação de um ideário refor-
mista de intervenção social.
Referências
BARIANI, E. O Estado demiurgo: Alberto Torres e
a construção nacional. Caderno CRH, Salvador, v.
20, n. 49, p. 161-167, 2007.
BATISTA, A. B. “Mentores da nacionalidade”:
a apropriação das obras de Euclides da Cunha,
Alberto Torres e Farias de Brito por Plínio Salgado.
2006. Dissertação (Mestrado em História) -
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, 2006.
DIAS, P. F. Prevenir é melhor que curar: as
especificidades da França nos estudos de eugenia.
2008. Dissertação (Mestrado em História) -
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São
Paulo, 2008.
DONZELOT, J. A polícia das famílias. Rio de
Janeiro: Graal, 1980.
FERNANDES, M. F. L. Alberto Torres e o
conservadorismo fluminense. Cadernos de
Ciências Humanas – Especiaria, Santa Cruz, v. 10,
n. 17, p. 277-301, 2007.
Saúde Soc. São Paulo, v.23, n.4, p.1445-1457, 2014 1455

FREITAS, M. C. Pensamento social, ciência e
imagens do Brasil: tradições revisitadas pelos
educadores brasileiros. Revista Brasileira de
Educação, Rio de Janeiro, v. 5, n. 15, p. 41-61, 2000.
MURARI, L. Tudo o mais é paisagem:
representações da natureza na cultura brasileira.
2002. Tese (Doutorado em História Social) -
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.
GONDRA, J. G. Artes de civilizar: medicina, higiene
e educação escolar na Corte Imperial. Rio de
Janeiro: EdUERJ, 2004.
GRAMSCI, A. Os intelectuais e a organização
da cultura. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1982.
HOBSBAWM, E. Nações e nacionalismos desde
1780. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.
HOCHMAN, G. Regulando os efeitos da
interdependência. Estudos Históricos, Rio de
Janeiro, v. 6, n. 11, p. 40-61, 1993.
HOCHMAN, G. A era do saneamento: as bases da
política de saúde pública no Brasil. São Paulo:
Hucitec, 1998.
HOCHMAN, G.; LIMA, N. T. Condenado pela raça,
absolvido pela medicina: o Brasil descoberto pelo
Movimento Sanitarista da Primeira República. In:
MAIO, M. C.; SANTOS, R. V. (Org.). Raça, ciência e
sociedade. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996. p. 23-40.
LE GOFF, J. A história nova. 5. ed. São Paulo:
Martins Fontes, 2005.
LEITE, D. M. Caráter nacional brasileiro. 3. ed. São
Paulo: Pioneira, 1976.
LIMA SOBRINHO, B. Presença de Alberto Torres.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.
MAIO, M. C. Raça, doença e saúde pública no
Brasil: um debate sobre o pensamento higienista
do século XIX. In: MAIO, M. C.; SANTOS, R. V.
(Org.). Raça como questão: história, ciência e
identidades no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz,
2010. p. 51-83.
MARQUES, V. Medicalização da raça. Campinas:
Edunicamp, 1997.
MICELLI, S. Intelectuais à brasileira. São Paulo:
Companhia das Letras, 2001.
PENNA, B. Saneamento do Brasil. 2. ed. Rio de
Janeiro: Ribeiro dos Santos, 1923.
RABINBACH, A. The human motor: fatigue,
energies and modernity. Los Angeles: University
of California, 1992.
ROSEN, G. Uma história da saúde pública. São
Paulo: Edunesp, 1994.
SALDANHA, N. O pensamento político no Brasil.
Rio de Janeiro: Forense, 1978.
SANTOS, R. A. Pau que nasce torto nunca
se endireita!: e quem é bom, já nasce feito?:
esterilização, saneamento e educação: uma leitura
do eugenismo em Renato Kehl (1917-1937). 2008.
Tese (Doutorado em História Social) - Universidade
Federal Fluminense de Niterói, 2008.
SCHWARCZ, L. O espetáculo das raças. São Paulo:
Cia das Letras, 1993.
SEVCENKO, N. Literatura como missão: tensões
sociais e criação cultural na Primeira República.
4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995.
SKIDMORE, T. Uma história do Brasil. 2. ed. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1998.
SOCIEDADE Alberto Torres. Jornal do Brasil, Rio
de Janeiro, ano 45, n. 219, 13 set. 1935. p. 14.
SOUZA, R. L. Nacionalismo e autoritarismo em
Alberto Torres. Sociologias, Porto Alegre, v. 7, n.
13, p. 302-323, 2005.
STEPAN, N. Tropical medicine and public health in
Latin America. Medical History, London, v. 42, n. 1,
p. 104-113, 1998.
STEPAN, N. A hora da eugenia: raça, gênero e
nação na América Latina. Rio de Janeiro: Fiocruz,
2005.
TORRES, A. Á margem de um manifesto. A Gazeta
de Notícias, Rio de Janeiro, ano 26, n. 325, 21 nov.
1910, p. 1.
1456 Saúde Soc. São Paulo, v.23, n.4, p.1445-1457, 2014

TORRES, A. A organização nacional. Brasília, DF:
EdUnB, 1982a.
TORRES, A. O problema nacional brasileiro.
Brasília, DF: EdUnB, 1982b.
TORRES, A. As fontes de vida no Brasil. 2. ed. Rio
de Janeiro: FGV, 1990.
VEYNE, P. Como se escreve história. Brasília, DF:
EdUnB, 1995.
VIANNA, O. Raça e assimilação. 4. ed. Rio de
Janeiro: J. Olympio, 1959.
Recebido: 01/04/2013
Reapresentado: 18/12/2013
Aprovado: 27/02/2014
Saúde Soc. São Paulo, v.23, n.4, p.1445-1457, 2014 1457
