
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA MOTRICIDADE HUMANA
(PEDAGOGIA DA MOTRICIDADE HUMANA)
A PRÁTICA VEGETARIANA EM RIO CLARO: CORPO,
ESPIRÍTO E NATUREZA
BEATRIZ BRESIGHELLO BEIG
Dissertação apresentada ao Instituto de
Biociências do Câmpus de Rio Claro,
Universidade Estadual Paulista, como parte
dos requisitos para obtenção do título de
Mestre em Ciências da Motricidade (Área
de Pedagogia da Motricidade Humana).
Outubro – 2008

BEATRIZ BRESIGHELLO BEIG
A PRÁTICA VEGETARIANA EM RIO CLARO: CORPO,
ESPIRÍTO E NATUREZA
Dissertação apresentada ao Instituto de
Biociências do Câmpus de Rio Claro,
Universidade Estadual Paulista, como parte
dos requisitos para obtenção do título de
Mestre em Ciências da Motricidade (Área
de Pedagogia da Motricidade Humana).
Orientadora: LEILA MARRACH BASTO DE ALBUQUERQUE
RIO CLARO
2008
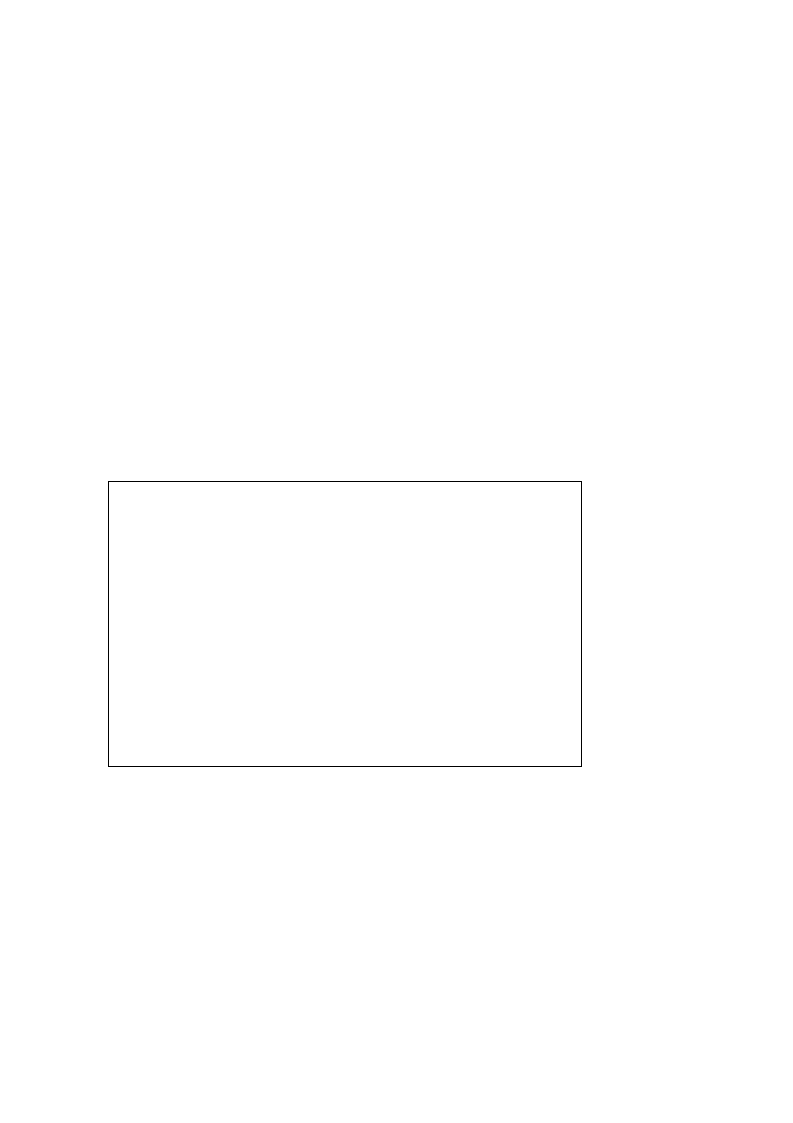
796.1 Beig, Beatriz Bresighello
B422p A prática vegetariana em Rio Claro : corpo, espírito e
natureza / Beatriz Bresighello Beig. – Rio Claro : [s.n.], 2008
109 f.
Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual Paulista,
Instituto de Biociências de Rio Claro
Orientador: Leila Marrach Basto de Albuquerque
1. Expressão corporal. 2. Corporeidade. 3. Vegetariaismo. 4. Religião.
5. Ambientalismo. I. Título.
Ficha Catalográfica elaborada pela STATI – Biblioteca da UNESP
Campus de Rio Claro/SP

BEATRIZ BRESIGHELLO BEIG
A PRÁTICA VEGETARIANA EM RIO CLARO: CORPO,
ESPIRÍTO E NATUREZA
Dissertação apresentada ao Instituto de
Biociências do Câmpus de Rio Claro,
Universidade Estadual Paulista, como parte
dos requisitos para obtenção do título de
Mestre em Ciências da Motricidade (Área
de Pedagogia da Motricidade Humana).
Comissão Examinadora
Leila Marrach Basto de Albuquerque
Ronilda Ribeiro
Luiz Augusto Normanha Lima
Rio Claro,17 de outubro de 2008

i
A maioria das pessoas pensa no universo como alguma
coisa longe, imensa e separada de nós, porém esquecem
que somos a vida do universo em constante movimento.
Nossa existência participa do universo, não apenas está
nele. Dedico este trabalho a todas as formas de vida.

ii
Agradecimentos
Agradeço a todas as pessoas que diretamente ou indiretamente fizeram parte desses
anos de pós-graduação, onde trabalhei, amadureci e colhi bons resultados. Em especial:
À Professora Leila pela orientação, pela paciência, pela confiança e pelas conversas amigas. Pelo
grande exemplo de caráter e competência.
Aos queridos membros da banca examinadora, os professores Drs. Ronilda e Luiz Augusto por toda
sensibilidade e pelas grandiosas contribuições, visando à melhoria deste trabalho.
Aos funcionários da Unesp: bibliotecárias, funcionários do xerox, do restaurante, da Pós-
graduação, do Departamento de Educação Física. A todos os meus professores de graduação e pós-
graduação, em especial ao professor Afonso Antônio Machado, pelo exemplo de profissional competente que
visa a formação do cidadão.
A todos os entrevistados, um a um, pela imprescindível ajuda, pelo tempo dedicado, por depositarem
a confiança neste projeto e pelas histórias de vida que ajudaram na construção da pesquisa.
À Thelma pela amizade, sinceridade, palavras duras, fortes e verdadeiras das horas que eu
necessitei. Situações, felizes e tristes juntas. Agora distância, falta e saudade. Ela na Bahia e eu em Rio
Claro, porém o pensamento continua junto e o carinho IMENSO! Amizade verdadeira daquelas que a gente
encontra poucas na vida ou até mesmo passa sem encontrar.
Ao Bef 2002 pelos encontros. Pessoas queridas e amigas que ficaram com o tempo, crescimento,
amadurecimento e muitas festas!!! À Tânia pelos encontros esporádicos, porém, divertidos! Companheira e
amiga! À Silvinha, pelas risadas gostosas e constantes, pela coragem desta mulher forte, de fibra,
competente e feliz! Obrigado pelo abraço forte e gostoso. À Luciana, agora na mesma situação que eu, pelos
estudos juntos, pelas angustias e alegrias compartilhadas.
À minha mãe, pelas leituras feitas, pelas correções, pelas discussões que levaram ao amadurecimento
e pela compreensão pela falta que eu lhe faço em alguns momentos. Sinto sua falta também.

iii
Ao meu pai, amigo, pela ajuda financeira, pelas conversas à mesa, pelo carinho e por ser essa pessoa
tão boa que você é.
Aos meus avôs e avós, presentes ou não, pelas lições da vida que me ajudaram muito nesses anos de
pós-graduação.
Ao André, meu irmãozinho querido pela sua existência tão carinhosa, sincera e feliz. Pela confiança
depositada em mim, como amiga acima de irmã. Pelos cafés da manhã muito cedo, apesar de não ter nada
pra fazer. Pelas piadas sem graça que só eu ri. Ao Fábio, pelas brigas e pelos momentos bons que me
ajudaram a crescer mais. Sinto sua falta na rotina do dia a dia.
Ao Renan, meu querido companheiro, pelas risadas, pela paciência, pela existência, pelo amor
sincero que carrego em meu coração. Também a sua família, pais e avós, pela acolhida como filha e neta. São
parte de minha família, inclusive a Bona, de todo o meu coração.
Ao Qaium, meu anjo protetor, me ajudou pela simples existência e companhia. Ensinou-me a ter
amor pelos animais.
Ao CNPq, pela ajuda financeira imprescindível.

iv
No Rio de Janeiro, o que se chama aipim,
em São Paulo é mandioca,
no Recife é macaxeira.
Agora, bergamota, mandarina e mexerica
no Brasil é tudo tangerina.
É cará no Pará, mas inhame em Caatinga.
Isso só nas iguarias, sem falar dos costumes à mesa.
O nordestino quando te oferece um jantar, mata um boi para te servir.
O paulista te mata com fast food.
E o carioca? Bem, o carioca mata o jantar e transfere a data.
No Japão o peixe é cru.
Na China vem com broto de bambu.
O hot dog em New York é como o acarajé em Salvador.
Um tapa em Madri.
Uma baguete em Paris.
O absinto da Belle Époque,
o jerez da Andaluzia.
Ah! E o chá das cinco da rainha da Inglaterra.
Tão chique como uma água de coco ao por do sol no Arpoador!
Arrotar na mesa é sinal de apreço para os árabes, senão o dono da casa se ofende.
O anfitrião tailandês te serve tudo...até a mulher.
Na Alemanha a batata é frita, mas a cerveja é quente.
Na Escócia a cerveja também é quente, mas a batata é assada.
Comer com as mãos, amassando o feijão com a farinha é herança dos índios.
Servir à francesa acontece sempre nas melhores famílias.
Pato com laranja,
pato ao tucupi,
frango xadrez,
arroz de alça,
arroz à grega.
Bife à milanesa, à cavalo, ao tornedor.
Banana dágua prende o ventre,
mamão verde solta tudo.
Pressão baixa: muito sal!
O risotto que era entrada, virou prato principal.
Camomila para acalmar
Ginseng para levantar
Champanhe para brindar
Arriba
Abajo
Al centro
Adentro!!!
Luís Salem e Estela Miranda

v
Resumo
Podemos dizer que a alimentação é uma junção entre o natural – sobrevivência – e
o cultural – encarregado, este, de ditar todo o resto. Apesar da internacionalização
da indústria alimentícia, culturas diferentes, religiões e estilos de vida podem ditar o
que se deve comer e o que não se deve. Nesse conjunto de interditos e modos de
se alimentar inclui-se o vegetarianismo, que vem atraindo contingentes
populacionais significativos na contemporaneidade. Isto tem conseqüências para a
questão da corporeidade, se levarmos em consideração que o que se come nos
constitui, no sentido biológico e natural, mas que na verdade é ditado pela cultura e
pela história. A pesquisa foi realizada na cidade de Rio Claro, com pessoas que
possuem como escolha alimentar o vegetarianismo. Os dados foram coletados
através de fontes primárias e secundárias. Nesse sentido, este projeto de pesquisa
teve como problema compreender, entre pessoas que presentemente adotam a
alimentação vegetariana, os objetivos que norteiam esta opção, como representam
“os corpos” e como concebem a relação com a posição do homem na natureza.
Após a análise dos resultados pudemos perceber que existe uma intermitência na
prática do vegetarianismo. Foi possível constatar que argumentos ambientalistas,
argumentos científicos relacionados à saúde e argumentos religiosos legitimam a
prática vegetariana. Em relação aos cuidados com a saúde, os vegetarianos
possuem práticas que denominamos de naturalistas, ou seja, que vão contra a
biomedicina. A atividade física é caracterizada pelas práticas alternativas e o
vegetariano pode ser caracterizado por uma junção entre o corpo, o espírito e o
meio ambiente. Estudos que relacionam alimentação e corporeidades trazem
questionamentos interessantes e inovadores para os profissionais de educação
física e da motricidade humana.
Palavras-chave: Corporeidades. Vegetarianismos. Religião. Ambientalismo

SUMÁRIO
Página
Dedicatória........................................................................................................
i
Agradecimentos................................................................................................
ii
Epígrafe............................................................................................................
iv
Resumo.............................................................................................................
v
INTRODUÇÃO.................................................................................................. 01
Problema..................................................................................................... 02
Hipóteses..................................................................................................... 02
Objetivo....................................................................................................... 03
Justificativa.................................................................................................. 03
Universo da Pesquisa.................................................................................. 03
Instrumento de coleta de dados................................................................... 05
Constituição dos Dados............................................................................... 07
CAPÍTULO 1 – QUADRO TEÓRICO................................................................ 09
1.1 Alimentação e sobrevivência................................................................. 13
1.2 Vegetarianismos ................................................................................... 15
1.2.1. Na pré-história.............................................................................. 16
1.2.2. Nas primeiras civilizações............................................................ 18
1.2.3. Na idade média............................................................................ 20
1.2.4. Do século XV ao século XVIII......................................................
22
1.2.5. Os séculos XIX e XX.................................................................... 23
1.2.6. Um pouco de Brasil...................................................................... 24
1.3. Ciência, Religião e Ambientalismos: algumas das razões para ser
vegetariano.......................................................................................................
26
1.3.1. A ciência e a saúde......................................................................
26
1.3.2. Ambientalismos, ecologia e cultura alternativa............................
30
1.3.3. Religiões e espiritualidades.........................................................
33
1.4. Corporeidades e alimentação............................................................... 42
CAPÍTULO 2 – OS VEGETARIANOS POR ELES MESMOS.........................
48

2.1. Literatura vegetariana...........................................................................
48
2.2. Os vegetarianos em Rio Claro.............................................................. 60
2.2.1. Quadro sócio-cultural................................................................... 60
2.2.2. Entrevistas................................................................................... 62
2.2.2.1 Legitimações.......................................................................... 62
2.2.2.1.1 Argumentos científicos relacionados à saúde................. 63
2.2.2.1.2 Argumentos ambientalistas............................................. 67
2.2.2.1.3 Argumentos religiosos..................................................... 70
2.2.2.2. Experiência vegetariana........................................................ 74
2.2.2.2.1 O vegetarianismo, a intermitência e o preconceito: ser
vegetariano em uma cultura carnívora.............................................................
74
2.2.2.2.2 Os cuidados com o corpo...................................................
78
CAPÍTULO 3 – CONCEPÇÕES DE CORPO E NATUREZA ENTRE OS
VEGETARIANOS.............................................................................................
81
3.1. Corporeidades dos vegetarianos..........................................................
83
CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................. 87
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................. 90
FONTES SECUNDÁRIAS................................................................................
90
FONTES PRIMÁRIAS...................................................................................... 101
ABSTRACT...................................................................................................... 104
APÊNDICES..................................................................................................... 105
APÊNDICE I - Roteiro da entrevista do restaurante vegetariano..................... 106
APÊNDICE II - Questionário sócio-cultural aplicado antes da entrevista......... 107
APÊNDICE III - Termo de consentimento livre e esclarecido........................... 108
APÊNDICE IV - Roteiro das entrevistas........................................................... 109

1
INTRODUÇÃO
Quando pensamos sobre o comportamento alimentar humano, temos que
levar em consideração que nenhum outro comportamento não automático se liga de
modo tão próximo à sobrevivência. Talvez a abundância de alimentos na maioria
das regiões do Mundo, hoje, rotinize essa questão de comer para sobreviver e a
apresente como algo inconsciente, o que torna o ato de se alimentar algo
naturalizado culturalmente. Podemos dizer que a alimentação é uma junção entre o
natural – sobrevivência – e o cultural – encarregado, este, de ditar todo o resto.
O prazer no ato alimentar, juntamente com o paladar e o gosto, devem ser
levados em consideração. O paladar seria constituído também por essa junção
cultural-natural. Culturas possuem percepções próprias em relação aos alimentos,
de maneira que o gosto seria, então, uma resposta fisiológica à concepções
culturais dadas ao alimento.
Alimentar-se de determinados alimentos e não de outros é uma questão que
pode estar além da geografia dos alimentos que cada região dispõe. Apesar da
internacionalização da indústria alimentícia, culturas diferentes, religiões e estilos de
vida podem ditar o que se deve comer e o que não se deve.
Nesse conjunto de interditos e modos de se alimentar inclui-se o
vegetarianismo, que vem atraindo contingentes populacionais significativos na
contemporaneidade. A história da prática do vegetarianismo e até mesmo a sua
expansão carregam pesos religiosos. Tanto na história, quanto na criação do
vegetarianismo, a presença das religiões foi determinante. Essa íntima relação
talvez se explique se pensarmos que o que comemos “entra” em nós, é incorporado,
o que faz com que a purificação do corpo e conseqüentemente da alma, esteja

2
relacionada com a alimentação. A presença religiosa se dá mesmo quando os
interditos religiosos sejam decorrentes da não-violência com outros seres vivos.
A prática alimentar também traz conseqüências para a questão da
corporeidade, se levarmos em consideração, que o que se come estará dentro de
nós, no sentido biológico e natural, mas que na verdade carrega concepções ditadas
pela cultura e pela história. Entende-se, aqui, corporeidade, derivada da perspectiva
de Mauss (1974) quando chama a atenção para o fato de que toda a sociedade, em
qualquer tempo e em qualquer lugar, sempre desenvolveu modos eficazes e
conseqüentemente tradicionais de trabalhar o corpo do ser humano, em virtude de
necessidades emergentes do corpo social.
Podemos dizer que o alimento que se ingere carrega consigo pesos morais e
éticos, que quando consumidos estarão presentes na nossa “carne”, e então,
dependendo da alimentação adotada, nos tornaremos puros ou impuros; morais ou
imorais, tanto no corpo quanto no espírito.
Problema
Estudos que relacionam alimentação e corporeidades oferecem pistas
interessantes e inovadoras para os profissionais de educação física e da motricidade
humana. Nesse sentido, esta pesquisa tem como problema explicar, entre pessoas
que presentemente seguem alimentação vegetariana, os objetivos que norteiam
esta opção, como representam “os seus corpos” e como concebem a relação com a
posição do homem na natureza.
Hipóteses
Quando começamos a estudar a população vegetariana, realizamos um
estudo exploratório (BEIG, 2006) para uma primeira aproximação. Como população
foram escolhidos os vegetarianos de um grupo de discussão por e-mail (veg-brasil),
e participantes de três comunidades do orkut (chamadas vegetarianos; vegetarianos
sim e daí? e vegetarianos x onívoros), que foram selecionados após pesquisa pela
Internet. Neste estudo exploratório foi aplicado um questionário a essas
comunidades vegetarianas que dizia respeito às legitimações da prática do
vegetarianismo, para que assim pudéssemos conhecer um pouco mais sobre a
população estudada.
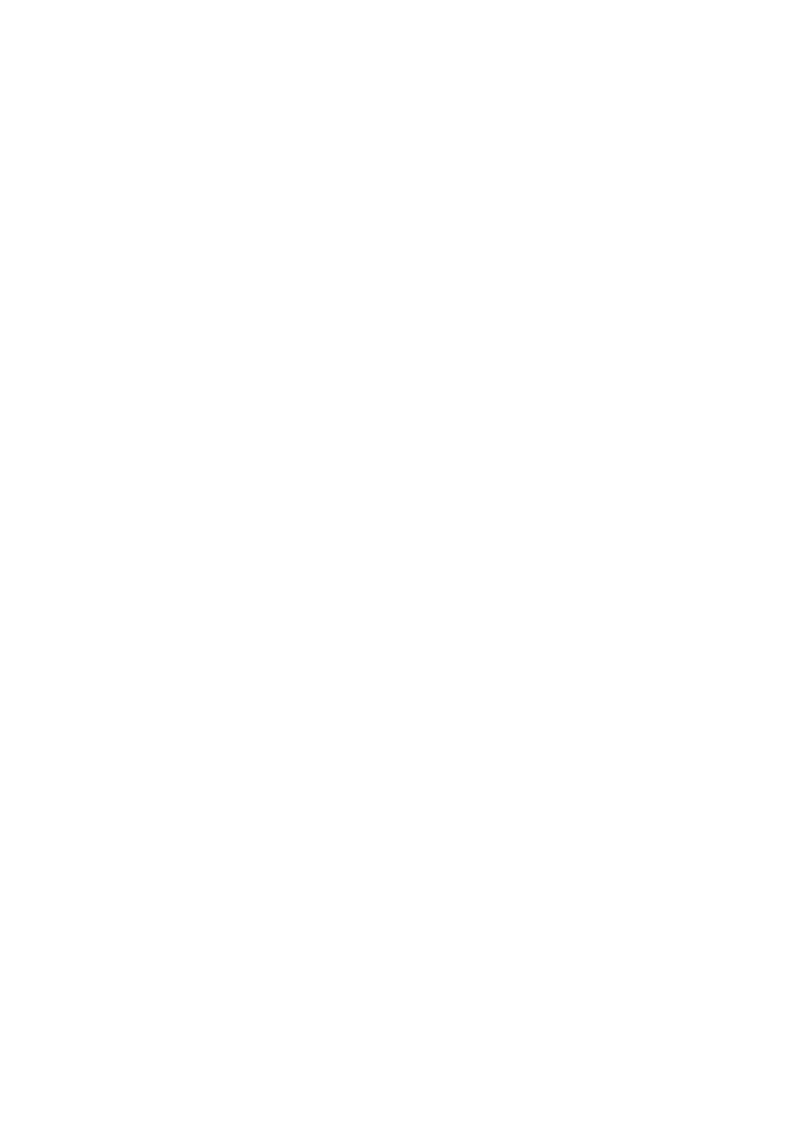
3
Pudemos perceber que o tema do vegetarianismo possibilita, presentemente,
muitos recortes explicativos: à partir de explicações cientificas relacionadas a saúde,
à partir de motivos religiosos e à partir de preocupações ambientalistas, sendo que
todos esses recortes têm suas próprias definições da posição do homem na
natureza.
Neste sentido, argumentos científicos, religiosos e ambientalistas definem os
objetivos, representações do corpo e a posição do homem na natureza entre os
vegetarianos, configurando a hipótese dessa pesquisa.
Objetivo
Este estudo tem por objetivo ampliar o conjunto de variáveis culturais
responsáveis pela construção social dos corpos, através da identificação e descrição
das relações entre alimentação e corporeidades. Especificamente com o estudo do
vegetarianismo, espera explorar as dimensões religiosas e seculares que podem
orientar as opções alimentares.
Justificativa
A Ciência da Motricidade Humana é uma área multidisciplinar, onde a Ciência
da Nutrição tem importância destacada para o estudo dos corpos em movimento. É,
porém, um campo das Ciências Biológicas. A emergência da alimentação como
objeto de estudo das Ciências Sociais é recente, mas conta, já, com contribuições
significativas que permitem subsidiar pesquisas como esta, inéditas na Motricidade
Humana.
Universo da Pesquisa
A pesquisa foi realizada na cidade de Rio Claro, com pessoas que possuem
como escolha alimentar o vegetarianismo. A população foi composta então por
vegetarianos.
A cidade de Rio Claro foi fundada em 10 de junho de 1827, mas tornou-se
município somente em 1845. Situada na região de Campinas, a cidade esta distante
173 km da capital e teve como estimativa populacional feita pelo IBGE (2006) o
número de 190.373 habitantes.
A área rural de Rio Claro está voltada economicamente para o cultivo e
colheita da cana-de-açúcar, cítricos e pastagens. A sede do município conta com

4
serviços públicos de ordem municipal, estadual e federal. Próximo a área urbana
encontra-se o Horto Florestal, com uma área de 2.314,80 alqueires, composto por
vegetação nativa e áreas reflorestadas com eucalipto. O município está inserido na
Bacia do Rio Corumbataí, que deságua no Rio Piracicaba, o qual estará integrado
na construção da Hidrovia Tietê-Paraná, que virá a favorecer a cidade nos
relacionamentos com o Mercosul.
A cidade de Rio Claro tem um restaurante vegetariano, entrepostos voltados
para o segmento dos vegetarianos, grupos religiosos que fazem restrições à
alimentação carnívora, espaços alternativos e cursos universitários voltados para
questões ambientais, o que propiciou uma população vegetariana.
Este único restaurante, chamado Opção Natural, está localizado na região
central da cidade. Para conhecer mais sobre o restaurante e os seus freqüentadores
fizemos uma breve entrevista com a Proprietária. Para essa entrevista elaboramos
um roteiro (APÊNDICE I), fomos até o restaurante e marcamos a entrevista. A
entrevista foi gravada e posteriormente transcrita.
O restaurante existe na cidade há dezoito anos, mas está com a proprietária
atual há 14 anos. Ele permanece do mesmo jeito há 18 anos, sendo que até os
funcionários continuam os mesmos. O restaurante serve somente o almoço. Paga-
se uma taxa única por refeição, que atualmente é de R$ 6,00, e come-se se a
vontade. O restaurante possuí um balcão de saladas e o outro de pratos quentes,
além do suco natural e a sobremesa que estão incluídos na taxa única. O cardápio
não possuí nenhuma carne, porém é utilizado o ovo, o leite e derivados. Para
pessoas que desejam comer carne é possível paga-lá à parte, e as únicas opções
são o frango grelhado e o ovo frito. A freqüência de pedido dessa carne à parte,
segundo a proprietária, não chega a 5%, e tem dias que nem sai o pedido. A dona
conta que o pessoal tem pedido muito ovo, e complementa dizendo que os clientes
gostam muito de ovo.
Segundo a dona do restaurante, o perfil do cliente é diferenciado, de maneira
que a pessoa que come carne para ela muitas vezes é mais agressiva. A dona não
segue a alimentação vegetariana atualmente, mas já tentou algumas vezes seguir
essa dieta. O perfil da clientela não tem mudado com o tempo, e mesmo com o
crescimento da população vegetariana o número de clientes tem mantido uma média
geral. Além dos vegetarianos, pessoas preocupadas em fazer uma boa alimentação,

5
uma boa digestão, e que pretendem ficar bem à tarde após o almoço estão entre os
clientes.
Alguns fregueses se preocupam com a procedência do alimento usado para
fazer a comida do restaurante, mas a maioria confia no restaurante e freqüenta á
quatorze anos direto. Ela não usa produtos orgânicos pelo preço alto desses
alimentos, e afirma que para utilizar orgânicos teria que dobrar ou até triplicar o
valor da refeição.
Além do restaurante vegetariano, Rio Claro possui lojas de produtos naturais
voltados para o seguimento vegetariano. Entrevistamos também o dono de uma loja
de produtos naturais muito representativa na cidade pelo tempo de existência e pela
opção vegetariana do proprietário que já dura 38 anos. Além das perguntas
presentes no roteiro de entrevistas comum a todos os entrevistados, fizemos
algumas questões acerca do negócio dele.
O proprietário possui a loja há 30 anos, e além dessa primeira loja situada no
Mercado Municipal da cidade, chamada Casa Oriente, ele possui uma outra do
mesmo ramo situada em frente ao restaurante vegetariano, na região central. Ele me
conta que agora também está em outro ramo, que é uma Indústria de produtos
naturais na cidade de Santa Gertrudes, que fica próxima a Rio Claro. Nessa
indústria ele fabrica os próprios produtos naturais e vende para lojas de todo o
Brasil.
Para ele este ramo de produtos naturais e a sua clientela é cada vez maior.
Conta que até as multinacionais estão percebendo isso e investindo na área de
produção natural, pois estão percebendo que é uma área de futuro. Segundo o
proprietário as pessoas estão revendo as suas práticas atuais e se conscientizando
para uma mudança que será determinante para o futuro do planeta. Completa
dizendo que as multinacionais que são mais espertas, estão investindo nessa área
que faz parte até do futuro econômico.
Instrumentos de coleta de dados
A metodologia não consiste somente em um pequeno número de regras a
serem seguidas, ela pode ser considerada um amplo conjunto de conhecimentos
com o qual o pesquisador procura encontrar subsídios para nortear suas pesquisas,
de maneira que as suas escolhas são efetuadas em função dos objetivos de
pesquisa (THIOLLENT, 1984). As técnicas de metodologia estão ligadas ao suporte

6
teórico, aos objetivos propostos e aos problemas empíricos que afligem o
pesquisador (CONCONE, 1998).
Além disso, como alerta Concone (1998), a escolha dos procedimentos
metodológicos de pesquisas nas Ciências Sociais, sempre se defronta com a
polaridade técnicas quantitativas X técnicas qualitativas.
Bicudo(2004) faz uma reflexão acerca do termo qualitativo, e mostra que para
falar em pesquisa qualitativa seria necessário esclarecer o que se busca ao
pesquisar. Atenta para a errônea idéia que o senso comum apresenta quando
considera que o qualitativo seria o contrário do quantitativo. Para ela a noção de
qualidade é extensa e dificilmente pode ser diminuída a um conceito único, e se
volta a filosofia para buscar o que realmente se quer dizer ao usar o termo. O
quantitativo tem a ver com o objetivo passível de ser mensurável, e traz embutido
em si à idéia de racionalidade, e pela lógica que carrega consigo o rigor. O
qualitativo engloba a idéia do subjetivo, que se encontra apto a expor sensações e
opiniões.
A pesquisa qualitativa se mostra necessária quando as questões principais da
pesquisa dizem respeito ao desvendamento dos valores, das visões de mundo e das
representações pessoais (CONCONE, 1998) Assim, as técnicas qualitativas
trabalham com a memória dos sujeitos que fazem parte do universo pesquisado. Ou
seja, ao utilizar essas técnicas o olhar do cientista se volta para o homem em suas
três dimensões: real, simbólica e imaginária (BERNARDO, 1998).
A pesquisa qualitativa tem como sua fonte direta de dados o ambiente natural,
e como seu principal instrumento o pesquisador, o que proporciona contato direto
entre o pesquisador e o ambiente. Os dados são em sua maioria descritivos, existe
uma maior preocupação com o processo em relação ao produto, o significado que
as pessoas dão às coisas e as suas vidas são focos de atenção especial dadas à
pesquisa, e a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Por isso a
pesquisa denominada qualitativa, também pode ser chamada de “naturalística”, pois
não envolve manipulação das variáveis, nem tratamento experimental, ou seja, é o
estudo do fenômeno em seu acontecer natural (ANDRÉ, 1995).
Neste estudo foi utilizada a análise de conteúdo, de maneira que esta análise
permitiu a construção de um corpus para a pesquisa científica. As dimensões do
corpus são definidas pelo critério de saturação. A saturação acontece quando a
inclusão de novos informantes não traz mais nada novo (BAUER; AARTS, 2002).

7
Poulain e Proença (2003b) trazem como um dos problemas metodológicos
dos estudos das práticas alimentares as vias de entrada no espaço social alimentar,
que se apresentam em quatro níveis:
As disponibilidades de alimento na escala dos países, as aquisições
de alimentos analisadas por categorias sociais, as práticas
domésticas de compra, de preparação e de consumo de alimentos e,
por fim, as diferentes modalidades de consumo individual. Esses
níveis correspondem a focos, quer dizer, a escalas de leituras
complementares do fenômeno alimentar. (POULAIN; PROENÇA,
2003b, p.367)
Vale a pena ressaltar que o fenômeno não pertence a alimentação e sim ao
homem no momento em que se alimenta, de maneira que para que haja um
fenômeno é necessário que se tenha um sujeito situado.
No caso desse estudo, o foco privilegiado circunscreve-se ao vegetarianismo,
entendido como uma modalidade alimentar de escolha individual que, porém,
encontra seu sentido em práticas e representações sociais.
Constituição dos dados
De início esperava-se escolher os entrevistados pelo método de redes e
colônias, onde é eleita uma pessoa para ser o ponto zero das entrevistas, tendo esta
grande conhecimento e significado para a população estudada. A partir de então
para esta pessoa pede-se a indicação de mais duas ou três, que posteriormente
serão entrevistadas, até que as pessoas passem a ser indicadas novamente, ou que
as respostas passem a ser as mesmas; fechando assim uma teia de pessoas
pertencentes a colônia. Porém, durante a coleta de dados este procedimento se
mostrou problemático, pois os entrevistados por diversos motivos, não indicavam
outros nomes com facilidade. Desse modo optou-se por escolher os entrevistados a
partir de indicações e sugestões de pessoas conhecidas pela prática vegetariana
tanto na Universidade como na cidade de Rio Claro.
Os dados foram coletados através de fontes primárias e secundárias. As
fontes primárias foram compostas por entrevista, aplicação de questionário acerca
de questões sócio-culturais(APÊNDICE II) e a análise da literatura vegetariana.

8
Foi realizado um contato preliminar com os entrevistados que visou a
preparação do encontro; e a entrevista propriamente dita; que aconteceu após o
aceite e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE
III). A entrevista foi gravada e o seu roteiro (APÊNDICE IV) tratava de questões
como os motivos que levaram a opção, história de vida e sensações em relação às
pessoas que consomem carne.
O roteiro de entrevista difere do sentido tradicional do questionário, pois
enquanto o questionário pressupõe hipóteses e questões bastante fechadas, o
roteiro visa compreender o ponto de vista dos atores sociais previstos nos objetivos
da pesquisa. O roteiro deve conter poucas questões e o objetivo de orientar um
“conversa com finalidade”, atuando como facilitador de abertura, ampliação e
aprofundamento da comunicação (MINAYO, 1993).
A entrevista representa um dos instrumentos básicos para a coleta de dados
dentro da perspectiva de pesquisa qualitativa, tendo como grande vantagem sobre
as outras técnicas a captação imediata e corrente da informação desejada. Ela pode
permitir o tratamento de assuntos de natureza íntima e pessoal, assim como temas
de natureza complexa e de escolhas nitidamente individuais. A gravação oral tem a
vantagem de registrar todas as expressões orais, imediatamente, deixando também
o entrevistador livre para prestar toda a sua atenção ao entrevistado (MENGA;
ANDRÉ, 1986).
Após as entrevistas realizamos a transcrição que consistiu na passagem da
gravação oral para a linguagem escrita.
As fontes secundárias utilizadas neste estudo referem-se às obras históricas,
sociológicas e antropológicas acerca da alimentação, das corporeidades e do
vegetarianismo.

9
CAPÍTULO 1: QUADRO TEÓRICO
Este estudou procurou reunir as contribuições teórico-metodológicas das
Ciências Sociais, às inquietações de pesquisa da Motricidade Humana. Nesse
sentido, o referencial teórico irá tratar da alimentação, corporeidades, religião,
ciência e ambientalismos.
O tema da alimentação pode gerar muitas indagações que levam a refletir
sobre questões fundamentais das ciências humanas, como a relação da cultura com
a natureza, o simbólico e o biológico. O ato de se alimentar é vital, mas ao alimentar-
se o homem cria práticas e atribui significados aquilo que esta incorporando a si
mesmo (MACIEL, 2001).
Podemos considerar que o tema deste estudo se situa entre o biológico e o
cultural. Laraia (2003), em seu livro Cultura: um conceito antropológico discorre
sobre o dilema que consiste na conciliação da unidade biológica e a grande
diversidade cultural da espécie humana. Tal dilema permanece ainda como tema
central e polêmico, apesar de sua discussão não ser algo recente.
No tratamento desta questão por Kroeber (1946), a cultura ganha supremacia
com a idéia de superorgânico. Para ele, o homem passa a se distanciar do mundo
animal, através da cultura, e se torna um ser que está acima de suas limitações
orgânicas.
Para Berger (1976) o homem ocupa uma posição peculiar no reino animal; ou
seja, não possui um ambiente específico da espécie, de maneira que a sua relação
com o seu ambiente tem por característica a abertura para o mundo.
Naturalizamos atos e conceitos que foram determinados e ensinados pela
própria sociedade. A nossa dualidade, por exemplo, tem explicações históricas e

10
sociais que se expressam na ciência, de maneira que a posição do homem no
mundo, remete às diversas relações que a natureza faz com este. A escolha
vegetariana expressa uma visão da posição do homem na natureza.
Na Inglaterra dos períodos Tudor a Stuart1, a visão tradicional colocava o
mundo e as outras espécies à subordinação humana, de maneira que os teólogos e
intelectuais que necessitassem justificá-los, se voltariam para a Bíblia e para os
filósofos. Afirmavam: ”A natureza não fez nada em vão, disse Aristóteles, e tudo teve
um propósito. As plantas foram criadas para o bem dos animais e os animais para o
bem dos homens” (THOMAS, 1988, p. 21).
Na narrativa bíblica, após o dilúvio, o homem retoma sua autoridade sobre a
criação animal. Uma das Leis do Antigo Testamento explicita onde o domínio do
homem sobre a natureza se formou:
Temam e tremam em vossa presença todos os animais da terra,
todas as aves do céu, e tudo o que tem vida e movimento na terra.
Em vossas mãos pus todos os peixes do mar. Sustentai-vos de tudo
o que tem vida e movimento. (GÊNESIS, IX, 2-3 apud THOMAS,
1988, p. 22).
No sistema de valores elaborado pelos intelectuais gregos e latinos, a
natureza encontrava um espaço de pouca importância, e representava uma antítese
de civilitá, onde do ponto de vista da produção, aquela cultura tinha delimitado
próprio espaço ideal num campo organizado de forma ordenada ao redor da cidade:
distintos da natureza virgem, não humana, não civilizada, não produtiva (THOMAS,
1988).
Na concepção ocidental moderna, a natureza expressaria tudo o que é
universal no mundo e entre os seres humanos; enquanto à cultura cabe definir o
arbitrário, o relativo e o histórico. Explica Albuquerque, (2001a, p. 05): “Daí que,
quando se quer atribuir um caráter irrevogável a um traço cultural, se o naturaliza,
isto é, se o situa no reino natural, onde ele ganha o peso das coisas inevitáveis. A
natureza seria inevitável!”.
Para Diegues (2000) se distinguem dois tipos de enfoque na análise da
relação homem/natureza. A primeira é chamada de “biocêntrica” ou “ecocêntrica”,
que pretende ver o mundo natural em sua totalidade, na qual o homem é inserido
1 Dinastia Tudor (1485-1603) e Dinastia Stuart(1603-1642), marcam o período do Absolutismo inglês.

11
como qualquer ser vivo; o mundo natural tem valor em si independente da presença
humana. A outra corrente é chamada de “antropocêntrica”, pois se coloca na
dicotomia entre homem e natureza, onde o primeiro tem direitos de controle e posse
sobre a segunda, sobretudo pela ciência moderna. O autor ainda apresenta algumas
escolas recentes e os seus detalhamentos: a ecologia profunda (consciência
ecológica, seres humanos como iguais); a ecologia social (seres humanos como
seres sociais, não como diferenciados) e a eco-Socialismo/ Marxismo (natureza
estática existe somente pelo trabalho do homem).
A reordenação das relações entre o homem e a natureza se expressa
naquele que é o ponto crucial e de encontro nessa relação: o corpo. Primordialmente
compreendido no âmbito das ciências naturais, o corpo passa a expressar as
ressignificações mais amplas atribuídas à natureza (ALBUQUERQUE, 2001b).
Quando falamos da alimentação é possível perceber que a natureza aparece
em todos os momentos, seja para nos lembrar dos nossos impulsos
subdesenvolvidos para a sobrevivência ou para nos dar o alimento. Porém, também,
a natureza é culturalizada.
Situa-se também entre o natural e o biológico a questão do paladar e do
gosto. Gonçalvez (2004), afirma que qualquer sociedade ou cultura humana elabora
alguma forma de distinção entre a fome e o paladar. Nos alerta, porém, que é
importante focalizar a natureza da relação entre essas categorias. O paladar
desempenharia uma função dominante, enquanto a fome, uma função subordinada.
Nesse ponto de vista, são as regras culturais e as trocas sociais que definem a
natureza humana, e não as necessidades biológicas e fisiológicas, ou seja, um
sistema alimentar funciona não exclusivamente para satisfazer o biológico, mas para
expressar um paladar cultural e historicamente formado. E explica:
Como uma necessidade natural, a fome vem a ser satisfeita por
qualquer tipo de alimento, do mesmo modo que a sede é satisfeita
pela água. Mas o paladar está associado a modalidades distintas de
comidas e bebidas. Mais que isso, está associado a formas
específicas e particulares de preparação, apresentação e consumo.
Por intermédio do paladar, os indivíduos e grupos distinguem-se,
opõem-se a outros indivíduos e grupos. Por essa razão, o paladar
situa-se no centro mesmo das identidades individuais e coletivas.
(GONÇALVEZ, 2004, p.5)

12
Para Maciel (2001), a escolha do que será considerado comida e do como,
quando e porque comer tal alimento têm relação com a cultura, e também existe
uma classificação estabelecida culturalmente. Para ele o gosto, como uma
percepção, relaciona-se a uma base biológica juntamente com uma cultural. O gosto
é estabelecido por critérios e parâmetros alimentares, ou seja, já nascemos em uma
dada cultura que já estabeleceu uma hierarquia alimentar. Exemplifica:
A cultura não apenas indica o que é e o que não é comida,
estabelecendo prescrições e proibições, como estabelece distinções
entre o que é considerado “bom” e o que é considerado “ruim”,
“forte”, “fraco”, ying e yang, conforme classificações e hierarquias
culturalmente definidas. (MACIEL, 2001, p. 149)
A escolha do alimento revela muitas vezes a que grupo se deseja pertencer,
seja este social, étnico ou etário. O ser humano devido ao estatuto de onívoro pode
fazer escolhas e modificar seu meio ambiente. A eleição dos alimentos satisfaz às
necessidades do corpo, mas também, em grande medida, às necessidades da
sociedade, de maneira que a cultura estabelece o que é comestível. Os gostos são
construídos de acordo com o que a cultura estabelece como aceitável. Na Idade
Média, por exemplo, os mais diferentes tipos de carne vinham à mesa de forma a
manter a peça inteira. Hoje, percebe-se uma resistência a tudo que possa lembrar o
animal (BLEIL, 1998).
Segundo Kikuchi (1982), o gosto do alimento pode se modificar, de acordo
com o seu preparo, e no caso dos legumes e das verduras, isto varia, pela maneira
de cortá-las. Recomenda-se na alimentação macrobiótica, o corte longitudinal, onde
as partes ying e yang são equilibradas em um mesmo pedaço, independente do
tamanho e forma.
As práticas alimentares utilizam muitas sensibilidades, principalmente a
gustativa e a olfativa. Além destas duas principais ainda temos a sensibilidade táctil
e a visual, que de imediato produz desejos ou nojos. Os nossos sensos estéticos
são produzidos pela cultura que se relacionam também com os elementos
biológicos, seja obedecendo a limites ou subvertendo para entrar em uma nova
ordem (SANTOS, 2006).
Woortman (2004) relaciona a produção dos hábitos alimentares com o que
Elias (1997) e Bourdieu (1983) chama de habitus. Sendo que para o primeiro, o
hábito consiste em um saber social incorporado, que é introduzido no indivíduo e

13
nele sedimentado. Os padrões alimentares socialmente incorporados formariam uma
espécie de ponte entre a mudança e a continuidade. Já para Bourdieu (1983) o
habitus consiste em disposições internalizadas e naturalizadas em relação com as
práticas. Dessa maneira, o gosto relativo à comida sofre mudanças no tempo e no
espaço. Assim, as inovações tecnológicas, as mudanças sociais e demográficas,
novas concepções de saúde e de percepção do corpo podem conduzir a
transformações nos padrões alimentares.
Essas reflexões expressam a separação entre a natureza e a cultura, que
marca os limites entre as ciências naturais e as ciências humanas nos últimos 200
anos. As ciências naturais têm como conceito chave o de natureza e as ciências
humanas o de cultura, de maneira que a distinção entre natureza e cultura é aceito
por ambos os lados, os conflitos permanecem e dizem respeito às fronteiras entre os
domínios destes conceitos (RIBEIRO, 2003).
Diante disto, talvez o corpo seja, hoje, o território onde se inscrevem os
impasses epistemológicos mais agudos desta dupla filiação da modernidade.
1.1 Alimentação e Sobrevivência
Cascudo (1983) afirma que nenhuma atividade será tão permanente na
história humana como a alimentação e explica:
Toda a existência humana decorre do binômio estomago e sexo... o
sexo pode ser adiado, transferido, sublimado noutras atividades
absorventes e compensadoras. O estomago não. É dominador,
imperioso, inadiável. (CASCUDO, 1983, p.21)
Mintz (2001) destaca que a prosperidade nos leva a esquecer o quanto a
fome pode parecer impositiva. Isso acontece, pois nossos hábitos alimentares
começam desde cedo, e são aceitos muito facilmente, devido à sua transmissão por
pessoas queridas e poderosas afetivamente. Devemos comer todos os dias de
nossas vidas, mesmo que cada lugar e cultura tenham seus próprios costumes e
particularidades. Segundo ele, a comida é uma atividade humana central não só por
sua freqüência e necessidade, mas também porque cedo se torna a esfera onde se
permite alguma escolha. E completa:

14
Para cada individuo representa uma base que liga o mundo das
coisas ao mundo das idéias por meio de nossos atos. Assim, é
também uma base para nos relacionarmos com a realidade. A
comida “entra” em cada ser humano. A intuição de que se é de
alguma maneira substanciado - “encarnado” – a partir da comida que
se ingere pode, portanto carregar consigo uma espécie de carga
moral. (MINTZ, 2001, p.32)
As escolhas alimentares do homem e sua diversidade são únicas entre os
primatas, sendo que a variedade dessas escolhas, assim como o caráter socializado
do consumo de alimentos, constitui elementos que concorrem para a especificidade
do seu ato alimentar. Ainda em nossos dias, a carne tem uma importância simbólica
muito forte, que se explica talvez no papel determinante que tem sido atribuído ao
surgimento da caça na teoria da hominização da Antiguidade aos nossos dias
(PERLÈS, 1998).
Segundo Poulain e Proença (2003a) a alimentação humana é submetida a
duas séries de condicionantes. As primeiras são referentes ao estatuto de onívoro
(aquele que pode se alimentar de produtos animais, vegetais ou minerais) e
impostas aos comedores humanos por mecanismos bioquímicos da nutrição e às
capacidades do sistema digestivo, deixando um espaço de liberdade largamente
utilizado pelo cultural. As segundas são representadas pelas condicionantes
ecológicas do meio ambiente no qual está instalado o grupo de indivíduos,
oferecendo também, essas condicionantes, uma zona de liberdade na gestão da
dependência do meio natural.
A opção vegetariana se instala nas brechas dessas condicionantes, como
escolha pautada por motivos diversos como: consciência ecológica, interditos
religiosos, crise ambiental, etc.
Para Montanari (2003), mais do que a quantidade e a freqüência o mais
importante é o valor que determinadas comidas carregam e complementa:
[...] avaliar o papel especifico de cada produto no regime alimentar, a
posição e a importância que cabe a cada um no interior de um
sistema que se organiza como uma unidade coerente de modos
diferentes em cada caso. Saltam então aos olhos especialmente as
oposições, que os contemporâneos utilizavam como indicadores da
própria identidade cultural e diversidade do outro. (MONTANARI,
2003, p.20)

15
Podemos dizer então, que a alimentação se apresenta como algo mais do
que simplesmente a necessidade fisiológica. Ela se apresenta como um sistema
complexo que envolve hábitos, ritos e costumes, não deixando de lado uma inegável
relação de poder. As restrições alimentares estão presentes na sociedade através
do gosto, na construção dos papéis sociais e até sexuais, e das identidades éticas,
nacionais, regionais e também nas restrições religiosas (REZENDE, 2004).
Carneiro (2003) apresenta a alimentação como um fato da cultura material, ou
seja, algo que faz parte da infra-estrutura da sociedade, fato da troca e do comércio,
da história econômica e social. O autor também apresenta o ato alimentar como um
fato ideológico das representações da sociedade, sejam elas religiosas, artísticas e
ou morais, e considera a alimentação como objeto histórico complexo, onde a
abordagem cientifica deve ser multifacetada.
A prática alimentar vegetariana, tema deste estudo, também tem as suas
representações sociais, suas explicações históricas, suas conseqüências fisiológicas
e culturais.
1.2 Vegetarianismos
Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira (SLYWITCH, 2005) ser
vegetariano é, do ponto de vista nutricional, apenas não se alimentar de carnes de
qualquer tipo e nem de produtos que contenham esses alimentos. O vegetariano
não come nada que fuja, esboce reação de fuga ou sofrimento quando está vivo. Se
uma pessoa come algum tipo de carne, mesmo que ocasionalmente, ela não é
considerada vegetariana, podendo para estas pessoas, se utilizar o conceito de
semi-vegetariano ou pseudo-vegetariano.
Além disso, existem muitas maneiras de classificar e nomear a opção
vegetariana, como os ovo-lacto-vegetarianos, que aceitam ovos e laticínios; os lacto-
vegetarianos que aceitam somente o laticínio e derivados; os vegans, que não
consomem nada de origem animal; os frugívoros que se alimentam exclusivamente
de frutos, grãos e sementes e os crudivoristas, que também não consomem nada de
origem animal, e acreditam que o cozimento dos alimentos dificulta a digestão e
desgasta o organismo, daí só aprovam produtos crus.
Mais do que o não consumo de todo ou algum produto de origem animal, o
vegetariano muitas vezes possui uma postura política e ética em relação ao uso de

16
animais em pesquisas, no teste de produtos, e até mesmo no uso de roupas e
produtos que contém ou de alguma forma utilizam o animal.
Para falar sobre a história do vegetarianismo é necessário que
paradoxalmente também observemos e compreendamos uma história da presença
da carne na alimentação.
1.2.1. Na Pré-História
O estudo das práticas alimentares dos tempos pré-históricos ainda é muito
geral e hipotético, pois ainda faltam recursos técnicos suficientes. Os vegetais, por
exemplo, são normalmente destruídos no solo. É praticamente certo que, exceto em
meios peculiares a alimentação vegetal sempre forneceu o aporte calórico essencial
para a sobrevivência. Daí então a importância de um método como o da relação
estrôncio carbono, combinado com o das variáveis de teor de carbono 13, que
indicariam as partes respectivas de vegetais e de carnes na alimentação; porém,
ainda a maioria dessas abordagens é experimental (PERLÈS, 1998).
Segundo Flandrin (1998), durante alguns milhões de anos, frutas, folhas ou
grãos parecem ter fornecido ao homem pré-histórico o essencial das calorias que ele
necessitava. A preponderância da alimentação vegetal é sugerida pelas dimensões
relativamente pequenas dos territórios explorados e pelo desgaste característico dos
dentes dos fósseis humanóides. E ainda lembra que, se os estudiosos da pré-
história escreveram mais sobre os produtos da caça e da pesca do que dos
alimentos vegetais, isso se deve em parte ao fato de que estes deixaram menos
vestígios no solo.
A pesquisa pré-histórica pode ser considerada transdisciplinar. Ela se pratica
com uma postura de naturalista com objetivo no homem, no seu ambiente, no seu
modo de vida, reconstruindo então sua interação com o meio. O aparecimento dos
homens se dá no momento em que as suas ferramentas se generalizam; isto é; a
cerca de 2,5 milhões de anos. O surgimento de utensílios corresponde à origem dos
mais antigos homo habilis; mais evoluídos que os australoptécos. Esse homo hábilis
tinha capacidade craniana que ultrapassava 600 centímetros cúbicos. Na pesquisa
dos dentes deste homo habilis, na observação dos molares e pré-molares chegou-se
a conclusão de que estes eram essencialmente consumidores de carne e prováveis
consumidores de carniça. Antes mesmo que o homo habilis desaparecesse, há 1,8

17
milhões de anos, aparecem os primeiros homo erectus com capacidade craniana
bem maior (MORIN, 2001).
Quando o homo erectus começa a se estabelecer nas regiões temperadas; os
maiores contrastes sazonais e a diminuição conseqüente dos recursos vegetais
deram a carne um papel nutricional mais importante, porém não de total
exclusividade. O tipo de caça e o tempo dedicado à mesma também seria
determinado para o homo erectus levando em consideração a quantidade de
alimentos vegetais em cada época do ano. A coleta de vegetais é inerente ás
estratégias alimentares. Os vestígios de alimentos vegetais que raramente são
conservados, difíceis de serem avaliados, tanto qualitativamente quanto
quantitativamente possuíam importância tanto no plano nutricional como no
econômico, tanto mais que o domínio do fogo oferecerá uma nova gama de
possibilidades. Além da vantagem nutricional da cocção dos alimentos, logo ficou
patente sua importância no plano social, favorecendo a comunhão durante as
refeições fornecendo um nível mais complexo de organização em grupo (PERLÈS,
1998).
Foi preciso esperar o início do Neolítico para ver surgir no Oriente próximo, no
Oriente Médio e depois na Europa uma “revolução” econômica que lança as bases
de toda a nossa alimentação tradicional que é a cultura de cereais e a criação de
carneiro, cabra, bois e porcos. Cauvin (1994, apud PERLÈS, 1998, p. 49) defende a
idéia de que essa revolução neolítica não foi uma resposta às dificuldades
econômicas, e sim, a expressão de uma mudança social e ideológica que acarretou
modificações na relação entre o homem e o meio ambiente. E Digard (1990, apud
PERLÈS, 1998, p. 49), defende que a domesticação do animal decorrente dessa
revolução neolítica seria fruto do desejo de poder sobre a dominação dos animais
selvagens.
A caça e a pesca pressupõem a passagem da alimentação exclusivamente
vegetal à alimentação mista, o que significa um passo importante no processo de
hominização. A alimentação da carne ofereceu ao organismo os ingredientes mais
essenciais para o seu metabolismo. Alguns cientistas afirmam que onde mais se
manifestou a influência da dieta à base de carne foi no cérebro que passou a
receber em quantidade muito maior do que antes as substâncias necessárias à sua
alimentação e desenvolvimento, fazendo com que se o seu aperfeiçoamento fosse
mais rápido de geração em geração. O consumo de carne na alimentação significou

18
dois novos avanços de importância decisiva: o uso do fogo e a domesticação dos
animais (ENGELS, 1876).
1.2.2. Nas primeiras civilizações
Ferreira (2003) descreve que as civilizações antigas do Egito de 3200 AC
adotaram o vegetarianismo como hábito alimentar justificado por motivos religiosos,
crendo que a abstinência de carne criava um poder cármico que seria facilitador da
reencarnação.
Porém, segundo Bresciani (1998) para os egípcios a saúde e a longevidade
dependiam dos prazeres à mesa. Se os ensinamentos morais dos sábios
recomendavam controlar a higiene alimentar, o senso comum, todavia, preconizava
que a pessoa que comesse muito não poderia deixar de ter boa saúde. E demonstra
tal comportamento na descrição do papiro Westcar:
[...]por exemplo, o mágico Gedi como um homem de cento e dez
anos (a idade ideal, um topos biográfico no antigo Egito), que comia
todos os dias quinhentos pedaços de pão e meio boi, que engolia
cem bilhas de cerveja e que, por isso, tinha grande vigor, nunca
sofria de insônia e não tinha tosse. (BRESCIANI, 1998, p. 68)
Bresciani (1998) ainda mostra que as várias fontes escritas e figurativas do
Egito Antigo revelam a sua produção alimentar e mostram que em todas as épocas,
os habitantes do vale do Nilo tiveram uma alimentação variada e suficientemente
equilibrada entre vegetais e proteínas.
Ainda que a criação de carneiros, cabras e bois fosse muito comum na
Fenícia, lugar onde as regiões montanhosas oferecem extensas pastagens, o
consumo de carne desses animais deveria ser limitado e ocasional, reservado
sobretudo à mesa real e as cerimônias de culto. No que diz respeito ao mundo
ocidental, as fontes clássicas fornecem uma série de informações sobre a
alimentação dos cartaginenses, não deixando dúvidas de que essas colônias haviam
conservado as tradições alimentares da pátria-mãe. Porém, estas tradições orientais
mais para frente foram influenciadas pela geografia das regiões ocidentais, pelos
costumes locais e por uma diferente utilização do solo. Os cereais constituíam o
principal alimento das colônias fenícias. As fontes clássicas também revelam que os
fenícios do ocidente abstinham-se de comer carne de porco, mas apreciavam a

19
carne de cachorro, não esquecendo de que, como já foi mencionado, só era
consumida a carne em algumas ocasiões especiais (GIAMMELLARO, 1998).
Para Montanari (1998), dentre todos os aspectos que definem a cultura do
que ele denomina como “mundo clássico”, o mais importante é a vontade de se
apresentar como domínio da civilização, como uma zona privilegiada em oposição
ao universo desconhecido da barbárie, como ele explica:
O regime alimentar tem um papel essencial nesse processo de
definição de um modelo de vida civilizado (modelo já por si
profundamente ligado a noção de cidade); e pode-se dizer que ele
funda sua própria diferença no que diz respeito ao não-civilizado e ao
não-citadino em três valores: a) a comensalidade; b) os tipo de
alimento consumidos; c)a cozinha e a dietética. (MONTANARI, 1998,
p. 109)
Os escritores gregos e latinos imaginavam a idade de ouro alegremente
vegetariana: a sua cultura via nos frutos da terra o primeiro e mais elevado dos
valores alimentares. Existia ai, uma idealização do vegetarianismo. Já os “bárbaros”
tinham valores culturais, bem como os modos de produção diferentes, com grande
consumo de carne. Os celtas e germânicos tinham desenvolvido certa predileção
pela exploração da natureza virgem e dos espaços incultos; de maneira que não
mais o pão e a polenta, mais a carne possuía valor alimentar de maior importância
sendo a de porco a mais consumida. Os romanos da mesma forma comiam carne de
porco (MONTANARI, 1998).
Durante toda a Antiguidade, da época dos homéricos ao Império Romano, a
civilização mediterrânea é conhecida como o mundo do pão, ou dos cereais. Assim
com exceção à época arcaica e menos conhecida, a alimentação greco-romana era,
muito provavelmente a base de cereais e a carne tinha um papel secundário. Como
Grotanelli(1998) explicita:
Homero chama os homens de “comedores de pão” e os contrapõe
aos deuses, que vivem de néctar e ambrosia, substâncias um tanto
misteriosas para nós. O ciclope Polifemo, ser monstruoso e
antropófago, alimenta-se de carne e de laticínios e ignora o uso do
vinho, a bebida humana por excelência. (GROTANELLI, 1998, p.121)
Para os etruscos, embora uma boa parte das proteínas ingeridas fosse
vegetal, a partir de legumes, a sua alimentação compreendia também as proteínas e

20
gorduras da carne, que lhes era fornecida pela caça. Existia a predominância da
carne de porco, pois as condições climáticas e geográficas eram perfeitamente
adequadas (SASSATELLI, 1998).
1.2.3. Na Idade Média
Os manuais de dietética posteriores ao século quinto reservam em larga
medida grande atenção à carne. Na cultura das classes dominantes a carne tinha
um grande valor, surge como símbolo de poder, instrumento de energia física e,
portanto qualidade que constitui a primeira e verdadeira legitimação, como
Montanari (2003) demonstra:
E vice-versa, abster-se de carne é um sinal de humilhação, de
marginalização (mais ou menos voluntária, mais ou menos ocasional)
da sociedade dos fortes.[...] é por assim dizer o seu” sustento natural
“: o homem não é por acaso feito de carne?. (MONTANARI, 2003, p.
28-29)
Na Alta Idade Média a diversidade caracteriza a alimentação da época, que
pode ser traduzida pelas diferenças regionais, ligadas a fatores tanto naturais quanto
culturais. A criação de porco pode ser considerada uma das características mais
marcantes da época, embora nas regiões mediterrâneas da Europa sofra
concorrência e às vezes até seja superada pela criação de carneiros, que também
tinham serventia como produtores de leite e lã (MONTANARI, 1998).
A alimentação judia na Idade Média possui elementos sociais e culturais que
as distinguem das demais, onde a alimentação é um desses elementos mais
importantes. Numa Europa essencialmente carnívora, os interditos alimentares
colocavam os judeus diante de um grande problema. Uma das proibições religiosas
dizia respeito ao consumo de alimentos de origem animal (DOLADER, 1998)
Na Idade Média, entre os séculos X e XI, produziu-se uma grande mudança,
onde o equilíbrio alimentar e de produção que se estabeleceu com dificuldade na
Alta Idade Média (até o século X) sofre grande perturbação e já se anunciam muitas
mudanças características dos tempos modernos. O fato mais marcante foi
consolidação da economia agrária que asseguraria, a partir daí, a subsistência da
maioria da população (MONTANARI, 1998).

21
Todas essas mudanças transformaram lentamente as condições de vida das
diferentes classes da sociedade ocidental. A transformação agrária da economia
rural, às restrições impostas pela aristocracia no que dizia respeito à exploração das
florestas, a multiplicação dos mercados rurais tiveram importantes conseqüência nas
relações alimentares. Nas camadas sociais mais baixas, predominam os alimentos
de origem vegetal, em detrimento aos de origem animal, e seus regimes perdem a
variedade que os caracterizavam na Alta Idade Média, que era justamente a
diversidade (RIERA-MELIS, 1998).
Para a alimentação da nobreza, depois da carne, do pão e do vinho,
essenciais na alimentação vêem os ovos e o queijo, como pode ser explicitado na
passagem:
A rainha, assim como a senhora de Montcada, come diariamente pão
de trigo e bebe vinho, inclusive durante a Quaresma. [...] As duas
damas catalãs revelam a mesma preledição pelos pratos ricos em
carne, dos quais só se abstem em dias de penitência. As listas de
compra revelam uma preferência por carnes finas(galinha, frango,
capão e ganso), seguidas por carnes de carneiro, de porco(fresca e
salgada) e de cordeiro. (RIERA-MELIS, 1998, p.395)
Do meio para o fim da Idade Média, em função da retração das áreas
arborizadas e da restrição ao uso das florestas, começam a diminuir a alimentação
com carne das populações rurais. O consumo de carne na baixa Idade Média
(séculos XIV e XV) não pode certamente ser comparado ao dos séculos
precedentes, mas não deve ser esquecido e em geral pode ser considerado
significativo (CORTONESI, 1998).
No final da Idade Média a estrutura hierárquica da sociedade e da natureza
sugeria a existência de um efeito de transposição, que estabelecia certa identidade
entre esses dois mundos. Acreditava-se que a sociedade obedecia a uma ordem
natural, e a natureza respeitava uma espécie de hierarquia social. Como exemplifica:
Assim, parecia perfeitamente razoável que a ave fosse o prato por
excelência dos ricos e dos poderosos: estes tinha necessidade,
como pretendia Thierrat, de consumir aves para preservar a
vivacidade de sua inteligência e sensibilidade. [...] a carne de
quadrúpede, mais pesada e mais rica, era especialmente adequada
à classe dos mercadores. [...] A ligação entre legumes e classes
sociais inferiores é quase sempre evidente, tanto que há entre eles
uma relação às vezes quase simbiótica. (GRIECO, 1998, p. 475-476)

22
1.2.4. Do século XV ao século XVIII
Segundo Abel (apud MONTANARI, 2003, p.99-100) principalmente na
Alemanha, os homens do século XV consumiam cerca de 100kg de carne a cada
ano, o que significaria então um “verdadeiro maximum fisiológico” se considerarmos
os dias de abstinência que eram impostos pela Igreja. Nas regiões mediterrâneas,
porém, o consumo de carne não era tão decisivo do ponto de vista alimentar. Talvez,
então, a situação criada depois da crise econômica e demográfica de meados de
1300, não esclareça os altos consumos de carne do século XV.
No século XVI no mundo africano, segundo Cascudo (2003), a carne usual
era a dos animais caçados e não pastoreados no campo ou guardados nos currais.
A carne não era a do gado e sim a da caça. O gado, por sua vez, existente desde o
Senegal, ainda era defendido pelos tabus, considerados assombrados. O cão era
comido assado, como se prepara o porco, com o couro chamuscado. Hoje, porém,
comem o cão cozido, o bobos, majacos, papéis e os angolanos. A caça no mundo
africano era considerada além de divertimento e dignidade ofício. Como descreve:
“Elefantes, búfalos, a interminável série de gazelas e antílopes, o nédio hipopótamo,
o gordo crocodilo, eram peças dignas de menção e consumo. Sempre assadas.”
(CASCUDO, 2003, p. 167)
A conquista dos mares pelos europeus, e a conseqüente integração dos
outros continentes a sua rede comercial, trouxe a alguns produtos alimentares
exóticos lugar em parte do regime europeu; como o pimentão, o peru, o café, o chá,
o chocolate, entre outros. Além disso, o contínuo crescimento das cidades favorece
a passagem de uma agricultura de subsistência para uma de mercado. Outras
grandes transformações históricas, como por exemplo, a reforma protestante,
também tiveram importante conseqüência para o sistema alimentar (FLANDRIN,
1998).
Da Idade Média até o inicio do século XVII a alimentação das elites seguia
muito de perto as prescrições dos médicos, tanto na escolha como na cocção e
preparação dos alimentos. Nos séculos XVII e XVIII com a desculpa de um gosto
novo, todas as precauções higiênicas tomadas anteriormente tendem a
desaparecer. Como evidencia:

23
O gosto, esse sentido de que a natureza dotou o homem e os
animais para discernirem o comestível do não comestível, sofreu,
aliás, em meados do século XVII, uma estranha valorização. [...] é
ele que permite distinguir o bom do ruim, o belo do feio, é o órgão
característico do “homem de gosto” um dos avatares do homem
perfeito. (FLANDRIN, 1998b, p. 549)
O consumo de legumes a partir do século XV e durante todo o século XVI,
bem como o número de pratos com base nas leguminosas cresceu, e a redução da
proporção dos mesmos no século XVIII não impediu que continuasse a crescer as
espécies mencionadas nos livros de culinária, Flandrin (1998b, p. 641) demonstra
em números: “que passaram de 24 nos séculos XIV e XV para 29 no XVI, 51 no XVII
e 57 no XVIII”.
1.2.5.Os séculos XIX e XX
Essa época, designada por época contemporânea, é caracterizada pela
revolução industrial, que por sua vez atinge a história da alimentação em vários
aspectos. As usinas e indústrias passam a produzir alimentos que antes eram feitos
artesanalmente. Além disso, a revolução proporciona diminuição do tempo para
serviços domésticos. Sobretudo na segunda metade do século XX, as mulheres
compram aparelhos que irão ajudar nos trabalhos de casa, e inclusive na
preparação dos alimentos. (FLANDRIN, 1998b)
A carne nessa época, como alimento tradicional, em todos os países teve a
sua média de consumo aumentada no decorrer dos séculos XIX e XX tomados em
seu conjunto. Em 1938 era possível distinguir um conjunto de paises consumidores
de carne, cuja cota diária variava de 100-200 g, que era os Estados Unidos e a
maioria dos paises da Europa não mediterrânea e alguns paises da América do Sul.
Em dois séculos a cota anual passou na França de 19 kg em 1790 para 79 kg em
1964 (TEUTEBERG; FLANDRIN, 1998).
Somente nos fim do século XIX, segundo Burkhard(1987) é que se deu inicio
a preocupação com a alimentação vegetariana, principalmente através do médico
suíço Bircher Benner. Inicialmente por experiência própria, pois tinha hepatite, e
mais tarde observando os seus pacientes, percebeu o efeito curador de uma
alimentação com o uso de frutas e vegetais. Para Burkhard (1987), a alimentação

24
vegetal oferece maior necessidade de transformação orgânica e fisiológica, o que
faz com que o homem, vencendo as resistências dessa transformação, tire mais
força para si. Se, para se alimentar o animal já fez esse trabalho, o homem que só
se alimenta de carne perde a oportunidade de desenvolver essas forças.
1.2.6.Um pouco de Brasil
A carta de Pero Vaz de Caminha de 1500 é o primeiro depoimento sobre a
alimentação indígena. Farinha, milho, batata, carne de caça e peixe eram as raízes
da árvore humana. Herdamos também do indígena a base da nutrição popular, os
complexos alimentares da mandioca, o feijão, etc. O indígena era essencialmente
um caçador, não esfolava a caça, assava-a com o couro, fixando as substâncias
orgânicas. As peles passaram a ser valorizadas e aproveitadas quando significaram
valor financeiro, ou seja, quando passaram a ser vendidas ou trocadas
posteriormente. Caçando o indígena preferia os mamíferos como o queixada, o
porco do mato. A maneira com que o animal era caçado modificaria o seu sabor.
Como descreve:
O povo como o indígena outrora, distingue a carne do animal que
teve morte agoniada, aperreada, daquele que sucumbiu
inesperadamente, sem debater-se sob o tiro feliz ou flecha
certeira.[...] Sob sua ação mais intensa a carne enrijece demasiado,
fica dura. (CASCUDO, 2004, p.148)
No Brasil, nos primeiros séculos do período colonial, as terras brasileiras
lideraram a mundialização dos alimentos, desde que se considere o intercâmbio da
América não só com a Europa, mas também com a Ásia e a África. A alimentação
portuguesa, desde o inicio dos descobrimentos, já se caracteriza por ecletismo. Não
desprezam nenhuma carne, destacando-se na matança de porcos e na charcutaria
de sarrabulho (guisado de miúdos e sangue de carneiro ou porco) ou chouriços;
prezam leitões cordeiros e cabritos, mas raramente comem bezerros e vitelas que
são mais utilizados para tração e laticínio. No mar comem do atum até a sardinha.
São pioneiros na substituição dos excessos carnívoros pela nova moda piscivora da
época moderna (STOLS, 2003).
Adaptando-se aos hábitos e alimentos da terra, os portugueses seguiram no
Brasil uma dieta simples, que vigora, em parte, até os dias de hoje. A investigação

25
das práticas alimentares na América Portuguesa segue os quatro caminhos de
colonização e povoamento que define:
[...] colonização costeira, de Pernambuco a Bahia, principalmente,
caracterizada pela monocultura de cana-de-açúcar, as frentes de
expansão e reconhecimento de território, em direção ao norte,
acentuando a comida pelas chamadas “drogas do sertão”; a
colonização para dentro, partindo da Vila de Piratininga , São Paulo,
chegando a região das Minas, e, finalmente, o surgimento da
pecuária no interior do Brasil. (SILVA, 2001, p.21)
Nos tempos do Império em termos gerais e, de acordo com alguns
historiadores, nas cidades e no meio rural a carne bovina só era consumida em
festas muito especiais, de maneira que a mais consumida usualmente era a carne
de porco (BRUIT, 2006).
Como as comunidades negras se espalharam pelo Brasil, a culinária que veio
da África se espalhou por todo o país. Hoje em dia, os pratos e os temperos da
cozinha negra fazem parte da nossa alimentação. São saboreados no dia-a-dia e
também nas festas populares. Os caldos, extraídos dos alimentos assados,
misturados com farinha de mandioca (o pirão) ou com farinha de milho (o angu), são
uma herança dos africanos. Podemos lembrar que da África também vieram
ingredientes tão importantes como o coco e o café (STRECKER, 2006).
Duas Pesquisas de Orçamento Familiar (POFs) realizadas no Brasil, a
primeira, entre 1961 e 1963, e a segunda entre 1987 e 1988, trouxeram conclusões
a respeito do padrão alimentar da população urbana brasileira nas últimas décadas.
Pôde-se concluir que mudanças significativas ocorreram na composição do cardápio
do brasileiro. O Brasil apresenta a tendência de redução do consumo de cereais e
tubérculos, a substituição de carboidratos por lipídios e de trocar proteínas vegetais
.
por proteínas animais Quanto às gorduras, observou-se uma substituição daquelas
de origem animal pelas de origem vegetal. A banha de porco e o toucinho deram
lugar ao óleo de soja, a manteiga foi substituída pela margarina. A ingestão de fibras
ficou prejudicada tendo em vista a redução no consumo de feijão e cereais e a
permanência do alto consumo de açúcar (BLEIL, 1998).
Na contemporaneidade, os motivos que levam uma pessoa se tornar
vegetariana podem ser inúmeros, como os de ordem científica, ambiental e religiosa.
O vegetarianismo apresenta muitas faces nas suas justificativas e legitimações.

26
1.3. Ciência, Religião e Ambientalismos: algumas das razões para ser
vegetariano
A cultura em que se vive transmite um conjunto de valores que devem ser
seguidos e, além disso, opera uma naturalização dos costumes de maneira que não
é possível distinguir a construção histórica e social dos fatos e atos. Naturalizamos
atos e conceitos que foram determinados e ensinados pela própria sociedade.
1.3.1. A ciência e a saúde
Ironicamente, a ciência moderna, cujo fundamento é a separação radical
entre o homem e a natureza (postura, portanto, oposta aos princípios holistas do
movimento ambientalista) também tem oferecido fundamentos para a opção
vegetariana. No caso do vegetarianismo, fornecendo argumentos para os cuidados
com o corpo e a saúde.
Por volta de 1700 as pessoas concebiam o universo como uma estrutura
mecânica, supunha-se que os mistérios da natureza estavam abertos à
investigação, por meio de experiências e da análise matemática. Com a Revolução
Científica, essa nova atitude em relação ao mundo natural contrasta com a
concepção tradicional da natureza, que era entendida como organismo vivo. O
século XVII se caracteriza, então, pelo otimismo sem precedentes com relação ao
progresso do homem através da tecnologia e do entendimento do mundo natural.
Isto torna o homem dominador e manipulador da natureza.
Processos fisiológicos passam a ser estudados cientificamente e o homem
resume-se aos seus aspectos biológicos. A ciência, então, o insere e dota-o da
capacidade de modificar o fluxo “natural” das coisas, até mesmo de alterar as leis da
genética.
A categoria científica, biológico resultado da separação entre corpo e alma,
insere o homem na natureza, dota-o ao mesmo tempo da capacidade de
manipulação, como explica:
[...] transmutar umas substâncias químicas em outras, de criar
substancias artificiais, de modificar o fluxo natural das coisas, de
alterar as leis da genética ou fazê-las opinar ao seu favor. Enfim
dota-o da capacidade de mudar o mundo a sua vontade.
(RODRIGUES, 1983a, p.156)
Na ciência moderna, o ponto de referência da idéia de natureza se constitui
na ruptura entre o homem e o mundo (dito real), de maneira que a expulsão do
homem do reino da natureza nega a sua complexidade, mas procura garantir o
controle do homem sobre o reino natural. (ALBUQUERQUE, 2006, p.197): “Nesta
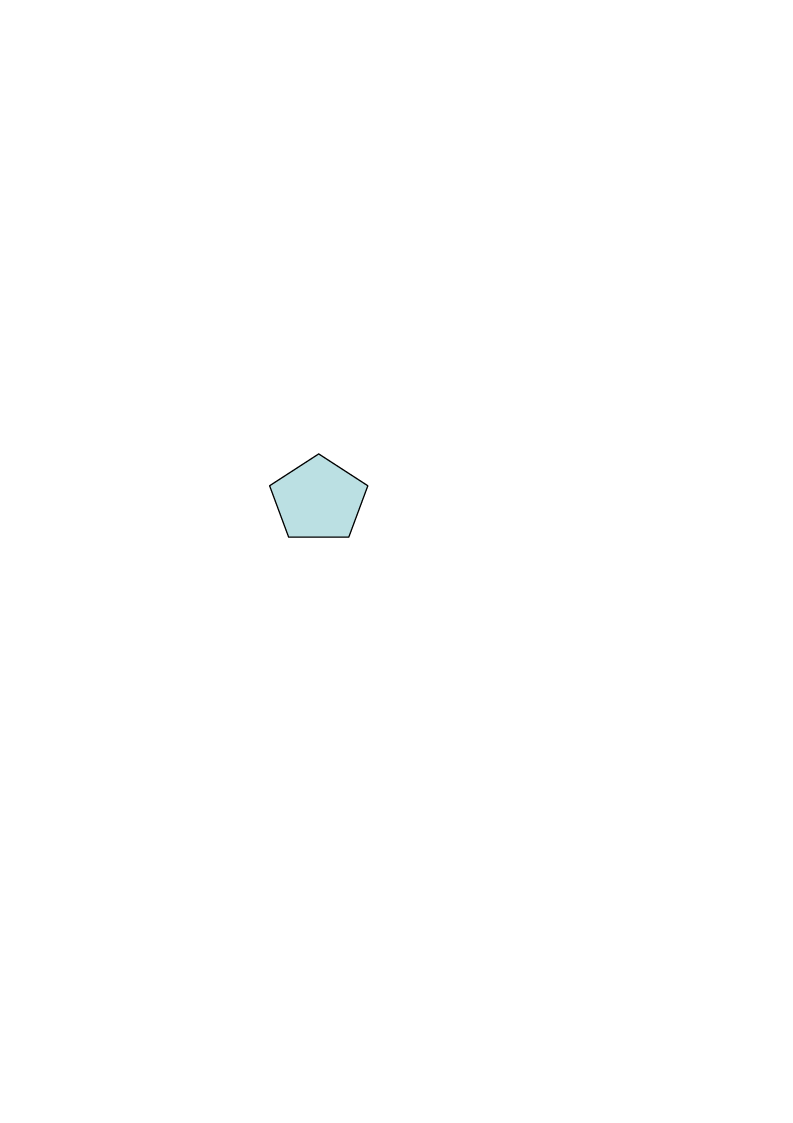
27
relação de exclusão está expresso, também, o seu projeto civilizador diante do
mundo humano e natural”.
Em 1946, talvez buscando uma terapêutica para o efeito depressivo do pós-
guerra, a Organização Mundial da Saúde reinventou o Nirvana e chamou-o de
‘saúde’, como ironiza Filho (2000).
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde não apenas como a
ausência de doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e
social (SEGRE, FERRAZ, 1997).
Filho (2000) discute os vários conceitos de saúde, e diagramas das mais
variadas formas e traz exemplos como esse que podemos observar na figura que
segue (FIGURA 1), que o autor considera como caso extremo e como uma mandala
totalizante das virtudes e valores humanos:
SOCIAL
FÍSICA
INTELECTUAL SAÚDE EMOCIONAL
ESPIRITUAL
FÍGURA 1- Saúde como mandala totalizante.
Fonte: FILHO, N. A. O conceito de saúde: ponto-cego da epidemiologia? Revista Brasileira de
Epidemiologia. vol. 3, p.1-3, 2000.
Nota: Figura desenhada e dados trabalhados pelo autor.
A saúde envolve aspectos ligados às dimensões emocionais, sociais,
culturais, espirituais e relacionadas ao bem estar físico, e este bem estar não é
determinado somente pelos aspectos biológicos, mas também pelo contexto
econômico e político (RAINE e PAQUETTE, 2004).
Santos (2006) pontua as relações entre os alimento saudável e o não
saudável. E confunde o alimento saudável com o alimento nutritivo, natural, não
calórico, não gorduroso e muitas vezes um alimento seguro. A idéia da alimentação
saudável ao seu ver existe apenas em um pensamento utópico, e propõe a idéia do
mito do alimento perfeito criado para um mundo estável, harmônico, equilibrado,
sem contradições e sem paradoxos. O alimento perfeito seria:
Um alimento imortalizado pelas técnicas de conservação que lhe
garante a eterna juventude, higienizado não havendo doenças que o
destruam nem muito menos provoquem doenças ao corpo humano,
contendo todos os nutrientes necessários de forma equilibrada e

28
natural frente ao mito do eterno retorno às origens, no Jardim do
Éden, antes da mordida da maça. O alimento perfeito para uma dieta
perfeita que se corporifica na construção da alimentação saudável,
necessária para a construção de um corpo não menos
perfeito.(SANTOS, 2006, p. 332-333)
Palma (2000) traz a concepção de saúde apresentada no Relatório Final da
VIII Conferencia Nacional de Saúde realizada em 1992, que diz assim (PALMA,
2000, p.98):
Saúde é o resultante das condições de alimentação, habitação,
renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer,
liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde.
É, assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização
social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades
nos níveis de vida.
Para Acharam (1984) a saúde não se obtém na consulta do médico, ou se
compra na farmácia, ela seria o resultado dos nossos próprios atos de cada dia, de
harmonia com as Leis da Natureza, de maneira que a sabedoria estaria na natureza
e não no laboratório. A lei natural seria a vontade do Criador que impõe ao homem
uma norma para cumprir o seu destino moral e físico. Os preceitos que a Lei Natural
impõe ao homem como condição para manter a normalidade orgânica, a saúde,
estão compreendidas nos 10 mandamentos seguintes:
Respirar sempre ar puro; Comer exclusivamente produtos naturais;
Beber unicamente água natural; Ter suma limpeza em tudo; Não
estar jamais ocioso; Descansar e dormir só o necessário; Cultivar
todas as virtudes, procurando sempre estar alegre. (ACHARAM,
2001, p. 21)
Para Porto (1994), a doença surge como algo cultural, de maneira que a vida
humana não é só biológica, mas também cultura. A prática médica legitima a visão
orgânica e retoma a tese de que a medicina não é moderna.
Hoje, poderíamos falar que existe uma abordagem holística em saúde que
traz uma aproximação entre o saber cientifico e o saber popular, de maneira que os
estudos culturais serão de enorme importância na elaboração de novas formas de
saúde. Como explana o autor a seguir:

29
Os modelos místicos e diversas culturas tradicionais precisam ser
conhecidos, estudados e integrados ao modelo holístico de saúde
que se quer. Ao longo do tempo os sistemas de saúde oscilaram
entre modelos reducionistas e modelos holísticos. Dois grandes
modelos vêm influenciando o pensar, fazer e viver saúde e doença.
São os modelos xamanísticos e os modelos seculares. (TEIXEIRA,
1996, p. 288)
Capra (1986) apud Teixeira (1986) sugere novos caminhos para a saúde e
fala do paradigma holístico. Ao propor novos caminhos para a saúde, ressalta que
devemos pensar sobre os atuais modelos de serviços, de instituições de ensino e de
pesquisas em saúde. Deveríamos fazer uma transição para o novo paradigma, que
deve ser feita com cautela e lentamente, devido ao grande poder simbólico da
terapia biomédica em nossa cultura ocidental.
As práticas naturais como chama Teloken (2005) têm a proposta de integrar a
qualidade de vida do homem, abordando as esferas físicas, mentais e emocionais.
Sustenta-se, portanto, em um paradigma que compreende o corpo como um sistema
complexo e integrado de energia, que levaria a uma busca da consciência humana e
da expressão da alma. Pensamentos, emoções e as relações com o mundo interno
e externo mobilizam energias no processo de saúde e doença.
O paradigma holístico provoca uma aproximação com abordagens não
ortodoxas da saúde. Faz-se necessário encontrar as pontes para unir tais saberes.
As diversas terapias reconhecem a interdependência fundamental das
manifestações biológicas, físicas, mentais e emocionais do organismo, sendo,
portanto, coerentes. O paradigma holístico surge de uma crise da ciência, de uma
crise do paradigma cartesiano-newtoniano, que defendem a racionalidade, a
objetividade e a quantificação como únicos meios de se chegar ao conhecimento. O
novo paradigma busca uma visão, que deverá ser responsável por dissolver toda
espécie de reducionismo. Forçando um novo debate no âmbito das diversas ciências
e promovendo novas atitudes, como caracteriza: “O planeta terra está doente, seus
habitantes enfermos e seu habitat poluído e contaminado. Urge uma nova atitude,
novos habitantes e novos modelos de ser/fazer ciência”. (TEIXEIRA, 1996, p. 286)
Para Soares (1994) o estado ideal de cura, saúde e equilíbrio seria o
resultado de manifestações confluentes de pureza. Acredita que por esse motivo
seria possível compreender porque seriam três as vias curativas principais: o

30
alimento físico puro, oriundo diretamente da natureza imaculada; o alimento
espiritual, fruto do convívio harmonioso com os outros e com a natureza e as
terapias que se aplicam sobre a circulação e distribuição de energia.
A contracultura aparece como denunciadora dos custos humanos do
processo civilizador. Ela expressa valores como a defesa da espontaneidade, o
resgate da rusticidade do habitat, a relação entre o corpo e a mente entre outros.
Como a contracultura defende outras relações entre o homem e a natureza, ela
constitui também outros corpos (ALBUQUERQUE, 2001b).
1.3.2. Ambientalismos, Ecologia e Cultura Alternativa
Qualquer observador da sociedade brasileira dos últimos 30 anos irá
confirmar que a consciência ambiental cresceu muito. O fato é que na sociedade
brasileira de hoje, esse discurso é muito usado, e se é verdade que encontram
adversários aqui e ali devido a interesses específicos, a questão da necessidade da
preservação do ambiente não esta mais em discussão (URBAN 2001).
Podemos também relacionar a alimentação vegetariana com o movimento
ambientalista. Este último, originário da contracultura dos anos 60, traz em suas
lutas uma visão holística do mundo, onde a natureza apareceria então
ressignificada, procurando substituir uma visão antropocêntrica do mundo, por uma
visão indeterminada de natureza.
Para Woortmann (2004), os vegetarianos se encaixariam em uma categoria
esquisita que representa, sem dúvidas nenhuma, a “contracultura” que fala por uma
linguagem invertida, onde não só se substitui o animal pelo vegetal, mas também se
rejeita o ocidente por um oriente mitológico.
O movimento da contracultura traz como propostas a volta à natureza, a
defesa da espontaneidade, a busca de soluções em culturas distantes da
modernidade e previsões de catástrofes globais. Nos anos 70 estes temas passaram
a ser apropriados pela política e pela ciência, o que promoveu uma intelectualização
das questões ambientais (ALBUQUERQUE, 2006).
Os anos 60 e os movimentos de contracultura marcam a aparecimento de um
novo ecologismo, que entra em contraposição a antiga proteção à natureza, cujas
instituições surgiram no século XIX. As suas lutas se baseavam nas questões

31
ecológicas, ao lado do antimilitarismo/pacifismo, luta de minorias, etc. Esse novo
ecologismo foi marcado pela “futurologia”, pelo profetismo alarmista, que
compreendia o incerto futuro do planeta, esgotamento de recursos, superpopulação,
tecnologias opressivas, ciência dominada pela tecnocracia, etc. (DIEGUES, 2001).
O meio ambiente começa a aparecer com mais freqüência nos noticiários a
partir dos anos 70. Antes disso as noticia eram feitas através de especialistas,
sobretudo estrangeiros, que vinham visitar universidades. No ano de 1973,
registrava-se grande número de denúncias de devastação e destruição dos recursos
naturais no Brasil. A partir de 1974, o movimento ambiental vai ganhando força à
medida que os problemas ambientais ganham espaço nos meios de comunicação. O
início dos anos 80 é marcado pela ação do movimento contra a implementação do
programa nuclear, e nesse momento o movimento ganha a adesão do movimento
pacifista (ANTUNIASSI; MAGDALENA; GIANSANTI, 1989).
O ideário ecologista presente no movimento ambientalista representa um
ponto de ruptura na história do pensamento ocidental, constituindo-se em um novo
paradigma, sendo que esse ideário ganha expansão a partir da crise do marxismo.
Na década de 70 novos grupos ou correntes muito diversificados se desenvolveram
no interior das grandes instituições religiosas ou fora delas. Além disso, grupos
propriamente ditos desenvolveram numerosas redes mistico-esotéricas, onde as
mais conhecidas são as New Age (nova Era). Champion (2001) reúne algumas
características comuns destes grupos e correntes que ela denomina de “nebulosa
mística”. Essas três características são: a centralidade concedida, “experiencial”,
com a idéia de que cada um deve encontrar o seu caminho, e que todos são
verdadeiros quando ultrapassam suas formas exteriores, esclerosadas, sociais; os
praticantes são animados por um projeto de transformação pessoal mediante
técnicas psico-corporais; e a ultima característica é a adoção de uma concepção
monista de toda a realidades, ou seja, recusam o postulado dualista das religiões, a
separação entre o humano e o divino, a separação do mundo natural e sobrenatural.
Para Carozzi (1999), a Nova Era supõe uma transcendentalização da
autonomia, de maneira que a ampliação da consciência já não pretende só a
superação dos condicionamentos sociais à procura de auto-realização e
desenvolvimento de potencialidades individuais, mas o descobrimento de uma
centelha divina no interior do homem que o une energeticamente a um tudo divino
que o inclui e supera. Ser socialmente autônomo agora é ser divino e estar ligado a

32
uma totalidade divina, ou seja, transcender. O que diferencia o movimento da Nova
Era de outros movimentos pós-sessentistas, é seu caráter religioso: a absolutização
da autonomia individual, a negação de toda a influência do entorno, que desta forma
leva à elaboração de explicações sobrenaturais, como a postulação de uma nova
era, que faz com que aqueles que participam desses movimentos possuam um
interior não socializado, sábio, sadio e conectado energeticamente com o universo
como motor das transformações individuais.
Segundo Burkhard (1987), os povos antigos possuíam uma relação com a
natureza e o ambiente considerada por ele como natural. Sabiam, por exemplo, as
plantas venenosas, medicamentais e alimentares. Caçavam os animais somente
para a alimentação e apenas quantidade para garantir a sobrevivência. Existia,
portanto, harmonia entre o homem e a natureza. Nos dias de hoje considera que o
reino animal, foi rebaixado ao vegetal, como descreve:
Se observarmos as granjas de hoje, veremos as galinhas
enfileiradas, sem possibilidade de movimentação , recebendo uma
ração que as engorda o mais rápido possível para srem abatidas
quando atingirem determinado tamanho e derem a rentabilidade
máxima. Dessa forma o animal é rebaixado ao vegetal: crescer,
engordar e fenecer, destituído de movimento e de
instintos.(BURKHARD, G. K. 1987, p. 18)
A década de 60 marca a emergência, no plano político, de uma série de
movimentos sociais, onde o ecológico também emerge. A década de 60 assistirá,
portanto, o crescimento de movimentos que não irão mais atuar como críticos ao
modo de produção, mas fundamentalmente o modo de vida das pessoas, donde o
cotidiano aparece como categoria central nesse questionamento. No Brasil esse
movimento só emerge na década de 70 em um contexto bem específico, onde três
fontes importantes tiveram bastante influência: o Estado interessado em
investimentos estrangeiros, que só chegariam mediante a adoção de medidas de
caráter preservacionista; o movimento social gaúcho e fluminense contra o uso
indiscriminado de agrotóxicos e a criação do receituário agronômico; e finalmente a
contribuição dos exilados políticos que voltavam ao Brasil com a anistia e que
acabaram de vivenciar movimentos ambientalistas europeus (GONÇALVES, 2006).
Semelhante a outros movimentos idealistas desde o século XVIII,
concentrados numa preocupação moral com os animais na Europa, os defensores

33
dos direitos dos animais se organizam por uma causa moral comum, que se
caracteriza por uma conscientização social pelo tratamento humanitário dos animais.
(THOMAS, 1988).
1.3.3. Religiões e Espiritualidades
Uma outra face das legitimações do vegetarianismo é a religiosa. Os
interditos alimentares religiosos são uma variável importante neste estudo, por sua
proximidade com a alimentação e também com o vegetarianismo e a sua história. A
identidade religiosa pode ser considerada, muitas vezes, uma identidade alimentar.
A própria origem da explicação judaica cristã para a queda de Adão e Eva é a sua
rebeldia em seguir um preceito religioso, não comer do fruto proibido. A alimentação
parece ter uma relação muito íntima com a religião, de maneira que falar em uma
automaticamente faz brotar relações com a outra.
No ideal religioso ascético o jejum e a abstinência de comida apresentam-se
como contexto amplo. A ascese na acepção mais comum é o conjunto dos esforços
mediante os quais se deseja progredir na vida moral e religiosa. Podemos distinguir
uma tradição dualista da ascese-purificação e uma tradição que é chamada de
realista da ascese como volta à natureza. Para a primeira trata-se de libertar a
inteligência das sensações corporais confusas, que remete a idéia de corpo como
túmulo da alma. A segunda tradição preconiza a pobreza, a dureza física e a
frugalidade alimentar para levar a alma a auto suficiência e à felicidade (HIGHET,
2005).
Embora haja sobreposição entre espiritualidade e religiosidade, a última
difere-se por pertencer a um sistema de doutrina específica partilhada com um
grupo. Os dois termos buscam o sagrado, definindo religiosidade como um sistema
organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos delineados para facilitar a
proximidade com o sagrado e o transcendente, enquanto a espiritualidade como a
busca pessoal por respostas compreensíveis para questões existenciais sobre a
vida, seu significado e a relação com o sagrado ou transcendente que podem ou não
encaminhar ou resultar do desenvolvimento de rituais religiosos e formação de uma
comunidade. Como define:
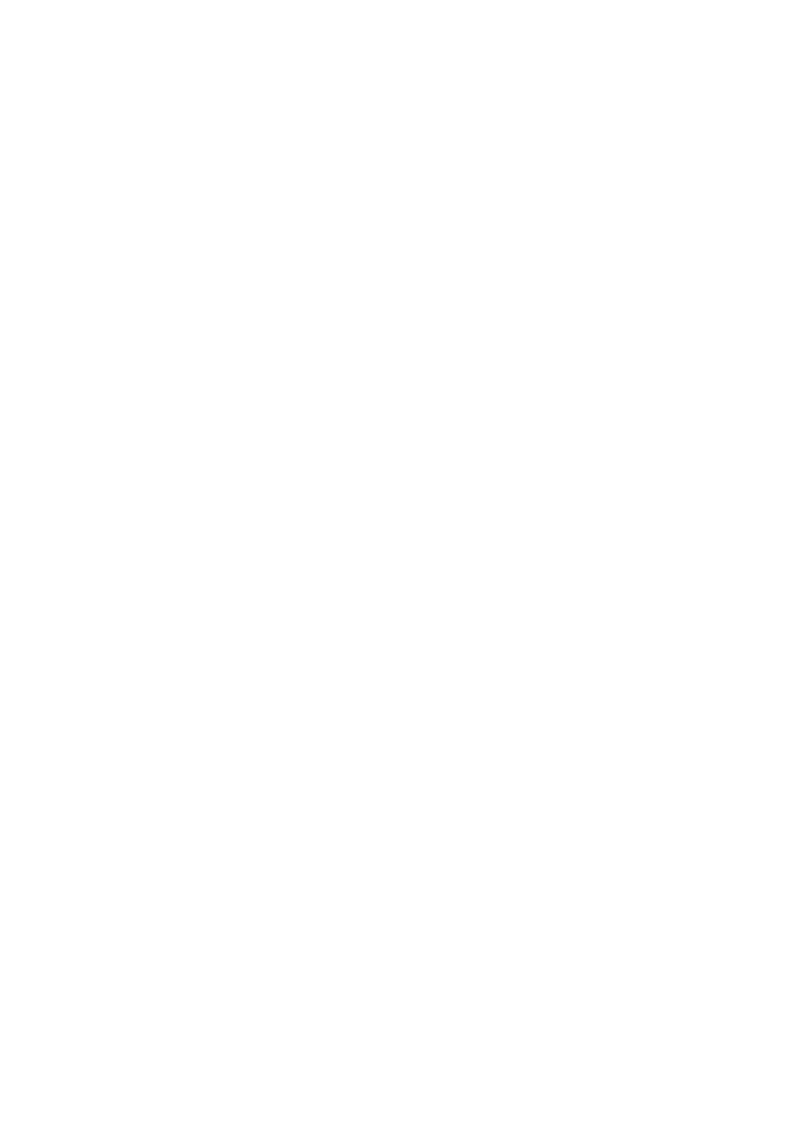
34
O termo espiritualidade envolve questões quanto ao significado da
vida e à razão de viver, não limitado a tipos de crenças ou práticas. A
religião é a "crença na existência de um poder sobrenatural, criador e
controlador do Universo, que deu ao homem uma natureza espiritual
que continua a existir depois da morte de seu corpo".(PANZINI et al,
p.01)
Douglas (s/d) acredita que a noção do que é poluído ou puro apenas faz
sentido no contexto de uma estrutura total do pensamento, onde as margens, os
limites e os movimentos internos estão ligados uns aos outros pelos ritos de
separação. Como ilustração desta tese ela refere as abominações do Levítico, em
particular as restrições alimentares, como um enigma que ainda desconcerta
estudiosos da Bíblia. Cita então duas vertentes: uma que considera tais regras
desprovidas de significação e arbitrárias porque são disciplinares e não doutrinais; e
uma segunda que trata das questões das virtudes e dos vícios. Interessante a
explicação de um Bispo em nota ao versículo 3 do Levítico:
As patas fendidas e a ruminação simbolizam a distinção entre o bem
ao mau e a meditação na lei de Deus; onde uma destas faltar, o
homem esta impuro. De maneira semelhante, os peixes sem
barbatanas e escamas eram considerados impuros: são as almas
que não se elevaram pela oração e que não estão revestidas com as
escamas da virtude. (DOUGLAS, s/d, p. 64)
Schwantes (2005) lembra que no Gênesis aparece uma compreensão
positiva do sacrifício de aves e animais, que se apresenta após o dilúvio. Porém, a
inclusão da carne na alimentação dos homens é colocada como apavorante para os
animais (capítulo IX): “Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da Terra”.
Esta imensa brutalidade que implica o uso de animais para a alimentação é marcada
cotidianamente pela violência e pela brutalização, realizada e encenada no seu
próprio prato. O alimento com sangue também não deve ser comido. Isso acontece,
pois o sangue que condensa a vida seria a expressão da alma.
Compadecer é sofrer “com”, ter compaixão é a virtude de compartilhar o
sofrimento do outro. Não significa aprovar suas razões, sejam elas boas ou más. Ter
compaixão é não ter indiferença frente ao sofrimento do outro (GOLDIM, 2006).
Comte-Sponville(1999) em seu livro Pequeno Tratado das Grandes Virtudes,
considera a compaixão uma dessas virtudes, e lembra a questão animal. A maioria
de nossas virtudes só visa à humanidade, é sua grandeza e seu limite. A compaixão,

35
ao contrário, simpatiza universalmente com tudo o que sofre: se temos deveres para
com os animais, como acredito, é antes de tudo por ela, ou nela, e é por isso que a
compaixão talvez seja a mais universal de nossas virtudes.
Para Montanari (2003) a carne substituiria a supremacia do pão como símbolo
da civilização se a Europa não tivesse se tornado cristã e adotado como seu credo o
pão, a vinho e o óleo, que desempenhavam papel simbólico absolutamente central.
À Europa Carnívora, a norma eclesiástica impunha a abstinência de carne por
aproximadamente 140-160 dias ao ano, de maneira que os motivos dessa escolha
são bastante complexos:
[...] motivações de ordem estritamente ligadas à penitência (a
renuncia a um significativo prazer cotidiano) [...] certa imagem ‘pagã’
do consumo de carne, [...] seja a convicção, cientificamente
corroborada pelos textos de medicina, de que o consumo de carne
favorecia o excesso de sensualidade (este grande amigo do perfeito
cristão), seja, ainda, a tradição do “pacifismo” vegetariano herdada
da filosofia grega e helenística. (MONTANARI, 2003, p.103)
Outro grupo religioso, agora na modernidade e no âmbito do cristianismo, são
os Adventistas do Sétimo Dia. Os Adventistas do Sétimo Dia fazem recomendações
chamadas de Reforma da Saúde desde de 1863, o que inclui, além das diversas
restrições alimentares, cuidados com a higiene e uso de medicamentos. Embora o
vegetarianismo seja intensamente recomendado, ele não faz parte da condição
mínima para que a pessoa se torne membro da Igreja. Para os Adventistas do
sétimo Dia, o pecado original seria a Gula; e sendo assim, o caminho da salvação
envolve a negação dos prazeres do apetite, associando isso com o “pecado da Eva”
(SCHUNEMANN, 2005).
Segundo Schunemann (2005), Ellen White acredita que um cérebro fraco não
é capaz de discernir as coisas espirituais e que a fraqueza cerebral seria decorrente
de uma má alimentação, o que pudemos perceber na fala transcrita. Ela afirma
também em alguns escritos que o Espírito Santo se comunica através do cérebro, de
maneira que um cérebro enfermo seria um obstáculo para a comunicação das
verdades religiosas.
A carne estaria entre os principais inimigos do Adventista segundo o discurso
da visionária. Ela descreve a carne como portadora de poderes morais. E nessa
mesma linha ela faz uma relação entre o abandono da carne e a salvação. Mesmo o

36
uso seletivo da carne descrita como puras ou impuras no Levítico não constitui um
ideal a ser observado. A idéia era que o vegetarianismo era bíblico e que as
proibições de animais impuros teria relação com a saúde. Ela reforça, porém, a
necessidade de se abster de toda a carne (SCHUNEMANN, 2005).
O budismo adota um princípio ético-religioso que é chamado ahimsa e que
consiste na rejeição constante da violência e no respeito absoluto de toda forma de
vida. No ocidente a sua notoriedade deve-se à prática da ahimsa na conduta
coerente de Mahatma Gandhi. Para Van (2005), a real não-violência, o Ahimsa, é
uma ação amadurecida. Não é possível ser pacífico sem conhecer profundamente
as raízes do sofrimento perceptivo, reconhecer e tocar em si mesmo os próprios
ódios, medos e frustrações – e efetivamente superá-los, libertando a mente.
Acredita, portanto, que a postura pacífica construtiva não deriva de uma visão
romântica ou passional do mundo.
Os jainistas talvez sejam mais radicais dentre os grupos religiosos
vegetarianos. O jainismo é uma das religiões mais antigas da Índia, vista durante
algum tempo pelos investigadores ocidentais como seita do Hinduismo ou heresia
do Budismo. O jainismo, contudo é um fenômeno original que possui em comum
com as duas religiões a crença no karma. Wilkinson (2001), afirma que o modo de
vida dos jainistas é dominado pela necessidade de atingir uma reencarnação
favorável, ou melhor ainda, a libertação completa do ciclo de reencarnações. Eles
obedecem a uma série de votos que determinam seu comportamento, sendo um
deles a não violência.
O meio de minimizar essa violência segundo Bowker (2004), é finalmente
conseguir se libertar dos sentidos do corpo e retirar-lhe o máximo de ação possível
através da renúncia ao mundo social e às preocupações materiais. Chegam até a
utilizar máscaras para que no contato com o ar não inalem insetos e acabem os
machucando. O vegetarianismo aparece desta maneira como indicador importante
de toda a história do jainismo.
As religiões afro-brasileiras também possuem os seus interditos alimentares.
A utilização do gado bovino era na África destinado às práticas religiosas, sacrifícios,
multas e dotes. E como descreve Cascudo (2003), existia o “complexo mágico de
Boi”, onde o gado criado era para cerimônias, e eventualmente, quando consumido,
era com respeitoso recato, como restos da fome dos deuses repletos.

37
O candomblé tem uma relação muito especial com a comida. Entendemos
mais essa importância da alimentação no candomblé, quando Prandi (2001)
descreve que nas festas de candomblé no momento em que os orixás se
manifestam por meio do transe ritual, são precedidos de uma série de ritos que
envolvem o sacrifício de animais, preparo das carnes para o posterior banquete
comunitário. Essas comidas rituais são oferecidas aos orixás que estão sendo
celebrados.
A partir do momento em que e se dá a fixação do orixá numa pedra ou
pedaço de metal o devoto terá obrigação de nutrir periodicamente com o sangue das
vítimas sacrificiais esse artefato. O ato supremo e definitivo é a consagração da
cabeça do iniciando, por meio de cortes e incisões, do derramamento do seu
sangue, que se mistura ao sangue dos animais (MOTTA, 2000).
Para Sampaio (2005) a umbanda, outra religião afro-brasileira, na
contemporaneidade passa por uma modificação, apagando algumas práticas
consideradas "bárbaras" e nascendo outras, por meio da racionalização e da
moralização. Está sendo moldada pelos responsáveis pela mudança de acordo com
seus próprios gostos e aboliram alguns rituais mais distantes da cultura vigente,
como a matança de animais e a utilização da pólvora e da bebida alcoólica. A prática
da caridade cristã se faz presente. Ela descreve um ritual da umbanda que faz o uso
do alimento e do sacrifício animal que também tem relação com a prática
vegetariana, devido à proteção animal:
No início do ritual, foram abatidos alguns animais, em oferta aos
orixás. Em seguida, os pratos de comida tocaram algumas partes do
corpo da nova abiã. O pai-de-santo repetiu tal gesto, porém, com
frutas. Dois outros animais foram abatidos sobre a cabeça da abiã, e
ofertado à ela o sangue ritual. Por cima deste sangue, foram
espalhados montes de comidas [...] foi aconselhada a manter
resguardo por dois dias, evitando "beber refrigerante, café, ter maus
pensamentos, falar palavrão, beijar, abraçar, praticar sexo, ir a
festas". Não foi observada restrição em relação à ingestão de carne.
(SAMPAIO, 2005, p. 106)
Porém, do ponto de vista religioso, estão nas religiões de origem e influência
africana como candomblé e umbanda, a maior incidência quanto ao uso de plantas,
tanto nas cerimônias religiosas como nos rituais de cura. A importância das plantas

38
é tão grande que sem elas Camargo (1998) acredita que essas religiões não
existiriam.
Enfim, motivos religiosos podem aparecer também vinculados aos ambientais.
A relação homem – natureza se promulga de muitas formas dentro das religiões e
algumas dessas formas podem vir expressas através dos novos movimentos
religiosos.
O conceito de novos movimentos religiosos surgiu nos EUA, nos anos 70
quando especialistas em estudos religiosos e em sociologia da religião passaram a
apontar sua atenção para um grupo de movimentos controversos, que na época
eram chamados de “cultos”, tais como Hare Krishna, Meditação transcendental e a
Cientologia. É interessante observar que apesar das diferenças dos grupos, foi
possível reuni-los, por contraste ao passado e pela simultaneidade de seu
aparecimento e a dinâmica comum de seu desenvolvimento, em noções como o
despertar e a nova consciência religiosa (TAVARES, 2000).
Há um novo movimento descrito por Soares (1994) chamado de nova
consciência religiosa, que surge de uma espécie de angustia moral provocada pelos
problemas alarmantes da sociedade que não foram resolvidos, o cinismo da
corrupção, e, sobretudo pelo desapreço pelos valores mais elementares da vida
humana. Acontece uma espécie de revival do interesse intelectual, existencial e
político pela ética, ou uma procura de investigações e experimentações individuais
através de terapias, disciplinas esotéricas ou práticas alternativas.
Campbell (1997) caracteriza uma mudança da teodicéia tradicional, por uma
oriental, que estaria provocando alterações nas concepções da relação entre o
divino e o mundo, a qual chama de processo de orientalização do Ocidente. As
análises deste autor apresentam as relações do homem com a natureza nessas
duas perspectivas: no Oriente traz o homem inserido na natureza, o que o impediria
de categorizar, manipular e controlar as coisas do mundo; no Ocidente, o homem
teria características que o distinguem e o separam da natureza, de maneira que tem
como papel prever e controlar as coisas do mundo. Esta concepção é coerente a
visão cientifica.
Cambell (1997) defende o argumento de que esse processo de orientalização
pode ser entendido como facilitador pela presença de uma tradição cultural nativa do
Ocidente. Neste sentido, resgata as tradições pré-cristãs, e as vê como condutoras
de um processo de paganização dos modos de crer no Ocidente. O movimento

39
Nova Era, as terapias alternativas, o ambientalismo com sua ecologia profunda
seriam indicativos deste fenômeno. O autor também considera a idéia de “ecologia
interna”, como uma forma do despertar meditativo da consciência, familiar aos que
buscam o religioso. Inclui aí o vegetarianismo e o seu crescimento na
contemporaneidade ocidental, bem como reconhece a prática vegetariana como
uma religião. Nessa perspectiva o seu espírito seria mais Oriental que Ocidental.
Guerreiro (2007) considera como constituinte do movimento Nova Era, desde
consultas a artes divinatórias, até a existência de religiões bem estruturadas e
institucionalizadas, passando por terapias do corpo e da mente, vivências
xamânicas, técnicas de meditação, livros de auto-ajuda, alimentação naturalista,
cristais, pirâmides, agências de viagens especializadas em roteiros a lugares
sagrados, adorações à Lua, bruxarias (valorizadas nos seus aspectos positivos) etc.
Uma nova atitude alimentar como a eliminação de certos alimentos
(sobretudo os industrializados, a carne vermelha e, por vezes, toda proteína de
origem animal), a conversão à cozinha vegetariana ou à macrobiótica2, o
aprendizado da culinária, a freqüência a restaurantes vegetarianos seriam um sinal
de modificação do comportamento do movimento Nova Era. (MALUF, 2005)
Ocidente e oriente se convergem em nome do holismo que se quer, que é
vivo, dinâmico, interligado e sistêmico. O saber científico se aproxima do saber
popular e abre-se espaço também para a sabedoria. Em março de 1986, em
Veneza, ocorreu um encontro de grandes cientistas de diversas áreas do saber e
todos debateram a ciência face aos confins do conhecimento e os novos rumos para
o terceiro milênio, surgindo a Declaração de Veneza, que aponta:
... o momento de crise da ciência e indica a necessidade de
reconhecermos a urgência de novos estudos e pesquisas, numa
perspectiva transdisciplinar em intercâmbio dinâmico entre as
ciências exatas, as ciências humanas, a arte e a tradição. O grande
desafio é o compromisso social dos pesquisadores e profissionais.
(TEIXEIRA, 1996, p.289)
2 A macrobiótica, considerada por Kikuchi (1982), como uma arte culinária, segue as ordens da
natureza, se alimenta de acordo com as estações do ano, o clima e a região que vivemos. De
produtos naturais, não tratados quimicamente, e com refeições simples.

40
Dentro desse processo de orientalização do ocidente, onde são relevantes a
repaganização e a presença dos movimentos ambientalistas. Campbell fala da
origem das reações diante da devastação do planeta:
Entretanto, é claro que não apenas alguns desses impulsos são de
natureza espiritual (se não religiosa), mas também que algumas das
reações tomam tal forma... está claro não só que existe uma conexão
intima e duradoura entre misticismo e um respeito pela natureza,
mas também o movimento Neo-Pagão é virtualmente inseparável de
uma ambientalismo espiritualmente informado. (CAMPBELL ,1997,
p.14)
Velho (1997) nos lembra que esse fenômeno que tem sido relacionado a um
declínio dos adeptos das religiões ocidentais históricas. E sobre os novos
movimentos religiosos afirma:
Apesar de suas limitações, os novos movimentos religiosos talvez
tenham grande importância ao performatizar, por vezes até sacrificial
e profeticamente[...] mas talvez devêssemos levá-los mais a sério,
sobretudo em tempos de Orientalização. E aí, de periféricos talvez
passassem, em nossa própria consciência, a uma posição de
centralidade. (VELHO, 1997, p. 25-26)
Steil (2001) reflete sobre as articulações entre a religião e a busca de saúde,
de equilíbrio psíquico e de bem estar pessoal. Explica que se nas religiões
tradicionais essa relação com a saúde se expressa na expectativa por milagres e
curas específicas, nas novas formas de crer, que é como ele chama os novos
movimentos religiosos, a demanda se expressa mais em tentativas de eliminar
estados doentios ou o preenchimento de um vazio deixado pelo estado de
insatisfação presente na sociedade moderna.
Oliveira (2000) caracteriza que ser Nova Era implica comungar uma visão de
mundo que guia a prática religiosa para áreas de interesse tais como saúde, bem-
estar físico emocional-mental, terapia de auto-ajuda, poderes da mente, prática de
tradições esotéricas do Oriente e do Ocidente, preocupação com a humanidade e o
meio-ambiente (ecologia, respeito à natureza e ao planeta Terra), valorização das
qualidades do “princípio feminino” (receptividade, sensibilidade, emotividade,
cooperação, compaixão) em oposição ao “princípio masculino” (racionalidade,
competição e individualização). Astrologia, saúde, vidas passadas e futuras,
numerologia, angeologia, ufologia, religiões orientais, ocidentais e indígenas (antigas

41
e atuais), rituais mágicos, xamanismo, ecologia, rituais de cura, terapias e ioga, para
citar apenas alguns, constituem-se como assuntos e objeto de exploração dos
chamados errantes da Nova Era.
Pela constante experimentação os adeptos dos novos movimentos religiosos
se movem em busca de auto-aperfeiçoamento e de uma auto-realização, que
incorpora caminhos próprios tanto para a dimensão espiritual, quanto para a
psíquica, corporal, intuitiva, tratando de caracterizar-se como uma busca holística
(SILVA, 2003).
Soares (1994) observa que existe algo nas grandes cidades brasileiras,
especialmente entre jovens de camada média, que ele denomina de “nova
consciência religiosa”. Parece haver uma inquietação religiosa, dotada de algumas
características como: insatisfação com as experiências religiosa vividas na infância e
adolescência. Tudo isso parece ter um impacto moral, uma sensibilização; a
angústia moral. Genericamente se identificam então grandes linhas “alternativas”
como a competição predatória, o consumismo, a violência a negligência ética e
impunidade recorrente. O autor ainda sugere que a sociedade brasileira raramente
terá sido tão ética e raramente terá conferido a ética tamanha centralidade, de
maneira então que o “alternativo” facilmente aparece colado ao cidadão
convencional.
Essa exacerbação da ética vem produzindo políticas que procuram superar as
divisões entre o humano e o animal, e desenvolvem concepções organicistas do
planeta.
A religião ligada à questão das corporeidades, também esta presente na
questão vegetariana, desde o começo de sua história até os dias atuais. Inúmeras
religiões condenam o consumo dos mais diversos tipos de carne, seja porque
acreditam que podemos reencarnar como animais, ou apenas para purificação
corporal.

42
1.4. Corporeidades e Alimentação
Foi só recentemente que as ciências sociais começaram a olhar para os
corpos humanos e a ver corporeidades construídas coletivamente. Apesar de Mauss
(1974), Hertz (1980) e outros poucos que souberam dirigir sua atenção para as
dimensões culturais e apreendidas do corpo, este esforço não chegou a criar uma
tradição de estudos sociológicos e antropológicos. É com os movimentos sociais dos
anos de 1960, que atingiram vários setores da cultura e do comportamento no
ocidente, que os corpos vêm a ser corporeidades. Este processo trouxe grande
contribuição às áreas de conhecimento que lidam com os aspectos biológicos dos
seres humanos, especialmente a motricidade humana (BEIG e ALBUQUERQUE,
2006).
Sabe-se que o encontro de áreas e campos de saberes, tradicionalmente
apartados, como as humanas e as biológicas, pode ser problemático. Se por um
lado, a motricidade humana desenvolveu-se como uma ciência aplicada, na grande
área da saúde, preocupada com o aprimoramento do corpo em movimento, por
outro, as ciências humanas precisam aproximar-se com cuidados deste novo objeto,
a corporeidade, devido à quase ausência deste tema nos seus quadros teóricos.
Esta situação é compreensível: enquanto as ciências da natureza retratam, na
“fabricação do mundo”, a ação procurada pela modernidade, as humanidades têm
na “práxis” uma outra idéia de ação, que envolve a reciprocidade entre os homens.
Trata-se, na verdade, da diferença radical entre ver o mundo como objeto, o que
permite produzir tecnologia, e ver o homem como sujeito em comunhão com o
mundo. Esta diferença certamente problematiza os fundamentos das ciências ditas
“exatas”, pois contesta a onisciência para o estudo dos seres humanos. Nesse
sentido, esclarece:
O surgimento das ciências humanas não pode ser entendido como o
nascimento de apenas uma, ou umas, a mais entre as ciências [...].
As ciências humanas partem do escândalo que é o ser humano
conhecer a si próprio, misturando as posições de sujeito e objeto.
(RIBEIRO, 2003, p. 16-17)
As ciências em seus conjuntos dividem-se em empíricas e formais. As
ciências empíricas são divididas em Naturais e Humanas. As ciências naturais

43
estudam os seres inanimados e os animados infra-humanos e as ciências humanas
estudam os seres humanos. Nogueira (1979) acredita que esta divisão apesar de
usual e bastante cômoda merece alguns reparos. O ser humano seria objeto real de
todas as ciências empíricas básicas: da Física a Sociologia. Mesmo considerando
que a Sociologia abranja fenômenos extensivos a seres vivos infra-humanos e
justifica-se a denominação de ciências humanas, pois os fenômenos que mais a
caracteriza são privativos dos seres humanos, quer pela natureza quer pela
intensidade. A expressão ciência humana decorre provavelmente da inevitável
necessidade de um esforço constante de uma síntese dos vários ramos das ciências
humanas, mas não podemos deixar de lembrar que cada uma abrange apenas
determinado aspecto de uma realidade global.
Os especialistas do substrato demográfico tendem a assimilar a metodologia
das ciências sociais às ciências naturais, já os dois lados do triângulo tendem a
defender a necessidade de uma metodologia específica, sem deixar de reconhecer a
aplicabilidade da outra metodologia a determinados aspectos da realidade humana.
Pode-se perceber então que as ciências humanas possuem duas orientações
opostas: as naturalísticas e as humanísticas, como descreve:
... a naturalística, que tende a aproximá-las metodologicamente das
ciências naturais, enfatizando a visão objetiva ou exterior dos
fenômenos humanos, sua abordagem operacional, a formalização de
conceitos e proposições, a análise ou decomposição da realidade
mais complexa em elementos ou partes mais simples e a busca de
explicações causais; e a humanística, que tende a aproxima-las das
disciplinas humanísticas ( línguas, Literatura, Filosofia, artes
plásticas), enfatizando o lado interior, subjetivo ou intersubjetivo da
experiência humana, a apreensão de situações concretas, o uso de
conceitos sensibilizadores e de uma linguagem figurativa, a visão
globalizante ou sintética da realidade e a busca de explicações
teleológicas, particularmente motivacionais. (NOGUEIRA, 1979, p.
10-11).
Segundo Boltanski (1989) se tivéssemos que definir o modelo ao qual estaria
hoje filiada a sociologia do corpo, talvez não encontrássemos um paradigma melhor
do que o do “colóquio interdisciplinar”. Este definiria o ponto de encontro fictício e
abstrato onde se reuniriam especialistas, provenientes das mais diversas disciplinas,

44
em torno de um mesmo domínio do real ou de um problema social percebido e
designado pela consciência comum.
Em um contexto social e histórico particularmente instável e mutante, no qual
os meios tradicionais de produção de identidade (a família, a religião, a política, o
trabalho) se encontram enfraquecidos, é possível que os grupos e os indivíduos
também estejam se apropriando do corpo como um meio de expressão do eu
(GOLDENBERG e RAMOS, 2002). Um exemplo deste fenômeno é o crescimento,
nas últimas décadas do século passado, do fisiculturismo entre os homens, como
modo de enfrentamento da solidão urbana e, afirmam alguns, da crescente
emancipação das mulheres (COURTINE, 1995).
Para Le Goff e Truong (2006) a concepção de corpo, seu lugar na sociedade,
sua presença na realidade e no imaginário, na vida cotidiana sofreram modificações
em todas as sociedades históricas. A escolha da atividade física se constitui em uma
das dimensões do estilo de vida dos grupos sociais. Assumem também outras
funções como as de recuperação. (CASTRO, 2003 apud SANTOS, 2006)
Détrez (2003, apud PAIM e STREY 2004) afirma que o corpo apresenta-se
como a conexão entre a individualidade, no que ela tem de mais singular, e o grupo.
Além disso, deve-se lembrar, também, da força da socialização na definição de
modelos prestigiosos de corpos, pois os hábitos ou técnicas corporais dependem
muito, para sua eficácia, dos valores atribuídos às diferentes corporeidades
(BERGER, 1976). Esta socialização é responsável pela transmissão de padrões de
corpos que são oferecidos, juntamente com sanções e estímulos, por meio das
representações culturais e simbólicas próprias de cada sociedade. Neste sentido,
tem-se o corpo como o laço da interação entre o indivíduo e o grupo, a natureza e a
cultura, a repressão e a liberdade.
Como desdobramento do movimento de contracultura no Brasil e no mundo,
uma perspectiva oriental se desenhou nos horizontes do Ocidente. Como
conseqüência novas possibilidades, uma nova consciência ética, uma nova
mentalidade, uma nova forma de viver, nas quais a oposição homem/natureza,
espiritual/físico, corpo/mente não mais são características. A partir disso surgem
novas práticas terapêuticas derivadas de antigos e tradicionais sistemas de cura. O
contraste entre as cosmologias oriental e ocidental perpetua-se também no campo
da saúde, marcando as diferenças entre a medicina ocidental contemporânea, ou
biomedicina, e as práticas holísticas (NOGUEIRA; CAMARGO, 2007).

45
O ocidente moderno presencia, no âmbito da cultura corporal, o surgimento
de saberes e práticas que vêm de tradições distantes da ocidental, como a yoga, o
tai-chi-chuan, a medicina chinesa, indiana e japonesa e também a dietética
vegetariana e macrobiótica. Essas práticas propõem uma visão unitária que integre
corpos e mentes, homem e natureza, denominada também de holismo
(ALBUQUERQUE, 1999).
As práticas corporais alternativas possuem uma história própria, devido ao
seu rápido crescimento na década de 90 e às mudanças nos estilos. O caráter
esotérico na década de 80 predominava em relação ao terapêutico, porém,
atualmente ocorre o inverso (NICOLLINO, 2003).
O conjunto das práticas corporais alternativas combina elementos das
tradições orientais com conhecimentos próprios do ocidente. Está presente também
nas práticas corporais alternativas uma visão global e unitária que procura integrar o
corpo e a mente, o homem e a natureza, o material e o espiritual (ALBUQUERQUE,
2001b).
Matthiesen (1999) acredita que as práticas corporais alternativas assumem
perante a Educação Física uma visão própria: são fundamentalmente práticas e são
sustentadas pela realização de uma atividade que trabalhe com o corpo, sem,
contudo, se limitar a isso. Essas práticas revelariam formas diferentes de
intervenção no âmbito da educação corporal, capazes algumas vezes de se
contrapor à forma existente. A especificidade e a confiança em um discurso dito
alternativo fala de um corpo como um todo. Como caracteriza:
O discurso alternativo propõe o trato com o corpo “como um todo”
pela execução de movimentos lentos, prazerosos, capazes de levar o
indivíduo à interiorização contra uma prática comumente
desenvolvida neste meio cuja base assenta-se na realização de
exercícios por elas considerados repetitivos, estereotipados e
mecânicos. (MATTHIESEN, 1999, p. 131)
Uma redescoberta do corpo pode ser comprovada pela grande importância
que tem os esportes, as práticas corporais, a alimentação saudável e todo o
conjunto de preocupações que dita o estilo de vida da chamada geração saúde nos
dias atuais. Para os participantes do movimento Nova Era, isso vem combinado ou
arranjado dentro de um sofisticado esquema intelectual que justifica tais práticas
(OLIVEIRA, 2000).

46
A noção de corporeidade que a cultura alternativa propicia combina múltiplas
versões, leigas e religiosas, cientificas e vulgares, ocidentais e orientais, com o
intuito de construir um universo integrado e um corpo em comunhão com a mente
(ALBUQUERQUE, 2001b).
Soares (1994) considera que a energia seja a moeda do mundo alternativo,
que tem o papel de preparar o terreno simbólico para o desenvolvimento de uma
linguagem comum, que se mostra independente das diversidades. Para ele todas as
díades (saúde-doença, equilibrio-desequilibrio, respeito-violência, restauração-
devastação, reconciliação-ruptura, puro-poluído, mistério-ciência), projetam valor
sobre o tríptico cosmológico alternativo (corpo-espírito-natureza) são regidos pela
referência à energia. O equilíbrio é medido pela balança da energia. A energia seria
responsável por aproximar as versões religiosas e as não religiosas do mundo
alternativo.
Champion (2001) fala de um projeto de transformação pessoal que é
alcançado mediante técnicas psico-corporais. A autora designa tal comportamento
em termos weberianos como caminho de auto aperfeiçoamento místico, que Max
Weber distingue ao analisar os caminhos da salvação fundados em um auto
aperfeiçoamento, entre caminho ético, no qual essa salvação vincula-se a um
comportamento conforme a vontade de Deus, e o caminho místico, no qual a
salvação seria decorrente da própria realização de um determinado estado de ser,
alcançado graças a um trabalho de transformação da interioridade do sujeito.
Saúde no corpo, paz no coração: espírito e matéria em harmonia e integrados
à comunidade e a ecologia. Através deste ideal anunciado, a maior parte dos
envolvidos com o movimento alternativo certamente se reconhece. Basta
desmembrá-lo para perceber a íntima articulação entre questões chave como é o
caso da alimentação pura, medicina natural e terapias capazes de lidar com a teia
energética que cuida do corpo e o liga ao cosmos, que seria a comunidade e a
natureza. Como explicita:
Pensar e manipular o corpo como conjuntos de condutos energéticos
e processos de deslocamentos de energia, correspondem ao
reconhecimento da indissociabilidade entre as três pontas do tríptico
temático alternativo: corpo, espírito e natureza. Mais uma vez cabe á
“energia” a função mediadora e articuladora. (SOARES, 1994, p.198)

47
Segundo Burke (1992), o autocontrole físico prosseguiu intimamente ligado ao
desejo de policiar os corpos alheios, assim como o de assegurar uma melhor ordem
social e moral religiosa. Nesse sentido, Goldenberg e Ramos (2002) fazem um
alerta: temos que olhar com muito cuidado para esta “redescoberta” do corpo, para
que não enxergamos apenas os indícios de um arrefecimento de códigos da
obscenidade e da decência, mas antes, os signos de uma nova moralidade que, sob
a aparente libertação física e sexual, prega a conformidade a determinado padrão
estético, convencionalmente chamado “de boa forma”. A aparente liberação dos
corpos e sua presença na mídia e nas relações sociais tem agregada a ela um
“processo civilizador”. Norbert Elias (1990), em particular, estudou a emergência e
consolidação destas novas configurações do comportamento no ocidente, com
conseqüências profundas para corpo. O processo histórico de criação e
consolidação de um Estado absolutista foi acompanhado de um movimento
repressivo geral que se impôs sobre os impulsos emocionais e a força física,
disseminando o autocontrole de hábitos, gestos e condutas corporais.
Outra maneira de relacionar a alimentação às corporeidades é a que remete
ao nojo e aos tabus do corpo tão bem colocados por Rodrigues em sua obra O Tabu
do Corpo (1983). O não consumo de carne muitas vezes pode apresentar uma
relação de nojo com estes alimentos seja pela assimilação com o ser humano, seja
pela consciência dos meios de abate dos animais que são consumidos. Para
Rodrigues (1983a) o nojo também seria uma construção cultural.

48
CAPÍTULO 2: OS VEGETARIANOS POR ELES MESMOS
A carne é o alimento de certos animais. Todavia, nem todos,
pois os cavalos, os bois e os elefantes se alimentam de ervas.
Só os que têm índole bravia e feroz, os tigres, os leões etc.
podem saciar-se em sangue. Que horror é engordar um corpo
com outro corpo, viver da morte de seres vivos. (PITAGORAS
apud Winckler, 2004, p. 44)
O presente capítulo trata dos dados coletados para este estudo. Como já
mencionado na descrição dos métodos empregados na pesquisa foram utilizadas
informações transmitidas pelas fontes primárias. As fontes primárias foram
compostas por livros e artigos que tratam do vegetarianismo, bem como de livros
que contém preceitos de algumas religiões, mais os questionários e entrevistas com
os vegetarianos em Rio Claro.
2.1 Literatura vegetariana
A opção vegetariana possui os seus seguidores e os seus defensores, que
constroem e se utilizam de uma bibliografia que chamaremos de vegetariana. Essa
literatura sustenta os discursos e os argumentos legitimadores, como foi possível
perceber nas entrevistas.
Winckler(2004) é socióloga e vegetariana desde 1982, criou o site vegetariano
<www.vegetarianismo.com.br> e modera as listas de discussão sobre
vegetarianismo veg-brasil e veg-latina. Escreveu um livro intitulado: Fundamentos do
vegetarianismo, onde traz resumidamente argumentos que apóiam a dieta sem
carne. Para ela o vegetariano segue um regime alimentar que não implique sacrifício
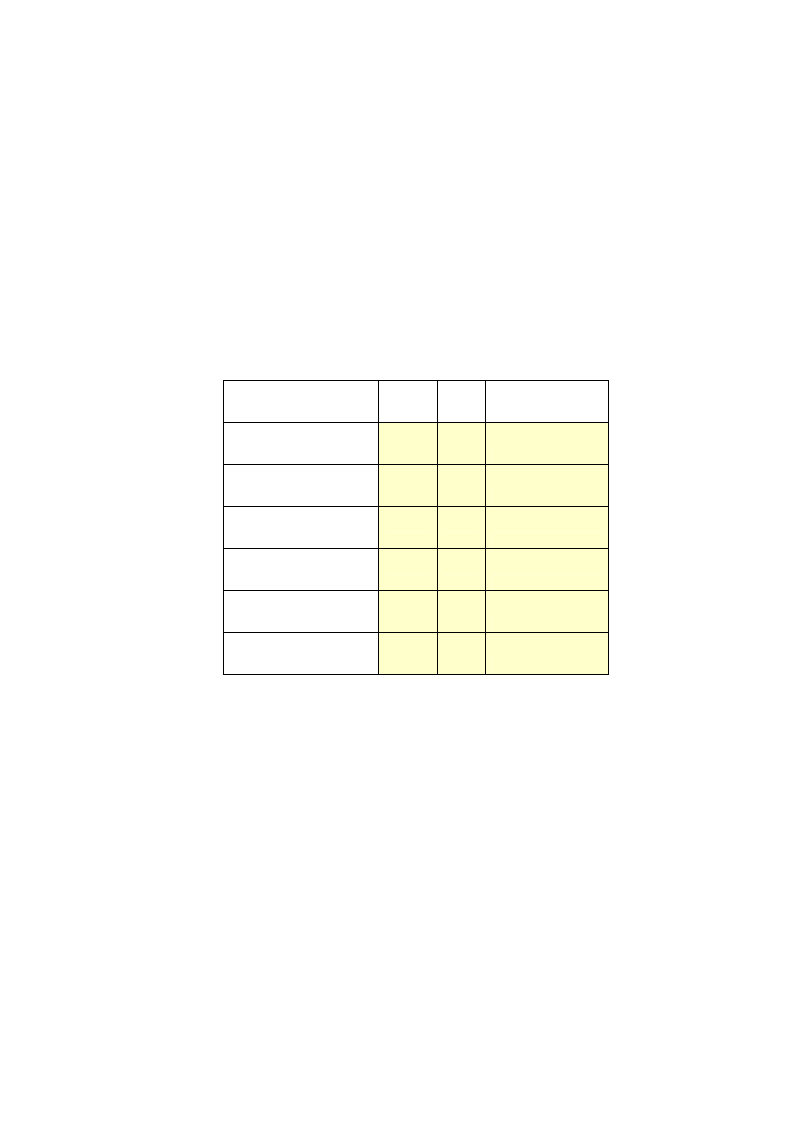
49
de vidas animais, e que essa alimentação não é exclusivamente vegetal, ou seja,
não comem carne, mas seus derivados podem ser incluídos na dieta. Salienta que a
denominação, vegetariano, ao contrário do que parece, não é derivada do termo
alimento vegetal e, sim, do latim vegetus que significa forte, vigoroso e saudável.
O Departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira,
que escreve artigos e folhetos para o site <www.svb.org.br>, descreve os tipos de
alimentação vegetarianas existentes e as suas definições, o que resume bem as
diferenças no quadro 1:
Tipo
Carnes Ovos Leite e derivados
Ovo-lacto-vegetariano Não Sim
Sim
Lacto-vegetariano
Não Não
Sim
Ovo-vegetariano
Não Sim
Não
Vegano
Não Não
Não
Semivegetariano
Sim Sim
Sim
Onívoro
Sim Sim
Sim
QUADRO 1- O que é ser vegetariano.
Fonte: http://www.svb.org.br/folhetos/Oqueeservegetariano.htm
Nota: Dados trabalhados pelo autor.
Dentre as fontes primárias é possível perceber a presença dos argumentos
científicos, procurando legitimar uma dieta vegetariana, que traz mais benefícios a
saúde do que a alimentação onívora. Entre essas fontes estão estudos que trazem
em sua maioria, os benefícios da alimentação sem uso de proteína animal.
Segundo Blix (1992), professor assistente no Departamento de Promoção e
Educação para a Saúde na Escola de Saúde Publica da Universidade Adventista de
Loma Linda na Califórnia, os nutricionistas dos anos vinte e trinta não tinham muita
convicção tanto para condenar quanto para promover o vegetarianismo, sentindo
que faltava boas evidências cientificas. Com isso, vegetarianos eram mais criticados
do que elogiados, de maneira que a comunidade médica e o senso comum

50
expressavam preocupação com as conseqüências da dieta. A explosão das
pesquisas cientificas depois da Segunda Guerra ajudou a diminuir o estigma da
dieta sem carne. Um estudo recente feito na Califórnia tem mostrado que os
homens vegetarianos adventistas vivem mais 8,9 anos do que a média da
população. Além disso, 80% dos americanos acreditam, hoje, que uma dieta
vegetariana é mais saudável do que a ingestão de carne, e consequentemente,
cerca de 50 milhões têm diminuído significativamente ou eliminado a carne
vermelha de suas dietas, compreendendo 4% da população americana.
Ainda sobre os estudos científicos, Sabaté (2005), Professor do
Departamento de Nutrição e Saúde da Universidade Adventista de Loma Linda cita
em estudo apresentado no 4° Congresso Internacional de Nutrição Vegetariana,
realizado na própria Universidade, uma compilação de vários estudos científicos na
contemporaneidade que trazem descrições dos benefícios à saúde da prática
vegetariana. Durante 20 anos os resultados apresentados pelos estudos nutricionais
têm documentado importantes benefícios à saúde de uma alimentação sem carne.
Dentre estes resultados estão a diminuição do risco de obtenção de doenças crônico
degenerativas, a menor incidência de casos de obesidade, doenças coronárias,
diabetes e câncer entre os que não fazem uso de carne.
A posição da American Dietetic Association (ADA) sobre a dieta vegetariana
escrita por Mangels (2003), Médico e participante de um grupo de vegetarianos de
Baltimore é a de que dietas vegetarianas apropriadamente planejadas são
saudáveis, adequadas em termos nutricionais e apresentam benefícios para a saúde
na prevenção e no tratamento de determinadas doenças. As conseqüências do
vegetarianismo para a saúde trazidas pelo artigo são: dietas vegetarianas com
pouca gordura são usadas para reversão de doenças arterial coronária grave; o
nível total de colesterol geral e de colesterol de lipoproteína com baixa densidade
costumam ser mais baixos em vegetarianos; os vegetarianos tendem a apresentar
incidência mais baixa de hipertensão que os não vegetarianos; é muito menos
provável que o diabete melitus do tipo 2 seja causa da morte em vegetarianos do
que em não vegetarianos; a incidência de câncer pulmonar e colo-retal é mais baixa
em vegetarianos que em não vegetarianos; e uma dieta vegetariana bem planejada
pode ser útil na prevenção e no tratamento da doença renal.
A ciência, do ponto de vista negativo segundo os vegetarianos, condena a
alimentação sem uso de carne. Pichler (2005), Presidente Executivo da União

51
Vegetariana Europeia (EVU), lembra que não é de hoje que se tenta desacreditar o
modo de vida vegetariano, e que em alguns casos se usam da ciência para provar
isso. Conta sobre o discurso de uma professora da Universidade da Califórnia,
chamada Lindsay Allen. A docente argumenta na American Association for the
Advancement of Science (Sociedade Americana para o Progresso da Ciência), em
Washington sobre os malefícios da dieta sem carne, o que para Pichler (2005) seria
uma combinação de afirmações cientificamente insustentáveis pelas péssimas
condições de vida das crianças estudadas e pelo envolvimento óbvio da indústria da
carne na pesquisa. Os argumentos de Lindsay:
Os alimentos de origem animal contêm alguns nutrientes que não
são encontrados em nenhuma outra fonte. Quando se trata de
alimentar crianças pequenas e mulheres grávidas e em lactação, eu
diria que é anti-ético evitar tais alimentos neste período da vida.
(Pichler, 2005, p. 01)
Slywitch (2003), médico, pós-graduado em nutrição clínica e especialista em
nutrição vegetariana é coordenador do departamento científico da Sociedade
Vegetariana Brasileira. Apresenta em seu artigo alguns dados científicos que
comprovam as melhoras na saúde ocasionadas pela adoção da dieta vegetariana.
Dentre elas estão: redução das mortes por infarto; níveis sangüíneos de colesterol
14% mais baixos em ovo-lacto-vegetarianos e 35% mais baixos em veganos do que
nos comedores de carne; redução de até 50% do risco de apresentar diverticulite
nos vegetarianos e probabilidade duas vezes menor de apresentar pedras na
vesícula nas mulheres vegetarianas.
Os argumentos ambientalistas se mostram presentes na literatura vegetariana
e trazem a compaixão que se têm ao animal, e as maneiras de protegê-los, onde se
inclui aí, não matá-los para o consumo. Tratam do comportamento antropocêntrico
do homem que se representa superior em relação à natureza, manipulando-a e
consumindo-a sem pensar nas conseqüências.
A liderança dos movimentos sociais voltados para a defesa dos animais,
como em touradas, utilização para estudos científicos também são defensores do
vegetarianismo.
Entre eles está Levai (2003), integrante do Ministério Público do Estado de
São Paulo desde 1990, promotor de justiça em São José dos Campos. Ajuizou em
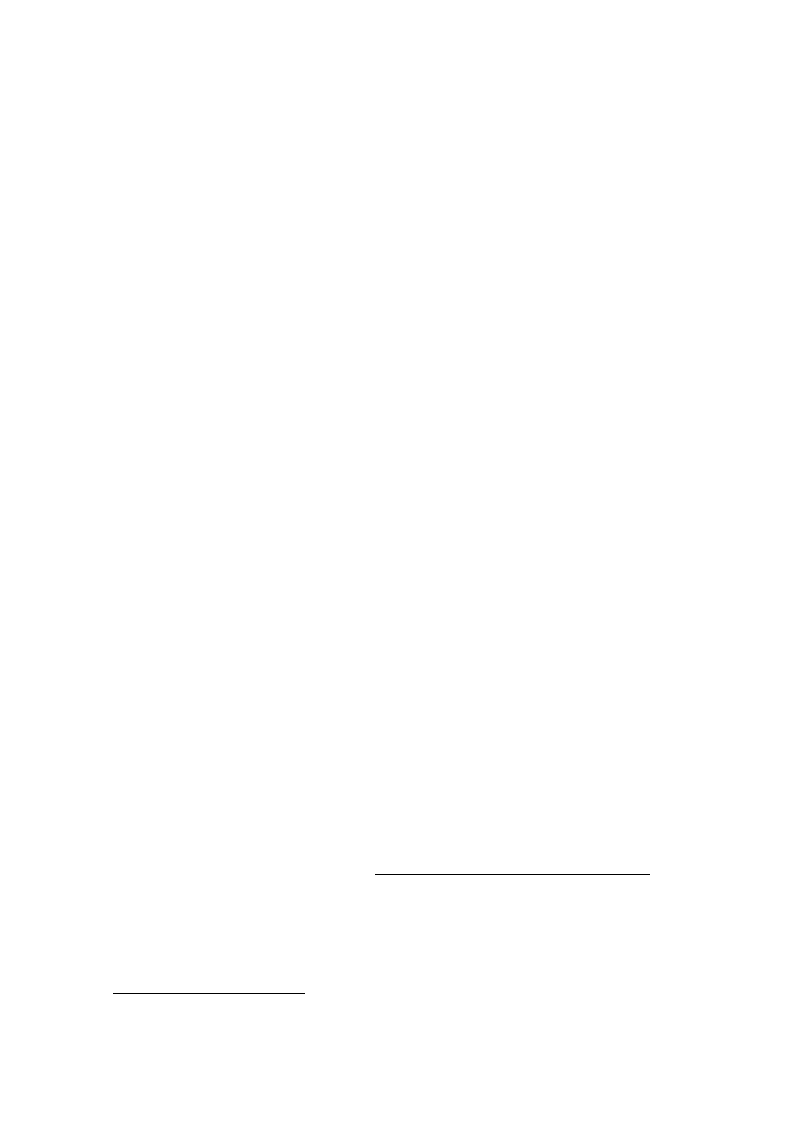
52
1992 a primeira ação civil pública, no Brasil, contra abate cruel de animais, tornando-
se vegetariano. A partir daí, propôs ações civis públicas contra rodeios, circos,
matadouros e universidades que perfazem experimentação animal. A cada ano
apresenta em congressos ambientais do Ministério Público, teses institucionais em
defesa dos animais, reconhecendo-os como sujeitos de direito. Ele descreve que
desde o Homo sapiens a idéia de domínio ultrapassou aquilo que seria apenas a luta
pela própria sobrevivência. Usando o racional o homem foi alcançando a hegemonia
do planeta. Quando o homem se curvou aos deuses a concepção de mundo foi
revertida aos mitos e à imagem e semelhança do Criador, de forma a privilegiar a
espécie humana em detrimento às demais criaturas. Os animais serviam para a
alimentação humana, postura que ganhou impulso com o advento da doutrina
judaico-cristã, onde a Bíblia, prega em seus dogmas que os animais existem para
servir ao homem. A relação entre homens e animais - ao longo dos tempos - sempre
esteve marcada pelo signo do poder e da exploração. O antropocentrismo reforçado
mais tarde pelo método científico de Descartes,que no século XVII considerava os
animais meros autômatos incapazes de raciocinar ou de sentir dor, essa corrente de
pensamento tem sido a causa principal da crise de valores em que se vê inserida a
humanidade. E completa:
A relação homem-animal, caracterizada invariavelmente pelo signo
da crueldade, traz em si um sangrento histórico de domínio e de
subjugação. Isso decorre, em parte, da dogmática judaico-cristã e do
mecanicismo científico que inspirou o modelo antropocêntrico no
mundo ocidental, onde os animais são considerados "recursos",
"coisas", "semoventes" ou, simplesmente, criaturas destinadas a
servir ao homem.(LEVAI, 2003, p. 19)
Martins (2007) autor de artigos do site <www.vegetarianismos.com.br> nos
apresenta o argumento de Francione, professor de Direito na Universidade de
Rutgers (Nova Jersey), que no texto Manifesto pela Libertação dos Animais5, dá uma
resposta para a postura de descaso em relação ao uso de animais. O autor
considera as idéias de Francione originais porque, em um aparente paradoxo,
associa defesa dos animais ao humanismo. Como descreve:
5 O manifesto pela libertação animal, cujo título original é "Pour l’abolition de l’animal-esclave") integra
a edição de setembro do Le Monde Diplomatique-Brasil, e é uma síntese das teorias de Francione
sobre a abolição da exploração animal.

53
Ele não nega o direito da espécie humana a lutar, como todas as
outras, por seus "interesses vitais". Mas demonstra que, na etapa
atual de nosso desenvolvimento, continuar confinando, torturando e
massacrando outros seres não tem nenhum laço com nossa
sobrevivência ou bem-estar – mas com nossa submissão à lógica da
propriedade e da mercantilização. Sim, sustenta o Manifesto: assim
como ocorria com os escravos, há três séculos, os animais são
considerados mercadorias.(MARTINS, 2007, p.01)
Embora alguns considerem que exista um reino hominal, que diferencia o
homem pela sua faculdade mental, não se pode dizer, segundo Bontempo (2006),
baseados no nosso fraquíssimo discernimento, que isso seja algo aceitável.
Bomtempo é médico, com formação em homeopatia, medicina ortomolecular,
nutrição e saúde pública, é membro de diversidades entidades médicas, ambientais,
vegetarianas e de proteção animal considera, então, sábia a divisão acadêmica dos
reinos da natureza em mineral, vegetal e animal, de modo que a faculdade mental
na maioria dos homens segundo o autor é pouco desenvolvida, pois este ainda age
a partir dos seus desejos e seus prazeres, como a gula. Acredita que somos animais
e praticamos uma espécie de canibalismo por comermos nosso semelhante.
A religião que também está presente nesta literatura traz como peculiaridade
o fato de contemplar não só escritos sobre a questão vegetariana, mas também os
que contém os ensinamentos e dogmas respectivos de algumas religiões. Aproximar
motivos e preceitos religiosos à prática faz com que menos argumentos contrários
consigam ser trazidos a tona, o que se dá pelo caráter religioso, que faz explicações
por meio de “verdades”.
Bontempo (2006) afirma sobre esta questão, que o consumo de carne é ainda
um tema pouco comentado pelos grupos religiosos cristãos apesar da importância
de se definir se a carne deve ou não estar presente na alimentação do seguidor.
Passagens bíblicas são escolhidas com o propósito de justificar o consumo. Para ele
a interpretação bíblica pode ser usada de maneira à alcançar o que se deseja.
Acredita que se realizada uma análise mais apurada e honesta das Escrituras
chega-se a conclusão de que a alimentação vegetariana seria a dieta própria do
cristão verdadeiro. Argumenta que se feito um estudo atento dos manuscritos
originais gregos se constata que a maioria das palavras traduzidas como carne,
seriam na verdade trophe, bromie e outros que na verdade querem dizer alimento ou

54
comida. E traz um exemplo, que está no Evangelho de Lucas (8:55) onde Jesus
levanta uma mulher do meio dos mortos e ordena que lhe dêem carne. A palavra
trazida do grego para carne neste caso é phago, que significa apenas comer. Jesus
então teria dito deixe-a comer. A palavra carne em grego é kreas, palavra que nunca
teria sido usada por Jesus Cristo.
Greif (2005), biólogo e vegetariano desde criança, se dedica a pesquisar e
divulgar o vegetarianismo e a antivivissecção e acredita que a Bíblia preconiza o
vegetarianismo, e faz uma releitura sobre a presença dos preceitos bíblicos que
trazem o consumo de carne e os animais. Argumenta que em Gênesis 1:29 e 1:30
se encontra a primeira lei dietética estabelecida por Deus para o homem e para os
outros animais:
/E disse Deus: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão
sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as
árvores em que há frutos que dá semente; isso vos será por
alimento/.E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus,
e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva
verde lhes será para mantimento.(GREIF, 2005, p. 1)
Para Greif, estes versículos demonstram que não seria a intenção original de
Deus, pelo menos segundo o livro de Gênesis, que o homem matasse animais para
comer. Sendo a dieta vegan consistente com o plano original de Deus.
Sobre isso Blix (1992) afirma que os Judeus chegaram a considerar a
abstinência de carne como uma depravação, freqüentemente associada como
símbolo de pesar e tristeza. O filósofo judeu do século I, Philo, dizia que Deus havia
proibido o uso da carne de porco e mariscos porque essas eram as carnes mais
saborosas. Ele disse que esse era o meio pelo qual Deus restringia os desejos e os
prazeres do corpo.
A classificação dos animais em autorizados e proibidos originou dois capítulos
da Bíblia, o Levítico 1 e o Deuteronômio 14. Moisés é quem apresenta essas
distinções como parte da revelação que o Senhor lhe fez no Sinai. Os critérios para
classificar os animais em sua maioria dizem respeito as suas formas de locomoção.
A relação entre os animais e seu meio é muito importante, pois a Bíblia considera
que Deus criou os animais a partir do seu habitat de maneira que eles não devem
ser híbridos para ser puros. No Levítico constam os animais que seriam puros ou
impuros para o consumo, como apresentado : “7. e o porco, porque tem a unha

55
fendida, de sorte que se divide em duas, mas não rumina, esse vos será imundo. 8.
Da sua carne não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres; esses vos sereis
imundo.” (BÍBLIA, 1959, p. 112)
Segundo White, a visionária dos Adventistas do Sétimo Dia, Deus deu aos
nossos primeiros pais o alimento que pretendia que a raça humana comesse. Deus
não deu ao homem permissão para comer alimento animal, senão depois do dilúvio,
onde fora destruído tudo o que pudesse servir para a subsistência do homem.
Diante desta situação o Senhor deu a Noé a permissão para comer animais limpos
que levara consigo na arca. O dilúvio foi a terceira e mais terrível maldição que Deus
deu a terra, pois os habitantes do Velho Mundo eram intemperantes no comer e
beber. Queriam o alimento cárneo mesmo quando Deus não permitia, e então se
tornaram violentos e ferozes. Deus, cansado com esse comportamento humano,
purificou a terra de sua poluição moral com o dilúvio.
Apesar da condição vegetariana não ser algo exigido pela Igreja Adventista
do Sétimo Dia, a exigência para a adesão ao vegetarianismo é grande como
podemos observar no escrito de Ellen White: “Muitos que são agora só meio
convertidos quanto à questão de comer a carne, sairão do povo de Deus para não
mais andar com ele.” (WHITE, p. 383) E também: “Entre os que estão aguardando a
vinda do Senhor, o comer carne será abandonado, a carne deixará de ser parte de
sua alimentação. (WHITE, p. 380)
Encontram-se, também, nos escritos da visionária da Igreja algumas
passagem sobre a compaixão aos animais, o que remete as questões ambientais e
religiosas:
Pensai na crueldade que o regime cárneo envolve para com os
animais, e seus efeitos sobre os que a afligem e nos que a
observam. Como isso destrói a ternura com que devemos considerar
as criaturas de Deus. [...] O uso comum de carne de animais mortos
tem tido influência deteriorante sobre a moral.(WHITE, p. 383)
Ellen, em suas visões, apontou com clareza a conexão entre o alimento que
ingerimos e o nosso bem estar físico e também espiritual. Ela defende uma Reforma
da Saúde que envolve além da alimentação outros aspectos. Um dos capítulos do
livro trata do Regime e Espiritualidade. Onde destaco:

56
47. Ninguém que professe piedade considere com indiferença a
saúde do corpo, iludindo-se com o pensamento de que a
intemperança não é pecado e não afeta a espiritualidade. Existe
íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral.[...]
52. O apóstolo compreendia a importância das condições saudáveis
do corpo para a bem sucedida perfeição do caráter cristão. “Os que
são de cristo crucificaram a carne com os seus vícios”. (WHITE, p.
43)
Para ela, cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético
escolhido pelo nosso Criador. Estes alimentos preparados de maneira simples e o
mais natural possível são os mais saudáveis e nutritivos. Para White, nós estamos
em um Mundo que se opõe a justiça ou à pureza de caráter. E questiona:
Quão oposto é tudo isto à obra que deve ser completada em nós
justo antes de recebermos o dom da imortalidade! Os eleitos de
Deus devem permanecer incontaminados em meio às corrupções
que proliferam nestes últimos dias. Seus corpos devem ser santos,
puro o seu espírito. [...] Os homens têm poluído o templo da alma, e
Deus os chama para que despertem e procurem com todas as suas
forças a varonilidade que Deus lhes deu. (WHITE, p. 118-119)
Outra fonte de legitimação encontra-se no Budismo. Segundo Osho (2006),
um místico indiano, que viveu entre 1931 e 1990, se iluminando (termo budista que
designa aquele que descobriu a verdade absoluta), Buda teria dito aos seus
discípulos para não comerem carne, não apenas como uma questão de reverência à
vida. Também é uma questão de que, se você não estiver repleto de reverência à
vida, seu coração se tornará enrijecido; seu amor se tornará falso, sua compaixão
será apenas uma palavra. A preocupação de Mahavira e de Gautama Buda era a de
que o ser humano não deveria comer apenas para viver; ele deveria comer para
crescer em uma consciência mais pura. Um comedor de carne permanece
inconsciente, acorrentado à terra; ele não pode voar pelo céu da consciência. As
duas coisas não podem coexistir: você estar se tornando mais e mais consciente e
não estar nem mesmo consciente do que está fazendo, e apenas para satisfazer o
paladar, o que é impossível sem matar. Você pode se alimentar de comidas
vegetarianas deliciosas; então, comer carne é absolutamente desnecessário, um
hábito apodrecido do passado. Osho reuniu seguidores pelos lugares onde passava
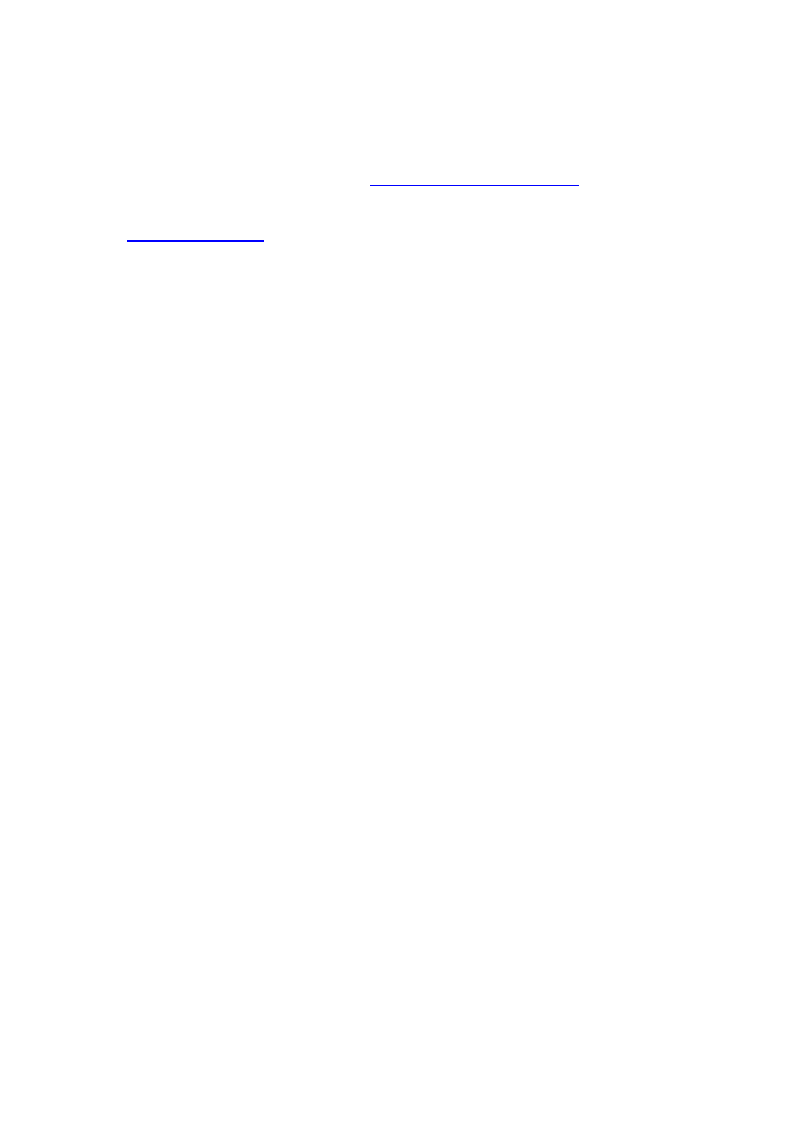
57
formando uma nova religião em seu nome, tornando-se então um mestre com
profundo conhecimento da filosofia oriental e ocidental.
Um artigo presente no site <www.vegetarianismos.com.br> traz a tradução e
adaptação do artigo "Islam and Vegetarianism" da webpage
<www.islamveg.com> que conta acerca da relação entre o Islamismo e a prática
vegetariana. De acordo com a tradução, os muçulmanos acreditam que o consumo
de carne, laticínios e ovos é conflitante com os ensinamentos islâmicos de bondade
para com os animais. E não apenas isso, pois as indústrias de exploração animal
são responsáveis pela poluição e destruição ambiental, e também contribuem para o
aparecimento de diversas doenças fatais nos humanos. No Corão, segundo o artigo,
fica claro o respeito pela vida dos animais: “Não existe ser algum que ande sobre a
terra, nem ave que voe, que não faça parte de uma nação assim como você. Nada
omitimos do Livro, e todos serão congregados ante seu Senhor.”(ISLÃ, 2007, p. 01)
Na obra básica sobre a qual se baseiam os princípios doutrinários do
Espiritismo, com o título O livro dos espíritos, temos o assunto abordado com
bastante clareza, nas questões 723 e 724, onde Kardec pergunta e os Espíritos
respondem:
A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da
Natureza? "Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a
carne, do contrário o homem perece. A lei de conservação lhe
prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde,
para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar
conforme o reclame a sua organização."(KARDEC, 2004, p. 428)
Simonetti (2007), escritor espírita que tem como público alvo o leitor iniciante
na Doutrina Espírita, percorre vários estados do Brasil e também outros países com
palestras de divulgação doutrinária. Foi por várias gestões presidente do Centro
Espírita Amor e Caridade na cidade de Bauru descreve uma entrevista com Chico
Xavier, médium brasileiro e grande divulgador do espiritismo no Brasil, onde ele trata
do consumo de carne. Era muita gente falando em abstenção de carne,
principalmente por parte dos médiuns, quando uma médium incomodava-se porque
não dispensava um bife, não tanto pelo prazer, mas por recomendação médica. Ela
pergunta: “- Chico, como é que fica esse negócio da carne? Preciso comer, tenho
uma deficiência... - Calma, minha filha, eu também saboreio meus bifinhos...” Ainda
sobre o assunto Simonetti (2007), comenta as campanhas dentro do movimento

58
espírita que acreditam que a carne dificulta nossa espiritualização, situando-nos em
baixos níveis vibratórios.
André Luiz, um espírito que escrevia através de Chico Xavier, possuía bons
conhecimentos científicos e grande capacidade de observação, e relatava suas
experiências como desencarnado. Escreveu vários livros espíritas. Entre eles a obra
intitulada "Missionários da Luz", onde no Capítulo 4, o personagem Alexandre, instrui
sobre o consumo de carne quando diz:
[...] não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando as faixas de
nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a
responsabilidade coletiva. A missão do superior é a de amparar o
inferior e educá-lo. E os nossos abusos com a Natureza estão
cristalizados em todos os países, há muitos séculos. Não podemos
renovar os sistemas econômicos dos povos, dum momento para o
outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação
imprópria, de maneira repentina. Refletem eles, igualmente, nossos
erros multimilenários. Mas, na qualidade de filhos endividados para
com Deus e a Natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo,
acordando os companheiros encarnados, mais experientes e
esclarecidos, para a nova era em que os homens cultivarão o solo da
Terra por amor e utilizar-se-ão dos animais, com espírito de respeito,
educação e entendimento. (LUIZ, A. s/d, p. 25)
Na literatura vegetariana também encontramos artigos relacionados a prática
de Yoga. Um dos artigos foi escrito por Kupfer (2005), para o periódico trimestral
Cadernos de Yoga que segundo ele, o praticante de yoga consciente adota o
vegetarianismo como parte do processo de compreensão da realidade da vida e do
papel que o homem exerce no planeta. A tradição do yoga hindu ensina que a
realização espiritual e a verdadeira felicidade são possíveis somente quando os
nossos pensamentos, sentimentos e ações estiverem em harmonia com a ordem
universal, chamada dharma. O dharma e a ética ambiental, a saúde e o progresso
espiritual são explicitados como algumas razões para o praticante de yoga se tornar
vegetariano. Em relação ao primeiro ponto, considera-se comer carne um crime
contra a lei universal, pela participação mesmo que indireta em atos de crueldade e
violência contra o reino animal e o meio ambiente. A questão da saúde, o segundo
ponto, pela clareza de que uma dieta rica em carnes é diretamente responsável por
uma interminável série de problemas de saúde. E em relação ao último ponto, o

59
progresso espiritual, com exceção do budismo, todas as demais tradições ascéticas
da Índia são categóricas em relação à dieta vegetariana: hindus, jainistas aderem
desde tempos imemoriais ao vegetarianismo como meio para purificarem não
apenas seus corpos mas igualmente suas mentes e corações.
Enfim, a pesquisa realizada em 1990 pela Vegetarian Times, sintetiza as
principais razões dadas para a adoção do estilo vegetariano: o desejo de eliminar o
sofrimento causado aos animais; a busca da saúde, e a preocupação ecológica
(BLIX, 1992). De certo modo esta pesquisa, corrobora os dados encontrados na
literatura que se acabou de apreciar.
Nessas fontes primárias pudemos perceber, a presença dos argumentos
científicos, ambientalistas e religiosos. Essa presença só vem confirmar a hipótese
deste estudo de que estes argumentos seriam legitimadores da prática vegetariana.

60
2.2. Os vegetarianos em Rio Claro
Este sub-capítulo trata da análise dos dados coletados para este estudo. Ele
apresenta o perfil sócio-cultural dos participantes obtidos através dos questionários
(TABELA I) e posteriormente a articulação do discurso presente nas entrevistas com
o quadro teórico.
Foram entrevistadas 16 pessoas de opção alimentar vegetariana, que durante
este estudo serão apresentadas por nomes fictícios para não serem identificadas
mediante condição presente no termo livre e esclarecido assinado antes da coleta
dos dados. Após o décimo sexto participante considerou-se que as entrevistas
apresentaram saturação das informações solicitadas com vistas a verificação da
hipótese, constituindo-se, portanto, em um corpus.
2.2.1 – Quadro sócio-cultural
Com a aplicação do questionário pudemos conhecer de maneira mais ampla
os participantes do corpus deste estudo, porém esses dados não têm a pretensão
de definir quantitativamente o perfil sócio-cultural dos vegetarianos de Rio Claro.
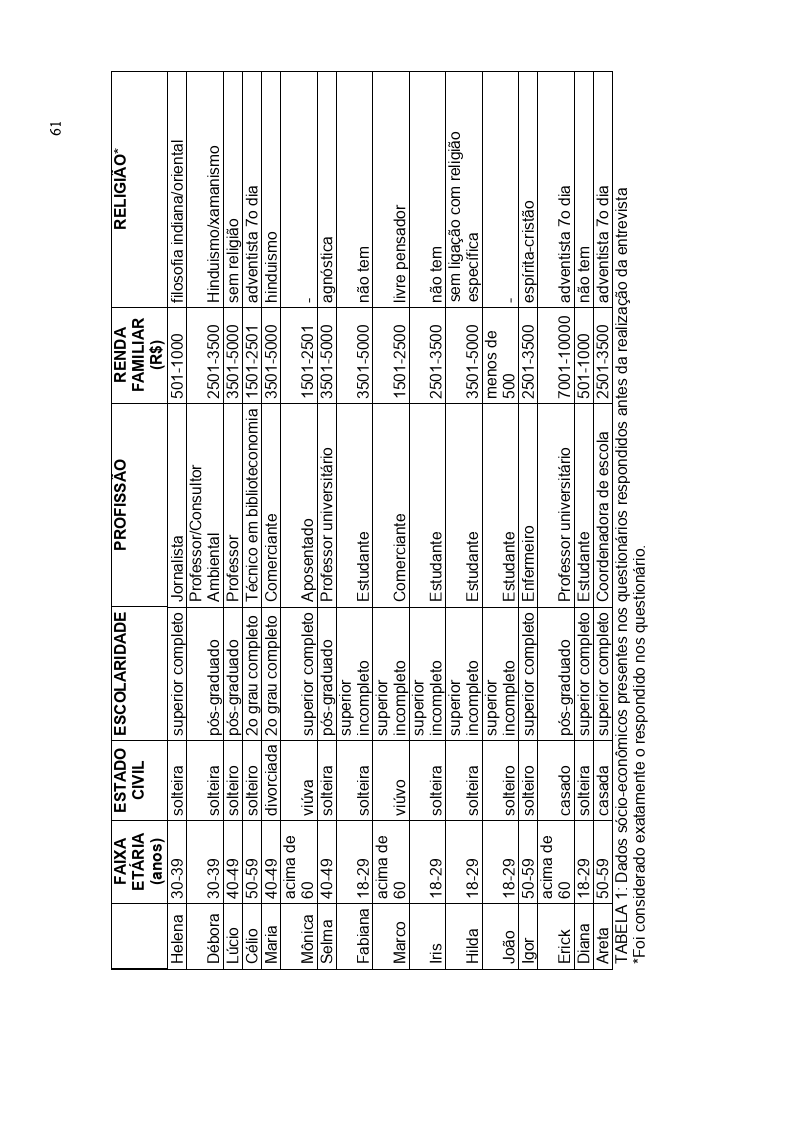

62
Os entrevistados são estudantes e profissionais diversos que se situam nas
camadas médias. A idade da população pesquisada varia dos 18 a mais de 60 anos,
de maneira que pôde compreender um amplo espectro, contemplando jovens e
adultos com escolaridade entre o nível secundário completo até a pós-graduação.
Trata-se, portanto de população instruída.
O dado sócio-cultural mais significativo do questionário foi a religião. Dentre
os 16 entrevistados apenas 4 se dizem seguidores de religiões próprias da tradição
cultural brasileira, contemplando 3 adventistas do sétimo dia e 1 espirita-cristão. Os
demais se consideram sem religião, agnóstico, livre pensador ou não responderam a
este item. Pela ausência de compromisso institucional, acreditamos que estes
podem se encaixar então, nas várias expressões dos novos movimentos religiosos.
2.2.2 – Entrevistas
A partir das regularidades encontradas nos discursos identificamos duas
grandes categorias de análise:
• As legitimações do vegetarianismo (ciência, preocupações
ambientalistas e religião)
• A experiência vegetariana (intermitência, preconceito e cuidados com
o corpo)
Através dessas duas categorias foi possível identificar a relação homem x
natureza presente no discurso vegetariano, que compreende a maneira com ele se
posiciona e se relaciona com a fauna, a flora e os outros homens (vegetarianos ou
não).
Definida essa relação, pudemos identificar as corporeidades, bem como a
noção de pessoa concebida pelo praticante do vegetarianismo.
2.2.2.1 – Legitimações
Os praticantes do vegetarianismo apresentaram três tipos de argumentos
como recursos legitimadores à prática vegetariana: científicos relacionados à saúde;
religiosos e ambientalistas.

63
2.2.2.1.1 – Argumentos científicos relacionados à saúde
Durante as entrevistas foram apresentados argumentos científicos
legitimadores da prática vegetariana. Estes argumentos podem ser divididos em
positivos e negativos, isto é, os que trazem os benefícios da prática para o
organismo e os que trazem os malefícios da ingestão de carne.
Nos argumentos que compreendem os pontos positivos, os aspectos
fisiológicos são mencionados. Dentre esses são descritos: a melhoria do
funcionamento do corpo, do pensamento, do sono, do metabolismo, do trabalho
cerebral, da agilidade e do sistema imunológico. A diminuição da incidência de dores
de cabeça também esteve presente nos discursos, bem como um outro aspecto
positivo que carrega além da saúde um teor estético que é a afirmação de uma
entrevistada que acredita que a dieta sem carne a ajudaria a não aparentar a idade.
Outra regularidade foi a menção do processo digestivo mais rápido após a
adoção da dieta vegetariana. A explicação dada é a de que tal rapidez existe pois a
proteína vegetal é mais fácil de ser digerida e absorvida do que a proteína animal.
Essa aceleração traz aos entrevistados alguns benefícios como a disposição e a
energia, principalmente logo após as refeições.
Esses dados que compreendem os aspectos fisiológicos confirmam os
estudos apresentados por Blix (1992), que demonstram que os vegetarianos
possuem mais saúde e até mesmo maior longevidade do que as pessoas que
consomem carne, e de Sabaté (2005) e Mangels et al (2003) que verificaram as
melhoras fisiológicas provocadas pela dieta vegetariana, como a menor incidência
de doenças coronárias, obesidade e câncer. Esta melhora fisiológica é ilustrada por
uma das entrevistadas:
Débora: Observei que quando eu tirei os produtos de origem animal, pelo menos
assim, peixe, frango e carne de vaca, o meu organismo ficou melhor. Eu durmo
melhor, eu penso melhor, a digestão é melhor.
É interessante mencionar que essa melhora é sempre citada através de uma
comparação com a época em que comiam carne. Após a mudança na dieta os
vegetarianos se sentem mais leves e mais saudáveis. Ela forneceria a proteção para
diversas doenças, provocaria a diminuição do uso de remédios e consequentemente

64
menos complicações para o vegetariano que se sente privilegiado em relação à
saúde que desfruta a partir desta condição alimentar.
Marco: Existem alguns vegetarianos que são pelo aspecto religioso, né? Tem uns
que são por aspecto mais cientifico.
Os entrevistados legitimam á prática através do aval cientifico na
contemporaneidade em relação à dieta vegetariana. Afirmam que a ciência da
nutrição estaria repensando a pirâmide alimentar, bem como o local onde a carne
deveria ser colocada em tal hierarquia, de maneira que esta nova perspectiva em
relação ao consumo de proteína animal estaria levando a uma modificação dos
conceitos nutricionais e médicos. Os entrevistados alegam então, que não é preciso
mais comer carne para ser uma pessoa saudável e que isto seria inquestionável por
ter o apoio científico.
Marco: [...] mesmo pelo “trust” cientifico da teoria cientifica da nutrição que é, era
antigamente baseada no conceito que pra ser saudável você tinha que comer carne,
hoje em dia mesmo a teoria cientifica da nutrição mudou.
Os participantes acreditam que na contemporaneidade a lógica seria inversa,
de maneira que quem consome carne ficaria doente ou no mínimo estaria mais
propenso a adoecer. Enfim, demonstram uma visão positiva da ciência que é
mobilizada para apoiar a prática vegetariana, legitimando o não consumo de carne
como um hábito saudável.
Outro dos argumentos científicos apresentados é o de que o homem não
possuiria enzimas para metabolizar a carne. A ingestão desse tipo de alimento,
então, provocaria a permanência das toxinas e hormônios que, não metabolizados,
sobrecarregariam o cérebro, o estômago, o intestino e principalmente o sangue, e
como conseqüência poluiriam o corpo.
Um outro problema levantado são os antibióticos administrados aos animais
durante a sua produção. Ingerir a carne contendo essa substância faria com que o
organismo do homem fosse prejudicado, de maneira que perderia a eficácia quando
da necessidade do seu uso para a cura de determinadas doenças.

65
Do ponto de vista dos malefícios da ingestão de carne foi mencionada a
deficiência que traria ao cérebro e ao pensamento humano, tanto pelas toxinas que
apresenta, quanto pela demora na digestão, como já mencionado. A explicação
fisiológica seria a de que o sangue que estaria localizado na parte abdominal para
auxiliar na digestão demoraria ou cessaria a chegada ao cérebro o que
comprometeria o seu uso, e em alguns casos, citados por Adventistas, atrapalharia o
contato com Deus.
A carne, devido ao tipo de gordura que possui se apresenta como facilitadora
do colesterol e de outras complicações como a pressão alta, a diabetes e a
obesidade. Além disso, os participantes afirmam que ela possuí nitratos que seriam
responsáveis pela incidência de câncer, relação que tratam como provada pela
ciência.
Areta: A carne sobrecarrega o cérebro, o estômago, o intestino, a digestão fica mais
lenta. O processo intestinal também é mais lento e demorado.
Os entrevistados se preocupam com uma substituição adequada da proteína
que não ingerem devido a dieta escolhida. Mencionaram essa adequação na
alimentação com o intuito de que não faltem as vitaminas necessárias ao organismo
saudável. Consideram que essa adequação e em alguns casos específicos o
acompanhamento deveria ser feito por um nutricionista qualificado.
Alguns entrevistados trazem relatos de que se consideram saudáveis devido
à alimentação que praticam, e que os médicos que freqüentam também atribuem a
saúde dos pacientes vegetarianos a este hábito alimentar.
Maria: Primeiro eu tive que ter a compreensão espiritual. Que é a compaixão, a
reencarnação, a transmigração de alma, né? [...] Primeiro essa compreensão.
Depois eu precisei fazer um estudo com nutricionista, né?
A relação com a ciência, contudo, é contraditória pois, paradoxalmente o
próprio conhecimento cientifico é avaliado negativamente quando não atenderia às
expectativas do vegetariano em relação ao consumo de remédios e à consultas
médicas. Alegam que a ciência moderna e a biomedicina alicerçam os argumentos
dos entrevistados relacionados à saúde para legitimar a prática, mas ao mesmo

66
tempo não são suficientes para cuidar da saúde do paciente vegetariano que
expressa uma noção de saúde mais global, própria da pós modernidade que não
envolveria somente a parte física e fisiológica como veremos ao longo deste estudo.
Marco: As pessoas estão partindo para essa opção alternativa, porque elas estão
percebendo que as linhas principais de alimentação também mesmo por outros tipos
de vida aí de medicina ortodoxa e de medicina alopática não estão satisfazendo
mais as necessidades.
Caminhando contra a ciência moderna, citam argumentos relacionados à
medicina oriental. Segundo um entrevistado a medicina oriental afirma que não
podemos dar toda a proteína para o nosso organismo, sendo ele próprio
responsável pela produção de proteínas do corpo, pois acredita que na realidade só
teremos vitalidade à medida que o nosso organismo fabrica as proteínas de que ele
precisa.
O contraste entre a cosmologia oriental e ocidental se mostra presente
também no âmbito da saúde, o que marcaria as diferenças entre a medicina
ocidental contemporânea, ou biomedicina, e o holismo e as práticas alternativas
vindas em sua maioria do Oriente. Essa nova maneira holística de conceber a saúde
conceituada por Nogueira e Camargo (2007) proporcionaria uma consciência ética,
mentalidade e forma de viver novas, distantes dos padrões duais, e de oposição
homem/natureza, espiritual/físico, corpo/mente. Essa noção global de saúde
segundo Teixeira (1996), encorajaria um debate no âmbito das diversas ciências e
promoveria atitudes diferentes em relação ao homem, a saúde e a ciência, como se
expressa no discurso dos vegetarianos entrevistados.
Na próxima categoria de análise que tratará da experiência vegetariana
veremos como eles cuidam da saúde, em relação ao uso de medicamentos e a
prática de atividade física, de maneira que ficará mais clara essa concepção global,
onde a mente e o corpo estariam em união como mostra os discursos vegetarianos.

67
2.2.2.1.2 – Argumentos Ambientalistas
Os argumentos ambientalistas presentes nos discursos podem ser divididos
em duas vertentes: uma de proteção à natureza e ao planeta e outra que se refere à
compaixão que sentem em relação aos animais.
Uma crítica constante que possui relação com o meio ambiente é o
desmatamento provocado pela pecuária. Esta devastação pode ser ocasionada
tanto pela disponibilização de pastos para a criação do animal, quanto para a
produção de soja, que é parte da alimentação destes. Um outro argumento
ambiental são os gases (como o metano) emitidos pelo gado que seriam
contribuintes para a destruição da camada de ozônio, ou seja, quanto mais gado,
maior é o aquecimento global. Consequentemente o consumo de carne, então,
segundo os entrevistados, ocasionaria um desequilíbrio ecológico e ambiental como
é possível ilustrar com as falas:
Maria: É antiecológico comer carne. Com base agora na ecologia, podemos
perceber que o planeta está surtando.
Helena: Olha só que estrago que está fazendo a carne no mundo sabe? Olha o tanto
de desmatamento que tem por causa de pastagem, por causa de plantação de soja
para alimentar o gado.
Como descrito no quadro teórico a necessidade de preservação da natureza
pode ser considerada hoje como algo emergencial e já reconhecido pela sociedade
brasileira em geral. Urban (2001) acredita que esse discurso ambiental tem sido
bastante usado na contemporaneidade mesmo encontrando interesses contrários
próprios de uma sociedade capitalista, como por exemplo a indústria da carne.
A preocupação ambientalista no Brasil ganha na década de 80 a adesão do
movimento pacifista como descreve Antuniassi; Magdalena e Giansanti (1989). Esse
pacifismo alimenta o sentimento de compaixão, que no caso deste estudo, os
vegetarianos sentem em relação aos animais.
Em dois entrevistados a compaixão animal foi provocada pelo contato com o
ramo de atividade profissional familiar. Em um dos casos a família do entrevistado
possuía um açougue, e devido a esse contato, hoje, ele e todos os irmãos seguem a

68
opção alimentar vegetariana. No outro caso o avô tinha um matadouro e aos nove
anos de idade decidiu parar o consumo após ver a maneira como eram abatidos os
animais. Como descreve:
Selma: Eu acabei indo por acaso nas férias na casa do meu avô, na fazenda e vi a
forma de matar o boi. Aí eu não consegui mais.
O modo com que os animais são criados, confinados e abatidos para o
consumo é considerado cruel pelos entrevistados. Eles acreditam que não se deve e
nem existe a necessidade de matar outros seres para a alimentação humana. Para
os vegetarianos entrevistados, se alimentar de um animal morto não é considerado
algo correto. Acreditam que para terem a consciência tranqüila não devem comer
nada que venha do sofrimento de animais, de modo que consideramos que essa
proteção animal carrega consigo valores morais e éticos. Um entrevistado considera
que quando o animal é abatido a energia de medo que o animal retém antes da sua
morte ficaria impregnada na carne e passaria para o seu consumidor como
descreve:
Igor: Quem já viu como se mata um animal em um matadouro, vai verificar que o
processo é bem agressivo. Se você olhar nos olhos do animal, você vai ver os olhos
esbugalhados e o olhar de terror. Aquilo tudo demonstra que ele absorveu uma
energia de querer se salvar.
Os produtos que para o consumo não dependem da morte do animal como o
ovo, o leite e seus derivados são também mencionados. Alguns entrevistados ainda
fazem uso deles, mas a maioria o condena e pretende cessá-lo. Esses derivados
contribuiriam para o mau trato com o animal e para o crescimento e manutenção da
“indústria do sofrimento” no mercado.
É descrito por uma entrevistada, por exemplo, como é produzido o ovo. As
galinhas são confinadas de uma maneira que iria contra a própria natureza o que é
considerado crueldade. A produção do leite seria muito estressante para as vacas
que são ordenhadas várias vezes ao dia. O consumo de mel, que faz um tipo de
intervenção no habitat da abelha, foi mencionado também como errado. Enfim,

69
condenam de maneira geral a interferência do homem no habitat natural dos
animais.
Lúcio: Com relação ao uso dos derivados, tipo queijo, coisas que você não precisa
matar. Assim como o leite e o ovo, no ponto que a gente está, eu também não
comeria, porque ele favorece uma industria da violência e do mau trato animal.
Porque o leite sustenta o mercado da carne.
Os defensores dos animais, que se organizam por uma causa moral, se
caracterizam por uma conscientização social pelo tratamento humanitário desses,
assim como lembra-nos Thomas (1988). O animal, segundo os entrevistados possui
assim como nós, seres humanos, o direto de viver dignamente. Na
contemporaneidade estariam sendo tratados de maneira desumana e
desrespeitados pelo homem. É interessante destacar que o termo humanitário, que
designa especificamente aos homens, é entendido aos animais expressando o
respeito que o vegetariano tem para com eles, como um igual.
Além da alimentação, a preocupação com o uso artigos de couro se faz
presente. A preocupação com o animal vai além do consumo de alimentos:
Mônica: Do uso do couro, por exemplo. Eu não uso sapato com couro, uso sapato
de paninho.
Possuem também uma postura política que inclui por exemplo, não usar
produtos testados em animais, e lutar contra qualquer mau trato que venham a
sofrer, como as touradas e as práticas educacionais envolvendo a morte e o
sofrimento animal, como é o caso da vivissecção.
A defesa aos animais na maioria das entrevistas não diz respeito somente ao
consumo de proteínas animais. Os vegetarianos se mostram preocupados com
diferentes problemas ambientais, afirmando fazerem o seu papel na conservação do
meio ambiente e do planeta. Querem ter a consciência de que estão fazendo a sua
parte como caracteriza:
João: Só a questão da consciência, não é?Igual, quando você quer reciclar as
coisas, não quer jogar nada no lixo. Quando você joga alguma coisa, um papelzinho,

70
come um chocolate, bota no lixo, você lembra que poderia levar pra sua casa, pois
lá você separa o lixo. Na rua não.
2.2.2.1.3. Argumentos Religiosos
As religiões próprias da tradição cultural brasileira encontradas entre os
entrevistados são o Adventismo do Sétimo Dia e o Espiritismo.
Os Adventistas totalizaram 4 participantes que trazem regularidades em suas
falas e em vários momentos referem-se aos escritos da visionária Ellen G. White
(1946), presentes no livro intitulado: Conselhos sobre o regime alimentar, que
compila vários escritos da visionária e trata especificamente da questão alimentar.
Os adventistas acreditam em uma reforma da saúde que só seria possível com a
mudança do hábito alimentício. A saúde e o corpo são muito importantes, de
maneira que é preciso estar bem fisicamente para conseguir fazer o bem, e servir a
Deus.
A confirmação do preceito de Ellen de que a carne não faz parte do regime
que Deus deixou para o homem e seu consumo seria facilitador de doenças.está
presente no discurso dos nossos entrevistados adventistas. Retratam o que
Schunemann (2005) afirma que, para os adventistas um cérebro enfermo seria um
obstáculo para a comunicação das verdades religiosas, sendo a carne possuidora
de poderes morais, de maneira que esse regime não foi deixado pelo Criador.
Todos os preceitos de Ellen White se mostram presentes nas declarações dos
entrevistados seguidores da religião, como o discurso sobre o regime original já
citado anteriormente, a questão da dificuldade de trabalho cerebral quando do
consumo de carne e até mesmo a questão da crueldade para com os outros seres e
nesse caso para com os animais.
Areta: Então é o que eu já falei para você, olha, quando Deus criou o mundo ele deu
as plantas, as ervas, para que o homem se alimentasse dela.
Célio: Então, eu aprendi na minha religião, né? Aprendi na Bíblia que Deus não
deixou esse regime pra gente. Que no começo do mundo né, não era assim, então
pra gente ter saúde melhor a gente não deve comer carne.

71
O espiritismo também possui a sua relação com o consumo de carne. O
entrevistado espírita afirma que a carne traria consigo energias de matança e de
horror, que é passado para o animal na hora de sua morte. Essas energias
impregnadas na carne, a tornariam impura e poluiriam o corpo e o sangue. Além
disso, o entrevistado espírita considera que o homem já possui um instinto
animalesco e violento que seria então facilitado e viria à tona com a presença da
energia da carne no organismo.
Na literatura que tratou da questão espírita observou-se duas vertentes, uma
que defende a alimentação carnívora (SIMONETTI, 2007), e outra que a condena
(LUIZ, s/d). Porém, o nosso entrevistado espírita considera esse consumo como algo
negativo, que traria somente malefícios, que não seriam somente espirituais, mas
também fisiológicos.
Igor: Nós sabemos que o animal quando ele é massacrado, ele sofre um processo,
tipo o ódio do ser humano, é aquela energia que nós já nascemos com ela, assim do
medo, ou da defesa, e aquilo fica impregnado na carne e isso provoca realmente
situações assim, inusitadas na pessoa.
O dilúvio foi um episódio bíblico que apareceu em várias falas, independente
da religião declarada pelo entrevistado. É caracterizado como uma resposta de Deus
para limpar os pecados do mundo, uma purificação do mundo. Narram que quando
acabou o dilúvio, e as águas baixaram Noé saiu da arca e que não havia mais
alimentos vegetais, Deus, nessas condições, teria permitido que o homem comesse
carne. A partir de então, como observado nas falas, o homem teria se viciado neste
alimento.
Foi possível perceber a utilização de passagens bíblicas pelos entrevistados
para alicerçar argumentos religiosos usados na legitimação da prática vegetariana.
Dentre as citações estão partes do livro do Levítico e o Gênesis, que tratam das
questões alimentares. A interpretação bíblica dos entrevistados se assimila com o
que acreditam e descrevem Bontempo (2006) e Greif (2005).
Erick: Isso aí então tá tudo especificado no livro de Levítico, cap. 11. Então a gente
segue o que esta preconizado na Bíblia. Porque é o seguinte se você ler o livro de

72
Gênesis, no primeiro capítulo, vai estar especificado qual o melhor alimento do
homem e ali não havia nada que envolvesse o alimento carne.
A argumentação religiosa também está presente na compaixão que os
vegetarianos sentem pelos animais. Os discursos apresentam essa compaixão que
parece provocar uma espécie de elevação espiritual. Como foi tão bem explicitado
por Comte-Sponville (1999) a compaixão diz respeito a tudo o que sofre: inclusive
com os animais, o que a tornaria a mais universal de nossas virtudes. Através deste
ato os entrevistados se consideram evoluídos e com facilidade de transcendência e
de evolução.
João: Você quer dormir tranqüilo, sabendo que não ta machucando ninguém, não
está fazendo o mal para ninguém.
Como pudemos observar nos discursos a alimentação e a religião se mostram
muito próximas, fato que expressaria a mediação da primeira para promover uma
condição mais consciente e espiritualizada do vegetariano.
O jejum e a abstinência do alimento, que de qualquer forma tenha relação
com o prazer alimentar também apresenta alusão à religiosidade. Com isso
remetemos à questão do sacrifício, de maneira que este levaria a algum tipo de
salvação ou de santificação. Seria, portanto, conseqüência da abstinência de carne,
uma transcendentalização, ou seja, uma elevação espiritual e moral como descrita:
Mônica: A pessoa fica assim, vamos dizer, até com a compreensão da natureza, a
compreensão de Deus, parece que é mais perto do real. Pelo menos os
vegetarianos que eu conheço, tem um nível psicológico e espiritual mais elevado do
que um carnívoro.
O Budismo foi outra religião citada. Uma entrevistada se utiliza de seus
princípios para justificar os motivos de preocupação com os animais, e a não-
violência com qualquer ser (A ahimsa, descrita por Van, 2005).
A concepção budista explicita as relações entre o consumo de animais e o
budismo, onde o animal não dever ser morto para o consumo. Um outro aspecto
levantado diz respeito a reencarnação. O budista acredita que poderia ter sido um

73
animal em outra vida, ou ser um animal numa próxima vida. Esse conceito faz com
que tenha respeito pelo animal que pode, por exemplo, ser um ente familiar que
reencarnou como animal. (OSHO, 2006)
Helena: Fiz um contato com o Budismo que fez com que eu me decidisse assim, a
parar de comer carne. Eu trabalhava com mergulho e comia peixe. E ai pensava
assim: mergulho com os bichinhos ali, depois eu saio da água e ponho eles no meu
prato.
Como já mencionado na análise dos dados sócio-econômicos a grande
maioria dos entrevistados não se incluiu em uma religião. A maioria considera-se
sem religião, agnóstico, livre pensador ou não preencheram este item do
questionário. Tal indefinição parece indicar que seriam seguidores dos novos
movimentos religiosos. As alegações contidas nos discursos parecem confirmar que
o vegetariano se encontra dentro do processo conhecido como orientalização do
universo religioso do ocidente, tão bem descrito por Campbell (1997); Oliveira (2000)
e Carozzi (1999).
As características desses novos movimentos religiosos se encaixam no
discurso vegetariano. O revival pela ética e as experimentações individuais descritas
por Soares (1994); a alimentação naturalista citada por Guerreiro (2007); bem como
a alimentação vegetariana como um sinal de modificação do movimento Nova Era
(MALUF, 2005) estão presentes nas falas.
Lúcio: Agora se você for pra Índia, até você vai ver que existem filosofias que, todas
as filosofias que surgiram na Índia, né? Sustentam o vegetarianismo, como, como
filosofia espiritual né? De cuidar de corpo e mente, de uma forma unificada.
Durante uma das entrevistas um dos participantes me indicou uma revista
sobre vida natural, que continha uma matéria denominada 5 ótimas razões para
aderir ao vegetarianismo. Essas razões, citadas a seguir, assim como o discurso
presente nas entrevistas ilustra de uma só vez os argumentos científicos, religiosos
e ambientalistas legitimadores do vegetarianismo. São elas:

74
1.Nutrientes vegetais são mais saudáveis, 2.A matança de animais é inaceitável, 3.O corpo
humano digere melhor os vegetais, 4.O espírito precisa se purificar, 5.A floresta está
virando bife.(ESTILO NATURAL, 2004,p. 36-41)
2.2.2.2. Experiência vegetariana
A experiência vegetariana, ou seja, a adesão à prática alimentar vegetariana,
traz consigo a intermitência desta prática bem como o preconceito sofrido pelo
praticante. A maneira como os vegetarianos cuidam do corpo, em relação ao uso de
medicamentos e a prática de atividade física também fazem parte da experiência
vivida pelo vegetariano.
2.2.2.2.1. O vegetarianismo, a intermitência e o preconceito:
ser vegetariano em uma cultura carnívora
O discurso presente nas entrevistas demonstrou que a prática vegetariana
carrega consigo uma intermitência que pôde ser notada em todas as entrevistas. O
ser humano devido ao estatuto de onívoro pode fazer escolhas e decidir o que vai
comer. Essas escolhas então seriam determinantes de grupos sociais e estariam
situadas, como já discutido, entre o natural e o cultural.
Esta intermitência ocorre de dois modos: ser ou não vegetariano ou pela
transição entre as diversas maneiras de adoção do vegetarianismo. Muitas vezes o
vegetariano tenta se abster de todos os tipos de alimento de origem animal, porém à
medida que retiram os alimentos (como o leite, seus derivados e ovos) as barreiras
culturais e até mesmo fisiológica vão aumentando.
O vegetariano precisa ceder, seja à cultura, ao paladar, à falta de opção, ao
mercado ou à pressão familiar, necessitando fazer negociações, consigo mesmo e
com a cultura onde está inserido. A expressão “fases” foi utilizada várias vezes,
fazendo crer que o vegetariano não se encontra, na maioria das vezes, em uma
condição definitiva de alimentação, e sim em uma fase que tende a se modificar
para o radicalismo ou para um afrouxamento da opção alimentar. É interessante
compreender que a opção não seria algo definitivo, mas uma situação que poderá

75
ser modificada, com ressalvas e justificativas para qualquer migração. Essa
intermitência se mostra nas falas:
Débora: Mas é uma coisa assim, eu não me forço. Até eu não uso muito o rótulo né?
Sou vegetariana, eu digo, estou vegetariana, estou e isso pode mudar a qualquer
momento.
João: Eu já fiquei quase um ano sem comer leite nem ovos. Acabo sempre voltando,
parando, voltando.
Porém, como foi possível perceber nas entrevistas sempre que existe este
“deslize” ele vem acompanhado de negociações e considerações que justificam o
consumo de determinados alimentos. São nômades em diferentes regimes
alimentares.
Íris: As vezes que eu comi, foram, por exemplo, eventos que eu fiquei com vontade
porque não tinha outra opção. E falei, ah não vou me privar, nunca acontece.
Em algumas entrevistas foi possível perceber a questão do paladar e do
gosto do alimento. Esse ponto pode ser um dos motivos para que a intermitência
aconteça, além disso, seria forte influência para que a prática vegetariana não tenha
novos adeptos.
Remetemos a Gonçalvez (2004) que afirma que o paladar desempenharia
uma função dominante e acredita que a cultura e as relações sociais definem a
natureza humana, e não as necessidades biológicas e fisiológicas. O paladar como
uma junção entre o natural e o cultural, seria então um determinante para a escolha
alimentar.
A carne apareceu também nos discursos como vício e como tentação. O
homem teria se viciado na carne após ter sido permitido o seu consumo. Esse vício
deveria também a questão do paladar e nesse caso passa a ter um aspecto religioso
ligado a contenção do prazer, como descreve:

76
Célio: Exatamente a falta de informação, e também porque, vamos concordar
comigo, é gostosa a carne né? É uma boa mistura, então a pessoa aliada ao fato de
não ter conhecimento do mal que ela causa né, a pessoa vicia, né.
A meta principal do vegetariano, na maioria das vezes, é se tornar um vegan.
Condição esta que não permite o consumo de nenhum tipo de proteína animal,
inclusive de derivados e que, além disso, exige uma postura ética e política em
relação ao uso dos animais.
Lúcio: Hoje eu me considero um vegan, né? Pelo que eu tenho conseguido fazer na
minha alimentação, não tenho dado nenhuma bola fora.
Ser vegetariano em uma sociedade carnívora parece ser uma das grandes
barreiras para que a prática se consolide. Arriscamos chamá-los de “resistentes”.
Nas entrevistas percebemos alguns relatos que denunciam o preconceito que
sofrem com a prática e os seus adeptos, o que pode influenciar também a
intermitência.
No site sobre vegetarianismo < www.vegetarianismos.com.br > deparamo-nos
com uma crônica que tinha como título: A quase vegetariana. Ela ilustra muito bem a
questão da intermitência, quando conta a história de uma moça que decide se tornar
vegetariana, bem como os impasses que ela enfrentou para manter essa condição.
Tal história fala exatamente da luta contra uma sociedade carnívora, que nesse caso
acabou vencendo a condição vegetariana da moça. Ao final da crônica temos o
resultado desta “batalha”:
Percebeu que ser vegetariana, num mundo assim, é muito mais difícil do que parece ser.
Finalmente, constatou que, diante da quase impossibilidade que seria boicotar tudo aquilo.
Assim ela decidiu assumir sua triste condição de quase vegetariana. (CELLA, 2005, p. 3)
A escolha do alimento, devido ao estatuto de onívoro do homem satisfaz não
só o corpo, mas a sociedade em que se vive. Como caracterizam Poulain e Proença
(2003a) e Bleil (1998) quando lembram que a escolha do alimento revela muitas

77
vezes a que grupo se deseja pertencer, bem como este estatuto seria uma das
condicionantes à que a alimentação humana é submetida.
Ao lado da denúncia do preconceito, os vegetarianos relatam também uma
mudança positiva na maneira como são vistos hoje pela sociedade, que é atribuída à
relação que se faz do vegetariano, atualmente, com a saúde e com o bem que
proporcionam para os animais e para o planeta.
João: A minha família criticava demais, falava que eu era louco. E eu não sabia
explicar direito né. Eu só tinha uma sensação de que não, não quero comer esse
animal morto.
Alguns entrevistados que são vegetarianos há mais de dez anos percebem
esta mudança, pois antes eram considerados como exceções radicais, hoje são
exceções boas.
Fabiana: Eu acho assim, que o meu convívio mesmo com gente que come carne
ficou melhor hoje do que era antes, por causa desse negócio que as pessoas hoje
associam com saúde, e antes era, sei lá o que era, era uma coisa meio a parte.
Comentam: Ah é, que bom que você é, que ótimo.
A diminuição do preconceito, bem como a legitimação cientifica e ambiental
podem também estar relacionadas à questão de mercado. De maneira que o
capitalismo tem sensibilidade para criar determinados produtos não apenas para
suprir o mercado mas também para criar e incentivar novas práticas ou práticas
emergentes.
Fabiana: Quando eu virei vegetariana não existia nada dessas coisas que existem
hoje, que a gente come hoje. Hoje a gente acha hambúrguer congelado, nuggets
essas coisas tudo de soja, salsicha. Antes não tinha absolutamente nada. Hoje eu
tenho muito mais opção do que eu tinha antes.
Através de um modismo, da mídia, da coerção política ou como já foi dito pela
associação com os cuidados do meio-ambiente e pela relação com a saúde as
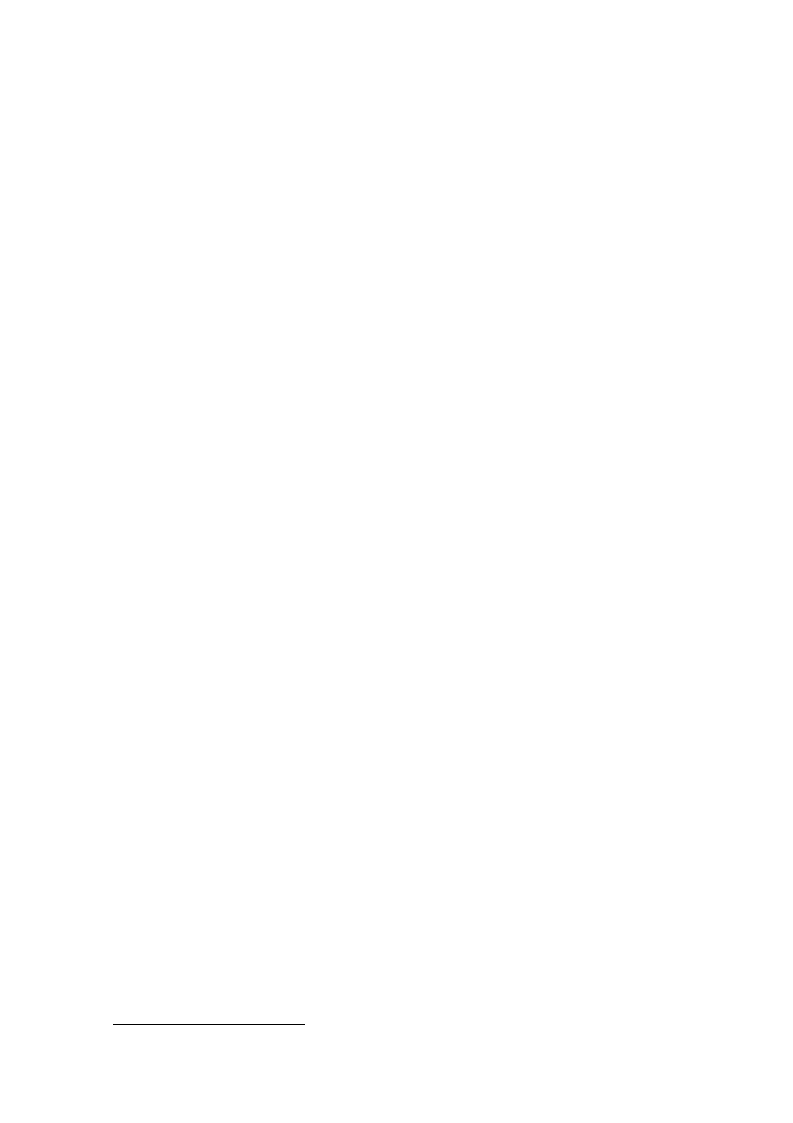
78
pessoas estão aprendendo respeitar a opção alimentar do vegetariano. Porém, em
alguns outros depoimentos o preconceito ainda permanece.
O churrasco, tradicional do brasileiro, esteve presente em várias falas.
Afirmam que quando vão a esses eventos levam a sua própria comida, porém são
alvos de brincadeiras como alface na churrasqueira e vaso de violeta na bandeja,
ilustrados na seguinte fala:
Selma: Tem sempre umas brincadeirinhas tolas né? Dos carnívoros , né? Os
trogos4, que a gente fala. E eu vou ao churrasco dos trogos numa boa. Mas eu acho
que ainda rola um preconceito.
Confessam que são até confundidos com terroristas, talvez pela aproximação
que a prática tem com um oriente imaginário e pelo radicalismo com que são vistos
por algumas pessoas. Como explica:
Lúcio: E inclusive a ultima moda tentar ligar o vegetariano aos terroristas, eu acho
que deve estar ligado a alguma imagem, né, porque na Índia não se come à carne, a
carne é sagrada, talvez ai ligar ao Oriente Médio. Os vegetarianos estão defendendo
o animal, fazendo várias manifestações e então ligam isso ao terrorismo. É uma
forma de você mais ainda discriminar.
À medida que o vegetariano propõe uma outra relação com a natureza, eles
estão na verdade propondo uma outra cultura, o que vai de encontro com os valores
que são considerados como corretos e naturais pela tradição ocidental.
2.2.2.2.2. Os cuidados com o corpo
A maneira com que os vegetarianos cuidam do corpo também faz parte da
experiência vegetariana.
A maioria dos entrevistados cuida da saúde de uma maneira que
denominaremos naturalista-holista, pois se encaixariam em um grupo que caminha
contra a biomedicina. A prática de atividade física é feita com objetivo na saúde e na
4 Trogo – Gíria para troglodita.

79
espiritualização, e se apresenta por meio de atividades consideradas alternativas. A
noção de pessoa e de corpo parece caminhar para o holístico, concebendo uma
inter-relação entre as partes e o todo. O que fica claro nas falas:
Hilda: Eu não tomo remédio alopático.[...] A gente sempre curou com chá, sabe? Mel
com própolis pra tudo assim.
Lúcio: Remédio nenhum, nenhum remédio químico, nada, reduzido a artificial, é, eu
procuro as ervas. Eu procuro fazer um trabalho primeiro com as plantas , eu faço
sessões de acupuntura, massagens, alternativas.
A maioria dos entrevistados prefere recorrer às práticas naturais para cuidar
da saúde, como o uso da homeopatia, florais, garrafadas, ervas medicinais,
massagem, reiki, chás, entre outros. Essas práticas alternativas, que buscam uma
aproximação com o oriente propõem uma visão unitária que integre corpo e mente,
homem e natureza, que é denominada de holismo (ALBUQUERQUE, 1999). Assim
como Teixeira (1996) explica, o holismo e a saúde provocam uma aproximação com
as abordagens não ortodoxas da saúde.
Débora: Cuido da minha saúde com florais. [...] E às vezes fitoterapia, né? Tomo um
chá, uma garrafada, algum produto para passar na pele.
Dentre as atividades físicas citadas podemos ressaltar a presença da prática
de yoga como uma regularidade. A relação que esta prática tem com a alimentação,
além de ser encontrada nas falas foi descrita por Kupfer (2005).
Mônica: Da yoga não só saúde né, é uma prática espiritual também, mental e
espiritual também. E também ajuda na compreensão espiritual.
O motivo da prática da atividade física mescla saúde, bem estar e
espiritualidade em alguns casos. Só dois entrevistados citam a estética como um
complemento dos motivos que levam a prática.

80
Diana: É diferente né, o yoga não é só para, não é estética né. Assim também
auxilia né. Mas não é o foco. Mas a academia eu gosto, assim, pra estética.
O conceito de saúde que possuem, bem como a noção de pessoa, caminham
para uma união de todas as coisas, sempre com o objetivo de alcançar o equilíbrio e
a harmonia. Podemos encaixar aqui a saúde como uma mandala totalizante tão bem
expressa por Filho (2000), e também as concepções de saúde de Raine e Paquette
(2004); Palma (2000) e Acharam (2001) onde envolve muito mais do que o físico e
não é considerada só como a ausência de doença.
Podemos dizer que o conceito de saúde e as práticas médicas antes
alicerçadas pela ciência e pelo conhecimento institucional, na pós-modernidade
recebem novos aliados como, as práticas alternativas, religiosas e naturalistas.
O uso da bicicleta como atividade física apareceu, e também foi citada duas
vezes como uma maneira de não se usar o carro e, consequentemente, não poluir o
meio ambiente, o que remete a responsabilidade que o vegetariano apresenta em
relação ao planeta. Como conta:
Helena: Então, o lance da bicicleta, eu acho o máximo assim, porque você une tudo
assim, você une o útil ao agradável. Você não polui, e você tipo, se exercita.
Porém, dois entrevistados utilizam a medicina tradicional porém se justificam,
como percebemos na seguinte fala:
Igor: Eu não me adaptei a homeopatia, porque eu sou imediatista em termos de
saúde. [...] eu tenho uma vida muito ativa, e qualquer gripezinha me derruba 15 dias
então eu ataco logo na alopatia, resolvo logo e já parto pra briga de novo.
Compreender aspectos tão amplos como o conceito de saúde, utilizando
somente os aspectos biológicos e genéticos talvez seja uma maneira redutora e
ainda moderna de entendimento. A pós-modernidade trouxe consigo modos de
conhecer o ser humano mais totalizantes como já é possível observar nas mudanças
das concepções de saúde presentes nos discursos.

81
CAPÍTULO 3: CONCEPÇÕES DE CORPO E NATUREZA ENTRE OS
VEGETARIANOS
As relações dos homens com a natureza são definidas historicamente e se
expressam nos modos de conhecer e explicar a realidade. Da relação que o
vegetariano tem com a natureza deriva sua concepção de corpo (corporeidades).
O vegetariano se coloca como próximo em relação à flora e a fauna,
respeitando-a e também atuando em prol de sua preservação. A abstenção de carne
objetiva acabar com o desmatamento que este consumo provoca. Além disso,
também acreditam no poder curativo das plantas e recorrem aos chás, garrafadas e
florais para cuidarem da saúde. Nas entrevistas demonstram respeito ao meio
ambiente como um todo e não só em relação ao animal e a sua morte.
Nessa relação com animais o vegetariano se considera algumas vezes como
igual. São seres que merecem respeito e devem ser tratados de maneira humana.
Mônica: Os frangos hoje completamente confinados e dentro de jaulas com gradinha
que nunca viram o chão.[...] A natureza não fez eles assim, isso é contra a natureza.
Se é uma caça, de dizer vai numa selva porque tem necessidade de se alimentar,
mata o bichinho pra comer. Isso é próprio da natureza.
Em relação aos outros homens se mostram preocupados com os que passam
fome, utilizando o argumento de que o não consumo de carne acabaria com a fome
do mundo.

82
Mônica: Pra você poder conseguir um bife destes de pouca gramas de bichinho você
alimentaria 40 famílias. Você entendeu a proporção absurda? Com isso acabaria a
fome do mundo! Isso me da até revolta de pensar.
Outro argumento é que o não consumo de carne melhorou suas relações
interpessoais. Ao adotarem a alimentação vegetariana se tornaram mais pacíficos,
não praticando violência com os animais e com as outras pessoas, ou seja,
respeitam o outro a partir do respeito que possuem ao meio ambiente. O desrespeito
atribuído a carne pode ser observado na fala:
Maria: E depois o homem viciou na carne isso foi um grande atraso espiritual pra
humanidade, né? Tornou-se voraz, agressivo e voltou a ser mais animalesco né?
Agressividade com o próprio e com a natureza né? Acabou o respeito.
A relação com os carnívoros aparece de duas maneiras, em uma o
vegetariano respeita o carnívoro e até entende os motivos que o fazem comer carne.
Em outra, o consideram como uma pessoa sem força de vontade, egocêntrico,
terreno e agressivo, como compara:
Helena: Porque eu acho que continuar a comer carne é só uma fraqueza entendeu?
De vontade, porque eu fumava cigarro, e ai é aquela mesma coisa, a sensação que
eu tenho, sabe, ah... eu não consigo, porque é uma fraqueza que você tem, de tipo,
não conseguir parar. Mas se você tiver força de vontade você consegue.
Uma entrevistada apresenta uma postura diferente em relação ao
vegetarianismo e considera que a alimentação escolhida não possui relação com
ética e moral e sim com o que cada escolha faz bem para cada um, individualmente
e relacionada a saúde, como ela menciona:
Selma: Posso ser vegetariano e ser um péssimo individuo né? Só ligar pra qualidade
da minha vida e não ligar pra qualidade de vida do outro. Eu posso ser um carnívoro
e ser uma pessoa super ligada, né, que olhe o outro, que respeita o outro.

83
Os vegetarianos confessam que preferem ter amigos vegetarianos ao invés
de amigos carnívoros, pois se entendem, fazem programas parecidos, e possuem
uma concepção igual do mundo. O que passa também pela questão do preconceito
comentada anteriormente e como explica:
Lúcio: O vegetariano ele acaba procurando outro vegetariano porque ele não
consegue mais conviver, entendeu? Ele passa a fazer grupos de vegetarianos.
O praticante do vegetarianismo concebe o planeta dentro de uma perspectiva
global, onde todas as coisas estariam interligadas, fauna, flora, seres humanos,
todos juntos em equilibro: energético e ecológico, onde todos os seres são
interdependentes. O vegetariano respeita a flora, a fauna, os outros seres humanos
a partir do respeito que tem com o seu próprio corpo.
3.1 Corporeidades dos vegetarianos
O corpo do vegetariano é objeto de respeito, cuidando para que seja saudável
- um corpo forte, livre de doenças, purificado - é o seu melhor amigo. O corpo é
considerado como o templo do Espírito Santo, o que expressa também um
compromisso religioso. Como caracterizam:
Débora: Ta,[usar] alopáticos é muito difícil, muito difícil,[pois] meu corpo é muito
forte, muito forte.
Sérgio: Sempre trabalhei bastante, e nunca mais fiquei doente, né, então tem uma
influência, né.
A doença, quando aparece nas falas, é sempre relacionada aos aspectos
fisiológicos, já a saúde e a qualidade de vida não. A saúde tem o seu conceito mais
amplo onde o fisiológico, o intelectual, o espiritual e a relação com a natureza são
determinantes. A doença é a ausência de saúde, mas o inverso não é recíproco,
sendo a saúde muito mais do que a ausência de doença.
Ao mesmo tempo em que esse corpo é fisiológicamente saudável, ele é
transcendente, ele é mais leve, mais puro e mais energético.

84
Maria: Então você cuida mais da água, da terra, das plantas, dos animais. Você
entende a escala evolutiva. Então, você vai, fica mais fácil de você, transcender.
Tanto na alimentação quanto na atividade física os cuidados com o corpo
repercutem na alma e no espírito. O comentário de corpo e mente ou espírito
unificados foi um argumento que apareceu com bastante regularidade:
Diana: Ah, tem muitas vantagens, se sente mais leve, mais leve seria a palavra. De
corpo e alma mesmo né.
A definição da noção de pessoa, apresentada pelos vegetarianos envolve a
sua noção de corporeidade somada à sua posição na natureza. Os vegetarianos se
concebem como uma unidade, integrada ao planeta. Ele cuida do corpo, da alma e
do ambiente:
Lúcio: De cuidar de corpo e mente, de uma forma unificada, como as filosofias
ocidentais também no final, depois de toda a razão humana chegaram, né, de que é
preciso cuidar não só do corpo, ou da mente,e sim dessa unificação, do corpo,
mente e espírito, porque nós somos ordens separadas e juntas ao mesmo tempo.
Então, não adianta você tentar cuidar de uma ou de outra, então os alimentos estão
ligados a uma consciência do que você come, né, e de qual o mal que você vai fazer
para a outra espécie, né, eu acho que isso é muito importante você vê que é, não é
todas as pessoas.
O corpo do vegetariano muitas vezes também aparece como purificado.
Concebem-se dessa maneira pela não ingestão do animal, que seria um alimento
impuro e carregado de energias ruins. Não ter esse alimento dentro de si, ou seja,
não incorporando a carne, o vegetariano estaria isento de impurezas, como
explicam:
Helena: E, e o que eu acredito assim, é que quando você faz uma dieta vegetariana,
assim, você tá como que purificando o seu corpo, assim sabe? Tanto de toxina e tal,

85
de hormônio, essas coisas que tem na carne né? Quanto das energias que estão
associadas a todo esse processo industrial de matança.
Mônica: Passei muito mal o dia que eu tive consciência. Passei mal eu vomitava sem
parar, intestino, tudo. Parece que eu tava pondo pra fora tudo aquilo que eu tinha
comido o resto da minha vida, até aquele tempo. Como se estivesse limpando.
A corporeidade que a cultura alternativa propicia e que os vegetarianos
concebem combina múltiplas versões. Como descreve Albuquerque (2001b), elas
são laicas e religiosas, cientificas e prosaicas, ocidentais e orientais, e procuram
construir uma integração do corpo em comunhão com a mente e com o meio
ambiente.
Enfim, a noção de pessoa que o vegetariano possui pode ser resumida na
tríade corpo, espírito e natureza. Corpo saudável, coração em paz, espírito em
harmonia e integrado ao meio ambiente. Segundo Soares (1994) através deste ideal
a maior parte dos envolvidos com o movimento alternativo certamente se reconhece.
Além da tríade chama atenção para as díades (saúde-doença, equilíbrio-
desequilíbrio, respeito-violência, restauração-devastação, reconciliação-ruptura,
puro-poluído, mistério-ciência) que puderam ser percebidas também nas falas
analisadas:
Lúcio: Então se você simplesmente virar vegetariano por causa da sua saúde, você
esta isolado também [..] você tem que pensar antes também no mundo todo, no
equilíbrio ambiental. É esse equilíbrio que a gente não consegue. É, eu acho que
esse equilíbrio, é que o ser humano esta tão necessitado e ausente no ser humano,
e ai, advém todas as enfermidades da sociedade seja elas, físicas ou de violência.
Marco: Eu gostaria que as pessoas partissem como uma linha de mudança mesmo.
Porque tem muitas filosofias ai, umas religiosas, outras não que acham que a
humanidade esta mudando para uma linha de mundo novo de uma outra era né?
Então somente através da conscientização das pessoas é que você vai entrar nessa
era nova, senão a humanidade pode também ir para um outro lado, que é um lado
de destruição né? Lado doença, da guerra nuclear, o lado da... Então a humanidade
ta indo numa direção ai que ela pode mudar. Isso é uma escolha de mudança. Nós

86
estamos mudando para era de Aquário né? Saímos de uma era mais escura para
uma era mais clara. Então é importante essas pessoas se conscientizar dessa
mudança para ver esse mundo novo né? Dizem que vai surgir né? Depende da
consciência de cada um né?

87
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os argumentos científicos, religiosos e ambientalistas encontrados nas fontes
primárias confirmam a hipótese deste estudo, pois definem os objetivos,
representações do corpo e a posição do homem na natureza entre os vegetarianos.
Utilizando-se dos argumentos para legitimação da prática vegetariana, os
entrevistados demonstram suas corporeidades e a noção de pessoa que possuem
através da relação que produzem com a natureza.
Com os movimentos sociais dos anos 60, do século XX, que atingiram vários
setores da cultura e do comportamento no ocidente os corpos passam a ser
corporeidades (ALBUQUERQUE, 2001b). Esse processo trouxe grande contribuição
às áreas de conhecimento que lidam com os aspectos biológicos dos seres
humanos, como é o caso da Educação Física. O corpo como objeto das Ciências
Sociais agora no início do século XXI se mostra presente em suas diferentes
leituras, como na comparação entre gênero, classes sociais, etc.
Dentre as várias maneiras de estudar o corpo as relações entre ele e as
práticas alimentares é um campo emergente. Quando os estudos sobre o corpo
trazem a questão alimentar, estes dizem respeito à questão estética e de culto ao
corpo, como a obesidade e a anorexia. Estes temas são abordados do ponto de
vista biológico e cultural.
Estudos como este, sobre a relação entre as práticas alimentares e as
corporeidades, podem servir de incentivo para muitos outros que tratem desta
relação no campo da Educação Física. Embora esta pesquisa tenha a pretensão de
trilhar novos espaços dentro da Educação Física e da construção das
corporeidades, ela é apenas um estudo introdutório. Essas corporeidades

88
comportam os regimes alimentares, como uma escolha cultural que nesta
dissertação tratou da prática vegetariana em Rio Claro.
A experiência vegetariana envolve viver com saúde, com consciência,
respeitando aos outros seres, se aproximando de Deus (seja lá qual for a sua leitura)
e ainda lidando com o preconceito em uma sociedade carnívora. Consideramos que
ser vegetariano é uma condição diferente de vida e não só de alimentação.
Quando a prática do vegetarianismo não diz respeito a obrigações religiosas
como foi o caso dos Adventistas do Sétimo Dia e do Espírita-cristão, ela parece
caracterizar, como já foi mencionado, a emergência de participantes dos novos
movimentos religiosos. Isto pode ser percebido em diversos tópicos da pesquisa. A
concepção de saúde que o vegetariano tem é global, é integradora, como já foi
explicitado na análise dos dados, pois as práticas de saúde vão contra a perspectiva
da medicina tradicional, pois buscam conhecimentos vindos do oriente, ou práticas
que remetem a aproximação com a natureza. A atividade física dos vegetarianos
também pode ser caracterizada como alternativa, como o yoga e o tai-chi, que são
práticas orientais.
A aproximação que têm com a natureza, com os animais e a maneira com
que se vêem em relação à responsabilidade de preservação ambiental também seria
uma característica desses novos movimentos religiosos. O pacifismo, a compaixão e
a questão ética e de consciência tranqüila estão presentes no discurso vegetariano.
Todas essas práticas alternativas e sensações em relação à natureza
parecem indicar características dos novos movimentos religiosos, qualquer que seja
o nome que possuam: Orientalização do Ocidente, Nova Era, Nova Consciência
Religiosa. Talvez pela miscelânea de idéias que o vegetarianismo possui,
característica também do holismo e da pós-modernidade, usarei o termo tão bem
colocado por Champion (2001) de nebulosa mística esotérica, caracterizada como a
experiência onde todos são verdadeiros quando ultrapassam suas formas exteriores,
esclerosadas, sociais; os praticantes são animados por um projeto de transformação
pessoal mediante técnicas psico-corporais (no caso a interdição alimentar e as
práticas médicas e de atividade física alternativas); e a ultima característica é a
adoção de uma concepção monista de toda a realidades, ou seja, recusam o
postulado dualista das religiões, a separação entre o humano e o divino, a
separação do mundo natural e sobrenatural. Essas características parecem resumir
o estilo de vida vegetariano.

89
Quando comecei a estudar o vegetarianismo me deparei com algo novo,
nunca fui vegetariana e não conhecia muito sobre a prática. A primeira aproximação
que tive foi por meio da internet. Até hoje faço parte de dois grupos de e-mail de
discussão vegetariano. A partir das conversas, dos artigos recebidos, de matérias
jornalísticas comentadas e de alguns vídeos, que confesso não ter conseguido
assistir pela crueldade explícita, fui me aproximando desse universo tão bonito e
cheio de ideais que é o vegetariano.
A minha experiência de coleta foi muito agradável, fui sempre bem recebida e
sentia também por parte deles muito interesse e respeito pelo meu trabalho. Tomei
suco natural durante algumas entrevistas, levei para casa algumas das fontes
primárias escritas, aprendi até a fazer uma espiral de ervas durante um encontro.
A alimentação em minha vida passou de natural a cultural, passei a prestar
atenção em cada gesto à mesa, aos tipos de alimentos que existem no
supermercado, aos animais que existiam para consumo. Mas com certeza a
mudança maior ocorreu no meu prato.
Quando comecei a coleta dos dados e a participação no grupo de e-mail, a
minha sensibilidade em relação aos animais e ao alimento originado destes mudou.
Na hora de cozinhar, sentia nojo da carne. Quando ia a restaurantes, por exemplo,
fazia opções por alimentos de origem vegetal. A minha consciência passou a pesar
quando comia os animais.
Mas, uma hora isso mudou, e foi exatamente quando comecei a analisar os
dados e me aprofundar, cada vez mais, no referencial teórico. O que aconteceu
realmente foi que eu relativizei. Comecei a olhar o vegetarianismo e essa compaixão
como algo cultural. Talvez me falte o religioso como argumento fortalecedor. Enfim,
as fontes primárias me conduziram para a prática vegetariana, enquanto que as
fontes secundárias provocaram a relativização da minha sensibilidade.
Mais estudos sobre as práticas alimentares, não só relacionadas ao corpo,
devem ser estimuladas. Espero nesta dissertação ter conseguido passar um pouco
desse universo tão peculiar que é o vegetariano.

90
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Fontes Secundárias
ACHARAM, M, Y. A ciência da saúde. In: Naturalismo ao alcance de todos: dieta e
cura pela natureza. São Paulo: Li-bra, 1984. 2 v.
ALBUQUERQUE, L.M.B. Corpo civilizado, corpo reencantado: o moderno e o
alternativo nas representações do corpo. Motriz, Rio Claro, v. 5, n. 7, p. 7-8, 1999.
________. A ressignificação da natureza: coisas da história e da cultura. I EPEA - I
Encontro em pesquisa em Educação Ambiental: tendências e perspectivas.
UNESP, USP, UFScar, Rio Claro, 29 a 31 julho de 2001a.
________. As invenções do corpo: modernidade e contramodernidade. Motriz, Rio
Claro, v. 7, n. 1, p. 33-39, 2001b.
________. As vias religiosas do ambientalismo. III EPEA - III Encontro de Pesquisa
em Educação Ambiental. USP, UFScar, UNESP. Ribeirão Preto, 10 a 13 de julho
de 2005.
________. A idéia de natureza na Ciência Pós Moderna. In: JACOBI, P. e
FERREIRA, L. C. (Org). Diálogos em Ambiente e sociedade no Brasil. São Paulo:
ANPPAS, Annablume, 2006.
ANDRÉ, M. E. D. A. A abordagem qualitativa de pesquisa. In:______A Etnografia
da prática escolar. Campinas: Papirus, 1995.

91
ANTUNIASSI, M. H. R., MAGDALENA, C. , GIANSANTI, R. O movimento
ambientalista em São Paulo : análise sociológica de um movimento social urbano.
São Paulo: Textos - CERU, 1989.
BAUER, M. W.; AARTS, B. A construção do corpus: um princípio para a coleta de
dados qualitativos. In: BAUER, M. GASKELL, G. (Org.).Pesquisa qualitativa com
texto, imagem e som. Petrópolis: Vozes; 2002.
BEIG, B. B. Religião e Ciência entre vegetarianos. In: CONGRESSO
LATINOAMERICANO SOBRE RELIGIÓN E ETNICIDAD, 11, São Bernardo do
Campo. Mundos religiosos: identidades y convergências. Anais... São Bernardo
do Campo: Associación latinoamericana para el estudio de las religiones. As
impressiones, v. 2., 2006. 1 CD-ROM.
BEIG, B. B.; ALBUQUERQUE, L. M. B. A. Condicionantes sociais de corporeidades
femininas. In: LUCENA, C. T.; GUSMÃO, N. M. M. (Org) Discutindo identidades.
São Paulo: Humanitas/CERU, 2006. 278 p.
BERGER, P. Perspectivas sociológicas. São Paulo: Círculo do Livro, 1976.
BERNARDO, T. Técnicas qualitativas na pesquisa da religião. In: SOUZA, B. M.;
GOUVEIA, E. H.; JARDILINO, J. R. L. (Org). Sociologia da religião no Brasil:
revisitando metodologias, classificações e técnicas de pesquisa. São Paulo:
PUC/SP, p. 137-142, 1998.
BICUDO, M. A. V. Pesquisa Qualitativa e Pesquisa Qualitativa Segundo a
Abordagem Fenomenológica. In: BORBA, M. C.; ARAÚJO, J. L. (Org.) Pesquisa
Qualitativa em Educação Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
BLEIL, S. I. O Padrão Alimentar Ocidental: considerações sobre a mudança de
hábitos no Brasil. Cadernos de Debate: UNICAMP, v.6, 1998.
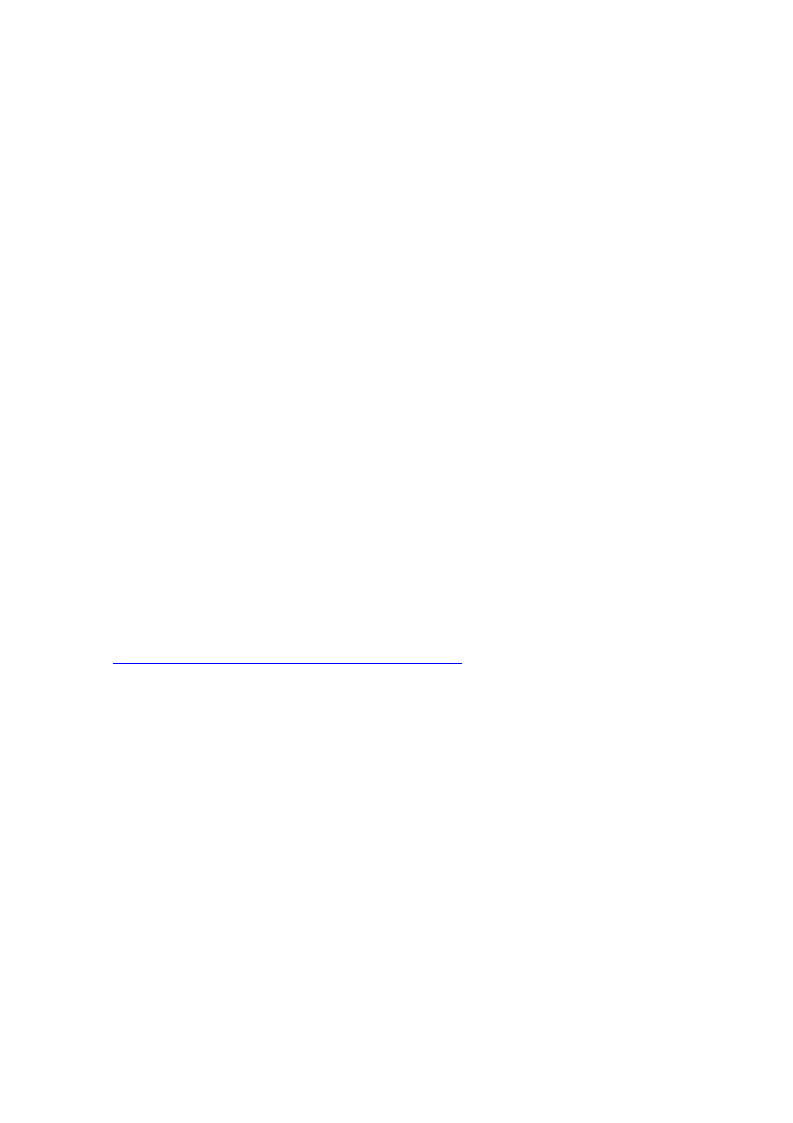
92
BOLTANSKI, L. As classes sociais e o corpo. Rio de Janeiro: Graal, 1989.
BOURDIEU, P. Como é possível ser esportivo? In: Questões de Sociologia.
Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983.
BOWKER, J. O livro de ouro das religiões. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.
BRUIT, H. H. Sabor impresso. Revista Nossa História. Ano 3, n. 29, p. 28-32, mar.
2006.
BRESCIANI, E. Alimentos e bebidas do Antigo Egito. In: FLANDRIN, J-L;
MONTANARI, M. (Org.) História da Alimentação. 4.ed.. São Paulo: Estação
Liberdade, 1998.
BURKHARD, G. K. Novos caminhos de Alimentação: Conceitos básicos para uma
alimentação sadia. 2. ed. São Paulo: CRL Balieiro, 1987. 1 v.
BURKE, P. A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992.
CAMARGO, M. T. L. A. As plantas na medicina popular e nos rituais afro-brasileiros.
Investigações Folclóricas vol 13, Buenos Aires, Argentina, 1998. Disponível em: <
http://www.aguaforte.com/herbarium/plantas.html> Acesso em 17. nov. 2007.
CARNEIRO, H. Comida e sociedade: uma história da alimentação. Rio de
Janeiro: Campus, 2003.
CAROZZI, M. J. Nova Era: a autonomia como religião. In: CAROZZI, M. J. (org.). A
Nova Era no Mercosul. Petrópolis: Vozes, 1999.
CASCUDO, L. C. História da Alimentação no Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São
Paulo: Universidade de São Paulo, v.1, 1983.
CASCUDO. L. C. História da Alimentação no Brasil. São Paulo: Global, 2004

93
CHAMPION, F. Constituição e transformação da aliança ciência e religião na
nebulosa místico-esotérica. Religião e Sociedade: v. 18, n. 01, Rio de Janeiro,
agosto, p. 25-43, 1997.
CONCONE, M. H. V. B. Pesquisa qualitativa nos estudos de religião no Brasil. In:
SOUZA, B. M.; GOUVEIA, E. H.; JARDILINO, J. R. L. (Org). Sociologia da religião
no Brasil: revisitando metodologias, classificações e técnicas de pesquisa.
São Paulo: PUC/SP, 1998.
COMTE-SPONVILLE, A. Compaixão. In: Pequeno tratado das grande virtudes.
São Paulo: Martins Fontes, 1999.
CORTONESI, A. Cultura de subsistência e mercado: a alimentação rural e urbana
na baixa Idade Média. In: FLANDRIN, J-L; MONTANARI, M. (Org.) História da
Alimentação. 4.ed.. São Paulo: Estação Liberdade, 1998.
COURTINE, J. J., Os Stakhanovistas do narcisismo: Body-building e puritanismo
ostentatório na cultura americana. In: SANT'ANNA, D.B.(org.). Políticas do Corpo.
São Paulo: Estação Liberdade. 1995.
DIEGUES, A. C. O mito moderno da natureza intocada. 3. ed. São Paulo: Hucitec,
2001.
DOLADER, M. A. M. A alimentação judia na Idade Média. In: FLANDRIN, J-L;
MONTANARI, M. (Org.) História da Alimentação. 4.ed.. São Paulo: Estação
Liberdade, 1998.
DOUGLAS, M. Pureza e perigo: ensaio sobre as noções de poluição e tabu /Mary
Douglas ; tradução de Sonia Pereira da Silva. Rio de Janeiro : 70, 1991.
ELIAS, N. O processo civilizador. Uma história dos costumes. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1990.
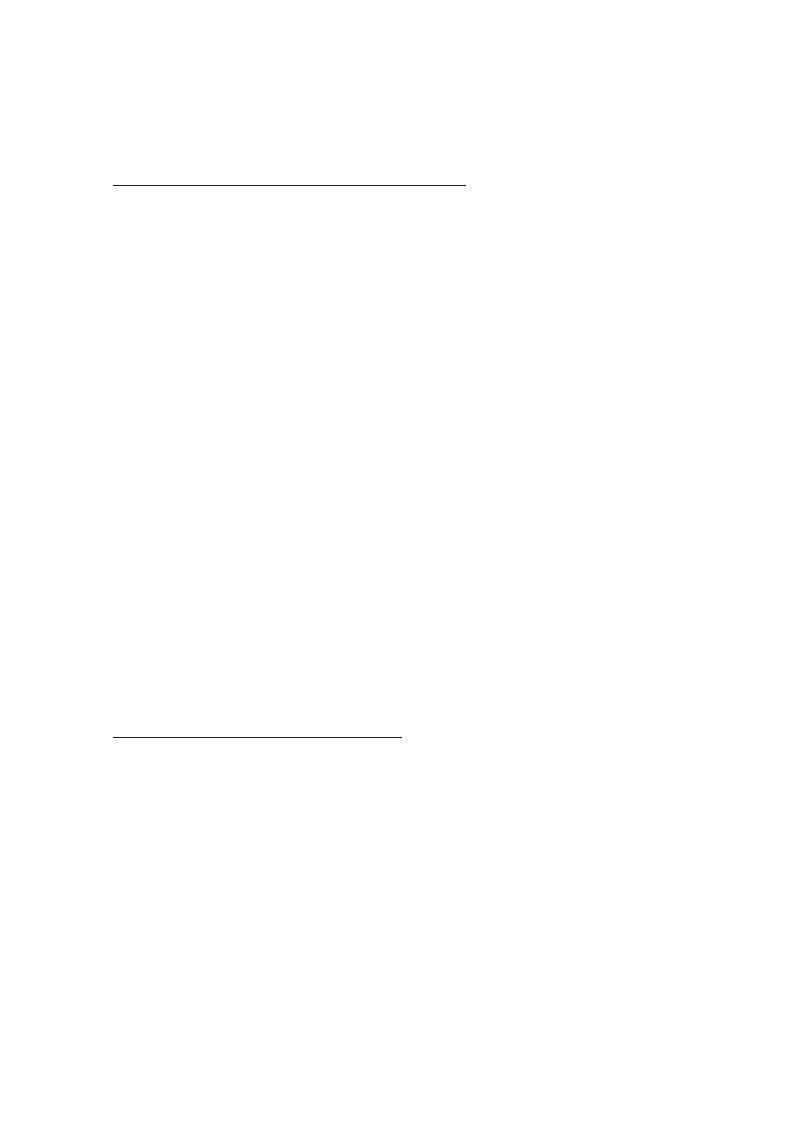
94
ENGELS, F. O papel do trabalho na transformação do macaco em homem. 1.
ed,
Neue
Zeit,
1896.
Disponível
em:
<
http://www.culturabrasil.pro.br/trabalhoengels.htm > Acesso em 25 dez. 2005.
ALMEIDA FILHO, N. O conceito de saúde: ponto-cego da epidemiologia? Revista
Brasileira de Epidemiologia. vol. 3, p.1-3, 2000.
FLANDRIN, J-L. A humanização das condutas alimentares. In: FLANDRIN, J-L;
MONTANARI, M. (Org.) História da Alimentação. 4.ed.. São Paulo: Estação
Liberdade, 1998a.
________. Os tempos modernos. In: FLANDRIN, J-L; MONTANARI, M. (Org.)
História da Alimentação. 4.ed.. São Paulo: Estação Liberdade, 1998b.
GIAMMELLARO, A. S. Os fenícios e os cartaginenses. In: FLANDRIN, J-L;
MONTANARI, M. (Org.) História da Alimentação. 4.ed.. São Paulo: Estação
Liberdade, 1998.
GOLDENBERG, M.; RAMOS, M. S. A civilização das formas. In: GOLDENBERG, M.
(org.). Nu & vestido. Rio de Janeiro: Record, 2002.
GOLDIM, J. R. Compaixão, Simpatia e Empatia. 2006. Disponível em: <
http://www.ufrgs.br/bioetica/compaix.htm> Acesso em : 24. jan. 2008.
GONÇALVEZ, J. R. S. A fome e o paladar: a antropologia nativa de Luis da Câmara
Cascudo. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, nº 33, 2004.
GRIECO, A. F. Alimentação e classes sociais no fim da Idade Média e na
Renascença. In: FLANDRIN, J-L; MONTANARI, M. (Org.) História da Alimentação.
4.ed.. São Paulo: Estação Liberdade, 1998.
GROTANELLI, C. A carne e seus ritos. In: FLANDRIN, J-L; MONTANARI, M. (Org.)
História da Alimentação. 4.ed.. São Paulo: Estação Liberdade, 1998.

95
GUERREIRO, S. A Diversidade Religiosa no Brasil: A Nebulosa do Esoterismo e da
Nova Era. Revista Eletrônica Correlatio, Universidade Metodista de São Paulo,
São Paulo, n. 03, 2007.
HIGHET, E. A. Não comer e não beber como opção da espiritualidade religiosa:
jejum e abstinência nas religiões. Revista Semestral de Estudos e Pesquisas em
Religião, São Bernardo do Campo - S. P., ano XIX, n. 28, p.106-127, 28 jun. 2005.
KIKUCHI, B. Arte fundamental da vida: culinária macrobiótica. 3. ed. São Paulo:
Musso Publicações, 1982.
KROEBER, A. L. O “superorgânico”. In: Pierson, D. (Org.). Estudos de organização
social. V. 2, São Paulo: Livraria Martins, 1946.
LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico. 16. ed. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Ed., 2003.
LE GOFF, J.; TRUONG, N. Uma história do corpo na Idade Média. Tradução de
M. F. Peres. Rio De Janeiro: Civilização brasileira, 2006.
MACIEL, M. E. Cultura e alimentação ou o que têm a ver os macaquinhos de
koshima com brillat-savarin? Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 7, n.
16, p. 145-156, dez. 2001.
MALUF, S. W. Mitos coletivos, narrativas pessoais: cura ritual, trabalho terapêutico e
emergência do sujeito nas culturas da "Nova Era”. Mana, Rio de Janeiro, v.11, n.2,
out. 2005.
MATTHIESEN, S. Q. A educação física e as práticas corporais alternativas: a
produção científica do curso de graduação em educação física da unesp - rio claro
de 1987 a 1997. Revista Motriz, Rio Claro, v. 5, n. 2, p. 131-137, 2002.
MAUSS, M. As Técnicas Corporais. In: Marcel Mauss. Sociologia e Antropologia,
vol. 2. São Paulo: EPU/EDUSP, 1974.

96
MENGA, L.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação abordagens qualitativas.
São Paulo: EPV, 1986.
MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.
2. ed. São Paulo: Hucitec-Abrasco, 1993.
MINTZ, S. W. Comida e Antropologia: uma breve revisão. Revista Brasileira de
Ciências Sociais. v. 16, n.47, out 2001.
MONTANARI, M. A fome e a abundância: história da alimentação na Europa.
3.ed. Bauru, S.P: EDUSC, 2003.
MORIN, E. A religação dos saberes. Rio de Janeiro: Bertrand, 2001.
MOTTA, R. Tempo e milênio nas religiões afro-brasileiras. In: XXIV Encontro
Anual da ANPOCS. Petrópolis. 2000.
NICOLINO, A. S. A formação do profissional das práticas corporais
alternativas. 2003. 123 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Motricidade) –
Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2003.
NOGUEIRA, O. O objeto das ciências sociais. In: HIRANO, Sedi (org) Pesquisa
Social: projeto e planejamento. São Paulo:T. A Queiroz,1979, p.1-20.
NOGUEIRA, M. I.; CAMARGO, K. R. A orientalização do Ocidente como superfície
de emergência de novos paradigmas em saúde. História, Ci
ências, Saúde-Manguinhos, Rio de Janeiro, v.14, n.3, set. 2007.
OLIVEIRA, L. Nódulos de dádiva: religião, individualismo e comunicação nas
sociedades contemporâneas – as redes da Nova Era. 2000. 161 f. Dissertação
(Mestrado em Sociologia) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas,
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2000.

97
PAIM, M. C. C.; STREY, M. N. Corpos em metamorfose: um breve olhar sobre os
corpos na história e novas configurações de corpos na atualidade. Revista Digital.
Buenos Aires, v.10, n.79, 2004. Disponível em:<http://www.efdeportes.com/> Acesso
em 23 out. 2005.
PAQUETTE, M. C.; RAINE, K. D. The sociocultural context of adult women’s body
image. Social Science and Medicine, v.59, n.5. 1047-1058, 2004.
PALMA, A. Atividade física, processo saúde-doença e condições sócio-econômicas:
uma revisão da literatura. Revista Paulista de Educação Física, São Paulo, v.14,
n.1:97-106, 2000.
PANZINI, R. G. et al. Espiritualidade e qualidade de vida. Revista de psiquiatria
clínica. v.34 supl.1 São Paulo 2007
PERLÈS, C. As estratégias alimentares nos tempos pré-históricos. In: FLANDRIN, J-
L; MONTANARI, M. (Org.) História da Alimentação. 4.ed.. São Paulo: Estação
Liberdade, 1998.
PORTO, M. A. O método esta nú! – Lupicinio, Latour e a medicina moderna. Revista
da SHBC, n. 12, p.99-106, 1994.
POULAIN, J-L; PROENÇA, R, P, C. Espaço Social Alimentar: Auxiliando na
Compreensão dos Modelos Alimentares. Revista de Nutrição. v.16,
n.3, jul./set. 2003a.
POULAIN, J-L; PROENÇA, R, P, C. Reflexões metodológicas para o estudo das
práticas alimentares. Revista de Nutrição, v.16, n. 4 out-dez 2003b.
PRANDI, R. Os orixás e a natureza. In: Segredos guardados: orixás na alma
brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

98
REZENDE, M. T. A alimentação como objeto histórico complexo: relações entre
comidas e sociedades. Estudos Históricos, Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, nº 33,
2004.
RIBEIRO, R. J. Novas fronteiras entre natureza e cultura. In: Novaes, A (org). O
homem-máquina: a ciência manipula o corpo. São Paulo: Cia das Letras, 2003.
RIERA-MELIS, A. Sociedade feudal e alimentação (séculos XII-XIII). In: FLANDRIN,
J-L; MONTANARI, M. (Org.) História da Alimentação. 4.ed.. São Paulo: Estação
Liberdade, 1998.
RODRIGUES, J.C. Tabu da morte. Rio de Janeiro: Ed. Achiamé, 1983a.
RODRIGUES, J.C. Tabu do corpo. Rio de Janeiro: Ed. Achiamé, 1983b.
SAMPAIO, A. P. M. 2005. 187 f. Rituais de Purificação: corporeidades e religiões
afro-brasileiras. Dissertação (Mestrado em Ciências da Motricidade) – Instituto de
Biociências, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2005.
SANTOS, L. A. S. O corpo, o comer e a comida: um estudo sobre as práticas
corporais e alimentares cotidianas a partir da cidade de Salvador – Bahia. Tese
(Doutorado em Ciências Sociais) – Programa de Estudos Pós-graduados em
Ciências Sociais, Pontificia Universidade Católica, São Paulo, 2006.
SASSATELLI, G. A alimentação dos etruscos. In: FLANDRIN, J-L; MONTANARI, M.
(Org.) História da Alimentação. 4.ed.. São Paulo: Estação Liberdade, 1998.
SCHWANTES, M. No banquete das origens:: comida e bebida em narrações
bíblicas. Revista Semestral de Estudos e Pesquisas em Religião, São Bernardo
do Campo - S. P., ano XIX, n. 28, p.29-45, 28 jun. 2005.
SEGRE, M.; FERRAZ, C. F. O conceito de saúde. Revista de Saúde Pública, São
Paulo, vol. 31, n. 5, 1997.
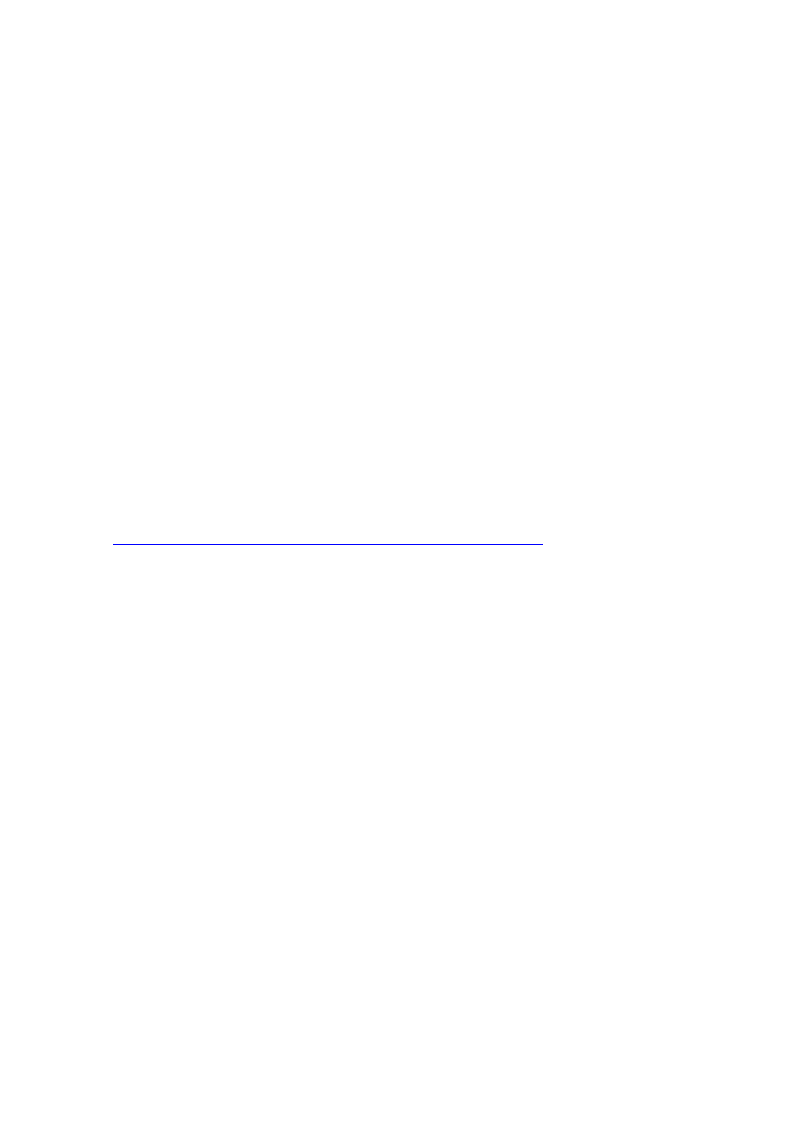
99
SILVA, P. P. Fartura contestada. Revista Nossa História. Ano 3, n. 29, p. 20-24,
mar. 2006.
SHUNEMANN, H. E. S. Alimentação e salvação: o papel dos interditos alimentares
na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Revista Religião e Cultura. Vol, IV, n. 7, jan-jun
2005.
STOLS, E. A mestiçagem dos alimentos. Revista Nossa História. Ano 3, n. 29, p.
14-20, mar. 2006.
STEIL, C. A. Pluralismo, modernidade e tradição: transformações do campo
religioso. Revista Ciências Sociais e Religião. Porto Alegre, n. 3, p. 115-129, 2001.
STRECKER, H. Culinária afro-brasileira: os africanos enriqueceram a cozinha
brasileira. In: Pedagogia e Alimentação. Dísponivel em : <
http://educacao.uol.com.br/cultura-brasileira/ult1687u21.jhtm> Acesso em: 10 dez.
2007.
SOARES, L. E. Religioso por natureza: cultura alternativa e misticismo ecológico no
Brasil. In SOARES, L. E. O rigor da indisciplina. Rio de Janeiro: Relume-Dumará,
1994.
TAVARES, F. R. G. O circuito “nova era”: heterogeneidade, fronteiras e
resignificações locais. Religião e Sociedade, Rio de Janeiro, v. 23, n. 1, p. 60-72,
2003.
TEIXEIRA, R. C. M. A. et al. Estado nutricional e estilo de vida em vegetarianos e
onívoros: Grande Vitória. E.S. Revista Brasileira de Epidemiologia. v . 9, n. 1, p.
131-143, 2006.
TEIXEIRA, E. Reflexões sobre o paradigma holístico e holismo e
saúde.Rev.Esc.Enf.USP, v.30, n.2, p. 286-90, ago. 1996.
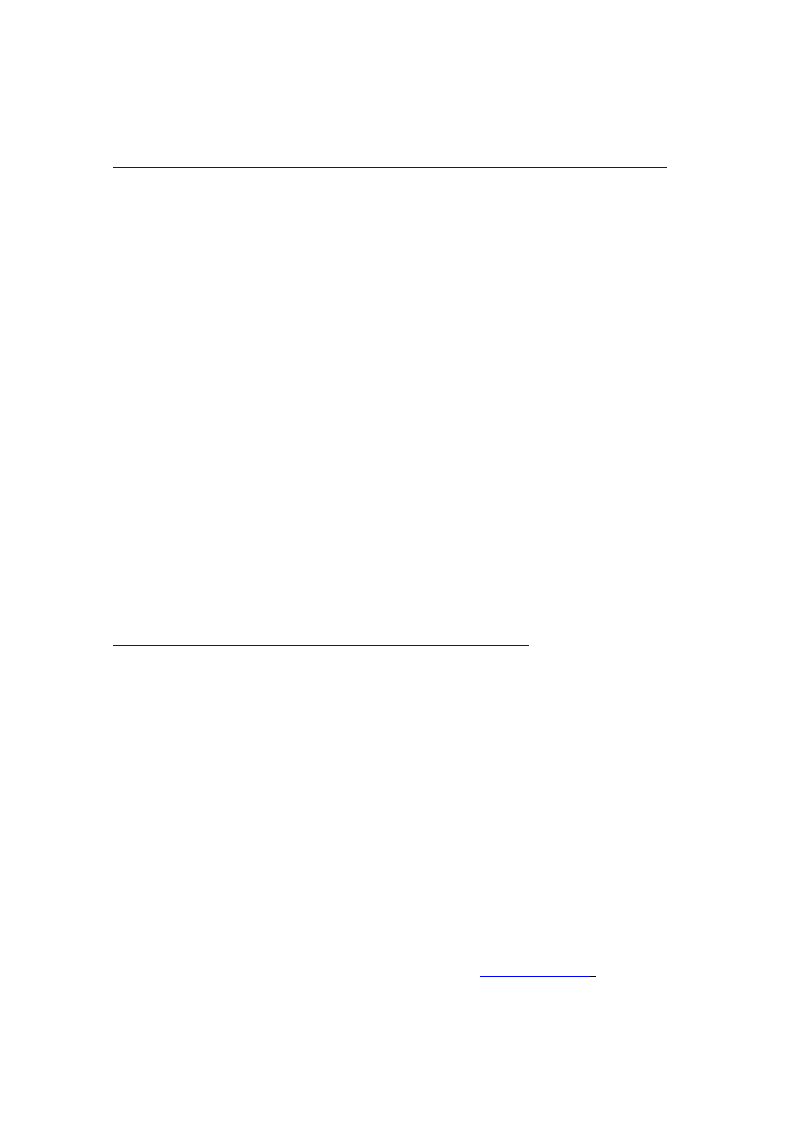
100
TELOKEN, N. T. Olhar de Caleidoscópio: ampliando a linguagem simbólica da
doença como processo de individuação. Disponível em: <
http://www.portalnaturologia.com.br/material_colaboradores/artigo_narjara.pdf>
Acesso em 10 dez. 2007.
TEUTEBERG, H. J.; FLANDRIN, J-L. Trasnformações do consumo alimentar. In:
FLANDRIN, J-L; MONTANARI, M. (Org.) História da Alimentação. 4.ed.. São
Paulo: Estação Liberdade, 1998.
THIOLLENT, M. J-A. Aspectos Qualitativos da metodologia de pesquisa com
objetivos de descrição, avaliação e reconstrução. Caderno de Pesquisa, v. 49, p.
45-50, maio. 1984.
THOMAS, K. O Homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às
plantas e os animais. São Paulo: Cia das Letras, 1988.
URBAN, T. Missão (quase) impossível : aventuras e desventuras do movimento
ambientalista no Brasil. 1. ed. São Paulo: Petrópolis, 2001.
VAN, T. H. Ahimsa: Desconstruindo a Violência. Dísponivel em : <
http://www.nossacasa.net/shunya/default.asp?menu=1210> Acesso em 12. dez.
2007.
VELHO, O A orientalização do Ocidente: comentários a um texto de Collin Campbell.
In: Religião e Sociedade: v. 18, n. 01, Rio de Janeiro, agosto, 1997, p. 23-30.
WILKINSON, P. O livro ilustrado das religiões: o fascinante universo das crenças
e doutrinas que acompanham o homem através dos tempos. 1. ed. São Paulo:
Publifolha, 2001.
WOORTMANN, A. W. O sentido simbólico das práticas alimentares. In: Coletânea
de Palestras do 1° Congresso Brasileiro de Gastronomia e Segurança
Alimentar. UnB: Brasília, 2004. Disponível em : < www.unb.br/cet >. Acesso em 10
out. 2006.
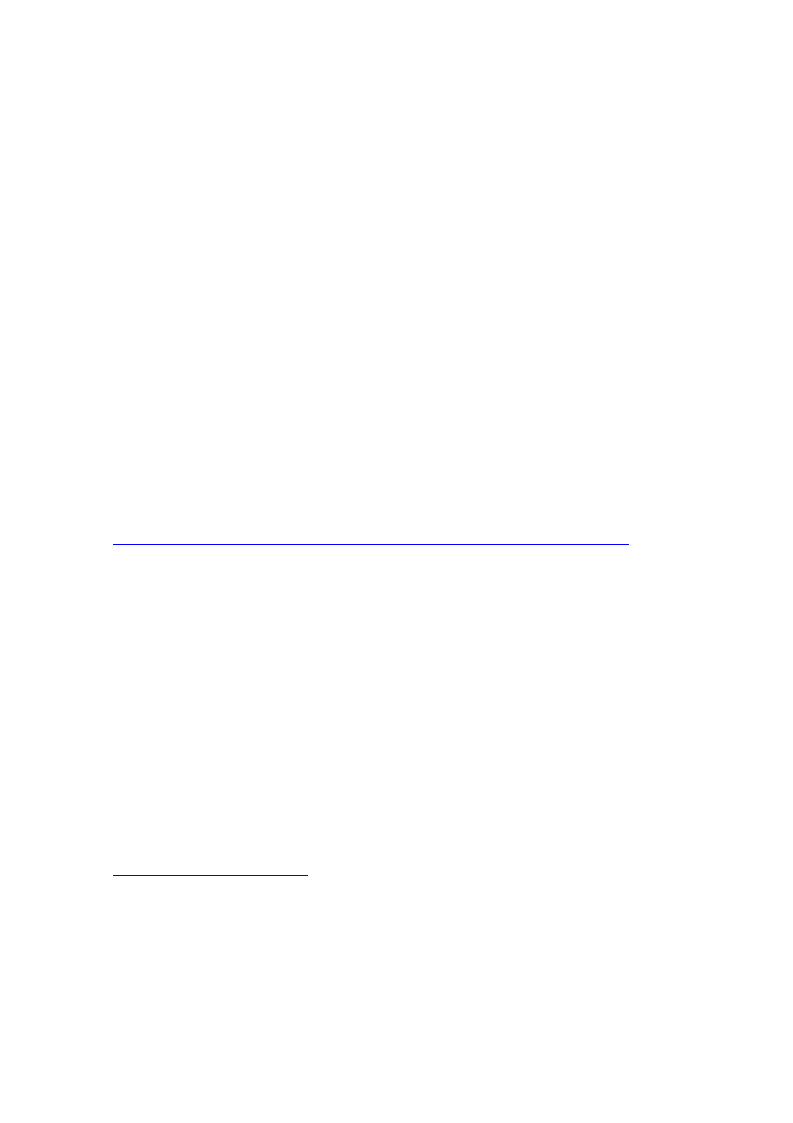
101
Fontes Primárias
BÍBLIA. Antigo e Novo testamento. Rio de Janeiro: Sociedade Bíblia do Brasil,
1956. 309 p.
BLIX, G. História do vegetarianismo. Revista Vibrant Life, v.8, n.3. maio 1992.
Disponível
em
:
<
http://www.vegetarianismo.com.br/artigos/HistoriaDovegetarianismo.html>. Acesso
em 11 jun. 2006.
BONTEMPO, M. Alimentação para um novo mundo: a consciencia ao s alimentar
como garantia para a saúde e o futuro. 2. ed. Rio de Janeiro - São Paulo: Record,
2006. 309 p.
CELLA, H. A quase vegetariana. Disponível em <
http://www.vegetarianismo.com.br/sitio/index.php?option=com_content&task=view&i
d=294&Itemid=34 >. Acesso em: 07 nov. 2007
FERREIRA, S. Vegetarianismo ao longo da história. 2003. Disponível em : <
www.centrovegetariano.org > Acesso em 11 jun. 2006.
GREIF, S. A Bíblia preconiza o vegetarianismo. 2005. Disponível em <
http://www.vegetarianismo.com.br/sitio/index.php?option=com_content&task=view&i
d=1123&Itemid=40> Acesso em: 15 dez. 2007
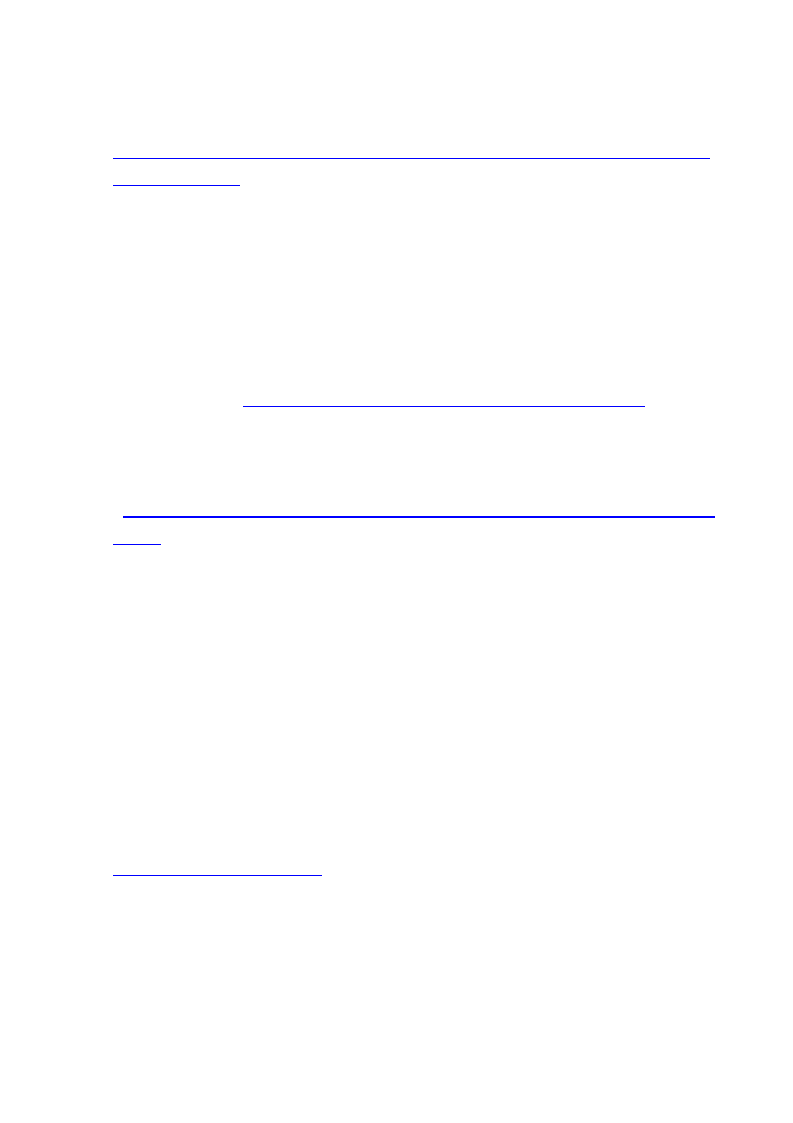
102
ISLÃ
e
vegetarianismo.
Disponível
em:
<
http://www.vegetarianismo.com.br/sitio/index.php?option=com_content&task=view&i
d=361&Itemid=40> Acesso em: 29. mai. 2007
KARDEC, A. Livro dos espíritos: princípios da doutrina espírita. Rio de Janeiro:
Federação espírita brasileira, 2004. 604 p. Disponível em:
<http://www.sociedadedigital.com.br/downloads/espirit/livro_espiritos_br.pdf>.
Acesso em: 07 mar. 2007.
KUPFER, P. Vegetarianismo e yoga. Cadernos de Yoga. Ed. 6, out. 2005.
Disponível em <http://www.suryalivraria.com/Cadernos_outono2005.html> Acesso
em: 25 jan. 2008.
LEVAI, L. F. Ministério público e proteção jurídica dos animais. Disponível em:
<http://www.forumnacional.com.br/ministerio_publico_e_protecao_juridica_dos_anim
ais.pdf> Acesso em: 25 jan. 2008.
LUIZ, A. psicografia de Xavier, F. C. Missionários da luz. Psicografia: Rio de
Janeiro: Federação Espírita Brasileira, s/d.
MANGELS, A. R. et al. Position of the american dietetic association and dietitians of
canada that appropriately planned vegetarian diets. Journal American Dietetic
Association. v. 103, p. 748-765, 2003. Disponível em : <
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002822397003143 > Acesso em: 5. fev.
2008.
MARTINS, A. Libertar os animais, reumanizar a vida. 2007. Disponivel em : <
www.vegetarianismos.com.br>. Acesso em: 12. fev. 2008.
OSHO, A. Sobre o vegetarianismo. 2006. Disponível em:
<http://www.vegetarianismo.com.br/sitio/index.php?option=com_content&task=view&
id=1760&Itemid=40>. Acesso em: 16 ago. 2007.
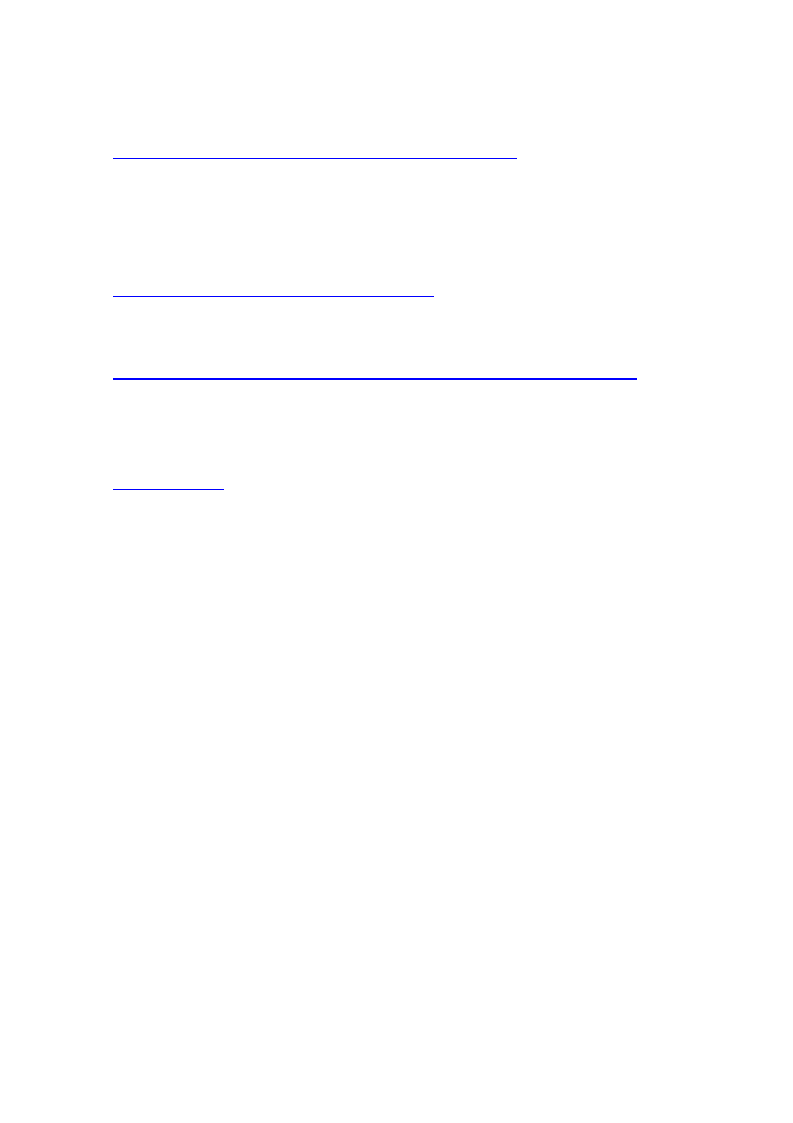
103
PICHLER, R. Preconceito com a nutrição vegetariana. 2005. Dísponivel em: <
http://www.euroveg.eu/lang/pt/news/press/20050224.php> Acesso em 27 jan. 2008.
SABATÉ, J. The contribution of vegetarian diets to health and disease: a
paradigm shift? In: International Congress on Vegetarian Nutrition, 4, 2002, Loma
Linda University, Loma Linda, CA, 2002. Disponível em :
http://www.ajcn.org/cgi/content/full/78/3/502S Acesso em 18 jul. 2007.
SIMONETTI,
R.
A
carne.
Dísponivel
em:
<
http://espiritismoonline.blogspot.com/2008/01/carne-richard-simonetti.html> Acesso
em : 12 fev. 2008.
SLYWITCH, E. O que é ser vegetariano. 2005. Disponível em: 15 mar<
www.svb.org.br >. Acesso em 15 mar. 2006.
SOCIEDADE VEGETARIANA BRASILEIRA (Brasil) (Org.). O que é ser
vegetariano: departamento de medicina e nutrição. Disponível em:
<www.svb.org.br>. Acesso em: 10 dez. 2006.
WINCKLER, M. Fundamentos do vegetarianismo. Rio de Janeiro: Expressão e
Cultura, 2004. 188 p.
WHITE, E. G. Conselhos sobre o regime alimentar. 2. ed. Santo André: Casa
Publicadora Brasileira, 1946. 508 p.

104
Abstract
We can say that the feeding is a junction between natural - survival - and cultural - in
charge one, this, to dictate the remaining portion all. Although the different
internationalization of the nourishing industry, cultures, religions and styles of life can
dictate what if it must eat and what not if must. In this set of interdicts and ways of if
feeding the vegetarianism is included, that comes attracting contingent population
significant currently. This has consequences for question of body image, if to lead in
consideration that what it is eaten constitutes in them, in the biological and natural
direction, but that in the truth is dictated by the culture and history. The research was
carried through in the city of Rio Claro, with people whom they possess as alimentary
choice the vegetarianism. The data had been collected through primary and
secondary sources. In this direction, this project of research had as problem to
understand, between people who presently adopt the vegetarian feeding, the
objectives that guide this option, as they represent “the bodies” and as they conceive
the relation with the position of the man in the nature. After the analysis of the results
we could perceive that a phases in the practical one of the vegetarianism exists. It
was possible to evidence those ambient arguments, scientific arguments related to
the health and religious arguments legitimize the practical vegetarian. In relation to
the cares with the health, the vegetarians possess practical that we call of naturalists,
that is, that they go against the traditional medicine. The physical activity is
characterized by the practical alternatives and a junction between the body, the spirit
and the environment can characterize the vegetarian. Studies that relate feeding and
body image bring interesting and innovative questionings for the professionals of
physical education.
Word keys: Body image. Vegetarianism. Religion. Ambient.

105
APÊNDICES

106
APÊNDICE I
ROTEIRO DA ENTREVISTA DO RESTAURANTE VEGETARIANO
Roteiro para entrevista – RESTAURANTE VEGETARIANO
1. Desde quando existe o restaurante?
2. Como surgiu a idéia de se criar um restaurante vegetariano na cidade?
3. Os donos possuem a opção alimentar vegetariana?
Se sim,
1. Desde quando você é vegetariano (a)?
2. O que o (a) levou ao vegetarianismo?
3. Que tipo de vegetariano você é? ( vegan, ovo-lacto-vegetariano, etc...)
4. Alguém da sua família também é vegetariano?
5. O que é ser vegetariano?
6. Como você cuida da sua saúde?
7. Quais são as vantagens do vegetarianismo?
8. Quais são as virtudes do vegetarianismo?
9. Como você avalia as pessoas que comem carne?
10.Como você caracteriza os freqüentadores do restaurante? Como vocês
percebem esta freqüência? Aumentou com o tempo, mudou a clientela.
11. O cardápio oferece opções de pratos com carne?

107
APÊNDICE II
QUESTIONÁRIO SÓCIO-CULTURAL APLICADO ANTES DA ENTREVISTA
1.Idade:
( ) de 18 a 29 anos
( ) de 30 a 39 anos
( ) de 40 a 49 anos
( ) de 50 a 59 anos
( ) mais de 60 anos
2. Estado Civil
( ) solteiro
( ) viúvo
( ) casado
( ) divorciado
( ) outros
4. Escolaridade:
( ) 1º grau incompleto
( ) 1º grau completo
( ) 2º grau incompleto
( ) 2º grau completo
( ) Superior incompleto
( ) Superior completo
( ) Pós-graduado
5.Profissão:_____________________________________________________________
6. Renda familiar mensal bruta:
( ) menos de 500
( ) de 501 a 1000
( ) de 1001 a 1500
( ) de 1501 a 2500
( ) de 2501 a 3500
( ) de 3501 a 5000
( ) de 5001 a 7000
( ) de 7001 a 10000
( ) acima de 10000
7.Religião:______________________________________________________________

108
APÊNDICE III
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Prezado participante,
Venho por meio deste convidá-lo a participar de uma pesquisa intitulada
“Vegetarianismos e Corporeidades” sob orientação da professora doutora Leila
Marrach Basto de Albuquerque, que tem como objetivo conhecer um pouco sobre a
opção alimentar vegetariana. Você participa da entrevista se estiver de acordo e,
não há necessidade de se identificar. Todos os aspectos que você abordar
contribuirão para a compreensão do tema referido acima. Não haverá riscos,
desconfortos ou gastos de qualquer natureza. Você poderá solicitar esclarecimento
quando sentir necessidade e, poderá interromper sua participação quando quiser,
sem penalização alguma ou prejuízo. Os resultados obtidos serão utilizados em
publicações e eventos científicos.O telefone para contato com a pesquisadora (19-
35333329) estará à sua disposição para quaisquer esclarecimentos referentes a
pesquisa.
1.Dados sobre a Pesquisa Científica:
Título do Projeto: Vegetarianismos e Corporeidades
Pesquisador Responsável: Beatriz Bresighello Beig
Cargo / Função:Estudante/ Mestranda
Instituição UNESP Deptº:Educação Física Endereço:Av: 24-A, 1515 Bairro:Bela Vista
Fone: (19) 3526-4341
2.Dados de identificação do sujeito da pesquisa:
Nome:____________________________________
Documento de Identidade: ___________________ Sexo:___________
Data de Nascimento: ____________
Endereço:___________________________________________________
Telefone para contato:_______________________
De acordo
Data:___/___/___
Assinatura: ___________________________________________
Agradeço sua colaboração neste trabalho.
Beatriz Bresighello Beig
(pesquisadora responsável)

109
APÊNDICE IV
ROTEIRO DA ENTREVISTA
1. Desde quando você é vegetariano (a)?
2. O que o (a) levou ao vegetarianismo?
3. Alguém da sua família também é vegetariano?
4. Que tipo de vegetariano você é? ( vegan, ovo-lacto-vegetariano, etc...)
5. Defina para mim: o que é ser vegetariano?
6. Quais são as vantagens do vegetarianismo?
7. Quais são as virtudes do vegetarianismo?
8. Como você avalia as pessoas que comem carne?
9. Como você cuida da sua saúde?
10. Você pratica algum tipo de atividade física?
11. Porque você pratica?
12. O que mais você gostaria de me contar sobre a sua experiência vegetariana?
13. Por favor, indique pessoas que sejam vegetarianas para serem por mim
entrevistadas para este estudo.
