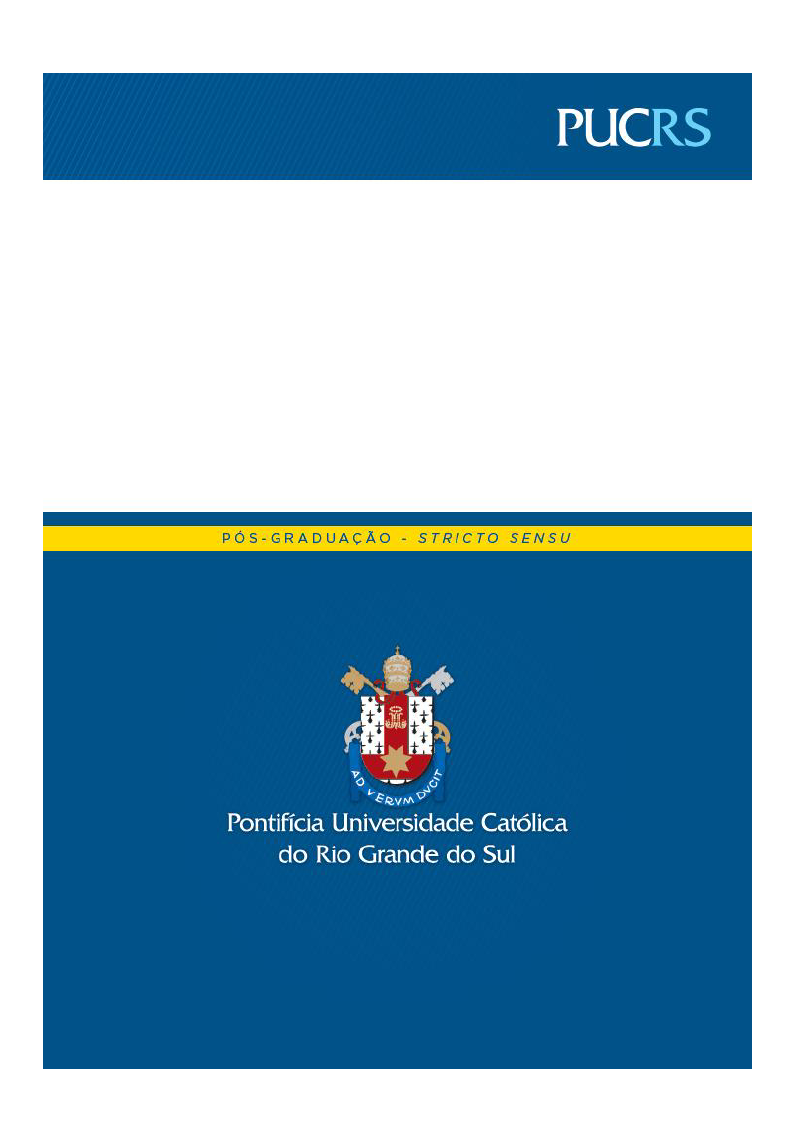
ESCOLA DE CIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA
BEATRIZ GARCIA LIPPERT
CLUBE DE CIÊNCIAS E UNIDADE DE APRENDIZAGEM SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
CONTRIBUIÇÕES PARA UM PENSAR ECOLÓGICO
Porto Alegre
2018

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA DE CIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E
MATEMÁTICA
BEATRIZ GARCIA LIPPERT
CLUBE DE CIÊNCIAS E UNIDADE DE APRENDIZAGEM SOBRE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL: CONTRIBUIÇÕES PARA UM PENSAR ECOLÓGICO
Porto Alegre
2018

BEATRIZ GARCIA LIPPERT
CLUBE DE CIÊNCIAS E UNIDADE DE APRENDIZAGEM SOBRE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL: CONTRIBUIÇÕES PARA UM PENSAR ECOLÓGICO
Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Educação em Ciências e
Matemática, da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul, como
requisito parcial para a obtenção do grau de
Mestre em Educação em Ciências e
Matemática.
Orientadora: Profa. Dra. Valderez Marina do Rosário Lima
Porto Alegre
2018

Dados internacionais de catalogação na publicação
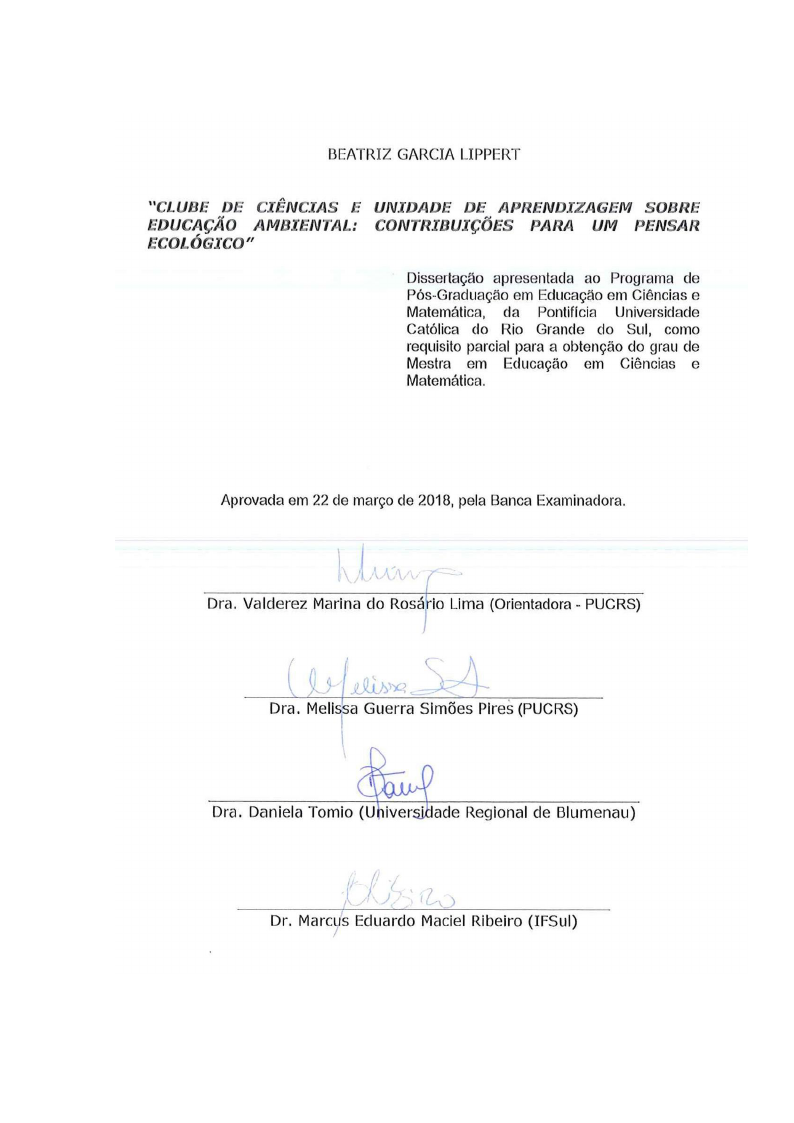

“Nós não herdamos a Terra de nossos antecessores, nós
a pegamos emprestada de nossas crianças.”
Provérbio Índio Americano

AGRADECIMENTOS
A minha mãe, minha melhor amiga, que me conhece como ninguém.
Ao meu pai, que sempre será o homem mais importante da minha vida.
À professora Valderez Marina do Rosário Lima, pelos conselhos, pela sabedoria,
pela paciência, pelo incentivo e pela orientação.
À professora Berenice Rosito, pelo seu carinho e bom humor ao ensinar tanto para
tantos.
Aos meus queridos monitores, que deixaram o planejamento e a execução dos
encontros no Clube de Ciências tão leves e prazerosos.
Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e
Matemática (EDUCEM) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUCRS), pelos incontáveis saberes diretos e indiretos.
Aos meus colegas tão diversos da pós-graduação, que compartilharam os anseios e
as alegrias dos dois anos de mestrado.
Aos funcionários do EDUCEM da PUCRS, pela compreensão e prontidão.
À CAPES, pelo apoio financeiro e pelo incentivo à realização do presente estudo.
As minhas coordenadoras e diretoras – dos dois colégios –, que compreenderam
dois anos de esforço nessa batalha pela educação.
Aos meus colegas professores – dos dois colégios –, que me inspiram nessa linda e
desafiadora profissão.
Aos meus amigos, que são os irmãos que escolhi na vida.
A minha família, por sempre me lembrar de onde vim.
Ao meu João, aprendemos e evoluímos sempre juntos, amor.
E ao Planeta Terra, meu lar, meu motivo para continuar.

RESUMO
Atualmente, o Brasil apresenta uma legislação que regulamenta a necessidade de
debater Educação Ambiental nas escolas. No entanto, muitas das práticas
realizadas no ensino formal e não formal ainda estão ultrapassadas e são, muitas
vezes, superficiais. Nesse contexto, o Clube de Ciências (CC) é um ambiente não
formal de ensino e aprendizagem que permite o desenvolvimento de conteúdos
relacionados à questão ambiental. A Educação Ambiental (EA) será abordada na
presente investigação por meio da ecologia profunda e do Pensar ecológico. Nesse
cenário, o objetivo principal do estudo é compreender as contribuições do
desenvolvimento de uma unidade de aprendizagem de EA em um Clube de Ciências
para o aperfeiçoamento do Pensamento ecológico dos estudantes. A presente
investigação utilizou a unidade de aprendizagem (UA) como um modo de
organização e construção curricular baseado no Educar pela Pesquisa. A pesquisa é
de caráter qualitativo, e será utilizado o estudo de caso. Os sujeitos de pesquisa são
11 estudantes de 6.º ano do Ensino Fundamental de um colégio particular
participantes de um Clube de Ciências da PUCRS (Porto Alegre/RS). Os
instrumentos de coleta de dados utilizados foram questionários, observação,
material produzido pelos alunos, gravação de áudio e diário de campo. O método de
análise dos dados utilizado foi a Análise Textual Discursiva (ATD) proposta por
Moraes e Galiazzi (2011). A partir da realização da ATD, três grandes categorias
emergiram: percepções antropocêntricas dos clubistas; pensamento em transição ; e
percepções ecocêntricas dos clubistas. Como resultado, foi possível notar por parte
dos alunos, normalmente nos primeiros encontros, percepções e ações
antropocêntricas, em que o papel do ser humano prevalecia sobre as outras formas
de vida. Ao longo dos encontros, foi possível observar o estabelecimento de novas
relações pelos educandos a partir de experimentos, debates e questionamentos dos
monitores e colegas. Além disso, foi possível identificar tendências ecocêntricas nas
falas, nas ações e nos materiais produzidos pelos participantes do CC,
principalmente nos últimos encontros. Ao final da investigação, foi possível observar
o aperfeiçoamento do Pensamento ecológico dos estudantes, expresso por meio
de percepções ecocêntricas, de pensamento integrativo, de visão complexa, de
ações sustentáveis, de visão crítica e de autonomia.
Palavras-chave: Educação Ambiental; Clube de Ciências; Educar pela Pesquisa.
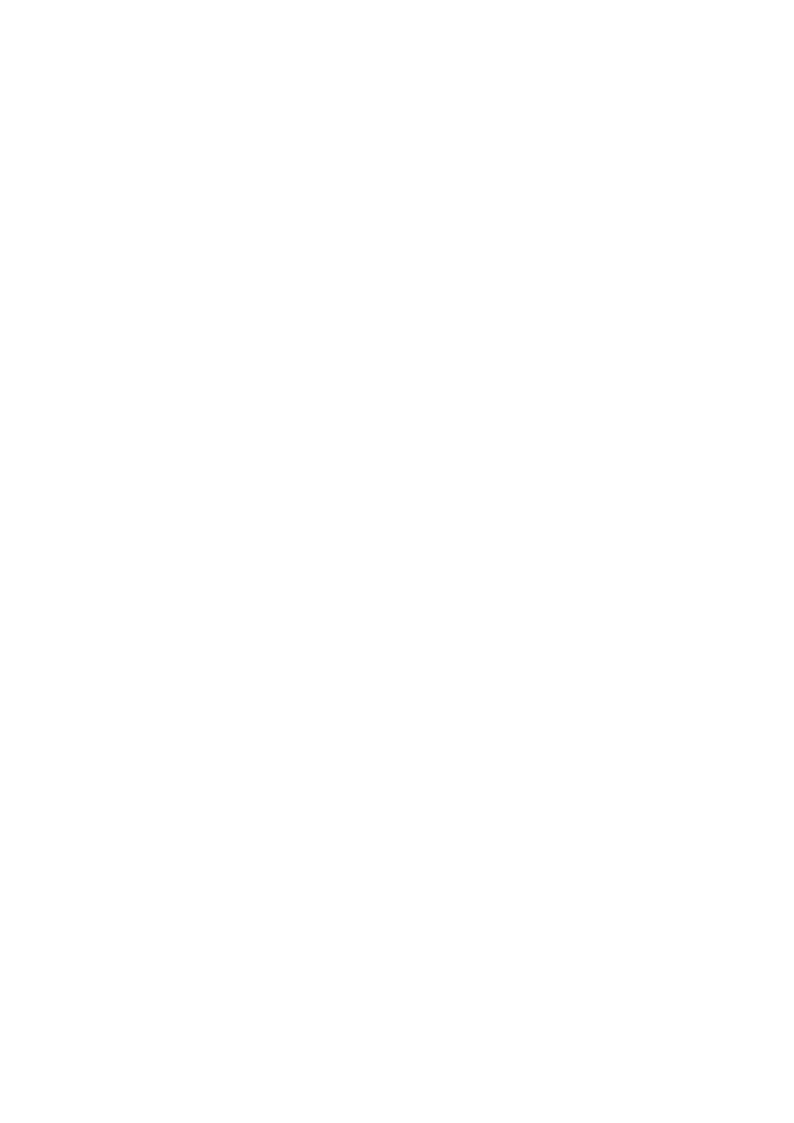
ABSTRACT
Currently, the Brazilian legislation regulates the need to discuss Environmental
Education in schools. However, many practices in formal and non-formal education
are still outdated and often superficial. In this context, the Science Club is a non-
formal teaching and learning environment that allows the development of contents
related to environmental issues. Environmental Education will be approached in the
present investigation through Deep Ecology and Ecological Thinking. In this scenario,
the main objective of the study is to understand the contributions of the development
of a Learning Unit of Environmental Education in a Science Club for the improvement
of students' Ecological Thinking. The present research used the Learning Unit as a
mode of organization and curricular construction based on the "Educate by research"
method. The research is qualitative and will use a case study. The research subjects
are eleven students of the 6th grade of Elementary School of a private school
participating in a Science Club of PUCRS (Porto Alegre / RS). The data collection
instruments used were Questionnaires, Observation, Material produced by the
students, Audio Recording and Field Diary. The method of data analysis used was
Textual Discursive Analysis proposed by Moraes and Galiazzi (2011). As a result of
the analysis, three major categories emerged: Anthropocentric perceptions of
students, Intermediate steps in the Walk, and Ecocentric perceptions of students. As
a result, it was possible to notice in part of the students, usually in the first
encounters, anthropocentric perceptions and actions, where the role of the human
being prevailed over the other forms of life. Throughout the meetings, it was possible
to observe the establishment of new relations by the students from experiments,
debates and questionings from monitors and classmates. In addition, it was possible
to identify ecocentric tendencies in the speeches, actions and materials produced by
the participants, especially in the last classes. At the end of the research it was
possible to observe the improvement of students' Ecological Thinking, expressed
through ecocentric perceptions, integrative thinking, complex vision, sustainable
actions, critical vision and autonomy.
Key words: Environmental education; Science Club; Educate by research.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1− Representação gráfica das três etapas que constituem a construção do
metatexto: descrição, interpretação e argumentação................................................55
Figura 2 - Experimento Desmatamento, realizado no primeiro encontro no CC. ......58
Figura 3 − Frame do vídeo WWF apresentado para os estudantes do CC no
segundo encontro dentro da temática do desmatamento..........................................59
Figura 4 − Experimento Ciclo da água, realizado pelos estudantes do CC no
segundo encontro dentro da temática da poluição ambiental. ..................................60
Figura 5 − Dinâmica Este experimento me lembra..., realizado no segundo encontro
no CC. .......................................................................................................................60
Figura 6 − Material utilizado para o jogo da memória de pictogramas GHS no terceiro
encontro. ...................................................................................................................61
Figura 7− Diferentes resultados obtidos a partir da dinâmica Descarte no terceiro
encontro. ...................................................................................................................62
Figura 8 − Resultado da interpretação de texto do aluno Fogo no quarto encontro no
CC. ............................................................................................................................63
Figura 9 − Resultado inicial do experimento Chuva ácida, realizado no quarto
encontro no CC. ........................................................................................................63
Figura 10 − Exemplares animais utilizados na primeira parte da atividade A
importância dos animais, realizada no quinto encontro no CC..................................64
Figura 11− Material utilizado em uma atividade lúdica no sexto encontro no CC sobre
a relação dos clubistas com o meio ambiente...........................................................65
Figura 12 − O tripé da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável (DS)..126
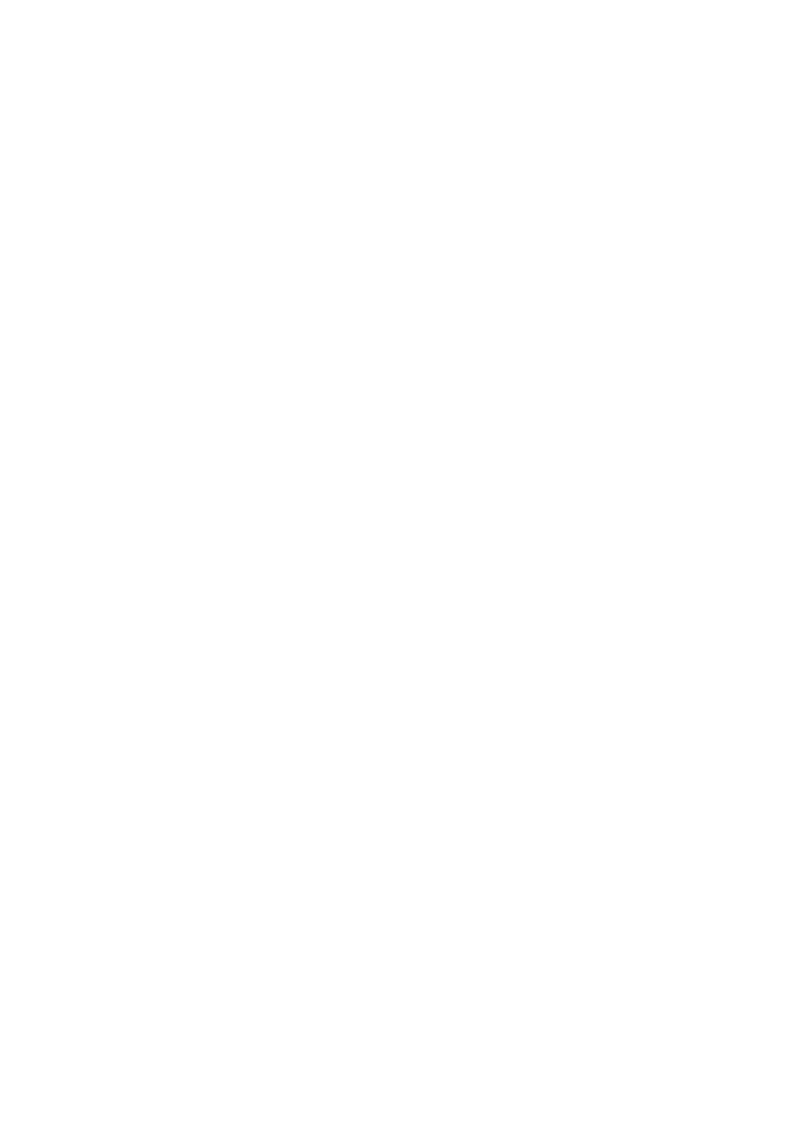
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 − Quadro comparativo proposto por Fritjof Capra: pensamentos e valores
antropocêntricos e ecocêntricos................................................................................34
Quadro 2 – Encontros e temáticas da Unidade de Aprendizagem sobre EA realizada
no CC ........................................................................................................................57
Quadro 3 − Encontro 1 realizado com estudantes do Clube de Ciências .................58
Quadro 4 − Encontro 2 realizado com estudantes do Clube de Ciências .................59
Quadro 5 − Encontro 3 realizado com estudantes do Clube de Ciências .................60
Quadro 6 − Encontro 4 realizado com estudantes do Clube de Ciências .................62
Quadro 7 − Encontro 5 realizado com estudantes do Clube de Ciências .................64
Quadro 8 − Encontro 6 realizado com estudantes do Clube de Ciências .................65
Quadro 9 − Categorias emergentes a partir da realização da Análise Textual
Discursiva e argumentos ...........................................................................................68

SIGLA
ATD
BNCC
CC
DS
EA
PNB
PUCRS
TIC
UA
LISTA DE SIGLAS
SIGNIFICADO
Análise Textual Discursiva
Base Nacional Comum Curricular
Clube de Ciências
Desenvolvimento Sustentável
Educação Ambiental
Produto Nacional Bruto
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Tecnologias de Informação e Comunicação
Unidade de Aprendizagem

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................15
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .............................................................................18
2.1 OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI............................................18
2.1.1 Desafio político ................................................................................................19
2.1.2 Desafio tecnológico .........................................................................................20
2.1.3 Desafio antropológico ......................................................................................23
2.1.4 Desafio ecológico ............................................................................................24
2.2 CLUBE DE CIÊNCIAS ........................................................................................26
2.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL ..................................................................................30
2.3.1 Princípios.........................................................................................................30
2.3.2 Breve histórico.................................................................................................31
2.3.3 Pensar ecológico .............................................................................................32
2.4 EDUCAR PELA PESQUISA ...............................................................................35
2.5 UNIDADE DE APRENDIZAGEM ........................................................................40
3 METODOLOGIA ....................................................................................................45
3.1 ABORDAGEM DE PESQUISA ...........................................................................45
3.2 TIPO DE PESQUISA ..........................................................................................47
3.3 SUJEITOS DE PESQUISA .................................................................................48
3.4 COLETA DE DADOS..........................................................................................49
3.4.1 Questionários ..................................................................................................49
3.4.2 Observação .....................................................................................................50
3.4.3 Gravação de áudio ..........................................................................................51
3.4.4 Diário de campo ..............................................................................................52
3.5 ANÁLISE DE DADOS .........................................................................................53
3.6 ATIVIDADES PROPOSTAS ...............................................................................56
4 RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO ...........................................................66
4.1 PERCEPÇÕES ANTROPOCÊNTRICAS DOS CLUBISTAS ..............................69
4.1.1 Desconexão do meio ambiente .......................................................................70
4.1.2 Visão fragmentada sobre o meio ambiente .....................................................77
4.2 PENSAMENTO EM TRANSIÇÃO ......................................................................85
4.2.1 Reconstrução do pensamento .........................................................................86
4.2.1.1 Saberes prévios..................................................................................86
4.2.1.2 Principais interesses dos clubistas .....................................................90
4.2.1.3 Questionamentos realizados durante os encontros ............................93

4.2.1.4 Relações desempenhadas a partir das atividades .............................97
4.2.1.5 Persistência dos clubistas.................................................................104
4.2.1.6 Complexificação do pensamento......................................................106
4.2.2 Desenvolvimento da relação entre ser humano e meio ambiente .................108
4.3 PERCEPÇÕES ECOCÊNTRICAS DOS CLUBISTAS ......................................113
4.3.1 Conexão com o meio ambiente .....................................................................114
4.3.2 Pensamento sistêmico dos clubistas .............................................................125
4.3.2.1 Conservação ambiental ....................................................................127
4.3.2.2. Desenvolvimento econômico ...........................................................134
4.3.2.3. Desenvolvimento social ...................................................................136
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................140
REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 144
APÊNDICES ...........................................................................................................151

15
1 INTRODUÇÃO
A educação sempre esteve presente durante o período em que realizei a
minha graduação. Ingressei na Faculdade de Ciências Biológicas da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) no início do ano de 2010.
Inicialmente, cursei bacharelado e, logo após, licenciatura. Entre estágios, projetos e
bolsas de estudo, o interesse pela educação foi uma grande constante.
Já no meu primeiro estágio, com práticas de curadoria e sistemática de peixes
no Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, ministrei oficinas com crianças e
adolescentes visitantes do museu. Nessas oficinas, pude desenvolver minhas
habilidades de comunicação com estudantes do Ensino Fundamental e Médio dentro
da área das Ciências Biológicas. Em seguida, ingressei no Programa de Educação
Tutorial (PET-Biologia), em que, por meio do desenvolvimento de palestras, oficinas
e cursos, despertei meu interesse pela Educação Ambiental. O público-alvo do PET
é bastante diverso, e o contato com estudantes e professores de diferentes
realidades escolares trouxe um novo interesse na licenciatura.
Participei do projeto Clube de Ciências da PUCRS em um colégio particular
de Porto Alegre. Nessa ocasião, pude ter contato com as dúvidas e certezas de
estudantes de 6.º ano do Ensino Fundamental. Lembro-me de ter ficado muito
admirada com a curiosidade dessa faixa etária, que participava ativamente dos
encontros. No Clube de Ciências, pude conhecer o ensino não formal, em que o
cronograma era elaborado por meio das dúvidas e dos conhecimentos prévios dos
estudantes.
Tive contato direto com a Educação Ambiental quando participei como
estagiária do Centro de Educação e Informação Ambiental (CEIA) da Secretaria do
Meio Ambiente (SMAM), em que desenvolvi projetos, participei de eventos e
ministrei palestras, cursos e oficinas. Esse estágio teve grande importância para
definir meu interesse pela Educação Ambiental, devido às atividades realizadas na
prática em instituições de ensino, empresas e comunidades. Ainda no campo da
Educação Ambiental, realizei o curso completo de Biopsicologia no Parque
Ecológico e Instituto Visão Futuro (SP), com foco no efeito dos hormônios no
organismo humano, na alimentação saudável e nas consequências das ações
humanas no bem-estar diário. O curso de vivências dentro da Ecovila no Parque
Ecologico permitiu observar práticas sustentáveis em comunidade, como tratamento

16
biológico de esgoto, captação de água da chuva, utilização de energias alternativas,
reciclagem do lixo, agricultura orgânica e projetos sociais.
Nesses ambientes, pude conviver e aprender com estudantes de diferentes
idades e realidades, estimulando cada vez mais o interesse e a vontade de iniciar a
trajetória de educadora. Durante os anos como estudante de graduação e como
professora, foi possível notar a necessidade de trabalhar a Educação Ambiental com
os estudantes do Ensino Básico e, nesse âmbito, tive a oportunidade de desenvolver
um projeto dessa temática em um ambiente de ensino não formal, como o Clube de
Ciências, que veio ao encontro desse desejo. O pensamento ecológico e a ecologia
profunda foram áreas da EA utilizadas na presente investigação pois focam em
atividades mais prática e compreendem que o ser humano é parte integrante do
meio.
Nesse contexto, o problema de pesquisa deste estudo foi assim definido:
como o desenvolvimento de uma unidade de aprendizagem sobre Educação
Ambiental (EA) em um Clube de Ciências pode contribuir para o
aperfeiçoamento do Pensamento ecológico dos estudantes? Baseando-se
nessa pergunta-problema, elaborou-se o objetivo principal deste estudo:
compreender as contribuições do desenvolvimento de uma unidade de
aprendizagem de EA em um Clube de Ciências para o aperfeiçoamento do
Pensamento ecológico dos estudantes. A partir do objetivo geral do projeto,
foram elencados os seguintes objetivos específicos:
Identificar as concepções prévias dos sujeitos de pesquisa sobre meio
ambiente.
Identificar as possíveis contribuições da unidade de aprendizagem (UA) para
a mudança de percepções dos sujeitos.
Relacionar as evidências expressas nas falas, textos e outros materiais
construídos pelos estudantes com o desenvolvimento do Pensar ecológico.
A presente investigação está organizada em cinco capítulos. No primeiro
capítulo − Introdução −, são apresentados: a justificativa, o problema de pesquisa, o
objetivo geral e os objetivos específicos. Esse capítulo tem como objetivo apresentar
os motivos pelos quais a pesquisadora delineou a investigação.
No segundo capítulo − Fundamentação teórica –, é explicitado o panorama
teórico que fundamenta a pesquisa. Para situar o estudo realizado foi necessário
buscar informações relacionadas aos desafios da educação no século XXI, ao Clube

17
de Ciências, à Educação Ambiental, ao Educar pela Pesquisa e às unidades de
aprendizagem.
No terceiro capítulo – Metodologia –, são expostos os instrumentos utilizados
para realizar a coleta de dados e o método de análise empregado, e são
identificados os sujeitos e a abordagem da pesquisa. Além disso, é feita a descrição
de cada encontro, em que é possível identificar as atividades realizadas em suas
relações com os princípios do Educar pela Pesquisa.
O quarto capítulo − Análise e discussão dos resultados – é constituído do
resultado obtido por meio da análise dos dados coletados. Como argumento central
acredita-se que o desenvolvimento e aperfeiçoamento do Pensamento ecológico é
possível quando são criadas, intencionalmente, situações de aprendizagem, como é
o caso de uma UA sobre EA. A partir da Análise Textual Discursiva foi possível
destacar três principais categorias cujas ideias consubstanciam o argumento
principal. São elas: percepções antropocêntricas dos clubistas; pensamento em
transição ; e percepções ecocêntricas dos clubistas.
No quinto capítulo − Considerações finais –, os resultados da pesquisa são
discutidos com o objetivo de apresentar novos significados para os debates de
Educação Ambiental e Clube de Ciências, auxiliando investigações futuras.
A realização dessa pesquisa é importante pois permite a união da Educação
Ambiental e o Clube de Ciências por meio de atividades construídas juntamente com
os estudantes.

18
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste capítulo, serão apresentados cinco tópicos que fundamentam o
presente estudo: os desafios da educação no século XXI, o Clube de Ciências, a
Educação Ambiental, o Educar pela Pesquisa e a unidade de aprendizagem.
2.1 Os desafios da educação no século XXI
O século XXI apresenta diferentes desafios, entre eles a efemeridade das
relações e das instituições, o que parece embaraçar as visões e previsões sobre o
futuro próximo. Como afirma Bauman (2007), vivemos tempos de “modernidade
líquida”, ou seja, a realidade do mundo muda tão rapidamente que os habitantes
deste planeta não têm tempo para acompanhar e ajustar-se a essas mudanças. Em
razão dessa liquidez dos tempos contemporâneos, torna-se muito difícil prever como
será o mundo daqui a 50 anos, assim como foi difícil para pesquisadores e
pensadores que tentaram prever, sem sucesso, a realidade dos dias atuais. “A vida
líquida é uma vida precária, vivida em condições de incerteza constante.” (BAUMAN,
2007, p. 8). Não somente as sociedades humanas, mas também as relações
econômicas nacionais e internacionais, importantes e influentes no mundo
capitalista, passam por situação semelhante. Conforme Sennett (2007), nos dias
atuais, as instituições e relações são de “curto-prazo”. Entretanto, Papadopoulos
(2005, p. 29) apresenta um contraponto ao sugerir que, mesmo nesse cenário, “a
educação é um processo a longo prazo”.
A educação enfrenta os desafios de uma modernidade líquida com os
mesmos empecilhos, pois está refém da mudança constante de padrões da
sociedade moderna: mudanças no cenário político, com novas leis e demandas
verticais criadas de cima para baixo, sem consulta sobre a realidade de alunos e
professores; mudanças na velocidade, no acesso e na disponibilidade da informação
e, dessa maneira, na função do professor em sala de aula; mudanças sociais, no
papel da família e da sociedade na formação dos filhos em um mundo em crise
econômica e moral; e, finalmente, mudanças climáticas no ambiente em que
vivemos, fazendo com que necessitemos pensar e falar em Educação Ambiental
dentro e fora da sala de aula.

19
Tedesco (2012) declara que temos três grandes desafios da educação no
século XXI: desafio político, desafio tecnológico e desafio antropológico. Inspirada
nesse autor, falarei sobre esses três desafios e, além disso, adicionarei, a partir da
literatura, o desafio ecológico devido a sua relação com essa investigação.
2.1.1 Desafio político
Cada vez mais existem espaços para debater, compreender e melhorar as
práticas de educação. Para Ordoñez (2005), o século XX foi um tempo de vergonha
e orgulho para a educação, pois, ao mesmo tempo em que nesse século difundiu-se
o acesso à escola pública para a maior parte do mundo, ainda teve 900 milhões de
pessoas não alfabetizadas. Para muitos grupos, principalmente para a parcela da
sociedade que permanece marginalizada, a educação necessita de mudanças.
Famílias, educadores e políticos notam as dificuldades e os limites dos sistemas
educacionais. Para Tedesco (2005), existe um ceticismo nos setores políticos em
relação a novas reformas educacionais, visto que muitas estratégias já foram
experimentadas sem um sucesso significativo. Alguns políticos desenvolvem
medidas que tentam mudar essa realidade, porém, segundo Sacristán (2012), as
novas políticas podem trazer práticas de educação retrocessas, uma vez que
instituem ideologias conservadoras que tentam recuperar valores antigos de uma
época diferente da atual, camufladas por novos argumentos.
Em um sistema econômico em crise, o mercado de trabalho exerce influência
sobre as práticas de educação, pois define quais tipos de indivíduo irá necessitar. Se
o discurso da importância do mercado de trabalho é o único utilizado dentro das
escolas, ele afeta o futuro da educação, visto que ignora as muitas dimensões das
realidades dos estudantes (SACRISTÁN, 2012).
Nussbaum (2015) sinaliza sobre uma crise silenciosa que invade as escolas.
Influenciados pelo lucro e crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB), os
governos de muitos países e seus sistemas reguladores de educação estão
eliminando disciplinas de artes e humanidades de seus currículos. “Se essa
tendência prosseguir, todos os países logo estarão produzindo gerações de máquina
lucrativas, em vez de produzirem cidadãos íntegros, que possam pensar por si
próprios [...].” (NUSSBAUM, 2015, p.4). Além disso, dentro da política, a educação

20
é lida por meio de índices, reduzindo realidades a números e valores. Para Sacristán
(2012), o pensamento crítico dentro de sala de aula é afetado quando existe uma
corrente política que preza pela “eficácia mensurável”.
A visão política sobre a escola ainda é discutível, pois, enquanto depender da
ação de profissionais que não conhecem a fundo a realidade do ensino, servirá para
corresponder às necessidades das reformas políticas. Vivemos em uma
modernidade líquida, e as necessidades de um projeto político podem mudar muito
rapidamente. Para Tedesco (2005, p. 60), “reconhecer que as políticas educacionais
são políticas de longo prazo implica igualmente aceitar que, para definir suas
estratégias, é preciso ter uma grande capacidade de antecipação de demandas e de
problemas futuros”. É importante entender a função da educação: basear-se em
práticas de ensino que respeitam o aluno, o professor e suas realidades. Gadotti
(2000, p.8) afirma que a educação “é um bem coletivo e, por isso, não deve ser
regulada pelo jogo do mercado, nem pelos interesses políticos”. A educação e a
política apresentam uma relação indissociável, e é necessário saber nutri-la de
maneira positiva. Nussbaum (2015, p. 11) acredita que “sem o apoio de cidadãos
adequadamente educados, nenhuma democracia consegue permanecer estável”.
2.1.2 Desafio tecnológico
O mundo globalizado do século XXI trouxe (e instituiu) a liberdade da
informação para todos. Não só uma realidade, a informação rápida e acessível é
necessária dentro e fora da sala de aula. Gadotti (2000) declara que, apesar do
costume de definir a atualidade como a era do conhecimento, estamos, na realidade,
na época da difusão de informações e dados. Além do risco de obter informações
imprecisas, o fácil acesso à informação trouxe uma nova situação para a sala de
aula, pois o aluno agora pode buscar suas próprias respostas, e o professor perdeu
seu papel como detentor de todo o conhecimento. Conforme Papadopoulos (2005,
p. 21), a “[...] superabundância de informações nas sociedades modernas, nas quais
as mídias são onipresentes, coloca novos problemas para a escola, que não é mais
a principal fonte de informação”. Para Sacristán (2012), o fácil acesso à informação
veio como um estímulo para renovar a formação do professor. Nesse contexto, a
informação disponível a todos tem capacidade de modificar o formato da escola
antiga, em que predominava o que Paulo Freire chamou de “educação bancária”, ou

21
seja, aquela em que o professor era o único responsável por educar um estudante
vazio de conhecimento. Segundo Freire (2000, p.58), na educação bancária, a
“única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os
depósitos, guardá-los e arquivá-los”. Com o acesso à informação facilitado, o aluno
apresenta possibilidades para tornar-se protagonista do seu processo de
aprendizagem.
Juntamente com o acesso à informação facilitado, a tecnologia está presente
na vida dos estudantes. Para aqueles que têm acesso, a tecnologia não só está
disponível como é parte fundamental do seu cotidiano. Para Lepeltalk e Verlinden
(2005), a tecnologia irá influenciar o conjunto de vida social no século XXI, e a
escola não poderá nem deverá se omitir nessa transformação. Conforme
Papadopoulos (2005, p.27), a “cultura informática passa a fazer parte dos novos
saberes básicos”.
Dentro da sala de aula, a tecnologia não pode ser ignorada, e pode funcionar
como ferramenta de auxílio nos processos de ensino e aprendizagem. Conforme
Barreto (2004, p. 1182), as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) “[...]
têm sido apontadas como elemento definidor dos atuais discursos do ensino e sobre
o ensino”. Quando falamos de educação e tecnologia, diferentes educadores e
especialistas apresentam diferentes opiniões. Para alguns, a tecnologia auxilia a
educação, funcionando como mais uma ferramenta de capacitação do professor,
mas, para outros, os aparatos tecnológicos não são a solução para os problemas
antigos da escola.
A tecnologia não surgiu para substituir o professor, é apenas uma nova
ferramenta e, assim como qualquer material presente na sala de aula, ela precisa
ser conhecida pelo ser humano. Conforme Papadopoulos (2005), as novas
tecnologias apresentam capacidade de autoformação e, por essa razão, apresentam
novas possibilidades e utilidades em sala de aula.
É um alívio constatar que diversos países já dispõem de políticas coerentes
que regulam a adaptação e a utilização de novas tecnologias e que a
produção e escolha de softwares educacionais constituem um elemento
essencial dessas políticas. (PAPADOPOULOS, 2005, p. 29)
As novas tecnologias de informação também provocam uma nova
configuração na relação professor/aluno. O estudante que apresenta acesso total à

22
informação dentro da sala de aula, por meio da Internet ou de softwares de
educação, pode trabalhar com autonomia. Conforme Sacristán (2012), as novas
tecnologias disponibilizaram um grande número de informações e, assim,
desestabilizaram a crença de que o estudante necessita do professor para
desenvolver novos conhecimentos. Professores que concebem a inserção de
tecnologias na sala de aula como fator enriquecedor do ensino-aprendizagem, em
conjunto com seus alunos, acreditam que a tecnologia é um aliado no processo de
ensinar. Para Lepeltalk e Verlinden (2005, p. 207), as “novas tecnologias da
informação exercem a longo prazo uma profunda influência sobre o papel dos
professores: mestres oniscientes tornam-se guias”.
Em contrapartida, alguns educadores e pesquisadores afirmam que a
modernização da sala de aula funciona apenas para mascarar os problemas reais
da escola. Ribes (2000) questiona se artefatos tecnológicos são capazes de
solucionar antigos problemas, como a baixa qualidade da qualificação, a falta de
atualização e a baixa remuneração dos professores. Além disso, é questionável o
papel e as consequências da importância atribuída às máquinas na educação.
Muitos profissionais e pesquisadores questionam se a tecnologia não está
recebendo responsabilidades demais. Segundo Papadopoulos (2005), se não
tomarmos cuidado, a tecnologia, a cultura da concorrência e o poder da mídia
podem provocar uma “desumanização” dos valores da sociedade. Conforme Ribes
(2000, p.85):
O grande avanço da escola do futuro não pode ser o da substituição do
homem pela máquina, do professor pelo computador e pela internet, mas a
soma dos dois, com muito acréscimo da humanidade, em que os homens
comandam as máquinas para melhorar a vida da coletividade.
O professor do futuro não é um robô, uma televisão ou um computador, mas
alguém que consegue utilizar as ferramentas tecnológicas para auxiliar o processo
de ensino. Diferente do que imaginavam as previsões do século passado, a sala de
aula do futuro ideal não é necessariamente um espaço completamente virtual, mas,
sim, um espaço que estimula novas práticas de aprendizagem. “Talvez se deva
proceder a um remanejamento completo das estruturas e da organização do ensino
em sala de aula para propor situações mais diversificadas e estimulantes os alunos
e professores.” (PAPADOPOULOS, 2005, p.29).

23
Práticas modernas de aprendizagens são aquelas que permitem ao estudante
ser o protagonista de sua aprendizagem por meio de atividades que estimulem o
aprender a aprender. Papadopoulos (2005) afirma que o progresso só ocorre
quando é estimulada nos jovens a vontade de adquirir novos conhecimentos por
meio do aprender a aprender. Para Tedesco (2012), a educação construirá uma
sociedade justa pelos dois seguintes pilares: pilar político, de aprender a conviver
em sociedade, e pilar cognitivo, de aprender a aprender.
2.1.3 Desafio antropológico
A qualidade da educação, considerando o papel que o ser humano nela
exerce, não depende somente do professor ou do aluno. A família e a comunidade
são fundamentais para a formação de cidadãos preparados para as mudanças do
século XXI. As famílias, por suas inúmeras razões, confiam cada vez mais à escola
o papel de formação e educação de crianças e jovens. Sacristán (2012) questiona
se a escola está atendendo e acompanhando as demandas da sociedade atual.
Papadopoulos (2005), por sua vez, declara que a educação é um meio de
reconstruir o “tecido social” em uma época caracterizada pela quebra dos alicerces
da família e sociedade.
A família precisa acompanhar as necessidades, dificuldades e conquistas do
estudante, conduzindo seu processo de aprendizagem. A comunidade em que o
estudante cresce faz com que ele desenvolva diferentes conhecimentos, os quais
serão levados depois para a escola. Conforme Ribes (2000, p. 81), o “envolvimento
da comunidade na escola – que compreensivamente fazem parte uma da outra − é a
forma mais garantida de se resolverem problemas que afetam uma e outra”.
Diferentes comunidades com diferentes culturas e características permitem
diferentes formas de desenvolvimento. Para Nussbaum (2015), a educação não
ocorre somente em sala de aula, e a escola deve oferecer subsídios para apoiar a
família a desenvolver por completo as capacidades do aluno.
O ser humano do futuro precisará desenvolver habilidades específicas frente
a novos desafios. Para Hughes (2005, p. 37), em “nossas sociedades atuais, todos
os cidadãos necessitam de um leque muito mais amplo de capacidade do que
antes”. Espaços não formais de ensino, como o Clube de Ciências, que será
apresentado no decorrer dessa investigação, permitem o desenvolvimento de

24
habilidades específicas. Para Albuquerque (2016, p. 84), o Clube de Ciências
apresenta-se “[...] como um possível espaço para estimular atributos intrapessoais,
interpessoais e cognitivos recomendados aos sujeitos do século XXI, pautado na
perspectiva sistêmica de ver a realidade”.
2.1.4 Desafio ecológico
Diferentes comunidades ao redor do mundo estimulam conhecimentos
distintos nos estudantes. No entanto, o que pode ser partilhado durante o século XXI
por toda a população mundial são as consequências das mudanças climáticas. Para
Papadopoulos (2005, p. 23), o “problema mais sentido universalmente talvez seja o
do meio ambiente, e a educação já desempenha um papel ativo em relação a ele,
sensibilizando as crianças e os jovens, e propondo soluções”. Santos e Sato (2006)
consideram que é ambicioso estudar o tema do “ambientalismo” no início do terceiro
milênio ao invés de estudar as desigualdades sociais, a pobreza e as condições de
vida precárias para grande parte da população.
Atualmente, o Brasil apresenta legislações que regulamentam a necessidade
de debater Educação Ambiental (EA) nas escolas por meio de projetos
interdisciplinares. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) afirma que:
[...] cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas,
em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos
currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas
contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e
global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Entre esses
temas, destacam-se: direitos da criança e do adolescente (Lei nº
8.069/199016), educação para o trânsito (Lei nº 9.503/199717), educação
ambiental (Lei nº 9.795/1999, Parecer CNE/CP nº 14/2012 e Resolução
CNE/CP nº 2/201218), [...] (BRASIL, 2018, p.19)
Reigota (2009) relembra que, na década de 1980, debateu-se no Brasil a
possibilidade de adicionar a EA como uma disciplina nos currículos escolares. No
entanto, foi decidido que a questão ambiental deveria permear transversalmente
todas as disciplinas.
A educação ambiental, como perspectiva educativa, pode estar presente em
todas as disciplinas quando analisa temas que permitam enfocar as relações
entre a humanidade e o meio natural e as relações sociais, sem deixar de
lado as suas especificidades. (REIGOTA, 2009, p.45)
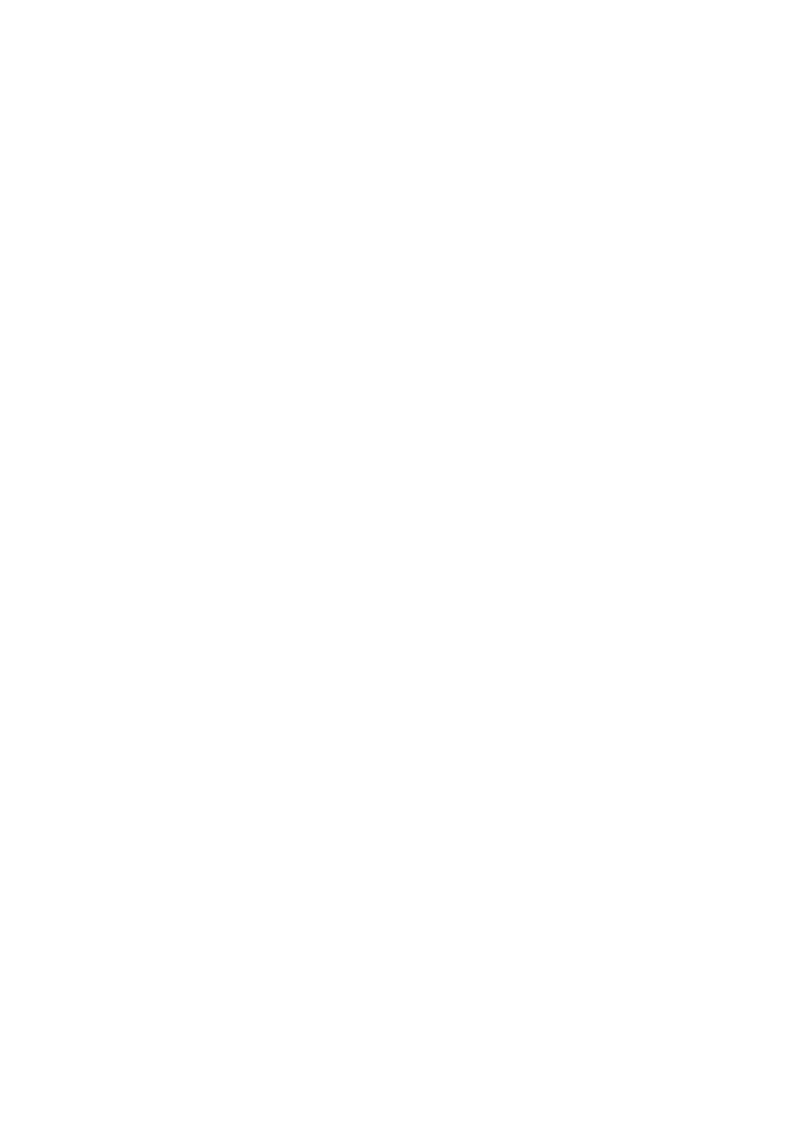
25
Para O’Riordan (2006), atualmente a educação não está conseguindo
preparar professores ou estudantes para uma nova perspectiva de cuidado com o
ambiente, e por isso permanece insatisfatória e ilusória. Ribes (2000, p.77) afirma
que a “inserção da escola nesse processo é, ainda, muito tímida. A maioria das
experiências de que se tem notícia gira em torno da questão do lixo”. No Brasil, as
ações de temática ecológica ainda estão aquém do que é esperado. Conforme
Santos e Sato (2006), na América Latina, a educação como maneira de
compreender a relação do ser humano com o ambiente ainda é carente. Os autores
afirmam: “No Brasil, a EA não foge dos modelos impostos, tendendo a apontar como
o maior problema, na maioria das vezes, a falta de sensibilização aos dilemas
ambientais [...]” (SANTOS; SATO, 2006, p. 33).
Dentro de espaços de educação não formais, como o Clube de Ciências,
ainda existe uma defasagem sobre as questões ambientais. Albuquerque (2016, p.
84), em relação a um Clube de Ciências em Porto Alegre, afirma:
Não foi possível evidenciar a presença do Pensar ecológico na natureza das
atividades do Clube de Ciências, não havendo uma preocupação em
demonstrar o possível impacto que as ações dos estudantes poderiam causar
no ambiente no qual estão inseridos.
Apesar desse cenário, a consciência sobre o meio em que o estudante e a
escola se inserem deve ser desenvolvida juntamente com a preocupação com o
ambiente e com como construir um amanhã sustentável. Tedesco (2012) declara
que, no futuro, o desenvolvimento dos cidadãos dependerá de como construiremos
os valores de solidariedade, respeito às diferenças e consciência ecológica. A
educação apresenta um papel vital no processo de construção de uma nova
percepção e perspectiva globais. Conforme O’Riordan (2006), a “educação para a
sustentabilidade” busca preparar as pessoas para cuidar do planeta respeitando os
direitos e a identidade das populações para o bem-estar geral.
Concluindo a questão da educação no século XXI, ainda há muito a ser
debatido e ainda há muitas divergências nas opiniões de especialistas no assunto.
Ao contrário do que se acreditava antigamente, a educação no século XXI cada vez
mais é construída por seres humanos, e não por máquinas. Autores, como por
exemplo, Ribes (2000) destacam o papel da comunidade e da família no futuro da
escola:

26
A escola deve ser um centro desencadeador de contatos que traga a
comunidade para dentro de seu espaço, iniciando-se pelas famílias
nucleares, mas estendendo-se também para grupos que não tenham
vinculação direta com professores e alunos. (RIBES, 2000, p.82)
No entanto, a convergência entre os teóricos da educação é para a esperança
em um futuro melhor juntamente com dedicação e trabalho de qualidade. Segundo
Ordoñez (2005, p. 155): “Antes considerada como um bem de consumo, a educação
é reconhecida agora com um investimento no fator de produção mais indispensável,
que é a competência humana”.
2.2 Clube de Ciências
O Clube de Ciências (CC) é um ambiente não formal de ensino e
aprendizagem que vem ganhando cada vez mais espaço como prática alternativa
para ensinar ciências. Ao longo dos anos, o CC tem recebido diferentes definições.
Rosito e Lima (2015, p.1053) consideram que o “[...] Clube de Ciências é um espaço
não-formal de aprendizagem, com foco no desenvolvimento do pensamento
científico, por meio da pesquisa, do debate e do trabalho em equipe”. Mancuso et al.
(1996) analisam diversas definições de outros autores e afirmam que um Clube de
Ciências é um espaço em que ocorre o encontro de pessoas com interesses comuns
reunidos por meio da discussão de ideias para a produção de novos conhecimentos
científicos. Nesse contexto, Lima (1998, p.29) afirma:
O Clube de Ciências abriga uma enormidade de propósitos cuja relevância
será dada no sentido de atender às peculiaridades de cada grupo. Embora a
literatura informe sobre uma série de finalidades, não existe uma receita,
aplicável, genericamente, para o funcionamento de um Clube de Ciências.
Cada Clube implantado terá sua individualidade, atendendo aos anseios − e
particularidades − de seus participantes e às características da comunidade
aonde está inserido.
O CC apresenta características que o definem como um espaço não formal
de aprendizagem e, nesse sentido, é importante diferenciar educação formal de
educação não formal e informal. Primeiramente, a educação formal ocorre em
espaços escolares, abrangendo todas as atividades planejadas e relacionadas a um
currículo preestabelecido pelo corpo docente e pelas leis de um país. A educação
formal, para Gohn (2010, p.19), “[...] requer a normatização das formas de
organização de vários tipos (inclusive a curricular), sistematização sequencial das

27
atividades, tempos de progressão, disciplinamento, regulamentos e leis [...]”. A
educação não formal e a informal, por sua vez, diferenciam-se da educação formal
por não necessariamente acontecerem no espaço escolar, por ocorrem sem uma
organização prévia e regulamentada, permitindo diferentes práticas de ensino. Em
algumas situações, os espaços formais podem não ser suficientes para contemplar
uma gama de possibilidades de ensino. Para Menezes et. al (2012, p.813), os
“espaços escolares tornam-se incompletos em sua tarefa de educar a integralidade
do ser, já que lhes faltam elementos que aperfeiçoem seu papel de promotores de
formação do ser humano relacional”.
No entanto, a educação não formal e a informal apresentam diferentes
características e diferenciam-se entre si. Conforme Gohn (2010), a grande diferença
entre a educação não formal e a informal é a intenção, pois, enquanto as atividades
na educação não formal são conduzidas por algum planejamento e intencionalidade,
na educação informal, a aprendizagem acontece de maneira mais espontânea, por
meio de vivências que priorizam as emoções e os sentimentos de forma não
organizada. As atividades da educação não formal normalmente ocorrem em locais
informais, fora da escola, e inexiste a figura de um professor detentor de
conhecimento, mas, sim, a de um educador social, que permite todos poderem
ensinar uns aos outros (GOHN, 2010). Por outro lado, na educação informal, os
“agentes educadores” são pessoas já conhecidas como, por exemplo, a família, os
amigos e os vizinhos, e a aprendizagem ocorre nos espaços onde o indivíduo habita,
como a casa, a rua, o bairro, a cidade ou a igreja (GOHN, 2010).
Historicamente, o ensino de ciências e tecnologias começou a ser super
estimulado mundialmente durante os anos 1950 após o lançamento do satélite
espacial Sputnik1, que inspirou os governos a investirem no desenvolvimento dessas
áreas dentro e fora da escola. Mancuso et al. (1996, p. 38) afirmam que “a partir do
final da década de 50 e mais intensamente nos próximos anos começaram a surgiu
os Clubes de Ciências, locais considerados favoráveis à vivência da ‘metodologia
científica’ [...]”. No Brasil, os primeiros CC buscavam simular a realidade de um
laboratório “de verdade”, gerenciado por cientistas da área tecnológica ou
acadêmica (MANCUSO et al., 1996). Os primeiros CC surgiram juntamente com os
1 Sputnik foi o primeiro satélite artificial lançado ao espaço. Foi construído pela antiga União Soviética
e lançado em 1957. Fonte: http://www.nytimes.com/partners/aol/special/sputnik/sput-01.html
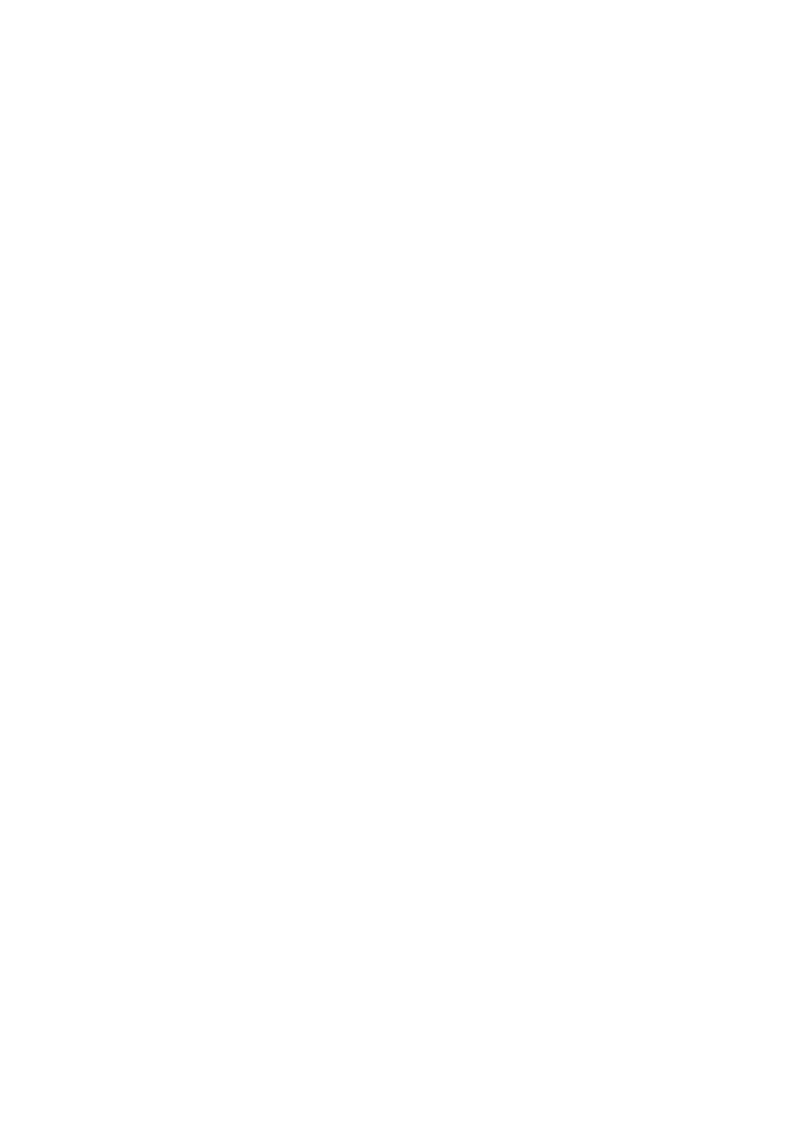
28
projetos de feiras de ciências nas escolas, e, durante muitos anos, os objetivos de
cada modalidade foram confundidos, tanto que, em meados dos anos 1980 e nos
anos 1990, as diferentes iniciativas eram consideradas indissociáveis (MANCUSO et
al., 1996). Atualmente, os CC podem realizar projetos que venham a ser
apresentados em feiras de ciências da escola ou fora dela, embora não seja uma
obrigatoriedade.
Em relação aos objetivos do CC, Mancuso et al. (1996) acreditam que ele
busca despertar interesse pela ciência, instigar a curiosidade científica, formar
estudantes críticos, permitir a visão da ciência como um estudo em
desenvolvimento, promover a divulgação cientifica, estimular a integração escola e
comunidade, entre outros. Segundo os autores: “O objetivo maior de um clube
parece voltar-se para a comunidade de onde provêm as pessoas que o frequentam,
analisando os fatores que contribuem para seu desenvolvimento, na intenção de
melhorar sua qualidade de vida” (MANCUSO et al. 1996, p. 47).
As práticas e os projetos realizados no CC podem instigar e estimular o
interesse dos estudantes em investigar o mundo em que vivem, conforme destacam
Mancuso et al. (1996, p. 93):
O Clube de Ciências tem todas as condições de dar continuidade ao que a
criança já vinha fazendo com prazer, antes de ingressar na escola. Um novo
prazer, o da descoberta, aliado a uma participação alegre e curiosa, poderá
ser a chave para o sucesso do empreendimento.
Em relação aos diferentes tipos de atividades que podem ser realizadas no
espaço do Clube, Mancuso et al. (1996) sugerem experimentos, projetos, leituras,
pesquisas, reuniões, excursões, confecção de jogos, feiras de ciências, entre outros.
As atividades propostas no CC permitem o desenvolvimento de diferentes
competências pelos participantes. Para Da Silva et al. (2009, p. 2), as “atividades
desenvolvidas no Clube de Ciências ampliam os horizontes dos alunos com relação
ao mundo exterior à escola e às inúmeras possibilidades de atuação enquanto
cidadão e profissional”. Já para Salvador (2002), o CC aparece como uma solução
para permitir a realização de atividades ao ar livre, pois consegue ultrapassar
obstáculos institucionais como, por exemplo, turmas muito numerosas ou
cronogramas apertados.

29
O CC apresenta muitas vantagens para um desenvolvimento completo do
estudante, pois desenvolve a criatividade e capacidade de trabalhar em grupo,
aperfeiçoa a comunicação, estimula a autonomia, permite o envolvimento em
questões sociais, etc. (MANCUSO et al., 1996). Além disso, Albuquerque (2016)
entende que um CC estimula características cognitivas, intrapessoais (capacidade
de lidar com frustração, curiosidade e autonomia) e interpessoais (respeito e
paciência). Para Pires et al. (2007), o estudante desenvolve sua autonomia, exerce
sua cidadania e assimila novos conhecimentos por meio da pesquisa. Ainda,
Mancuso et al. (1996) confirmam que um CC deve ser realizado com uma
determinada frequência preestabelecida pelo grupo, acontecer em horário diferente
do da aula regular e ser orientado por professores e mediadores, o que é
corroborado por Da Silva et. al. (2009, p. 2): “O Clube de Ciências apresenta-se
como um local onde as atividades são desenvolvidas em horário de contra-turno”.
O CC também é um espaço que permite o desenvolvimento de conteúdos
relacionados à causa ambiental, normalmente tratados de maneira superficial ou
ignorados no ensino regular. Para Menezes et al. (2012, p. 813):
A consciência de que somos cidadãos planetários não está sendo construída
pelos espaços de educação e os estudantes não se constituem como tal, pois
são frutos de um ensino tradicional, descontextualizado e fragmentado.
O CC configura-se como um espaço de reflexão sobre as mudanças
ambientais e também pode atuar na “ecoformação” dos sujeitos envolvidos
(MENEZES et al., 2012). O artigo 2.º da Lei de Educação Ambiental (BRASIL, 1999)
vigente no Brasil postula:
A educação ambiental é um componente essencial e permanente da
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.
(grifo meu)
Reigota (2009) salienta que, apesar de ser muito agradável realizar atividades
de Educação Ambiental em parques e reservas ecológicas, é importante lembrar
que a natureza conservada não deve ser o único modelo, pois a sociedade vive em
constante transformação na sua relação com o meio. O CC é um espaço rico em
possibilidades, principalmente no que tange às questões ambientais e científicas.

30
Reigota (2009) afirma que a Educação Ambiental pode ser realizada em “qualquer
lugar”:
É consenso na comunidade internacional que a educação ambiental deve
estar presente em todos os espaços que educam o cidadão e a cidadã.
Assim, ela pode ser realizada nas escolas nos parques e reservas ecológicas,
nas associações de bairros, nos sindicatos, nas universidades, nos meios de
comunicação de massa etc. (REIGOTA, 2009, p.39)
Nesse contexto, evidencia-se que o CC é um espaço de educação com
grande potencial educativo e formativo, ainda que seja pouco conhecido no Brasil.
“Um Clube de Ciências pode vir a se tornar um espaço importante e complementar
para a alfabetização científica nas escolas.” (MENEZES et al., 2012, p. 817).
Além de ser um espaço coadjuvante, o CC pode alcançar uma dimensão
fundamental na educação dos indivíduos. Para Mancuso et al. (1996, p.94), o “Clube
de Ciências é capaz de ser, acima de tudo, um dos poucos espaços dentro da
escola (ou na comunidade) em que o ato político da educação não esteja
desvinculado de sua função pedagógica”. Não somente restrito à educação escolar,
o CC pode desempenhar um papel fundamental para a formação de uma sociedade
mais justa e equilibrada. “Denota-se, então, a necessidade urgente de participação
dos espaços de aprender Ciências como fundamentais para o processo de
desenvolvimento de uma cultura para a cidadania, ambientalmente responsável.”
(MENEZES et al., 2012, p. 815).
2.3 Educação Ambiental
2.3.1 Princípios
Apesar de apresentar mais de 50 anos de história, a Educação Ambiental
(EA) ainda é confundida com outras áreas das ciências naturais como, por exemplo,
a ecologia. “É ainda muito comum observarmos afirmações de que a educação
ambiental é o mesmo que ensino da ecologia, cabendo aí também a biologia e a
geografia.” (REIGOTA, 2009, p.33). A definição de EA ainda é debatida, variando ao
longo das décadas e das correntes teóricas. Conforme o artigo 1.º da Lei de
Educação Ambiental (BRASIL, 1999) vigente no Brasil:

31
Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e
sua sustentabilidade.
Conforme Dias (2004), o conceito de EA evoluiu ao longo dos anos
juntamente com o desenvolvimento do conceito de meio ambiente. Em outras
palavras, parece que quanto mais a sociedade compreendeu a sua relação com a
natureza, mais claro e complexo tornou-se o conceito de EA. Dias (2004, p.100)
conceitua a EA como “um processo por meio do qual as pessoas apreendam como
funciona o ambiente, como dependemos dele, como o afetamos e como
promovemos a sua sustentabilidade”. Para Reigota (2009, p.55), o principal objetivo
da EA é “levar os indivíduos e os grupos a adquirir o sentido dos valores sociais, um
sentimento profundo de interesse pelo meio ambiente e a vontade de contribuir para
a sua proteção e qualidade”.
Em relação ao ambiente escolar, a EA deve estar presente seja em atividades
previstas no currículo em horário regular, seja em atividades extraclasses. O artigo
3.º da Lei 9.795 afirma: “[...] Todos têm direito à educação ambiental, incumbindo às
instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira integrada aos
programas educacionais que desenvolvem” (BRASIL, 1999, Art. 3.º, II).
O indivíduo que tem acesso à EA é capaz de sentir-se parte do ambiente em
que habita. No entanto, são diferentes os ambientes nos quais os estudantes estão
inseridos. Conforme Dias (2004, p.210), as “finalidades da EA devem adaptar-se à
realidade sociocultural, econômica e ecológica de cada sociedade e de cada região,
e particularmente aos objetivos do seu desenvolvimento”.
Além de respeitar e se adaptar às características do local onde é utilizada, a
EA é flexível em relação ao público-alvo. Conforme Reigota (2009, p.40):
Outro aspecto consensual sobre a educação ambiental é que não há limite de
idade para os seus estudantes. Ela tem a característica de ser uma educação
permanente, dinâmica, diferenciando-se apenas no que diz respeito ao seu
conteúdo, à temática e à metodologia, pois o processo pedagógico precisa
estar adequado às faixas etárias a que se destina.
2.3.2 Breve histórico
Os primeiros passos da EA foram dados com a publicação do livro intitulado
Primavera silenciosa, da bióloga norte-americana Rachel Carson (1907-1964), em
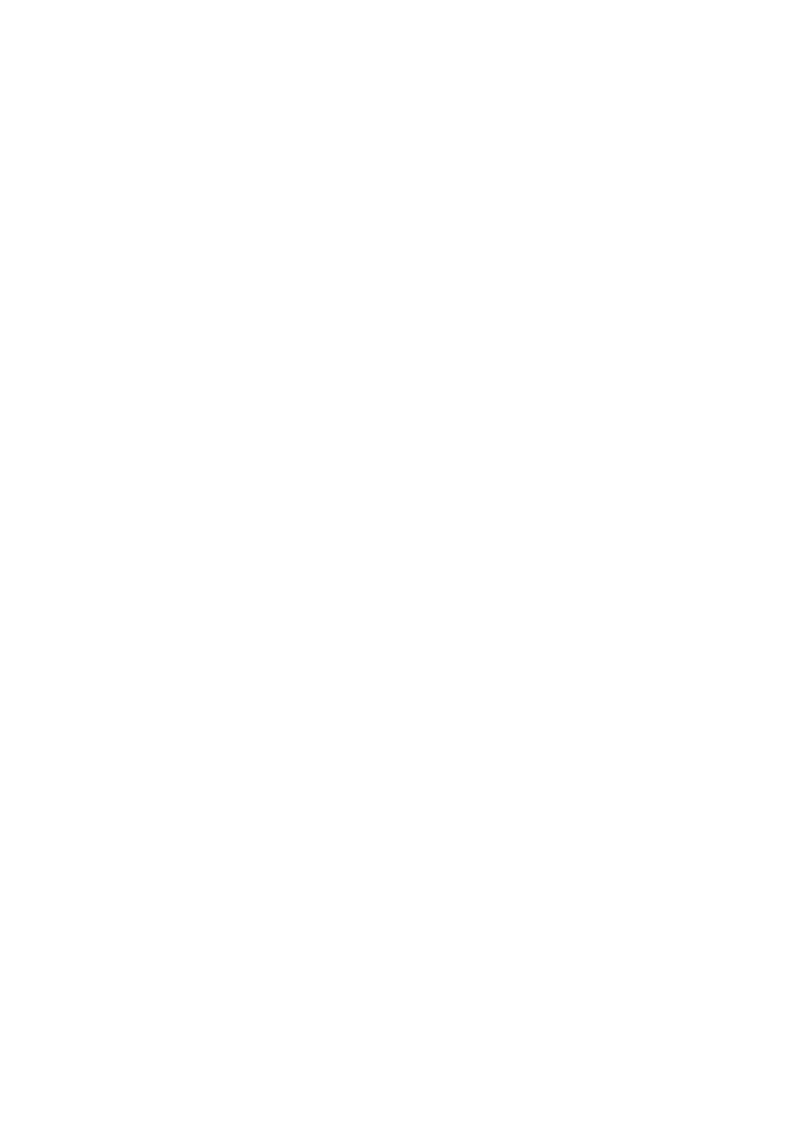
32
1962. Nesse livro, a autora apresenta para o público geral os efeitos negativos do
uso de pesticidas na agricultura e na vida animal. THE LIFE and legacy of Rachel
Carson afirma que “Primavera silenciosa inspirou o movimento moderno ambiental,
que começou quase uma década depois de seu lançamento. É reconhecido como o
texto de cunho ambiental que ‘mudou o mundo’” (tradução minha).
Em 1977, a preocupação com o meio ambiente aumentava em escala global.
Nesse ano, foi realizada pela UNESCO a Conferência Intergovernamental de
Educação Ambiental em Tbilisi (atual Geórgia, ex-URSS): “Foi o ponto culminante da
primeira fase do Programa Internacional de Educação Ambiental, iniciado em 1975.
Definiram-se os objetivos, as características da EA, assim como as estratégias
pertinentes no plano nacional [...]” (BRASIL, 2016a). A declaração redigida no
evento apresenta uma das primeiras definições de EA, utilizada até hoje em dia:
[...] a educação ambiental deve constituir um ensino geral permanente,
reagindo às mudanças que se produzem num mundo em rápida evolução.
Esse tipo de educação deve também possibilitar ao indivíduo compreender os
principais problemas do mundo contemporâneo, proporcionando-lhe
conhecimentos técnicos e as qualidades necessárias para desempenhar uma
função produtiva visando à melhoria da vida e à proteção do meio ambiente,
atendo-se aos valores éticos. (DECLARAÇÃO, 1977)
Em 1992, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, a Eco-92 ou Rio-92, em que foi elaborada a Carta Brasileira para
a Educação Ambiental. Somente em 1999 foi promulgada a Lei n.º 9.795, de 27 de
abril de 1999, que determina a Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil. A
Rio-92 teve um impacto tão grande na sociedade da época que, 20 anos depois,
ocorreu a Rio+20, na cidade do Rio de Janeiro, para debater novamente soluções
para as questões ambientais frente ao século XXI.
2.3.3 Pensar ecológico
Atualmente, a EA é uma grande área de estudos teóricos e práticos, e
apresenta diferentes tendências e categorias. As principais categorias que serão
utilizadas na presente investigação são a ecologia profunda e o Pensar ecológico.
Capra (1996) entende que a maioria dos problemas ambientais que
enfrentamos na atualidade está relacionada com uma crise de percepção. Os
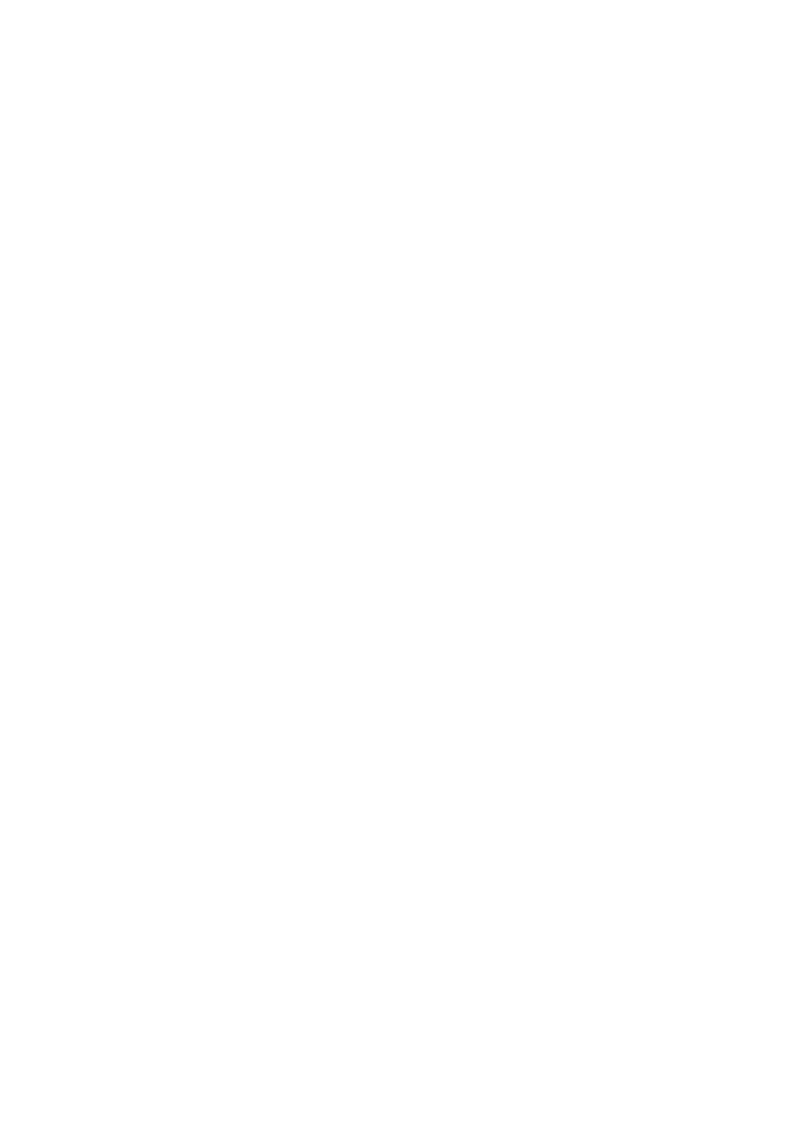
33
indivíduos e as instituições não entendem que suas ações comprometem gerações
futuras, pois os problemas ambientais estão inter-relacionados. É preciso haver uma
mudança de percepção para debatermos sobre sustentabilidade em uma escala
global. “Este [...] é o grande desafio do nosso tempo: criar comunidades sustentáveis
− isto é, ambientes sociais e culturais onde podemos satisfazer as nossas
necessidades e aspirações sem diminuir a chance das gerações futuras.” (CAPRA,
1996, p. 24). Para Naess (1989), os seres humanos são a primeira espécie com a
capacidade intelectual de limitar seu crescimento populacional conscientemente
para viver em harmonia com as outras espécies do planeta.
A nova percepção de mundo, capaz de alcançar os parâmetros da
sustentabilidade, é uma visão holística, integrada. A ecologia profunda é uma escola
filosófica da EA que “[...] reconhece a interdependência fundamental de todos os
fenômenos e o fato de que, enquanto indivíduos e sociedades, estamos todos
encaixados nos processos cíclicos da natureza” (CAPRA, 1996, p. 25). Desenvolvida
por Arne Naess (1912-2009) em meados dos anos 1970, essa escola acredita que
todas as formas de vida apresentam valor intrínseco, independentemente da sua
utilidade para os seres humanos, pois é reconhecido que, num sistema ecológico,
todas as formas humanas ou não humanas estão conectadas (NAESS, 1989).
Nesse contexto, Capra (1996, p.25) expressa que o Pensar ecológico, ou sistêmico,
“[...] concebe o mundo como um todo integrado, e não como uma coleção de partes
dissociadas”. A ecologia profunda e o Pensar ecológico relacionam-se, pois
estimulam ações sustentáveis, incentivando uma atitude ecológica.
A ecologia profunda traz uma nova abordagem da EA, pois se diferencia da
“ecologia rasa”, superficial e antropocêntrica, que entende o ser humano como
estando situado acima ou fora da natureza (CAPRA, 1996). A “ecologia rasa” é
utilizada em atividades formais e não formais como uma suposta EA, somente
informando os indivíduos sobre curiosidades ou fatos sobre o meio, sem
contextualizar ou compreender que o ser humano faz parte do ambiente.
Em seu livro A teia da vida, Capra (1996) apresenta concepções em relação
aos pensamentos e valores enfatizados pela sociedade ocidental nos últimos
séculos. De um lado, ele mostra pensamentos e valores autoafirmativos e, de outro,
pensamentos e valores integrativos (Quadro 1). Os valores e pensamentos
autoafirmativos são aqueles que se relacionam com o antropocentrismo, enquanto
que os valores e pensamentos integrativos estão vinculados ao ecocentrismo.
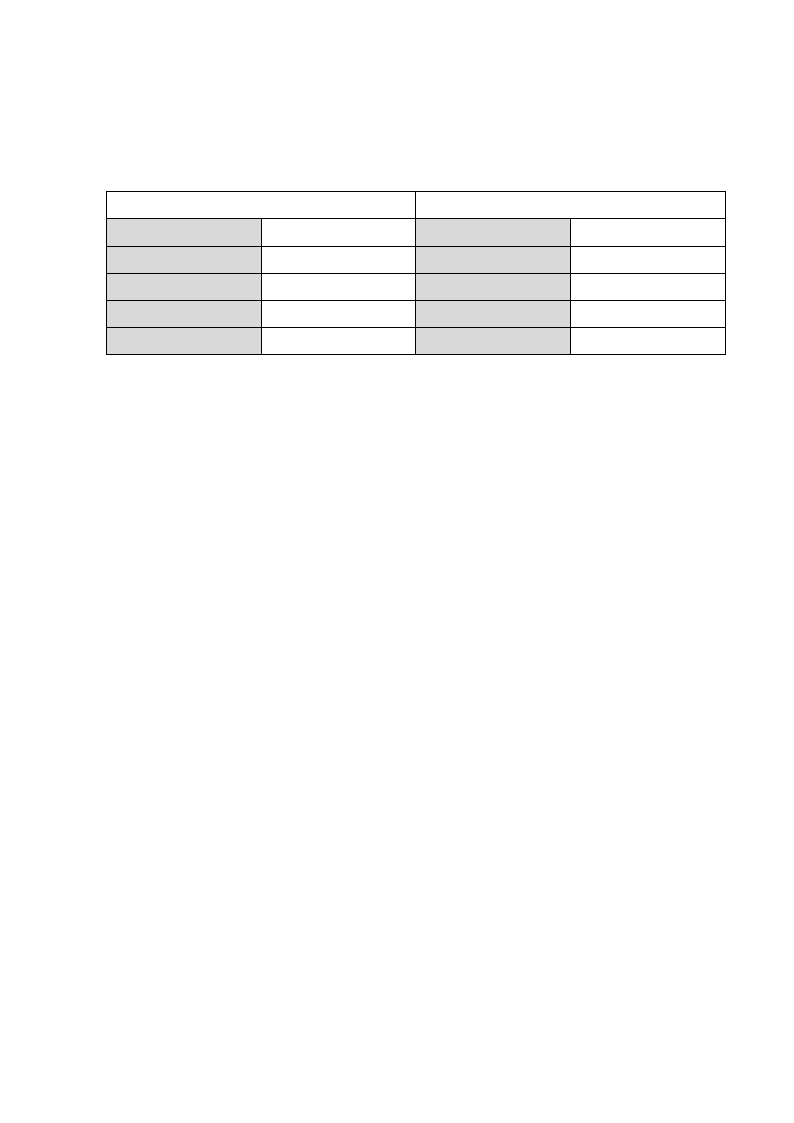
34
Quadro 1 − Quadro comparativo proposto por Fritjof Capra: pensamentos e
valores antropocêntricos e ecocêntricos
Pensamento
Autoafirmativo
Integrativo
Racional
Intuitivo
Análise
Síntese
Reducionista
Holístico
Linear
Não linear
Fonte: Capra (1996, p. 27).
Valores
Autoafirmativo
Integrativo
Expansão
Conservação
Competição
Cooperação
Quantidade
Qualidade
Dominação
Parceria
Teorias propostas por Capra (1996), baseadas nos estudos de ecologia
profunda, foram utilizadas como base para o entendimento do desenvolvimento do
Pensar ecológico nos estudantes. Para Capra (1996), a mudança de paradigmas
para a construção de uma sociedade mais sustentável requer uma expansão de
valores e, dentro disso, o desenvolvimento do Pensamento ecológico, investigado no
presente trabalho, será observado por meio de sinais de expansão de valores e
pensamentos nas ações e falas dos estudantes.
As ideias de Capra (1996; 1982) baseiam-se na teoria chinesa do I Ching, em
que dois polos complementares – yin e yang − mantêm o equilíbrio dinâmico da
Terra há milhares de anos. Capra (1996) afirma que os valores integrativos e
autoafirmativos não são inteiramente bons ou ruins, respectivamente, e que o
Pensamento ecológico será alcançando quando a humanidade alcançar um
equilíbrio entre esses dois: “O que é bom não é yin ou yang, mas o equilíbrio
dinâmico entre ambos, o que é mau ou nocivo é o desequilíbrio entre os dois”
(CAPRA 1982, p.37). Para Boff (2003), as forças integrativas e autoafirmativas
atuam sinergicamente na natureza em equilíbrio e harmonia.
Caso o ser humano apenas se auto-afirmar sem se integrar, se isola e se
inimiza com os demais, sendo ameaçado ou tendo que usar mais e mais
força para se defender. Caso se integrar no todo sem se auto-afirmar, perde a
identidade e acaba desaparecendo, assimilado no todo. (BOFF, 2003, p.16)
Dessa maneira, as atitudes e falas dos participantes do CC não foram
analisadas dentro de um espectro binário bom/ruim. Assim como afirma a teoria do

35
I Ching, o Pensamento ecológico envolve o equilíbrio entre essas duas forças e a
expansão de valores e pensamentos.
A ecologia profunda, por meio do Pensar ecológico, será utilizada na presente
investigação como a maneira de abordar EA. O aperfeiçoamento do Pensar
ecológico pelas atividades propostas neste estudo será medido pelos possíveis
indicadores de mudança presentes nas falas, nos questionários e nos materiais
produzidos pelos estudantes durante os seis encontros no CC. No capítulo de
discussão dos resultados, foi possível analisar, de maneira mais complexa, os
diferentes aspectos do Pensar ecológico.
2.4 Educar pela Pesquisa
O ser humano é naturalmente curioso, com necessidade inata de conhecer.
O grande filósofo grego Aristóteles afirmou: “Todos os homens, por natureza,
desejam saber”. As crianças apresentam a curiosidade de forma ainda mais clara,
constantemente indagando familiares e professores sobre milhares de porquês. No
entanto, essa curiosidade instintiva parece apresentar uma data de validade na
escola. Quanto mais avançam os anos, mais os momentos de questionamentos em
sala de aula tornam-se escassos. Demo (2011, p.11) afirma:
[...] a criança é, por vocação, um pesquisador pertinaz, compulsivo. A escola
muitas vezes atrapalha esta volúpia infantil, privilegiando em excesso
disciplina, ordem, atenção subserviente, imitação do comportamento adulto,
como se lá estivesse para escutar e fazer o que outros lhe mandam.
O questionamento, a dúvida, a vontade de conhecer e a curiosidade são a
base da proposta do Educar pela Pesquisa. Segundo Demo (2011, p.13), o “espírito
questionador também está na base da capacidade de aprender na e da vida”.
Nessa proposta, a pesquisa é o cerne da educação e é realizada pelo
estudante com acompanhamento do professor, que apresenta papel mediador,
direcionando seus orientandos e qualificando suas produções intelectuais. O
professor que permite o protagonismo do estudante em sala de aula estabelece uma
relação de parceria na qual ambos são sujeitos. Já o professor como detentor de
conhecimento estimula o “ensino bancário” (FREIRE, 2000), em que o aluno
simplesmente recebe a informação pronta. Demo (2015, p. 2) declara que “decorre,

36
pois, a necessidade de mudar a definição do professor como perito em aula, já que a
aula que apenas ensina a copiar é absoluta imperícia”. O ensino bancário, da cópia
subalterna e da decoreba, é contrário aos fundamentos do Educar pela Pesquisa,
pois percebe aluno e professor como objetos. Para Moraes (2012, p. 99):
A educação pela pesquisa, superando as limitações da aula tradicional, cópia
da cópia, pretende a transformação dos alunos de objetos em sujeitos da
relação pedagógica, envolvendo-se individualmente e em grupos em
reconstruções e produções, atingindo uma nova compreensão do aprender
tanto para os alunos como para os professores.
Para a proposta do Educar pela Pesquisa, a curiosidade e o interesse dos
estudantes devem ser estimulados constantemente pela escola. Lima (2003, p. 11)
aponta: “Investigar em sala de aula pode, por exemplo, ser um dos modos de
auxiliar os estudantes a entender que aprender não é atitude restrita a uma fase da
vida, mas é sim atitude inerente ao próprio ato de viver”. Nesse sentido, o ato de
pesquisar não é atividade esporádica, mas base dos processos de ensino e
aprendizagem. Para Demo (2015, p.12), a “[...] pesquisa precisa ser internalizada
como atitude cotidiana, não apenas como atividade especial, de gente especial, para
momentos e salário especiais”.
Sabemos que toda solução inicia com um problema e que toda pesquisa inicia
com uma dúvida, um questionamento. Moraes et al. (2012, p. 17) confirmam que
“[...] o questionamento é a mola propulsora da pesquisa em sala de aula”. Na
proposta do Educar pela Pesquisa, a pergunta transforma-se em questionamento
reconstrutivo. O questionamento reconstrutivo é a primeira etapa do processo de
pesquisa e ocorre quando o estudante apresenta um problema a partir de seus
conhecimentos prévios, suas vivências. Para Moraes et al. (2012, p. 13):
É importante que o próprio sujeito da aprendizagem se envolva nesse
perguntar. É importante que ele mesmo problematize sua realidade. Só assim
as perguntas terão sentido para ele, já que necessariamente partirão de seu
conhecimento anterior.
Com base em uma dúvida inicial do estudante, ou grupo de estudantes, o
professor mediador estimula a busca das respostas e, dessa maneira, inicia-se um
processo no qual o professor auxilia o aluno a aprender a aprender. Conforme Lima
(2012, p. 209): “Reconstruir teorias, contraler autores, exercitar − de modo

37
permanente − o questionamento reconstrutivo é forma de ultrapassar o aprender em
direção ao aprender a aprender”.
No ensino tradicional, muitas vezes uma aula em que os alunos interrompem
o professor com diversas perguntas é vista como uma aula confusa, desorganizada,
barulhenta. No entanto, na proposta do Educar pela Pesquisa, o questionamento
reconstrutivo – primeira etapa dessa proposta – é a única maneira de aprender.
Como afirma Moraes et al. (2012, p. 14): “Questionar é criar as condições de
avançar”.
Para que algo possa ser aperfeiçoado, é preciso criticá-lo, questioná-lo,
perceber seus defeitos e limitações. É isso que possibilita pôr em movimento
a pesquisa em sala de aula. O questionar se aplica a tudo que constitui o ser,
quer sejam conhecimentos, atitudes, valores, comportamentos e modos de
agir. (MORAES et al., 2012, p. 13)
Essa mudança do formato de sala de aula muitas vezes é entendida como um
desafio para o professor. Conforme Frison (2012), o professor utiliza o
questionamento reconstrutivo como forma de mediar novas reflexões e
argumentações.
O questionamento inicia a partir das vivências do estudante, e é preciso que
ocorra a construção de argumentos para preencher as lacunas dos seus
conhecimentos. Para responder as suas perguntas, os estudantes precisam de
auxílio, não somente do professor. As informações que auxiliarão os estudantes a
argumentar podem ser originadas de livros e da Internet, ou de estudo empírico,
como entrevistas, experiências e observações diretas de fenômenos. Conforme
Moraes (2012), as respostas aos questionamentos dos estudantes vêm deles
mesmos, mas precisam estar ancoradas em argumentos de pesquisadores que já
estudaram determinado assunto. O autor chama isso de interlocução teórica: “[...]
bons argumentos são ancorados em dados da realidade” (MORAES, 2012, p.98).
A construção de argumentos, segunda etapa da proposta do Educar pela
Pesquisa, é fundamental para avançar na aprendizagem. Conforme Lima (2003, p.
81), “[...] o exercício de argumentar em sala de aula é ato essencial como forma de
os alunos refazerem suas ideias com maior clareza e precisão num processo que
visa à qualificação destas ideias”.
O conhecimento conquistado por meio da leitura crítica, da busca de novas
informações, de entrevistas ou observações deve ser compartilhado com a
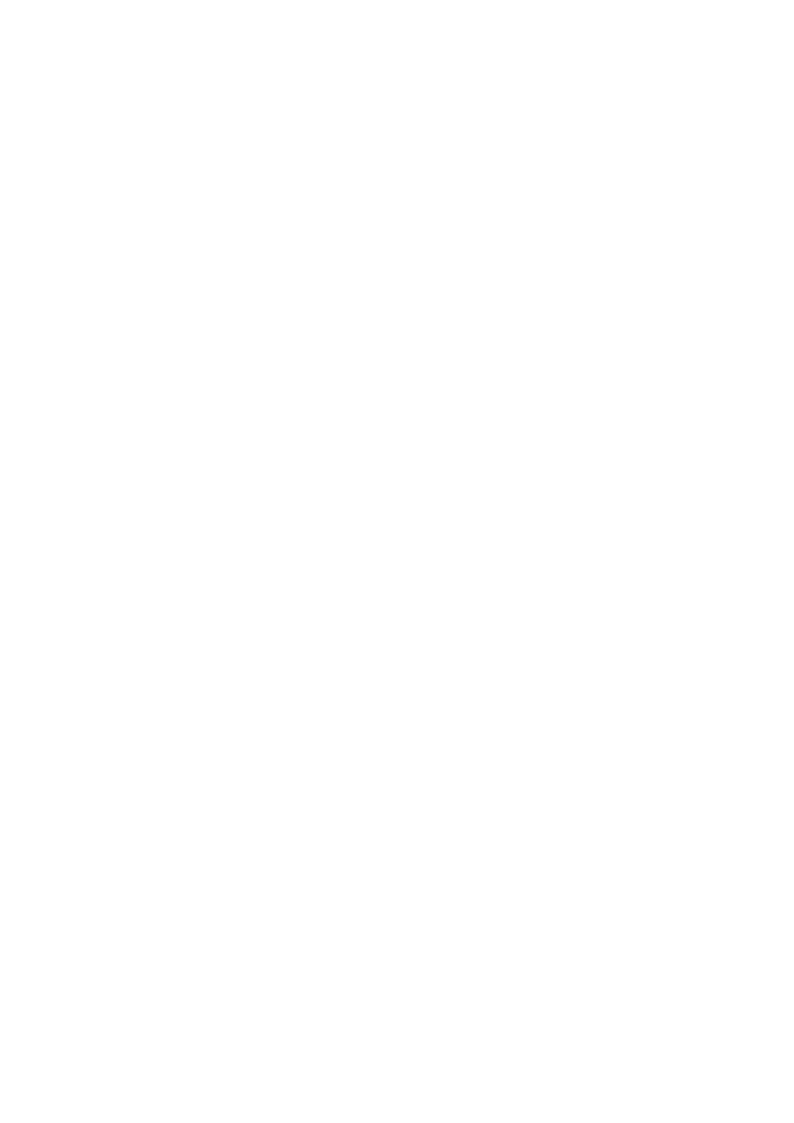
38
comunidade escolar. Segundo Moraes et al. (2012, p. 16): “Produzir argumentos é
envolver-se numa produção. É ir aos livros, é contatar pessoas, é realizar
experimentos. É, finalmente, expressar os resultados em forma de uma produção,
geralmente escrita”. A terceira etapa do Educar pela Pesquisa não precisa
necessariamente ser realizada por meio da construção de material escrito, mas pode
desenvolver-se, por exemplo, por apresentação oral ou construção de material
lúdico. Lima (2003) expressa que o professor direciona maneiras para o aluno
desenvolver os seus argumentos oralmente ou por escrito.
A comunicação não é somente pura verbalização dos novos entendimentos, é
também abrir espaço em sala de aula para que os estudantes possam receber
críticas construtivas de seus colegas, permitindo a construção e reconstrução do
conhecimento. Moraes (2012) salienta a importância da comunicação dos resultados
do processo de pesquisa como forma de validação na comunidade escolar: “O
diálogo crítico pode constituir-se em elemento de integração e mediação na
utilização da pesquisa em sala de aula” (MORAES, 2012, p. 101).
O desafio da atividade realizada em grupo é associado à capacidade de o
estudante comunicar-se, expressar seus pontos de vista e escutar o dos outros. “O
grupo por excelência é um local para o desenvolvimento de capacidades
argumentativas orais. Nele a linguagem é exercitada.” (MORAES, 2012, p. 100). Por
essa razão, a pesquisa valoriza o trabalho individual tanto quanto o trabalho em
grupo, e entende que determinados momentos do processo de pesquisa demandam
essas diferentes abordagens.
[...] A aprendizagem na educação pela pesquisa ocorre tanto em grupos
como na atuação individual, atingindo-se em cada tipo de envolvimento fins
específicos. Há momentos em que o grupo concentra as atenções. Noutras
oportunidades o foco é o sujeito em sua atuação individual. (MORAES, 2012,
p. 100)
A argumentação, o diálogo crítico e a comunicação, partes da pesquisa,
estimulam a autonomia dos estudantes. Para Frison (2012, p. 107):
O aluno, nesse fazer, precisa se sentir motivado, rompendo as barreiras do
medo, caminhando em busca da autorrealização, da autonomia, da
capacidade de expressão, da sua transformação em sujeito da própria
prática, da própria história.

39
A confiança em si mesmo como um ser competente em buscar as respostas
para seus questionamentos estimula o estudante a continuar o processo de
pesquisa. Um aluno autônomo sente-se desafiado pelo ensino e estimulado a
aprender. Demo (2011) afirma que a educação é capaz de transformar o aluno de
objeto para sujeito, principalmente pela formação de competência.
Um estudante com autonomia estabelece uma nova relação com seu
professor, pois, agora, ambos como sujeitos são parceiros de pesquisa. Para Frison
(2012, p. 106), “[...] educar pela pesquisa exige um novo posicionamento tanto do
aluno como do professor”. Moraes (2012) considera que o processo de pesquisa
muda a maneira como o professor entende o aluno, pois aquele consegue ver esse
como um sujeito com capacidade de pensamento próprio. No momento em que o
professor permite ao estudante assumir seu papel como protagonista em sala de
aula, o professor assume uma postura de mediador do processo de aprendizagem, e
não a de detentor da informação e fonte de todo o conhecimento.
Na educação pela pesquisa o professor cria espaços efetivos para o aluno
questionar, argumentar e escrever, entrelaçando conteúdos escolares e
realidade, num processo que tem no diálogo o elemento integrador de tais
princípios, visando à realização de aprendizagem com qualidade formal e
política. (LIMA, 2003, p. 195)
Finalmente, o Educar pela Pesquisa propõe a transformação do estudante em
sujeito cidadão, crítico e consciente. Pesquisar em sala de aula permite o
desenvolvimento de características nos estudantes que serão úteis para sua vida,
para seus próximos desafios. Segundo Lima (2012, p. 205):
O questionamento reconstrutivo, a formulação pessoal, a capacidade de
analisar/interpretar e a competência argumentativa são algumas das atitudes
possíveis de incorporar-se ao acervo cognitivo do sujeito, do qual ele vai
lançar mão para realizar aprendizagens futuras.
O Educar pela Pesquisa apresenta como proposta um estudante protagonista,
que juntamente com seu professor-mediador constrói conhecimentos por meio do
questionamento reconstrutivo. Frison (2012, p. 114) aponta: “Pesquisar transforma-
se no grande mecanismo de uma nova proposta educacional, envolvendo
professores e alunos num processo de questionamento, construção e reconstrução”.
Trabalhar em conjunto significa muito nessa abordagem em que educadores e

40
educandos seguem e aprendem juntos. “A realidade está em constante
transformação. Assumir-se como sujeito nessa transformação é assumir o papel de
agente histórico.” (MORAES et al., 2012, p. 20).
O Educar pela Pesquisa subsidiou a construção da unidade de
aprendizagem (UA), especialmente por duas razões. Primeiro porque a sua
abordagem aprofundada em relação ao processo de ensino permite que o aluno seja
sujeito de sua aprendizagem. O espaço do Clube de Ciências é planejado para
desenvolver novos conhecimentos por meio de metodologias em que os estudantes
sentem-se, ao mesmo tempo, curiosos e protagonistas. Segundo porque a UA é a
forma de estruturar o ensino associada ao Educar pela Pesquisa. A pesquisa é
considerada a base do conhecimento escolar para o Educar pela Pesquisa, e seus
princípios são colocados em prática por meio de uma UA. “[...] Quanto maior o
contato com a pesquisa na sala de aula, maior será a capacidade de crítica, criação,
discussão, escrita, argumentação, debate, questionamento e comunicação
desenvolvida junto com o aluno.” (FRESCHI; RAMOS, 2009, p.159).
2.5 Unidade de aprendizagem
A unidade de aprendizagem (UA) é um modo de organização e construção
curricular baseado no Educar pela Pesquisa. Nela o estudante consegue
desenvolver o questionamento reconstrutivo, a argumentação de ideias e a
comunicação de novos conhecimentos. Galiazzi et al. (2004, p.14) afirmam:
[...] uma unidade de aprendizagem, como a entendemos, se estrutura, de um lado, no
construtivismo, no educar pela pesquisa e na complexidade, e por outro, na
explicitação do conhecimento do grupo, na construção de um discurso fundamentado,
na capacidade de argumentação construída pelo diálogo, pela leitura e pela escrita.
As propostas do Educar pela Pesquisa precisam ser desenvolvidas a partir de
um currículo inovador que permita aplicar todos os seus pressupostos − referidos
anteriormente. No entanto, o currículo sequencial da escola tradicional não comporta
essas condições. Para Galiazzi et al. (2004), o desenvolvimento de unidades de
aprendizagem permite superar a organização sequencial do currículo escolar, que
tem sido, historicamente, apenas uma cópia respectiva dos livros didáticos aliada a
uma maneira tradicional de planejamento das aulas. Freschi e Ramos (2009, p. 157)

41
afirmam que a UA “[...] visa à superação do planejamento linear vigente em grande
parte dos atuais currículos e livros didáticos adotados nas escolas”.
A UA irrompe como alternativa ao currículo tradicional, que deve
obrigatoriamente seguir a sequência lógica determinada pelo livro didático ou núcleo
escolar. “[...] As unidades de aprendizagem seriam modos alternativos de
planejamento, elaboração e organização dos trabalhos em sala de aula.” (GALIAZZI
et al., 2004, p. 68). A UA modifica o planejamento da sala de aula, pois não utiliza
plano desenvolvido anteriormente por outros profissionais, ou seja, livros didáticos
engessados. Conforme Freschi e Ramos (2009, p.158):
Por meio da UA o professor deixa de ser um replicador de propostas
apresentadas em materiais elaborados por outros autores, como é o caso do
livro didático, que é considerado nesse processo mais um recurso a ser
utilizado na sala de aula.
Pelos pressupostos do Educar pela Pesquisa, uma UA inicia com uma
indagação do estudante. Para Galiazzi et al. (2004, p. 75), “uma unidade de
aprendizagem sempre precisa ser pensada para favorecer a explicitação do
conhecimento do grupo”. O questionamento inicial deve surgir do grupo de alunos.
No entanto, uma UA é elaborada por um grupo de professores visando à qualidade
da aprendizagem do estudante protagonista. A UA é construída pelos professores
de maneira investigativa, dinâmica e flexível (GALIAZZI et al., 2004). Conforme
Sanmartí (2000), o professor tem autonomia para tomar decisões sobre a estrutura
do currículo e a organização da UA, podendo utilizar como base livros didáticos,
porém sempre os adaptando às suas necessidades.
Uma UA é estruturada a partir de perguntas dos alunos que auxiliem a
entender o contexto da sala de aula, pois o objetivo é valorizar os conhecimentos
anteriores do grupo, permitindo que os alunos participem (indiretamente) do
processo de elaboração do currículo escolar. A UA pode também ser apoiada em
justificativas de determinado conjunto de conteúdos importantes para a
aprendizagem dos estudantes. Contextualizar é estabelecer relações entre o
cotidiano do estudante e os conhecimentos acadêmicos, de maneira a compreender
quem é o aluno a partir de suas perguntas. Para Freschi e Ramos (2009, p. 168):
É importante a contextualização do objeto de estudo, envolvendo, se
possível, aspectos da realidade e da vida dos envolvidos. Esses saberes são

42
a base das aprendizagens que ocorrem em sala de aula e fora dela. Para
isso, é importante organizar as atividades, de modo que forneçam condições
para o estabelecimento de relações e constituir significados mais complexos.
O desenvolvimento da UA estabelece uma relação positiva entre o professor
e o aluno, em que o educador busca aprender mais sobre o modo de vida e de
aprendizagem de seu educando. As atividades que compõem uma UA são
pensadas para cativar e atrair o interesse do estudante. Conforme Freschi e Ramos
(2009, p. 158), “[...] é necessário que o professor dê sentido à seleção das
atividades propostas durante o desenvolvimento da UA, para que o aluno perceba
que estão vinculadas à sua realidade e passe a participar dessa aprendizagem”. O
professor que conhece seus alunos tem autonomia para organizar as atividades que
vão compor o currículo programado. Sanmartí (2000) expressa que a seleção de
atividade dentro da UA depende de como o professor entende qual a melhor
maneira para seus alunos aprenderem.
Além disso, como nas propostas do Educar pela Pesquisa, durante a
realização da UA, professor e alunos são parceiros e trabalham juntos como sujeitos
de reconstrução do conhecimento. Para Freschi e Ramos (2009, p.158), no “trabalho
desenvolvido por meio da UA, o professor passa de uma posição em que é
considerado o ‘dono do saber’ para, junto com os alunos, ser mediador da
aprendizagem”. O professor mediador auxilia o desenvolvimento dos conceitos
dentro do ambiente de aula, no entanto o estudante, no papel de sujeito, é
responsável por sua aprendizagem. “Ressalta-se, ainda, que em situações como a
UA, quem responde às questões formuladas são os próprios educandos, mediados
pelo professor.” (FRESCHI; RAMOS, 2009, p. 165).
Uma UA apresenta essencialmente cunho de pesquisa interdisciplinar, e por
essa razão pode ser utilizada em diferentes projetos escolares. Para Galiazzi et al.
(2004, p. 69):
[...] ao planejar as aulas por meio de unidades de aprendizagem, potencializa-
se a participação e integração de alunos e professores das diferentes áreas
do conhecimento em um trabalho essencialmente interdisciplinar.
Juntamente com a pesquisa ativa, a realização de atividades práticas, em
sala de aula ou fora do ambiente escolar, permite novos modos de aprendizagem. A
realização de atividades práticas em um ambiente de laboratório não formal
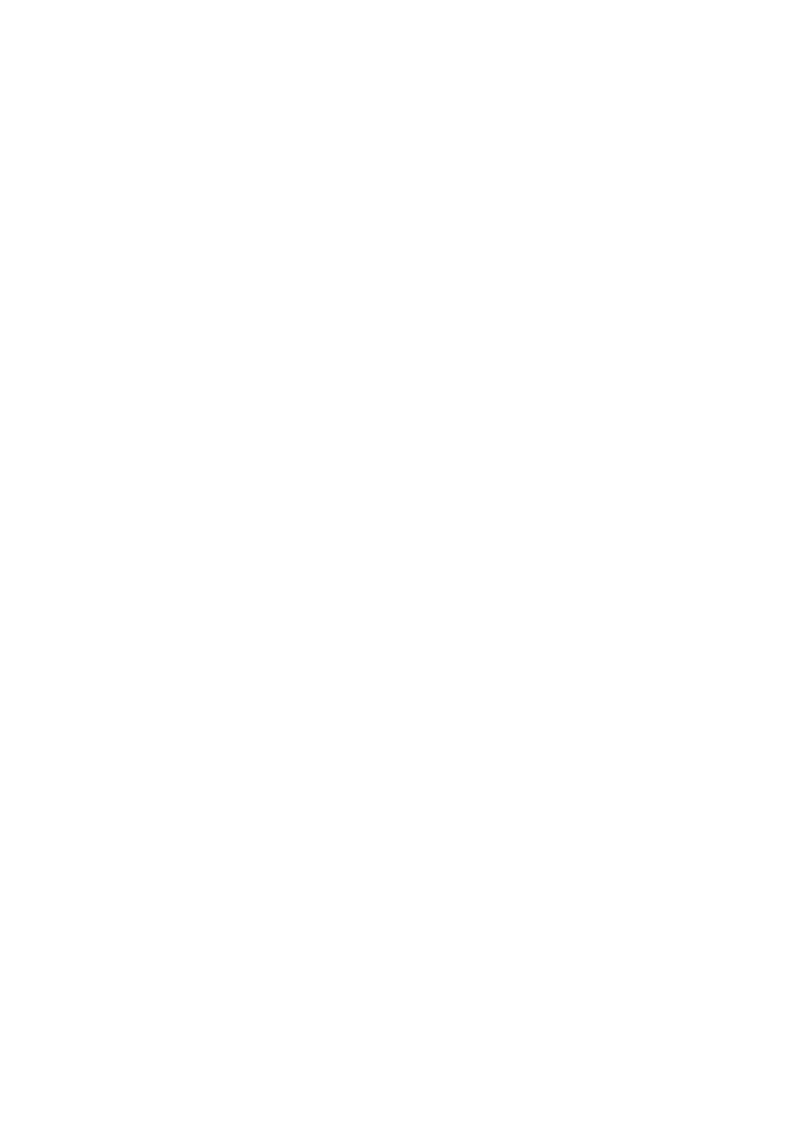
43
possibilita novas experiências. Segundo Sanmartí (2000), as atividades práticas
possibilitam que o estudante tenha acesso a conhecimentos que não alcançaria
sozinho. Dessa forma, explicita-se que o currículo escolar realizado por meio de uma
UA é flexível, ou seja, é modificado com o fazer. A UA é construída de maneira
dialógica, em que, em cada encontro, ocorre a reconstrução dos conteúdos a partir
da interação professor-aluno. Para Freschi e Ramos (2009, p. 157), a “UA é um
processo organizado, porém flexível, que possibilita a reconstrução do conhecimento
dos educandos, considerando seus interesses, desejos e necessidades”.
Para a realização da UA é necessário que ocorra comunicação entre os
alunos e o professor. Na sala de aula em que trabalhos são realizados
individualmente, o professor somente fala e o aluno somente copia, e não há espaço
para comunicação. Para Sanmartí (2000), é impossível existir comunicação quando
somente as atividades individuais que valem nota são valorizadas. Em uma UA, são
valorizados os trabalhos cooperativos ao invés da competição. Durante a elaboração
do currículo, é importante organizar momentos para a realização de atividades
individuais e em grupo, pois por meio da comunicação entre os estudantes ocorre a
reconstrução do conhecimento.
Como consequência, ao final de uma UA o estudante sente-se estimulado
para o início de uma próxima unidade, pois entende que será desafiado no seu
próprio tempo e contexto. Para Freschi e Ramos (2009, p. 157), a UA constitui-se
“[...] em um conjunto de atividades selecionadas para o estudo de um tema
específico ou interdisciplinar, com vistas à reconstrução do conhecimento dos
participantes, bem como ao desenvolvimento de habilidades e atitudes”. Para
Galiazzi et al. (2004, p. 70):
[...] uma unidade de aprendizagem se faz em conjunto e em processo. Vale
lembrar que o planejamento engloba todos os momentos, desde a escolha do
tema até a avaliação da própria unidade, bem como inclui o permanente
questionamento sobre a coerência das relações entre esses pontos
estruturantes.
No presente estudo, será desenvolvida uma UA com proposta ambiental
intitulada Do macro para o micro − Agir local, Pensar global. Conforme Reigota
(2009, p.18): “‘Os cidadãos e cidadãs do mundo’, atuando nas suas comunidades, é
a proposta traduzida na frase muito usada nos meios ambientalistas: ‘Pensamento
global e ação local, ação global e pensamento local’”. A UA foi escolhida para

44
trabalhar os pressupostos do Educar pela Pesquisa em um ambiente de Clube de
Ciências em razão do questionamento reconstrutivo, currículo flexível, pesquisa,
atividade prática e trabalho em grupo.
A unidade de aprendizagem de seis encontros construída na presente
investigação será explicada detalhadamente no próximo capítulo.

45
3 METODOLOGIA
3.1 Abordagem de pesquisa
A presente pesquisa é de caráter qualitativo. Essa abordagem relaciona-se
com o estudo por meio de algumas características como, por exemplo, busca pela
compreensão do processo, amostra de pequeno número, envolvimento do
investigador, análise de material escrito, investigação em campo e relação sujeito-
pesquisador. A seguir, são apresentadas algumas dessas características, seu
referencial teórico e sua relação com este estudo.
A estrutura de uma pesquisa qualitativa é bastante diferente da de uma
pesquisa quantitativa, pois, como afirmam Moraes e Galiazzi (2011), o objetivo de
estudos dessa natureza não é somente refutar ou comprovar hipóteses, mas, sim,
compreender um fenômeno estudado. Para Bogdan e Biklen (1994, p. 49), os
“investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente
pelos resultados ou produtos”. O objetivo principal da pesquisa qualitativa é entender
o caminho percorrido, e não necessariamente a chegada. Relacionando com valores
quantitativos matemáticos, no estudo qualitativo busca-se compreender como foram
realizadas as equações, ao invés de somente descobrir o valor final. Ao falar do
pesquisador de pesquisa qualitativa, Lüdke e André (1986, p. 12), afirmam que o
“interesse do pesquisador ao estudar um determinado problema é verificar como ele
se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas”.
Por preocupar-se pelo processo, a abordagem qualitativa não valoriza
apenas estudos realizados com grande número amostral como ocorre, por exemplo,
na pesquisa quantitativa. Qualitativamente, uma investigação com pequeno número
amostral é considerada válida, pois a observação de um grupo, independentemente
de seu tamanho, é significante. Para Gerhadt e Silveira (2009, p. 32): “A pesquisa
qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser
quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações
sociais”.
Além disso, na pesquisa qualitativa, a relação do pesquisador com o sujeito
de pesquisa é próxima. Conforme Minayo (2002), a pesquisa qualitativa busca
aprofundar e compreender o significado e o valor das relações, ao invés de trabalhar

46
somente com isolamento de variáveis. Nela, o pesquisador valoriza a realidade do
sujeito, e busca compreendê-la por meio de seu olhar científico. Bogdan e Biklen
(1994) apontam que o significado é importante na abordagem qualitativa, pois o
pesquisador deseja entender as maneiras pelas quais diferentes pessoas com
diferentes modos dão sentido às suas vidas. Na pesquisa qualitativa, mesmo ao
buscar o máximo de neutralidade, o pesquisador envolve-se na investigação. Para
Gerhadt e Silveira (2009, p. 32): “O cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto
de suas pesquisas”. O pesquisador deve colocar-se no lugar do pesquisado,
buscando compreender suas verdades, assim como explica Stake (1995) quando diz
que o estudo qualitativo, além de holístico, empírico e interpretativo, é também
empático. Durante os seis encontros do CC, participei como monitora e também
como investigadora.
As relações entre os sujeitos, independentemente de seu número amostral,
são analisadas na pesquisa qualitativa por meio de registros escritos. A pesquisa
qualitativa comumente baseia-se na coleta, análise, interpretação e produção de
material textual. A origem dos textos pode ser das mais variadas: entrevistas,
transcrições de áudio, diário de pesquisa ou bibliografia. Conforme Bogdan e Biklen
(1994), a pesquisa qualitativa é essencialmente descritiva, pois utiliza palavras e
imagens ao invés de números, como ocorre na quantitativa. Lüdke e André (1986, p.
12) sinalizam: “O material obtido nessas pesquisas é rico em descrições de pessoas,
situações, acontecimentos; inclui transcrições de entrevistas e de depoimentos,
fotografias, desenhos e extratos de vários tipos de documentos”.
Outra característica que diferencia a pesquisa qualitativa da abordagem
quantitativa é a necessidade de o pesquisador conhecer e analisar seu sujeito em
seu contexto original. “A pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do
pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada, via de regra
através de trabalho intensivo de campo.” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 11). O
pesquisador do método qualitativo deve apropriar-se intensamente da circunstância
na qual se insere, em um processo de impregnação. Para isso, grande parte dos
estudos qualitativos é realizada em campo, ou seja, o pesquisador convive com o
sujeito de estudo, buscando meticulosamente analisar seus hábitos, seus costumes
e suas verdades. Nessa abordagem, o sujeito deve ser observado em seu ambiente
natural, seja esse escola, sala de aula, grupo de estudos, comunidade, bairro ou
família. Para Bogdan e Biklen (1994, p. 48), os “investigadores qualitativos

47
frequentam os locais de estudo porque se preocupam com o contexto. Entendem
que as ações podem ser melhor compreendidas quando são observadas no seu
ambiente habitual de ocorrência”.
Nesta pesquisa, foi realizada uma investigação em campo com um pequeno
número de sujeitos, em que foram analisados os processos pelos quais os alunos
recebem uma UA sobre Educação Ambiental no Clube de Ciências. Além disso,
exerci papel de mediadora das atividades da UA e, ao mesmo tempo, analisei o
comportamento e as afirmações dos sujeitos.
3.2 Tipo de pesquisa
Dentro da abordagem qualitativa, será utilizado o estudo de caso, que é um
dos tipos mais antigos de pesquisa qualitativa e, para muitos autores, o método
básico e essencial. Flick (2009) considera que o estudo de caso foi por muito tempo
o principal elemento dentro da pesquisa qualitativa. O estudo de caso permite a
investigação de determinada situação mediante um planejamento de ações
preestabelecidas a partir de um referencial teórico. Para Yin (2015, p. 17), o estudo
de caso é “[...] uma investigação empírica que investiga um fenômeno
contemporâneo em profundidade e em seu contexto de mundo real, especialmente
quando os limites entre o fenômeno e o contexto puderem não ser claramente
definidos”. Em um estudo de caso, é comum observar os comportamentos do sujeito
em seu ambiente natural. Assim, é importante compreender o contexto social e
histórico a que o sujeito pertence.
Estudos de caso trabalham com sujeitos predefinidos delimitados como, por
exemplo, pessoas ou salas de aula. No entanto, esse tipo de pesquisa não
apresenta maior simplicidade de investigação em comparação com outros métodos.
Assim como afirma Yin (2015), o estudo de caso é utilizado para estudar fenômenos
sociais complexos, sejam eles individuais, coletivos, organizacionais, sociais ou até
políticos. Conforme Lüdke e André (1986), emprega-se o estudo de caso para
investigar situações únicas e particulares, que eventualmente podem apresentar
semelhanças com outros casos. “Quando queremos estudar algo singular, que tenha
um valor em si mesmo, devemos escolher o estudo de caso.” (LÜDKE; ANDRÉ,
1986, p.17).

48
Yin (2015) indica que esse tipo de investigação diferencia-se de outras
estratégias porque utiliza duas técnicas principais: a observação direta e a
realização de entrevistas. Além disso, durante o desenvolvimento do estudo de
caso, é possível utilizar diferentes recursos, como documentos e artefatos históricos
ou pessoais.
A presente investigação foi realizada por meio de estudo de caso, situando-
se na realidade dos encontros de um Clube de Ciências da PUCRS a partir do
desenvolvimento de uma unidade de aprendizagem de temática ambiental.
Para a investigação, foi utilizada coleta de dados a partir de diferentes fontes
por meio da triangulação. “A triangulação implica na utilização de abordagens
múltiplas para evitar distorções em função de um método, uma teoria ou um
pesquisador.” (GÜNTHER, 2006, p.206). Além do recurso de coleta de dados das
entrevistas, foram utilizados gravações de áudio, análise do material produzido pelos
alunos, diário de campo, entre outros. Yin (2005) recomenda o uso de mais de uma
fonte de evidências e relaciona a utilização desse fundamento com a qualidade do
trabalho. Para Flick (2009, p.32): “A triangulação supera as limitações de um método
único por combinar diversos métodos e dar-lhes igual relevância”.
3.3 Sujeitos de pesquisa
Os sujeitos de pesquisa são 11 estudantes de 6.º ano do Ensino Fundamental
de um colégio particular participantes de um Clube de Ciências da PUCRS (Porto
Alegre/RS). Os clubistas inscrevem-se voluntariamente devido ao seu interesse pela
participação no Clube de Ciências. Anualmente, os CC selecionam entre 10 e 20
estudantes de cada escola registrada para participar de atividades e experimentos.
O espaço do Clube de Ciências foi escolhido devido a sua importância na formação
dos estudantes do curso de licenciatura da Faculdade de Ciências Biológicas da
PUCRS e nas aprendizagens dos estudantes de Ensino Fundamental.
Com o objetivo de evitar a identificação dos sujeitos, foram escolhidos nomes
fictícios para cada clubista. Os nomes foram escolhidos aleatoriamente pelos
estudantes por meio da dinâmica de apresentação Teia da vida no primeiro encontro
e foram utilizados para identificar os sujeitos no capítulo de análise dos resultados.
Em ordem alfabética, os nomes fictícios são: Água, Árvore, Canguru, Eletricidade,

49
Folha, Fogo, Onça, Raposa, Rocha, Sol e Tubarão. Um total de 11 alunos, sendo
seis meninos e cinco meninas.
Durante os encontros do CC, quatro monitores estavam presentes, sendo um
homem (identificado como monitor) e três mulheres (identificadas como monitoras e
pesquisadora). Além dos quatro monitores, também estavam presentes a professora
coordenadora do CC, vinculada à PUCRS, e o professor de Ciências dos
estudantes, vinculado ao colégio particular dos alunos.
3.4 Coleta de dados
Para Marconi e Lakatos (2003, p. 165), a coleta de dados é a “[...] etapa da
pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas
selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos”. Os instrumentos de
coleta de dados utilizados foram questionários, observação, material produzido pelos
estudantes, gravação de áudio e diário de campo.
3.4.1 Questionários
A aplicação de questionários foi uma das maneiras de coletar algumas
concepções e percepções dos sujeitos ao longo dos seis encontros. “Questionário é
um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de
perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do
entrevistador.” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 201). Foram elaborados dois
questionários semelhantes utilizados em duas situações distintas, sendo um
instrumento preenchido no primeiro encontro e o outro no sexto (e último) encontro.
Os questionários utilizados buscaram compreender as percepções dos estudantes
em relação a diferentes aspectos do meio ambiente. Conforme Gil (2008, p. 121):
Pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por um
conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de
obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores,
interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou
passado, etc.
Foram realizadas questões do tipo abertas, em que o sujeito pode responder
de maneira discursiva. “Nas questões abertas solicita-se aos respondentes para que
ofereçam suas próprias respostas. [...] Este tipo de questão possibilita ampla

50
liberdade de resposta.” (GIL, 2008, p. 122). Marconi e Lakatos (2003) entendem que
o questionário aberto apresenta algumas vantagens, entre elas o fato de, protegido
pelo anonimato, o sujeito sentir-se mais livre. Além disso, os autores também citam o
menor risco de distorção por parte do investigador, pois ele não está presente
durante o preenchimento das questões. Esse instrumento foi utilizado para obter
termos cunhados pelos próprios alunos sem intervenção da investigadora. Fonseca
(2002) considera que questões abertas são utilizadas quando um assunto precisa
ser estudado em sua profundidade. Foram utilizadas questões de associação de
palavras, em que os participantes do CC descreveram suas respostas com termos
simples, expressões ou palavras independentes.
3.4.2 Observação
A observação direta dos fenômenos foi um dos instrumentos selecionados
para coleta de dados nesta investigação. Segundo Lüdke e André (1986, p. 26): “A
observação direta permite também que o observador chegue mais perto da
‘perspectiva dos sujeitos’, um importante alvo nas abordagens qualitativas”. Durante
os seis encontros, no papel de monitora e investigadora foram realizadas
observações diretas com o objetivo de identificar a relação entre os alunos e a
maneira como compreendem a UA. Reis (2011) afirma que a observação de aula
permite examinar as estratégias e metodologias utilizadas e o relacionamento entre
professor e estudante. “A observação nada mais é que o uso dos sentidos com
vistas a adquirir os conhecimentos necessários para o cotidiano.” (GIL, 2008, p.
100).
A observação, em uma investigação qualitativa, pode ser usada com vários
propósitos. Reis (2011) expressa que a observação apresenta diversas
possibilidades de utilização, em múltiplos cenários e com diversas finalidades como,
por exemplo, testar prováveis soluções para resolver um problema. Para Gil (2008),
a vantagem da observação para outras técnicas é que nela os fatos são percebidos
sem intermediação, reduzindo a subjetividade, que é comum no processo de
investigação social. A observação direta também é uma técnica utilizada para
examinar a qualidade do ensino nas escolas. “A observação desempenha um papel
fundamental na melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem [...].”(REIS,
2011, p. 11).

51
Na função de monitora, foram realizadas intervenções em diversos momentos
da investigação. Por essa razão, foi realizada a observação do tipo participante, em
que o pesquisador participa do fenômeno estudado. Como apontam Lüdke e André
(1986, p. 29): “O ‘observador como participante’ é um papel em que a identidade do
pesquisador e os objetivos do estudo são revelados ao grupo pesquisado desde o
início”. A observação participante permite ao investigador ter acesso a um grande
número de informações, pois ele está convivendo juntamente com os sujeitos. Gil
(2008, p. 103) considera que esse tipo de observação “[...] consiste na participação
real do conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação
determinada. Neste caso, o observador assume, pelo menos até certo ponto, o
papel de um membro do grupo”. Para Minayo (2002, p. 59), a “técnica de
observação participante se realiza através do contato direto do pesquisador com o
fenômeno observado para obter informações sobre a realidade dos atores sociais
em seus próprios contextos”.
A observação foi realizada individualmente, de forma que apenas um
pesquisador observa e interpreta os fenômenos. Para Marconi e Lakatos (2003),
essa é uma tarefa difícil, pois o professor pode realizar inferências ou distorções
devido à limitada possibilidade de controle; no entanto, não é uma técnica
impossível de ser realizada. Durante os seis encontros, a observação direta dos
fenômenos foi realizada com certa dificuldade devido à função dupla de
investigadora e monitora. Lüdke e André (1986, p.17) apontam: “Um dos grandes
desafios da abordagem etnográfica refere-se ao papel e às tarefas exercidas pelo
observador. As habilidades exigidas desse profissional não são poucas nem
simples”.
3.4.3 Gravação de áudio
Com o objetivo de melhor interpretar as atividades que ocorreram no Clube,
foram realizadas gravações de áudio dos encontros, as quais, após a coleta, foram
transcritas. Segundo Gil (2008, p. 105), o “registro da observação é feito no
momento em que esta ocorre e pode assumir diferentes formas. A mais frequente
consiste na tomada de notas por escrito ou na gravação de sons ou imagens”. As
gravações de áudio das falas dos encontros e a posterior transcrição auxiliaram o
entendimento do ocorrido com melhor exatidão, visto que foi desempenhado papel

52
duplo de investigadora e monitora. Conforme Minayo (2002), é possível realizar
anotações simultâneas aos acontecimentos ou utilizar gravações para registrar as
falas dos sujeitos. Além disso, escutar os áudios e transcrevê-los auxiliou o processo
de impregnação do material coletado pela investigadora. A impregnação do material
é característica valorizada pela Análise Textual Discursiva, o processo de análise
escolhido e que será abordado adiante.
3.4.4 Diário de campo
A atividade realizada no CC foi registrada por meio de diário de campo.
Conforme Zabalza (2004, p. 13), os “diários de aula [...] são os documentos em que
professores e professoras anotam suas impressões sobre o que vai acontecendo em
suas aulas”. Apesar de encontrar dificuldades, ao longo dos encontros do CC foi
possível organizar momentos para registrar acontecimentos importantes e notáveis
para o objetivo da investigação. Por apresentar uma estrutura de aula mais flexível,
intercalada por experimentos, os encontros permitiram intervalos em que as
anotações foram realizadas. Além disso, por apresentar múltiplos monitores, a
supervisão do encontro é dividida, surgindo momentos mais tranquilos para o
registro.
Para Zabalza (2004), as definições atuais de diário de pesquisa são amplas,
pois o conteúdo, o processo de coleta e a análise variam dependendo do intuito da
pesquisa. “O conteúdo dos diários pode ser coisa que, na opinião de quem escreve
o diário, seja destacável.” (ZABALZA, 2004, p. 14). O diário de campo, ou de aula, é
um documento construído durante o trabalho em campo a partir da observação do
pesquisador. Além de anotações exatas de acontecimentos, também foram
registradas percepções da investigadora a partir de ações ou falas dos sujeitos.
Minayo (2002) observa sobre o diário de campo:
Nele diariamente podemos colocar nossas percepções, angústias,
questionamentos e informações que não são obtidas através da utilização de
outras técnicas. O diário de campo é pessoal e intransferível. Sobre ele o
pesquisador se debruça no intuito de construir detalhes que no seu somatório
vai congregar os diferentes momentos da pesquisa. (MINAYO, 2002, p. 63)
Zabalza (2004) também expressa que os diários de campo não
necessariamente precisam ser utilizados diariamente, mas precisam apresentar uma

53
linha de continuidade, uma sistematicidade e periodicidade. Na presente
investigação, os diários de pesquisa foram utilizados semanalmente, respeitando a
periodicidade dos encontros do CC. Como material de coleta, o diário foi uma
valiosa técnica, pois permitiu registrar observações da investigadora as quais foram
utilizadas posteriormente como material de análise para a construção das categorias
dos resultados.
3.5 Análise de dados
O método de análise dos dados utilizado foi a Análise Textual Discursiva
proposta por Moraes e Galiazzi (2011). A Análise Textual Discursiva (ATD) por
definição aplica-se principalmente para a interpretação de informações provenientes
de textos. Os textos analisados podem advir de diversas origens como, por exemplo,
entrevistas, depoimentos, gravações de áudio, registros escritos de observações
diretas, documentos preexistentes, diálogos, discursos, jornais, revistas, cartazes,
entre outros (MORAES; GALIAZZI, 2011; LÜDKE; ANDRÉ 1986). Conforme Lüdke e
André (1986, p.39): “Os documentos constituem também uma fonte poderosa de
onde podem ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações
do pesquisador”.
A ATD é um método de análise de dados que apresenta metodologias
situadas entre os extremos da Análise de Conteúdo e da Análise de Discurso
(MORAES; GALIAZZI, 2011). As três metodologias apresentam características
semelhantes, como basearem-se em análise textual, no entanto a ATD diferencia-se
por explorar um pouco mais a profundidade e complexidade dos fenômenos. Esse
método ocorre por meio de um processo cíclico, ou em espiral, baseado em três
principais etapas: unitarização, categorização e comunicação (produção do
metatexto).
Primeiramente, na unitarização ocorre a desmontagem e fragmentação do
corpus de análise, ou seja, do texto original. A fragmentação do texto origina
pequenos trechos válidos, chamados de unidades de sentido. Para a realização da
unitarização o pesquisador realiza uma leitura intensa e aprofundada do texto,
entrando em contato com os seus significados por meio de impregnação do material
estudado. O momento desconstrutivo do processo da ATD deve ser realizado com

54
muito cuidado, pois a desmontagem do corpus não pode confundir ou mudar o
sentido inicial do texto. Assim como entendem Moraes e Galiazzi (2011, p.49): “A
fragmentação sempre necessita ter como referência o todo. Mesmo que se recortem
os textos, a visão do fenômeno em sua globalidade precisa estar sempre presente
como pano de fundo”.
A segunda etapa, a categorização, baseia-se na busca de relações entre os
fragmentos, ou unidades de sentido, definidos por meio da unitarização. Nessa
etapa, os trechos são comparados constantemente até que se organizem elementos
semelhantes capazes de trazer significado ao corpus inicial. A categorização é um
momento de classificação e de organização, é quando as categorias decompostas
são ordenadas a partir de suas características em comum. Esse momento também
sugere a construção de novos conhecimentos a partir da seleção e ordenação das
unidades com o objetivo de apresentar novos significados ao texto original. As
categorias podem ser predeterminadas pela literatura ou podem ser emergentes,
sem uma predefinição. Moraes e Galiazzi (2011, p. 86) afirmam:
De uma maneira geral, ao tratar o processo de categorização costuma-se
apresentar dois modos de conduzi-lo. O primeiro trabalha com categorias a
priori, trazidas para a pesquisa antes da análise propriamente dita. O
segundo ocupa-se com categorias emergentes, ou seja, as categorias são
construídas a partir de dados.
Na presente investigação, as categorias emergiram por meio da análise do
material. Para Lüdke e André (1986), as análises realizadas em pesquisas
qualitativas normalmente seguem um sistema indutivo. “Os pesquisadores não se
preocupam em buscar evidências que comprovem hipóteses definidas antes do
início dos estudos.” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.13). Ao final da unitarização, as
categorias devem estar alinhadas com os objetivos e o problema de pesquisa,
auxiliando a respondê-lo.
Na terceira etapa, a comunicação, ocorre o desenvolvimento do metatexto. A
partir da análise das categorias e subcategorias da etapa anterior, surgem novos
argumentos, que serão a base para a escrita. A produção escrita do estudo ocorre
por meio de três momentos principais: descrição, interpretação e argumentação;
cada uma com a sua função. Na descrição, apresentam-se os fenômenos da
maneira como ocorreram em campo empírico, na interpretação expõem-se os
significados da análise do pesquisador a partir do material descritivo e, por fim, na
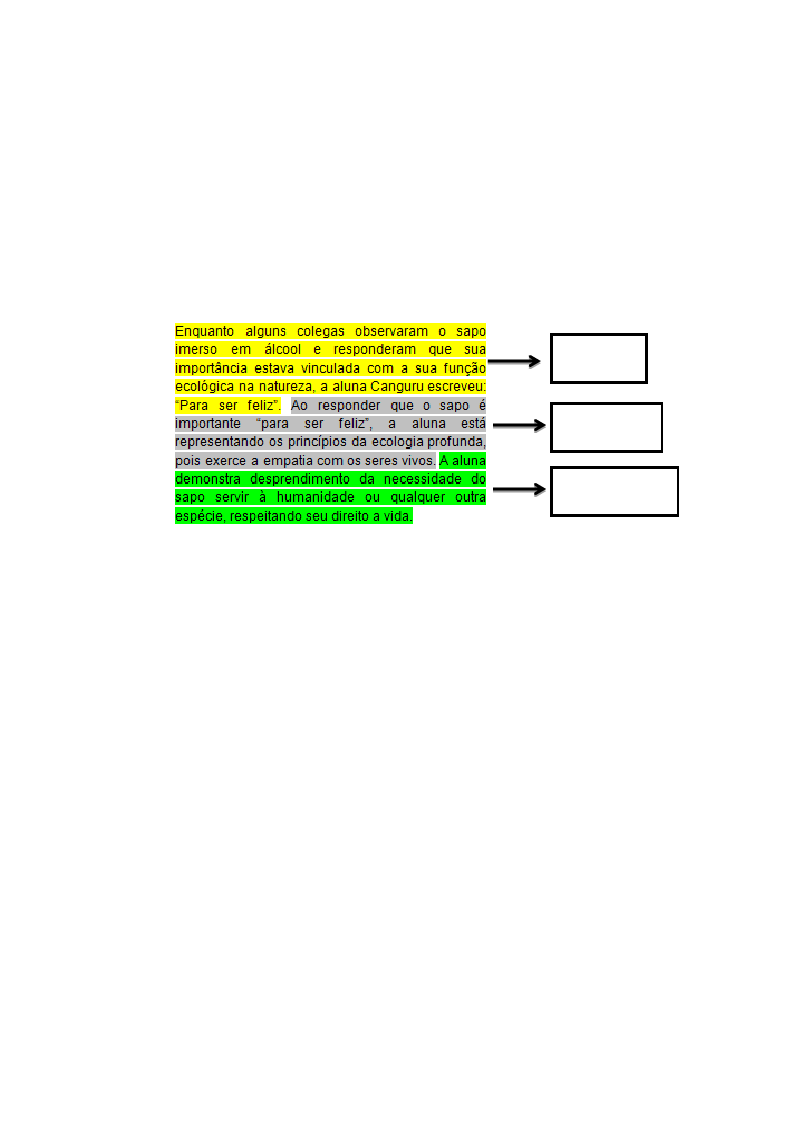
55
argumentação o pesquisador teoriza novas ideias. A seguir, é possível observar uma
representação gráfica (Figura 1) com um trecho retirado da análise da presente
investigação e as três etapas que constituem a construção do metatexto. O trecho
foi aleatoriamente escolhido. Ele apresenta as três etapas de forma clara e serve
como demonstração da análise realizada.
Figura 1− Representação gráfica das três etapas que constituem a construção
do metatexto: descrição, interpretação e argumentação.
Descrição
Interpretação
Argumentação
Fonte: A autora (2017).
O metatexto é importante para integrar as categorias e, ao mesmo tempo,
apresentar um conteúdo original a partir da análise do pesquisador sobre o corpus.
Para Moraes e Galiazzi (2011, p. 101), uma “das condições primordiais para
construir um texto de qualidade é ter algo novo a dizer”. Para que o processo final de
análise textual discursiva seja validado, o texto deve ser fiel ao material original, e o
sujeito precisa sentir-se contemplado.
O processo completo é considerado um sistema auto-organizado, pois, ao
final da terceira etapa, a análise pode ser reorganizada, repensada, reiniciada. “O
processo é recursivo, obrigando a retomadas constantes para sua qualificação.”
(MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 88). O objetivo principal da ATD é que, em meio a
uma grande quantidade de categorias e subcategorias, possam emergir novos
significados, os quais possam ser comunicados a outros pela escrita. Moraes e
Galiazzi (2011) comparam o processo a uma tempestade de luz, em que, no caos
desordenado, surgem flashes e insights capazes de guiar o pesquisador a novas
compreensões.
Em síntese, na ATD:

56
[...] o sistema de categorias e subcategorias que emerge de uma análise
textual discursiva servirá como macroestrutura para a construção de um
metatexto descritivo e interpretativo, voltado para expressar os principais
elementos dos textos submetidos à análise. (MORAES; GALIAZZI, 2011, p.
126)
A ATD foi o método de análise utilizado no presente estudo porque apresenta
caráter qualitativo e os dados analisados serão em formato de textos.
3.6 Atividades propostas
A estratégia utilizada para trabalhar Educação Ambiental no Clube de
Ciências consistiu em elaborar uma unidade de aprendizagem com a temática Do
macro para o micro − Agir local, Pensar global. As ações sugeridas em cada
atividade apresentaram como objetivo principal estimular os estudantes a repensar
pequenas atitudes do cotidiano que podem apresentar consequências maiores em
uma escala mundial.
A unidade de aprendizagem seguiu os conceitos do Educar pela Pesquisa
(DEMO, 2011), tema norteador do curso de pós-graduação em Ensino de Ciências e
Matemática da PUCRS. Atividades que se baseiam nos conceitos do Educar pela
Pesquisa seguem as seguintes etapas: questionamento reconstrutivo, argumentação
e comunicação. Nessas atividades, os estudantes são protagonistas da sua
aprendizagem e instigam o surgimento de temas para as aulas/encontros a partir de
seus interesses próprios. Por essa razão, foram elaborados inicialmente dois
encontros completos de uma série programada de seis encontros com os estudantes
do Clube de Ciências.
A temática dos encontros restantes dependeu do interesse e da curiosidade
dos alunos. Entre os resultados, as temáticas de maior interesse foram: radiação e
materiais radioativos e animais e suas adaptações ao meio ambiente. Esses temas
foram utilizados para elaborar o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto encontro.
Devido a regras de logística e organização já estipuladas pelo CC, cada encontro
durou 90 minutos. A seguir, estão apresentados quadros esquemáticos com as
principais atividades realizadas durante os encontros e sua relação com as etapas
do Educar pela Pesquisa. As figuras são fotografias feitas durante os encontros ou
fotografias de materiais utilizados durante as atividades propostas.
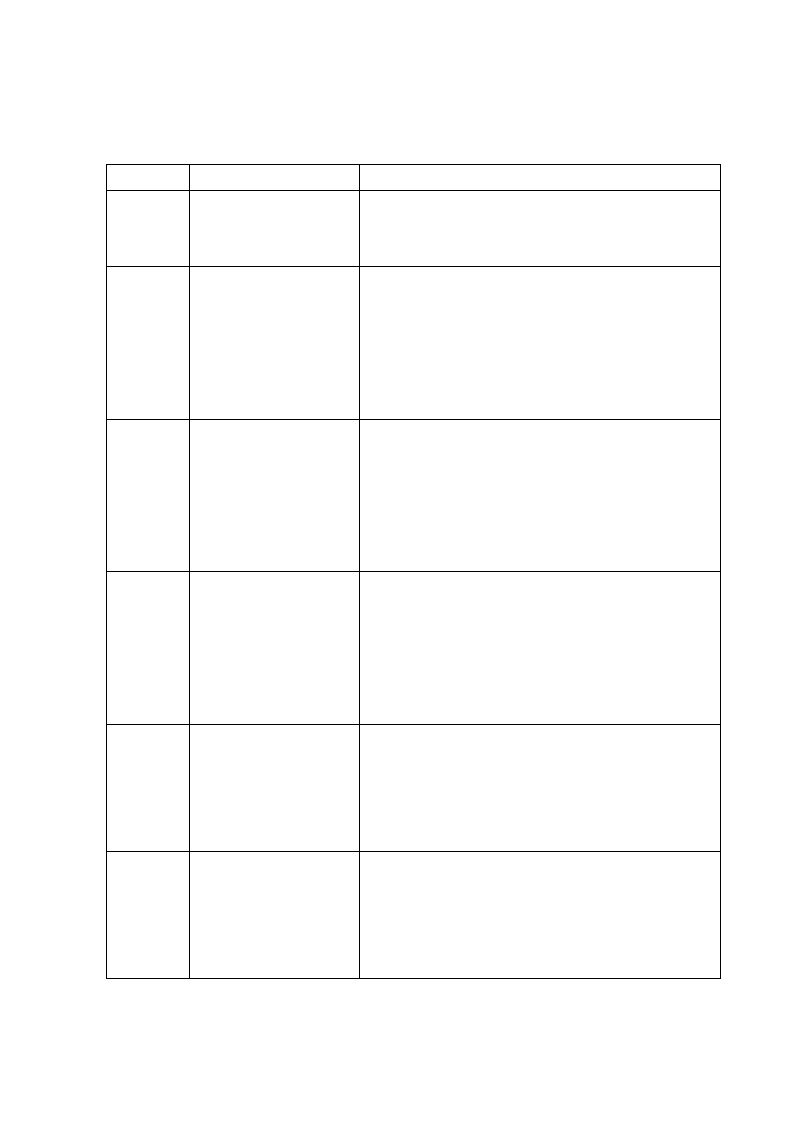
57
Quadro 2 – Encontros e temáticas da Unidade de Aprendizagem sobre EA
realizada no CC
Encontro Temática
1
Desmatamento
2
Ciclo da água
3
Radioatividade e a
sociedade
4
Chuva ácida e a
sociedade
5
A importância dos
animais
6
A importância da
natureza
Fonte: A autora (2018).
Assuntos abordados
Foram estudadas as causas, consequências e o
conceito de desmatamento. As atividades propostas
nesse encontro foram elaboradas previamente.
A temática do desmatamento foi retomada com os
estudantes e um novo assunto, o ciclo das águas foi
abordado com os clubistas. Após o experimento os
estudantes buscaram relacionar o tema com suas
realidades. As atividades propostas nesse encontro
foram elaboradas previamente.
Após analisar as sugestões dos clubistas, foram
propostas atividades sobre a radioatividade,
acidentes relativos a energia nuclear e cuidados com
a mesma. As atividades propostas nesse encontro
foram elaboradas a partir da sugestão dos
estudantes.
Após abordar a temática da radioatividade, os
estudantes estudaram a chuva ácida e as
consequências na saúde humana e do meio
ambiente. As atividades propostas nesse encontro
foram elaboradas a partir da sugestão dos
estudantes.
A importância dos animais para o meio ambiente e a
relação com a sociedade foram as principais
temáticas do encontro. As atividades propostas
nesse encontro foram elaboradas a partir da
sugestão dos estudantes.
Ao final da UA os estudantes avaliaram mudanças
em suas percepções com questionários e
repensaram a importância do meio ambiente. As
atividades propostas nesse encontro foram
elaboradas a partir da sugestão dos estudantes.
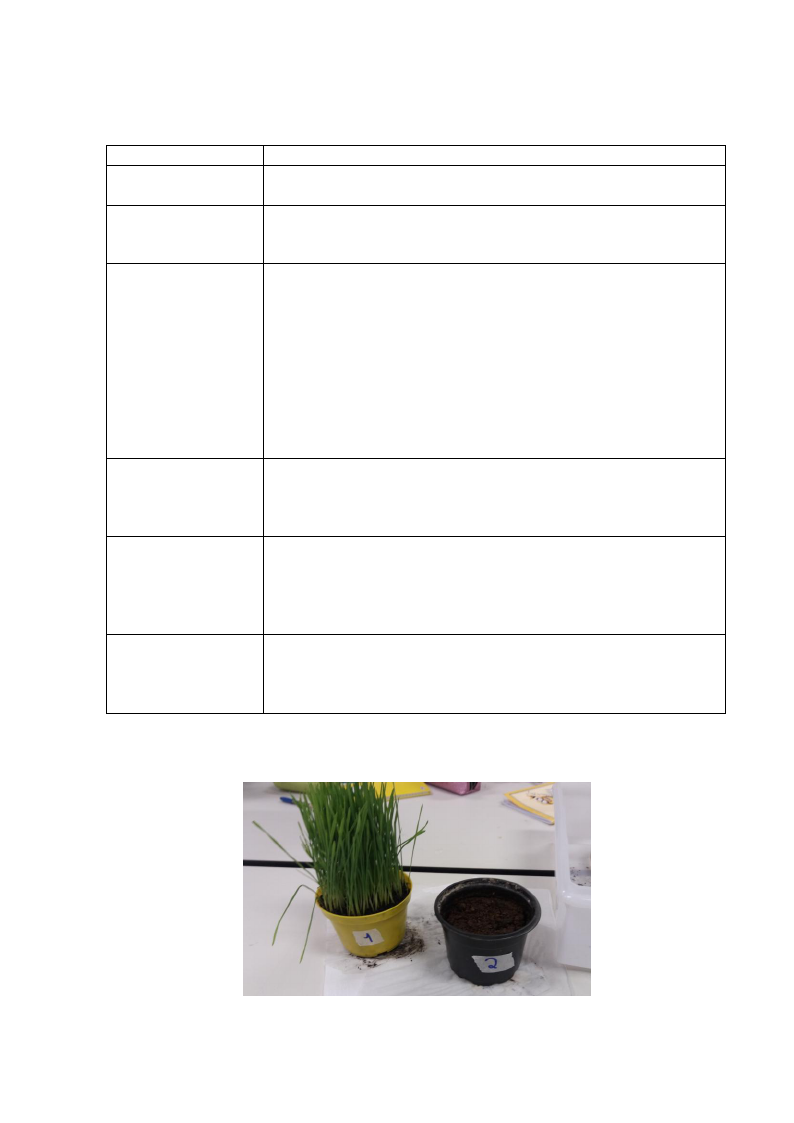
58
Quadro 3 − Encontro 1 realizado com estudantes do Clube de Ciências
Situação de ensino
Mural da ciência
Introdução
Apresentação
(dinâmica Teia da
Vida)
Questionário
Experimento
Desmatamento
Caixa de perguntas 1
Fonte: A autora (2017).
Descrição
Um estudante comenta sobre uma notícia de seu interesse que
pesquisou anteriormente.
Inicialmente, a monitora descreveu os objetivos da atividade com os
alunos, explicando que eles participarão de uma pesquisa de
mestrado.
A dinâmica Teia da Vida teve como objetivo apresentar a conexão
entre os componentes bióticos e abióticos do planeta Terra e como
nossas ações podem afetar essa frágil conexão. Os estudantes e a
mediadora reuniram-se em círculo e falaram seus nomes e
escolheram um animal, vegetal ou forma de vida favorita. A
mediadora iniciou a atividade e, após falar, enrolou um pedaço de
barbante no dedo e lançou-o para um estudante, que após
apresentar-se enrolou o barbante no dedo e lançou-o para um
colega, e assim a atividade continuou até todos terem se
apresentado.
Os estudantes responderam a um questionário escrito (Apêndice A)
sobre seus conhecimentos e opiniões a respeito do meio ambiente.
Esse questionário serviu para a construção do perfil dos
participantes do Clube de Ciências.
Cada grupo recebeu dois vasos: um com pequenas plantas e outro
somente com terra. Os estudantes despejaram água em cada vaso
e observaram como a água se comportou em cada situação (Figura
2). Logo após, preencheram uma ficha (Apêndice B) com suas
observações.
Os estudantes realizaram perguntas sobre ecologia e meio
ambiente por meio de bilhetes colocados dentro de uma caixa. As
perguntas foram analisadas pela ministrante para a elaboração do
conteúdo da UA dos próximos encontros.
Figura 2 - Experimento Desmatamento, realizado no primeiro encontro no CC.
Fonte: A autora (2017)
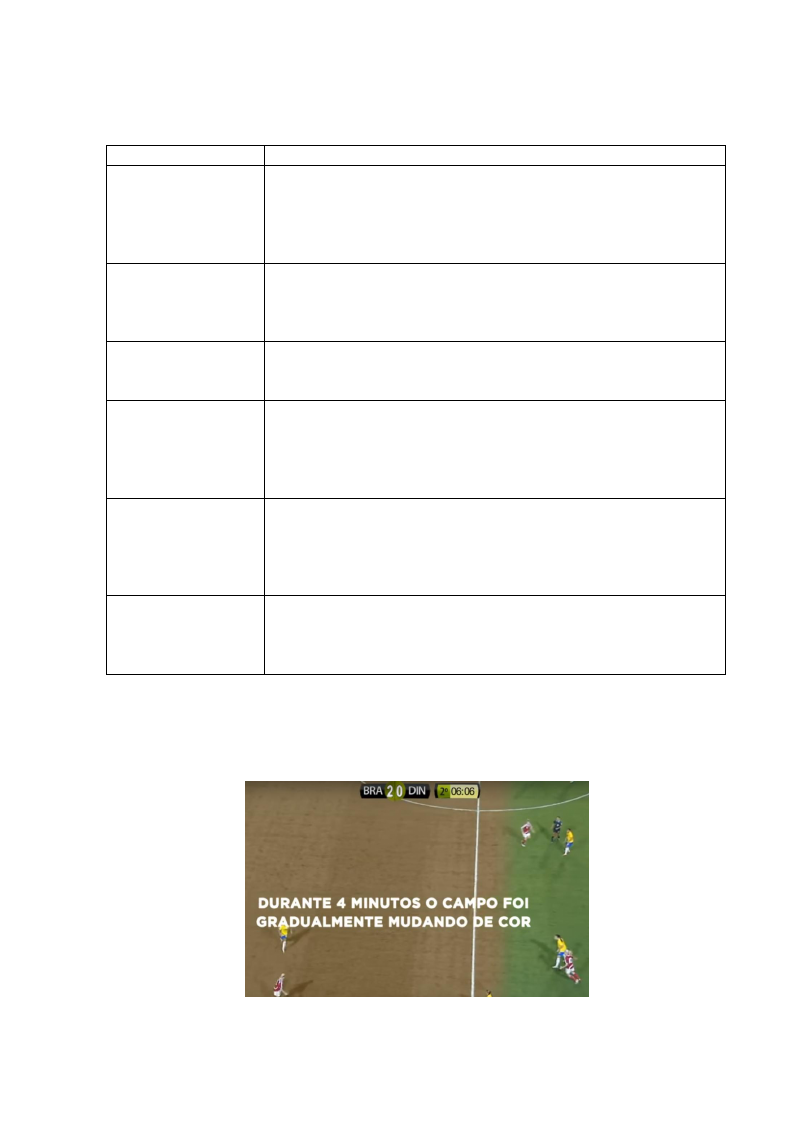
59
Quadro 4 − Encontro 2 realizado com estudantes do Clube de Ciências
Situação de ensino
Mural da ciência
Retomada
experimento
Desmatamento
Descrição
Duas estudantes comentaram sobre uma notícia de seu interesse
que pesquisaram anteriormente. Nesse encontro, a notícia
escolhida relacionava-se com a descoberta de um novo sistema
solar pela Nasa. Logo após, os estudantes debateram e tiraram
suas dúvidas com colegas e monitores.
Os estudantes apresentaram o resultado de seus trabalhos da
semana anterior para os colegas.
Apresentação sobre
desmatamento
Experimento Ciclo da
água
Dinâmica
Este experimento me
lembra...
Caixa de perguntas 2
Fonte: A autora (2017).
A monitora realizou uma apresentação breve com slides sobre o
desmatamento e consequências. Após assistir ao vídeo sobre
desmatamento (Figura 3), os alunos trouxeram questionamentos.
Cada grupo recebeu uma bacia, um copo, corante alimentício,
plástico filme, uma pequena rocha e água quente. A partir dos
materiais, os estudantes elaboraram um sistema que representa o
ciclo da água (Figura 4). Juntamente com os colegas, discutiram os
resultados e criaram hipóteses para explicar o experimento.
A monitora escreveu no quadro o trecho Este experimento me
lembra..., com o objetivo de estimular os estudantes a relacionar a
atividade com seu cotidiano. Cada aluno recebeu um pedaço de
papel, completou a frase escrita a partir de seus conhecimentos e
colou o papel no quadro (Figura 5).
Os estudantes realizaram perguntas sobre ecologia e meio
ambiente por meio de bilhetes colocados dentro de uma caixa. As
perguntas foram analisadas pela ministrante para elaboração do
conteúdo da UA dos próximos encontros.
Figura 3 − Frame do vídeo WWF apresentado para os estudantes do CC no
segundo encontro dentro da temática do desmatamento.
Fonte: Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=4M2uLY8774o.
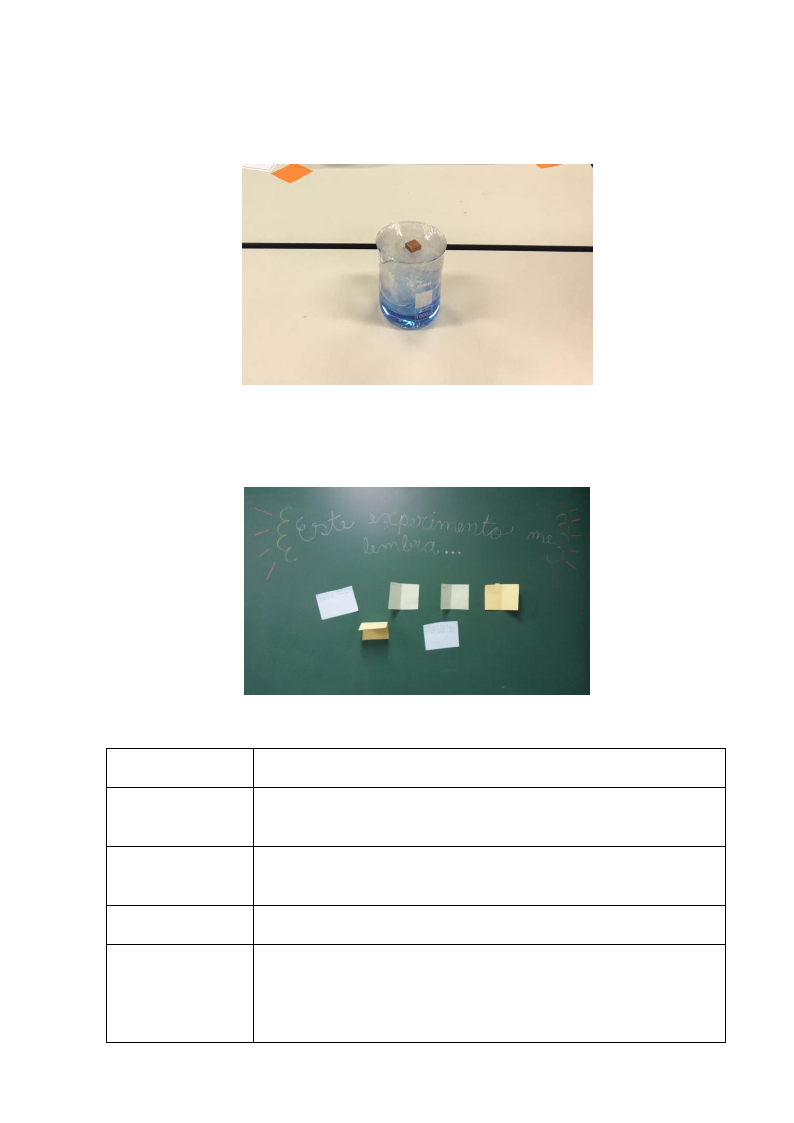
60
Figura 4 − Experimento Ciclo da água, realizado pelos estudantes do CC no
segundo encontro dentro da temática da poluição ambiental.
Fonte: A autora (2017).
Figura 5 − Dinâmica Este experimento me lembra..., realizado no segundo
encontro no CC.
Fonte: A autora (2017).
Quadro 5 − Encontro 3 realizado com estudantes do Clube de Ciências
Situação de
ensino
Mural da ciência
Retomada
experimento Ciclo
da água
Apresentação sobre
o ciclo das águas
Apresentação
Radioatividade
Descrição
Dois estudantes comentaram sobre uma notícia de seu interesse que
pesquisaram anteriormente. Nesse encontro, a notícia escolhida
relacionava-se com tubarões.
Os estudantes apresentaram o resultado de seus trabalhos da
semana anterior para os colegas.
A monitora realizou uma breve apresentação sobre água, ciclo da
água e poluição.
Após um breve intervalo, a monitora realizou uma apresentação de
slides sobre radioatividade e o Desastre de Goiânia. Foram debatidos
com os alunos os motivos pelos quais esse acidente ocorreu, e foram
elencados dois motivos principais: falta de informação sobre materiais
perigosos e descarte incorreto de materiais. Cada hipótese elaborada
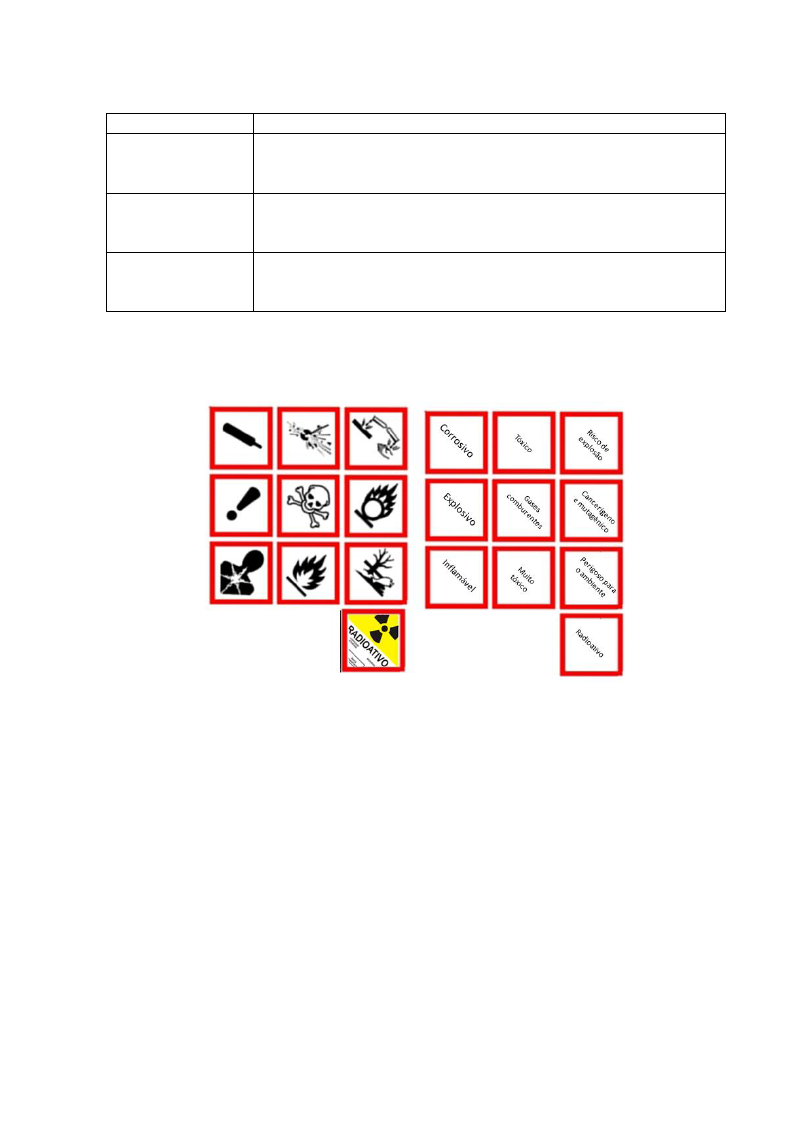
61
Jogo da memória
GHS
Dinâmica
Descarte
Apresentação dos
resultados
foi trabalhada nas dinâmicas a seguir.
De maneira lúdica, os estudantes brincaram com um jogo da memória
de pictogramas GHS (Figura 6). GHS é a sigla para Globally
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.
Os estudantes realizaram uma brincadeira em que simularam o
descarte de alguns materiais (Figura 7) em três diferentes frascos
etiquetados (Seco/ Orgânico/ Especial).
Os estudantes comunicaram para os colegas o resultado das duas
atividades anteriores.
Fonte: A autora (2017).
Figura 6 − Material utilizado para o jogo da memória de pictogramas GHS no
terceiro encontro.
Fonte: A autora (2017).
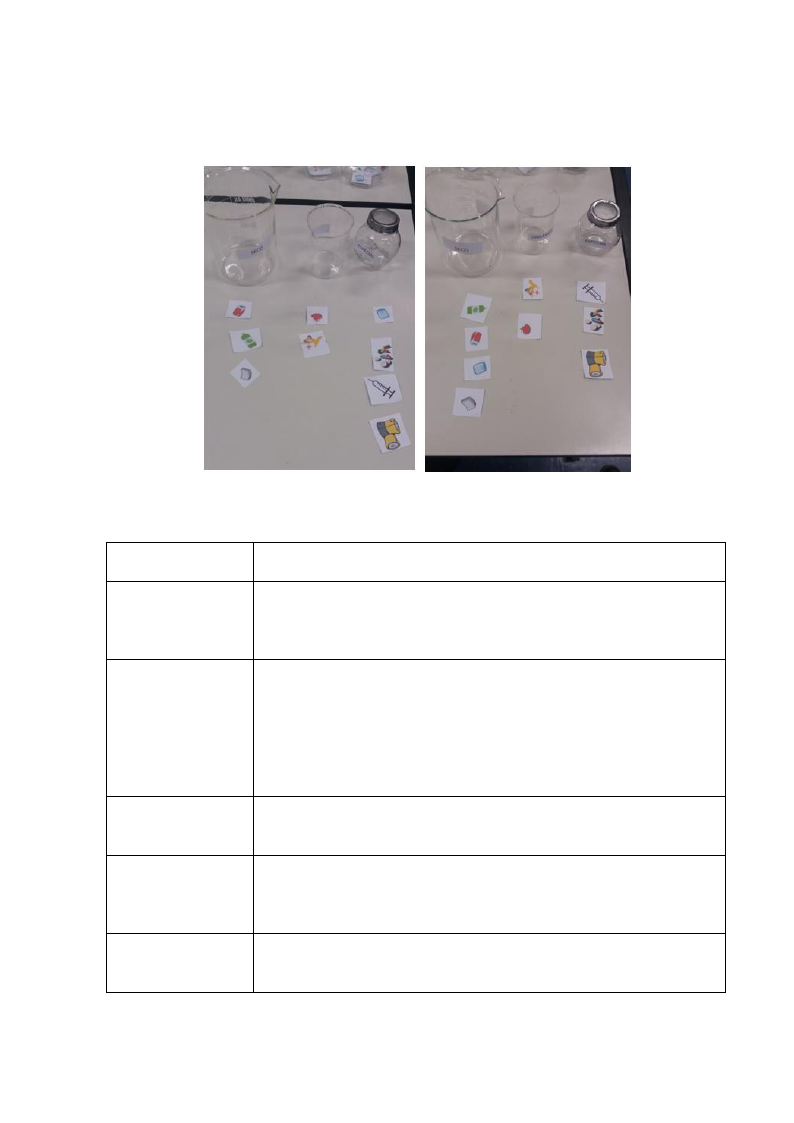
62
Figura 7− Diferentes resultados obtidos a partir da dinâmica Descarte no
terceiro encontro.
Fonte: A autora (2017).
Quadro 6 − Encontro 4 realizado com estudantes do Clube de Ciências
Situação de
ensino
Mural da ciência
Atividade
Interpretação de
texto
Apresentação dos
resultados
Apresentação sobre
energias renováveis
e Chernobyl
Descrição
Um estudante comenta sobre uma notícia de seu interesse que
pesquisou anteriormente. Nesse encontro, a notícia escolhida
relacionava-se com a descoberta de uma nova minilua no Sistema
Solar.
Os estudantes receberam um texto (Apêndice C) sobre energias
renováveis e sublinharam trechos com diferentes cores a partir do
que entenderam (verde, amarelo e vermelho). O verde representava o
conteúdo que os estudantes já conheciam, o amarelo relacionava-se
com as dúvidas que os alunos apresentaram e o vermelho foi
utilizado para sublinhar os trechos que os estudantes desconheciam
(Figura 8).
Os estudantes comunicaram aos colegas o resultado dos seus
trabalhos, expondo suas dúvidas e reescrevendo no caderno o que
não entenderam.
A monitora apresentou as principais energias renováveis, o incidente
de Chernobyl e sua relação com radioatividade e chuva ácida.
Experimento
Os estudantes realizaram um experimento sobre chuva ácida,
Chuva ácida
observaram os resultados iniciais, anotaram suas dúvidas e criaram
hipóteses (Figura 9).
Fonte: A autora (2017).
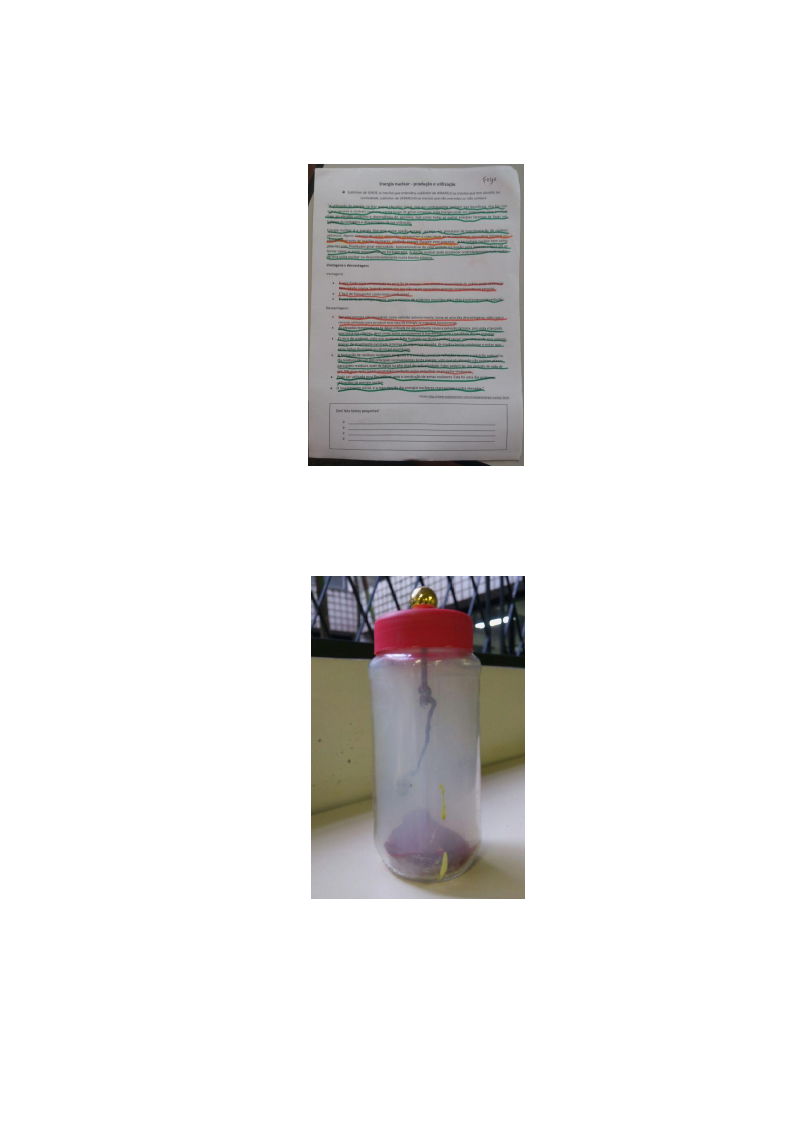
63
Figura 8 − Resultado da interpretação de texto do aluno Fogo no quarto
encontro no CC.
Fonte: A autora (2017).
Figura 9 − Resultado inicial do experimento Chuva ácida, realizado no quarto
encontro no CC.
Fonte: A autora (2017).
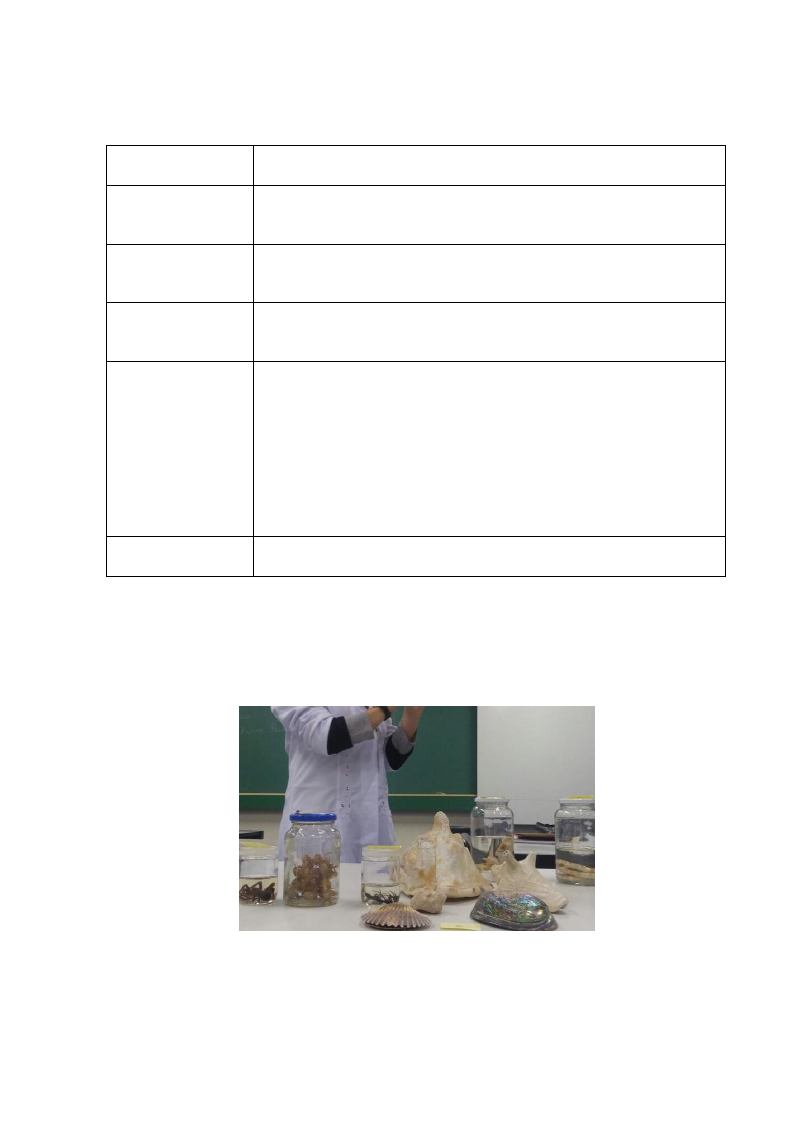
64
Quadro 7 − Encontro 5 realizado com estudantes do Clube de Ciências
Situação de
ensino
Mural da ciência
Retorno
experimento Chuva
ácida
Apresentação dos
resultados
Descrição
Dois estudantes comentaram sobre uma notícia de seu interesse que
pesquisaram anteriormente. Nesse encontro, a notícia escolhida
relacionava-se com o acidente de Bophal, na Índia.
Os estudantes observaram novos resultados após uma semana do
experimento. A partir de suas observações, elaboraram hipóteses e
as registraram em seus cadernos.
Os estudantes comunicaram para os colegas o resultado dos seus
trabalhos, expondo suas dúvidas e comentários.
Atividade A
Nas mesas do Clube de Ciências, estavam expostos diferentes
importância dos
animais. Inicialmente, os estudantes tiveram contato com vários
animais
espécimes (Figura 10) e geraram um relatório, destinado a um ser
extraterrestre, sobre o habitat de cada animal.
Logo após, quatro animais (sapo, insetos, pássaro e tartaruga) foram
escolhidos para outra atividade. Os estudantes aproximaram-se de
cada um deles, os observaram e responderam à pergunta: Esse
animal é importante? Se sim, por quê? A atividade tem como objetivo
evidenciar a relação dos estudantes com os animais.
Apresentação dos Os estudantes comunicarão para os colegas suas percepções sobre
resultados
a atividade.
Fonte: A autora (2017).
Figura 10 − Exemplares animais utilizados na primeira parte da atividade A
importância dos animais, realizada no quinto encontro no CC.
Fonte: A autora (2017).
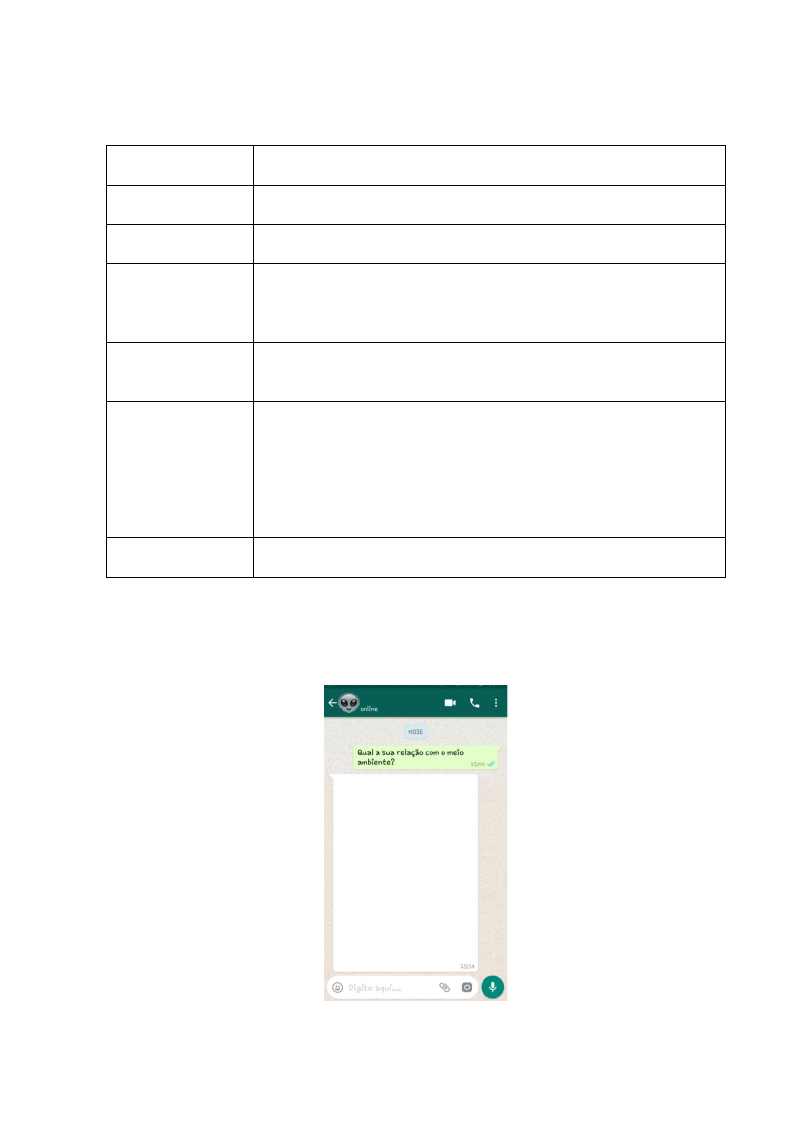
65
Quadro 8 − Encontro 6 realizado com estudantes do Clube de Ciências
Situação de
Descrição
ensino
Mural da ciência
A estudante responsável por trazer a notícia nesse encontro
esqueceu-se.
Teatro
Um grupo de alunos realizou um teatro de Educação Ambiental sobre
a extinção do palmito.
Retomada da
Os estudantes comunicaram para os colegas o resultado dos seus
atividade A
trabalhos, expondo suas dúvidas e comentários.
importância dos
animais
Atividade Conversa Os alunos receberam um celular de brinquedo (Figura 11) em que
com aliens
responderam para um alien à seguinte pergunta: O meio ambiente é
importante? Por quê?.
Avaliação final –
A monitora guiou os alunos em uma atividade sobre as mudanças
Atividade
que observaram em seus próprios comportamentos ao longo desses
Semáforo
seis encontros. Em um grande grupo, os alunos apresentaram quais
atitudes irão mudar (verde), quais talvez irão mudar (amarelo) e quais
não irão mudar (vermelho). A monitora anotou no quadro as
afirmações dos estudantes dentro de círculos de três cores (verde,
amarelo e vermelho).
Questionário
Os estudantes responderam a um questionário escrito (Apêndice D)
sobre seus conhecimentos e opiniões sobre meio ambiente.
Fonte: A autora (2017).
Figura 11− Material utilizado em uma atividade lúdica no sexto encontro no CC
sobre a relação dos clubistas com o meio ambiente.
Fonte: A autora (2017).

66
4 RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO
O entendimento sobre desenvolvimento e aperfeiçoamento do Pensamento
ecológico em estudantes participantes de um CC foi estudado por meio da análise
dos dados coletados durante os seis encontros. Para alcançar respostas ao
problema de pesquisa Como o desenvolvimento de uma unidade de
aprendizagem sobre Educação Ambiental (EA) em um Clube de Ciências pode
contribuir para o aperfeiçoamento do Pensamento ecológico dos estudantes?,
foram utilizadas como apoio teorias propostas por Capra (1996). Inicialmente
utilizado como referencial teórico, ao longo da investigação e da análise Capra
(1996) inspirou cada vez mais a pesquisa, tornando-se a principal fonte teórica para
analisar os dados.
Conscientização ambiental é um termo muito utilizado em projetos e oficinas
com temáticas de conservação do meio ambiente. No entanto, não será utilizado
nesta pesquisa. Dentro dos conceitos de EA, tende-se a acreditar que todos os
indivíduos já possuem sua própria consciência ambiental. Portanto, o presente
trabalho não busca conscientização, e sim sensibilização ambiental. Loureiro (2004)
sinaliza que, no momento em que buscamos desenvolver uma abordagem
ambientalista entre os estudantes, estamos trocando saberes e experiências, pois
todos os sujeitos apresentam suas histórias de vida e cultura que devem ser
respeitadas e valorizadas. “Não faz sentido acreditar que uns têm, em termos
absolutos, consciência plena, e os demais, falta de consciência, cabendo aos que a
possuem a missão de levar a ‘luz’ aos que estão ‘desconectados da natureza’.”
(LOUREIRO, 2004, p. 273-274).
O material coletado será apresentado nesse capítulo em itálico, indicando
conteúdo original dos estudantes e da investigadora. A partir da realização da ATD,
três grandes categorias emergiram: percepções antropocêntricas dos clubistas,
pensamento em transição e percepções ecocêntricas dos clubistas (Quadro 9).
A primeira categoria − percepções antropocêntricas dos clubistas − propõe
que a conscientização sobre percepções antropocêntricas é importante para o
aperfeiçoamento do Pensar ecológico. As percepções antropocêntricas persistiram
até os últimos encontros, mas a maioria delas foi expressa nos primeiros.

67
A segunda categoria − pensamento em transição − indica que as etapas
pelas quais os alunos passam para ressignificar suas relações com o meio são
decisivas para o aprimoramento do Pensar ecológico.
A terceira categoria − percepções ecocêntricas dos clubistas − propõe que o
envolvimento em situações que permitam pensar de forma complexa sobre o meio
ambiente favorece o desenvolvimento na qualidade e quantidade de percepções
ecocêntricas. Por isso a importância da UA sobre EA para o aperfeiçoamento do
Pensamento ecológico.
Como argumento central da presente investigação afirma-se que o
desenvolvimento e aperfeiçoamento do Pensamento ecológico é possível quando
são criadas, intencionalmente, situações de aprendizagem, como é o caso de uma
UA sobre EA. Para observar esse aperfeiçoamento foram buscados sinais nas falas
e ações dos clubistas. Os sinais observados ao longo de seis encontros demonstram
expansão da autonomia, crítica e pensamento complexo e integrativo, além de
atitudes cooperativas em relação ao ambiente.
Durante a análise, emergiram categorias que representam três possíveis
tempos na evolução de percepções: iniciais, intermediárias e finais. No entanto, é
possível encontrar elementos de uma categoria em outra. Percebemos também uma
variação de intensidade dos elementos encontrados em cada categoria. Por
exemplo, na categoria percepções ecocêntricas dos clubistas concentra-se a maior
parte das falas ecocêntricas. Porém, alguns fragmentos do Pensamento ecológico
podem ser encontrados em outras categorias. Isso acontece porque as percepções
dos indivíduos apresentaram nuances ao longo do período de realização das
atividades, assim como esperado. O quadro a seguir apresenta as categorias, os
argumentos, as subcategorias e os conteúdos contidos nas subcategorias.
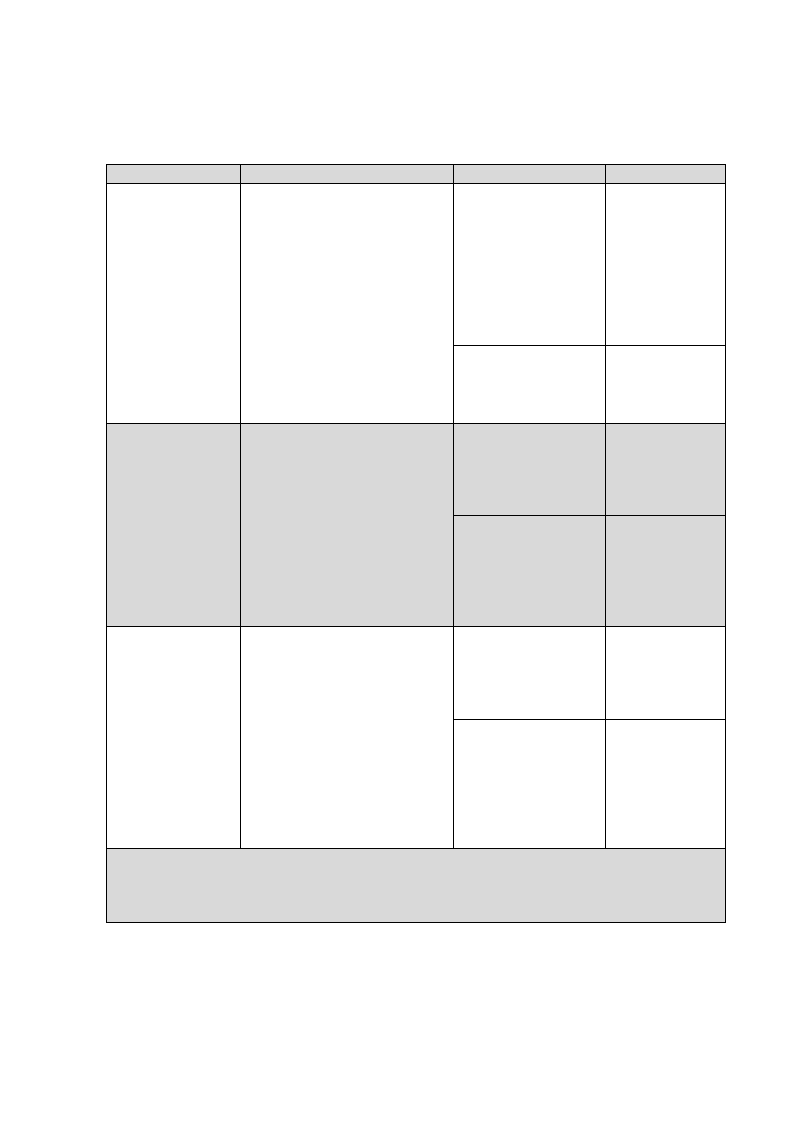
68
Quadro 9 − Categorias emergentes a partir da realização da Análise Textual
Discursiva e argumentos
Categoria
Argumento da categoria
Subcategoria
Conteúdos
4.1.Percepções
antropocêntricas
dos clubistas
4.2.Pensamento
em transição
A conscientização sobre
percepções
antropocêntricas é
importante para o
aperfeiçoamento do Pensar
ecológico. As percepções
antropocêntricas
persistiram até os últimos
encontros, mas a maioria
delas foi expressa nos
primeiros.
As etapas pelas quais os
alunos passam para
ressignificar suas relações
com o meio são decisivas
para o aprimoramento do
Pensar ecológico.
4.1.1 Desconexão
do meio ambiente
4.1.2 Visão
fragmentada sobre
o meio ambiente
4.2.1
Reconstrução do
pensamento
4.2.2
Desenvolvimento
da relação entre
ser humano e
meio ambiente
Dificuldades
Escapismo
Medos e nojos
Planeta e
animais como
recurso
Pensamento
reducionista
Saberes prévios
Interesses
Questionamentos
Relações
Persistência
Complexificação
Papel do ser
humano na
natureza
Papel da
natureza para o
ser humano
4.3.Percepções
ecocêntricas dos
clubistas
O envolvimento em
situações que permitam
pensar de forma complexa
sobre o meio ambiente
favorece o
desenvolvimento na
qualidade e quantidade de
percepções ecocêntricas.
Por isso a importância da
UA sobre EA para o
aperfeiçoamento do
4.3.1 Conexão
com o meio
ambiente
Empatia com
seres vivos
Conexão
Ações
sustentáveis
4.3.2 Pensamento
sistêmico dos
clubistas
Conservação
ambiental
Desenvolvimento
econômico
Desenvolvimento
social
Pensamento ecológico.
Argumento central:
O desenvolvimento e aperfeiçoamento do Pensamento ecológico é possível quando
são criadas, intencionalmente, situações de aprendizagem, como é o caso de uma
UA sobre EA.
Fonte: A autora (2017).

69
4.1 Percepções antropocêntricas dos clubistas
Por definição do Dicionário Michaelis, antropocentrismo é um “sistema
filosófico ou crença religiosa que considera o homem como o fato central ou mais
significativo do Universo ou, ainda, como objetivo último de toda a realidade”
(ANTROPOCENTRISMO). Carvalho (2008) salienta que a visão antropocêntrica
coloca o ser humano como centro do universo, como aquele que domina e submete
o mundo natural em virtude do progresso. Na prática, ações antropocêntricas
colocam o ser humano em local de destaque e, dentro das concepções ecológicas,
como a principal espécie do ecossistema. Para Capra (1996, p. 25), a “ecologia rasa
é antropocêntrica, ou centralizada no ser humano”, ou seja, percepções
antropocêntricas distanciam-se da ecologia profunda, que por sua vez entende os
seres humanos como parte do meio ambiente. Para Guimarães (1995), ações
antropocêntricas vêm acontecendo na história da humanidade:
A ênfase dada pela humanidade em sua evolução histórica à parte, a
separação entre ser humano e natureza, resultou em uma postura
antropocêntrica em que o ser humano está colocado como centro e todas as
outras partes que compõem o ambiente estão a seu dispor, sem se aperceber
as relações de interdependência entre os elementos existentes no meio
ambiente. (GUIMARÃES, 1995, p.12-13)
Para compreender se houve ou não aperfeiçoamento do Pensar ecológico por
meio do desenvolvimento de uma UA no CC, é importante compreender os valores
que emergiram a partir das atividades desenvolvidas. Foi possível observar que, em
alguns momentos, os sujeitos se posicionam com pensamentos autoafirmativos. No
entanto, devemos lembrar que o Pensamento ecológico busca o equilíbrio entre
pensamentos autoafirmativos e integrativos e que, portanto, essas percepções não
podem ser subestimadas. No CC, foi possível notar por parte dos alunos,
principalmente nos primeiros encontros, percepções e ações antropocêntricas, em
que o papel do ser humano prevalecia sobre as outras formas de vida. Esta primeira
categoria – percepções antropocêntricas dos clubistas − está organizada em duas
subcategorias: desconexão do meio ambiente e visão fragmentada sobre o meio
ambiente.
Na primeira − desconexão do meio ambiente −, são discutidas as causas
pelas quais, possivelmente, esses indivíduos se desvincularam do ambiente, muitas

70
vezes demonstrando repulsa ou estranhamento com aspectos naturais do nosso
planeta. O trabalho no CC implicou a explicitação de uma gama de percepções, e
muitas delas revelaram seu nível de desconexão da(s) (suas) natureza(s).
Na segunda subcategoria − visão fragmentada sobre o meio ambiente −, são
apresentadas as percepções dos participantes do CC que ignoram a perspectiva do
todo, identificando as partes do bioma como sistemas independentes. Também é
abordada a visão reducionista que coloca o ser humano como o ser vivo mais
importante do planeta Terra, diminuindo o papel dos outros elementos que
constituem o meio ambiente.
4.1.1 Desconexão do meio ambiente
A relação entre os seres humanos e o meio ambiente ainda é debatida. Para
alguns, as interações sempre serão desarmônicas, pois os seres humanos tendem a
deixar um grande rastro nos ambientes em que habitam. Para outros, existem
modelos de harmonia a serem seguidos entre humanos e a natureza. Conforme
Carvalho (2008), ao longo dos anos o processo civilizatório e a formação do ser
humano moderno definiram que a relação do ser humano com o meio ambiente
deveria ser de dominação, controle e manipulação da natureza. Como contraponto,
para a ecologia profunda, o ser humano é o meio ambiente, parte integrante de um
grande sistema dinâmico, nomeado por James Lovelock (2006) de “Gaia”.
Valores antropocêntricos, como expansão e dominação, demonstram
desconexão do ser humano com as outras formas de vida habitantes do planeta
Terra. Durante os encontros no CC, foi possível observar que os estudantes
apresentam certo nível de desconexão com o seu meio ambiente. A desconexão
pode ser observada principalmente pela dificuldade em relacionar conceitos
ecológicos com suas realidades. Outra maneira de demonstrar distanciamento do
meio ambiente é por meio do escapismo, evidente quando muitos estudantes
manifestam interesse por assuntos relacionados à astronomia e ao espaço e
consideram abandonar a Terra como solução para alguns problemas ambientais.
Além disso, os alunos demonstraram estar desconectados sobre a importância da
participação de seres vivos na teia da vida ao manifestar medo e nojo de alguns
animais. Esta subcategoria irá apresentar as dificuldades dos clubistas em

71
conectarem-se ao meio, ideias relacionadas ao escapismo e seus medos e nojos em
relação a seres vivos.
Nos primeiros três encontros, os estudantes apresentaram dificuldades em
relacionar os conceitos ecológicos apresentados durante as atividades com suas
realidades. No primeiro encontro, após realizar o experimento sobre desmatamento
(Quadro 3), os estudantes encontraram dificuldade em relacionar os resultados
recém-observados com o panorama dessa problemática mundial, como pode ser
observado na seguinte anotação no diário de campo: “Precisei realizar muitas
perguntas para estimular os questionamentos dos alunos. Os alunos mostraram
dificuldade e precisei fazer essa intervenção”. Grandes silêncios também marcam
sinais de dificuldade por parte dos alunos, que em geral apresentam perfil
participativo e interessado. No segundo encontro, os alunos não verbalizaram
resposta quando questionados sobre o experimento Ciclo da água (Quadro 4):
“Pesquisadora: Vocês conseguiram relacionar esse experimento com alguma coisa
da natureza? Silêncio longo”. O mesmo ocorreu no terceiro encontro ao debatermos
sobre o Ciclo da água: “Monitora: Vocês têm alguma hipótese se a água pode
acabar? Silêncio longo”.
A dificuldade encontrada pelos estudantes, nesses primeiros encontros, em
associar o meio ambiente com o seu cotidiano pode estar relacionada, dentre outras
possibilidades, ao ensino nas escolas. No ambiente escolar, os estudantes tendem
a ser valorizados pelo pensamento racional. Assim, quando vivenciam o Clube de
Ciências, espaço de ciências exatas, creem que necessitam se expressar somente
por meio de seu intelecto. Em algumas situações, os alunos parecem ignorar seus
conhecimentos prévios e tendem a não valorizar saberes construídos em outros
espaços. São muitos anos respondendo de acordo com determinado padrão nas
salas de aula, onde muitas vezes outros saberes não são valorizados. Por essa
razão, podem apresentar dificuldades para relacionar as situações apresentadas no
CC com seus cotidianos.
Capra (1982) sinaliza a valorização dada ao pensamento racional na cultural
ocidental atual, em que os indivíduos são encorajados a trabalhar sua mente, mas
não seu organismo total. O raciocínio lógico é valorizado sobre a intuição e, assim,
pode desconectar os alunos da sua natureza.

72
Na medida em que nos retiramos para nossas mentes, esquecemos como
“pensar” com nossos corpos, de que modo usá-los como agentes do
conhecimento. Assim fazendo, também nos desligamos do nosso meio
ambiente natural e esquecemos como comungar e cooperar com sua rica
variedade de organismos vivos. (CAPRA, 1982, p. 37)
No segundo encontro, os alunos encontraram dificuldade para interpretar um
vídeo sobre o desmatamento, em que, em um jogo de futebol da seleção brasileira
feminina, durante 4 minutos a cor verde da grama do estádio transformava-se em
marrom (Quadro 4). Ao final do vídeo, uma mensagem informava que, a cada 4
minutos, uma área das dimensões de um estádio de futebol é desmatada no Brasil
(Figura 3). A aluna Rocha encontrou especial dificuldade: “Monitora: Qual foi a
metáfora que eles usaram ali no vídeo? Rocha: Com a cor das plantas? Um lado do
campo de futebol e o outro? Que um estava mais verde? De certo, eles desmatam
quando eles chutam a bola. E talvez como a grama é de verdade eles pisam na
grama e ela não consegue se levantar”. O vídeo com uma mensagem específica foi
interpretado de diferentes maneiras pela estudante que verbalizou suas dúvidas. A
aluna não conseguiu relacionar a mensagem do vídeo com seus conhecimentos
prévios, demonstrando dificuldades em conectar-se com o meio ambiente e suas
problemáticas. Para Capra (1982), a maneira mecanicista e racional que os
estudantes entram em contato com os conceitos sobre ecologia e meio ambiente no
espaço escolar afeta a compreensão do que é o espaço natural. Aqui, os clubistas
são colocados em um molde, em um modelo a seguir, e sentem-se inseguros
quando encontram o desconhecido. Nessa situação, a aluna verbalizou sua
dificuldade, no entanto outros colegas podem ter silenciado dúvidas semelhantes.
Essa insegurança pode fazer com que os estudantes não aprendam novos conceitos
sobre o meio ambiente, pois não se permitem errar, sair do molde.
Hoje, está ficando cada vez mais evidente que a excessiva ênfase no método
científico e no pensamento racional, analítico, levou a atitudes profundamente
antiecológicas. Na verdade, a compreensão dos ecossistemas é dificultada
pela própria natureza da mente racional. (CAPRA, 1982, p. 38)
Desconectados da natureza, os estudantes não se identificam como parte do
meio ambiente. No primeiro encontro, uma das anotações do diário de campo da
pesquisadora demonstra as percepções dos estudantes sobre a relação dos seres
humanos com o meio ambiente após a realização da dinâmica Teia da vida (Quadro

73
3): “Durante a atividade da ‘teia da vida’, nenhum aluno escolheu o ser humano
como ser constituinte da teia”. Nessa dinâmica, cada estudante escolheu um fator
biótico ou abiótico importante para si a fim de compor o meio ambiente e, ao ignorar,
conscientemente ou não, a presença do ser humano, os clubistas demonstram a
falta de integração com o ambiente. Curiosamente, a turma escolheu diversos
fatores abióticos (fogo, água, eletricidade) e bióticos (tubarão, árvore, folha), mas
deixaram o ser humano de lado.
Situação semelhante foi observada por Dias (2004) em uma dinâmica por
ele aplicada. Seus alunos registraram em uma lista os nomes dos animais presentes
em ambiente urbano. Curiosamente, o ser humano demorou a aparecer nos
registros. “Na maioria das vezes, os alunos demoram muito para incluir o ser
humano nas suas listas, quando não o omitem completamente. Esse pode ser o
reflexo de uma educação que enfatiza a soberania humana sobre a natureza [...].”
(DIAS, 2004, p. 258). Dias (2004) classifica o resultado de sua atividade como falta
de conexão dos alunos com o meio ambiente e relaciona a questão com o tipo de
educação que esses indivíduos recebem no ambiente escolar. A valorização do ser
humano sobre as outras espécies, o pensamento antropocêntrico, nesse caso,
desconecta a sociedade da natureza.
Com o passar do tempo a humanidade vai afirmando uma consciência
individual. Paralelamente, cada vez mais vai deixando de se sentir integrada
com o todo e assumindo a noção de parte da natureza. Nas sociedades
atuais o ser humano afasta-se da natureza. A individualização chegou ao
extremo do individualismo. O ser humano, totalmente desintegrado do todo,
não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza. (GUIMARÃES, 1995
p. 12)
A desconexão dos estudantes com a natureza pode estar relacionada com a
educação racionalista, mecanicista e individualista presente em algumas escolas.
Essa situação confirma a influência do modelo escolar nas concepções ambientais e
sociais dos estudantes, o qual, até o presente momento, constrói concepções
antropocêntricas. Cabe então utilizar novas estratégias dentro e fora da sala de aula
com o intuito de propor novas atitudes e significados. Nesse contexto, Costa (2002)
acredita que o espaço escolar deve ser utilizado para perpetuar a nova ordem
ambiental, mas afirma que professores e alunos ainda apresentam dificuldade em
agir dentro dessa realidade, demonstrando resistência em desenvolver mudanças.

74
A dificuldade em desenvolver o Pensamento ecológico no espaço escolar
pode estar relacionada com a dicotomia que os estudantes vivenciam ao observar
que são valorizados por atenderem a uma lógica analítica e racional mas, ao mesmo
tempo, internamente, possuem diferentes percepções em relação ao mundo. Pensar
aquilo que nos é predeterminado pode nos influenciar em sentir algo que não
necessariamente se origina em nós mesmos. Os medos e nojos variam em cada
indivíduo e são construídos no imaginário das crianças ao longo de suas infâncias.
Araújo (2012) afirma que a aversão frente a animais como insetos e cobras é
construída ao longo da vida a partir das falas dos familiares, dos amigos e da
sociedade. Esse medo ou nojo de determinados animais pode representar
desconexão com o meio ambiente.
No quinto encontro, uma atividade (Quadro 7) com diversos animais
pertencentes a diferentes grupos taxonômicos apresentou uma faceta até então não
vista dos clubistas: seus medos e nojos. Canguru e Onça temeram o sapo e a
aranha (“Canguru: Ah nãooo, eu tenho horror de sapo! Posso até morrer por causa
disso! / Onça: Não pode ver sapo nem aranha.”), enquanto que Eletricidade e
Raposa ficaram assustados com a vespa (“Eletricidade: Ai que nojo! / Raposa: Ai to
com medo!”). No mesmo encontro, é possível observar nas anotações do diário de
campo a surpresa ao observar a reação dos estudantes com os animais: “Em geral,
os alunos parecem ter nojo e interesse pelos animais”. Na presente investigação,
esse interesse pelos animais acompanhado de manifestações de medo ou nojo
pode ser interpretado de diferentes maneiras, demonstrando desconexão com o
meio.
Hoyt e Schultz (2002) afirmam que, em geral, temos repulsa por insetos, pois
alguns espécimes com os quais convivemos invadem nossos lares e causam
doenças. Vale ressaltar que, no espaço urbano, convivemos com um pequeno
número de espécies de insetos (mas com um grande número de indivíduos). Um
aluno que tem contato apenas com os insetos e pequenos animais que conseguiram
se adaptar as condições do meio urbano (sujeira, calor, lixo e pequenas áreas
verdes) provavelmente terá uma relação negativa com eles. “De maneira geral, os
indivíduos só conhecem esses animais por lhes causarem doenças e outros
problemas.” (NETO; PACHECO, 2008, p. 87). Ou seja, os insetos que mais têm
contato com o ser humano são justamente aqueles associados negativamente com
a sociedade, pois estão vinculados a doenças e pragas. Para Hoyt e Schultz (2002),

75
o distanciamento do espaço natural fez com que os seres humanos perdessem
conhecimento em relação às diferenças entre os insetos, e assim, sem conhecê-los,
acabam generalizando-os. Caso o estudante não tenha familiaridade com a grande
variedade de formas de vida existentes na natureza, seu vínculo fica deturpado e o
indivíduo, desconectado. Para Araújo (2012, p.9), “a falta de conhecimento em
relação ao meio ambiente e tudo o que o constitui faz com que as pessoas não
venham a dar o verdadeiro valor aos componentes da natureza”.
Além de repulsa, alguns estudantes apresentaram manifestações de medo e
temor em relação a alguns animais. “Normalmente apoiados em falácias, os medos
têm origem em episódios da infância. Isso explica, por exemplo, o pavor que
algumas pessoas têm ao se deparar com uma simples lagartixa caseira, mesmo
sabendo ser inofensiva [...]” (DIAS, 2004, p. 259).
No entanto, não é somente a informação recebida que determina a reação
dos estudantes. O fator emocional dos alunos em relação aos animais influencia em
como eles reagem a eles. O pensamento intuitivo deve ser valorizado para
compreender a verdadeira conexão entre os estudantes e os animais em questão.
Neto e Pacheco (2008, p. 87) afirmam:
Recentemente, diversos investigadores ligados à área da biologia da
conservação chegaram à conclusão de que os fatores emocionais são
essenciais em qualquer ação conservacionista bem-sucedida. Mudando-se a
emoção, a maneira pela qual os objetos (nesse caso, os invertebrados) são
percebidos é transformada.
Ao se referir a pensamentos autoafirmativos, Capra (1982) apresenta o
pensamento racional: linear, analítico e altamente valorizado na cultura ocidental.
Em oposição, o autor traz o pensamento intuitivo: “O conhecimento intuitivo [...]
baseia-se numa experiência direta, não-intelectual, da realidade, em decorrência de
um estado ampliado de percepção consciente” (CAPRA, 1982, p.35). A intuição está
relacionada aos fatores emocionais do indivíduo e aos saberes intrínsecos que ele
carrega. Utilizar essa intuição, tão pouco valorizada, pode ser uma maneira de
desenvolver o Pensamento ecológico. Neto e Pacheco (2008, p. 87) sugerem que
“um processo de aprendizagem baseado em estímulos sensoriais adequados
poderia levar a mudanças de atitudes dos indivíduos com relação aos insetos,
tornando-os mais toleráveis ao convívio com esses organismos”. Novamente, é

76
importante compreender o fator emocional envolvido no vínculo dos estudantes com
alguns animais.
Nesse cenário, podemos observar que a construção do medo em relação a
insetos e alguns invertebrados pode estar vinculada ao distanciamento da natureza,
à influência da sociedade e à falta de conhecimento em relação à diversidade de
seres vivos. Para desenvolver conexão entre os estudantes e seres vivos é preciso
considerar o fator emocional, construído ao longo dos anos, e a lacuna de
conhecimento em relação aos animais, construída, entre outros motivos, pela
sociedade desconectada da natureza. No CC, essa questão foi problematizada com
os educandos de maneira a possibilitar a compreensão de que todos os seres vivos
compõem um ecossistema, uma teia de relações da vida. As atividades realizadas
propiciaram um espaço de debate e questionamento − por exemplo, a dinâmica em
que discutimos a importância dos animais (Quadro 7). Durante os momentos de
reflexão, as percepções dos estudantes foram escutadas e debatidas, buscando
construir significados mais complexos e próximos ao Pensamento ecológico.
Finalmente, o significativo interesse dos alunos por assuntos relacionados à
astronomia foi interpretado como outro indício da desconexão com o planeta Terra.
Durante os encontros, os clubistas buscaram notícias relacionadas à astronomia
para apresentar no Mural da ciência (Quadros 4 e 6) e questionaram sobre a
possibilidade de realocação da humanidade em outros planetas do Sistema Solar.
No segundo encontro, foi realizado um debate sobre planetas com condições
de atmosfera e temperatura semelhantes às da Terra, pertencentes a “zona
habitável”. Nesse momento, a aluna Rocha sugeriu uma notável alternativa: “Eu ‘tô’
com uma dúvida sobre esse ‘negócio’ de planetas que são parecidos com a Terra.
Não teria como, quando o nosso planeta ficar muito cheio, não teria como certas
pessoas saírem da Terra?”. Ao questionamento da estudante, os colegas
responderam que a ideia não era tão simples devido a impeditivos em relação às
tecnologias humanas ou distâncias intergalácticas. Árvore afirmou: “Mas Rocha, [a
distância é de] é 40 anos luz!”, e Eletricidade completou: “E um foguete não vai
nessa velocidade”. Em nenhum momento na interação entre os colegas, a
importância do planeta Terra e nossa interdependência com ele foi sinalizada. Nesse
momento, os alunos pareceram não estar conectados com o nosso planeta, e
acreditam que abandoná-lo é uma opção válida. O debate entre os estudantes

77
demonstra uma faceta do vínculo que eles desempenham com o nosso planeta: um
objeto descartável, que pode ser eliminado quando acaba sua utilidade.
No mesmo encontro, é possível notar no diário de campo o seguinte registro:
“Os alunos buscam notícias sobre outros planetas, parece que estão distantes da
Terra, como se eles não tivessem uma relação forte com a ela”. O interesse sobre
outros planetas do Sistema Solar e o universo pode ser interpretado como um
distanciamento da Terra, seja por desconhecimento, seja por desconexão do nosso
planeta.
Podemos observar que, possivelmente, a falta de conhecimento sobre a Terra
e os seres vivos que aqui habitam pode ser uma das causas da desconexão da
sociedade com o nosso planeta. Além disso, a negação da intuição e a valorização
do pensamento racional no espaço escolar podem influenciar a forma como os
alunos se relacionam com o meio ambiente.
As informações citadas até aqui indicam uma possível associação entre a
maneira como os conceitos relacionados ao ambiente natural são abordados com os
estudantes em espaços formais e/ou informais e o modo como os alunos se
percebem no meio. Enaltecer comportamentos racionais e valorizar somente o
conhecimento científico favorece um tipo de pensamento, o antropocêntrico, e isso,
ao longo de anos, condiciona determinada atitude dos estudantes. Em uma
sociedade em que os pensamentos analíticos e racionais são os mais valorizados,
os estudantes recebem a mensagem de que esses valores devem ser perpetuados.
4.1.2 Visão fragmentada sobre o meio ambiente
A visão fragmentada transmite a ideia de que os problemas − lineares −
raramente se relacionam com outros elementos do meio ambiente e que o planeta é
uma fonte de recursos infinitos. Durante os encontros, foi possível observar que os
clubistas apresentam noções sobre a importância da natureza. No entanto, em
alguns momentos, entendem o meio ambiente e os seus componentes como peças
separadas. Nesta subcategoria – visão fragmentada sobre o meio ambiente −, o
pensamento antropocêntrico dos estudantes pôde ser observado de diferentes
formas em suas percepções: no distanciamento por eles expresso entre o ser
humano e o ambiente, na compartimentalização dos componentes integrantes do

78
ambiente, na redução das problemáticas ambientais e, ainda, na visão de
ecossistema como recurso a ser utilizado.
Conforme a ecologia profunda e a teoria de Gaia, todas as partes que
constituem o meio estão conectadas e, dessa maneira, uma ação que atinge uma
parte afeta o todo. Esse conceito é fundamental para a compreensão das
problemáticas ambientais que atingem a natureza em uma escala global. Indivíduos
com percepções lineares e simplistas observam as partes desvinculadas do todo e,
assim, perdem a visão geral das relações que constituem o ambiente.
Foi possível observar algumas ações e falas dos participantes do CC que se
relacionam com a visão fragmentada. No quinto encontro, considerando o
significativo interesse dos estudantes pelos assuntos relacionados à astronomia e ao
espaço, foi desenvolvida uma atividade lúdica na qual foi integrado um ser
extraterrestre imaginário. O E.T. supostamente estaria chegando à Terra, e os
estudantes do CC seriam os responsáveis por explicar para ele a importância do
meio ambiente terrestre (Quadro 7). Como resultado, todos os alunos presentes no
encontro confirmaram a importância do meio ambiente. Entretanto, suas justificativas
podem ser analisadas de diferentes maneiras. Dentre as respostas, Raposa afirmou:
“O meio ambiente é importante, pois dá todos os recursos para a vida na Terra”,
enquanto Sol respondeu: “Sim, ele é importante porque ele que faz a nossa
existência. Ele que nos dá alimento e oxigênio”. Essas duas afirmações
aparentemente positivas escondem a visão de que, para esses clubistas, a Terra
desempenha o papel de provedora inesgotável de recursos. A partir dessas
respostas, os alunos demonstram que sua associação com a natureza é
desequilibrada: um lado oferece, e o outro recebe. Nesse cenário, o ser humano,
soberano, retira riquezas inestimáveis da Terra. Essa relação unilateral, e também
simplista, é bem caracterizada por Guimarães (1995, p. 33) quando afirma que “com
a evolução da humanidade, os seres humanos vieram isolando-se em sua relação
com a natureza; dominou-se o meio ambiente colocando-o a serviço do homem”.
Ainda no conjunto das afirmações que carregam boas intenções, a aluna
Árvore dá um passo adiante ao dizer: “Sim, ele [O MEIO AMBIENTE] é importante,
pois nos traz o oxigênio e também dá alimento para os seres vivos e as plantas, que
são alimentos”. A percepção de que o meio ambiente é importante não somente
para os seres humanos, mas também para outros seres vivos indefinidos, demonstra
maior conexão com outros habitantes do planeta. No entanto, dentro da mesma

79
sentença, a aluna afirma que as plantas e os seres vivos são alimentos,
provavelmente, para os seres humanos. Novamente, o planeta é simplesmente visto
como fonte de recursos a serviço dos humanos. Nessa situação, a Terra e seus
frutos desempenham o papel de alimentos a serem consumidos.
Dessa maneira, além dos componentes abióticos do meio (como, por
exemplo, ar, água e solo), os componentes bióticos (seres vivos) também são vistos
pela sociedade como recursos a serem utilizados pelos seres humanos. Francione
(2004) sugere a teoria da Esquizofrenia Moral, em que os seres humanos
reconhecem a significância moral dos animais, mas escolhem ignorá-los assim que
sua morte os beneficia. Para Francione (2004), a sociedade atual trata os animais
como propriedade, por meio de sua utilização para alimentação, vestimenta,
experimentos biomédicos e entretenimento, e afirma que, se quisermos levar os
direitos dos animais a sério, não podemos tratá-los como recursos. A visão
antropocêntrica entende que o ser humano contém o direito em relação aos direitos
dos outros seres vivos. Para Lourenço e De Oliveira (2013, p.211):
Somos, neste momento, chamados a realizar uma importante escolha entre
concepções de sustentabilidade que se contrapõem frontalmente. O
compromisso com a teoria dos direitos dos animais carrega uma
responsabilidade para com uma visão mais profunda, abrangente de
desenvolvimento, comprometida com o reconhecimento do valor inerente
destes seres.
A visão fragmentada e antropocêntrica também ignora as problemáticas
ambientais geradas pela violação dos direitos animais, pois não compreende o
panorama completo. Os seres humanos, onívoros, necessitam de uma alimentação
balanceada, com a presença de proteínas. Porém, a crueldade animal é um tema
bastante conhecido e bastante ignorado pela sociedade. Os direitos dos animais
também são discutidos por Dias (2004, p. 259) quando afirma:
Outra discussão que normalmente é gerada refere-se à falsa moral quando
acenamos contra a matança de baleias ou qualquer outro animal, e
confinamos frangos e bois para serem abatidos. Os seus cadáveres chegam
às nossas mesas e são consumidos sem grandes dilemas ou
constrangimentos.
No quinto encontro, em atividade em que a turma teve contato com animais
preservados em álcool (Quadro 7), anonimamente os estudantes elaboraram

80
respostas para questionamentos envolvendo a importância de certos animais, dentre
eles a vespa. Cinco estudantes creditaram, anonimamente, importância à vespa (ou
abelha, como eles a chamaram) devido a sua produção de mel: “A vespa é um
animal importante porque ela produz mel (eu acho)/ A abelha é importante porque
ela faz mel/ Sim, é importante, porque a vespa produz mel/ Elas produzem mel, a
única comida que não estraga/ Sim, pois ele é um tipo de abelha, e abelhas
produzem mel”. Os estudantes compreendem e validam a importância dos seres
vivos que habitam o meio ambiente. No entanto, a relevância desses componentes
vem associada ao seu nível de colaboração para com o ser humano, em que fatores
abióticos e bióticos que auxiliam a sociedade são mais importantes do que aqueles
que não a auxiliam.
A visão antropocêntrica coloca o ser humano em posição capaz de julgar a
importância e o valor de outros seres vivos. Em outras palavras, na visão
antropocêntrica, a espécie humana domina as demais. Capra (1982) sinaliza que
percepções de dominação e expansão constituem o pensamento autoafirmativo e,
por consequência, antropocêntrico. Para Boff (2003), o ser humano causou uma
ruptura do equilíbrio natural da natureza ao valorizar mais o pensamento
autoafirmativo do que a integração. Guimarães (1995), por sua vez, acredita que a
posição dominante do ser humano sobre o meio ambiente pode ter sido a causa
para diversas problemáticas ambientais.
Uma postura desarmônica que desencadeou nos dias de hoje o desequilíbrio
ambiental em nível planetário; vide efeito estufa, destruição da camada de
ozônio, contaminação das águas oceânicas, continentais e atmosféricas,
entre muitos outros problemas que não se restringem mais a apenas uma
localidade. (GUIMARÃES, 1995, p. 33)
O senso de dominação do meio ambiente está relacionado com o
pensamento de expansão, em que os recursos naturais podem ser utilizados como
fonte de renda e de lucro para a sociedade. A relação entre dominação e economia
está clara para Guimarães (1995, p. 13):
A dominação faz parte da lógica desse modelo de sociedade moderna e é
esse modelo que apresenta como o caminho o crescimento econômico
baseado na extração ilimitada de recursos naturais, renováveis ou não, na
acumulação contínua de capitais, na produção ampliada de bens, sem
considerar as interações entre essas intervenções e o ambiente em que se
realizam.

81
A dominação do ser humano sobre outras formas de vida também relativiza a
importância dos outros seres, constituindo o pensamento reducionista. Conforme o
pensamento reducionista, ou mecanicista, as partes integrantes do meio ambiente
não se relacionam, e soluções para problemas ambientais são simplificadas, pois
atingem somente uma espécie. “A divisão entre espírito e matéria levou à concepção
do universo como um sistema mecânico que consiste em objetos separados, os
quais, por sua vez, foram reduzidos a seus componentes materiais fundamentais
[...].” (CAPRA, 1982, p.37).
No segundo encontro, ao debater o desmatamento e suas consequências, o
estudante Eletricidade encontrou dificuldade em compreender o assunto em sua
totalidade e, em algumas oportunidades, tratou a temática de maneira reducionista.
“Monitora: Mas em uma escala maior, em um terreno que tenha grama, terra e
casas. O que acontece quando chove?
Eletricidade: Fica úmido, molhado.
Pesquisadora: Mas qual a diferença?
Eletricidade: Onde tem terra vai ficar tudo alagado. Porque a vegetação absorve a
água.
Monitora: E se tiver uma quantidade muito grande de chuva?
Eletricidade: Acho que vai ficar mais molhado.
Monitora: A gente vai ter que usar uma bota. É isso?”
Nesse exemplo, o educando ignora as relações entre a ação antrópica e o
desmatamento, pois observa os fenômenos de maneira separada, reduzida. O
pensamento reducionista diminui as consequências da ação humana e, nesse
exemplo, o aluno apresenta dificuldade em relacionar a chuva, a construção irregular
de casas em encostas de morros, o desmatamento e o deslizamento de terra.
Em algumas situações, o pensamento simplista ou reducionista pode vir
acompanhado de uma lacuna nos conceitos desenvolvidos em sala de aula. No
terceiro encontro, o debate entre monitores e estudantes abordou os elementos que
formam a sujeira, e os alunos, aparentemente, desconhecem sua constituição:
“Pesquisadora: Por que será que esse estava colorido e esse aqui transparente?
O que eu quis representar com isso?
Eletricidade: A sujeira?
Pesquisadora: Maravilha, qual sujeira?
Água: Os micro-organismos?”
Apesar de não estar errado, pois na sujeira existem micro-organismos, o
aluno Água reduz a importância dos organismos microscópicos rapidamente

82
afirmando que a sujeira é constituída principalmente por seres vivos microscópicos.
Ao transformar os seres vivos em uma coisa, ou um objeto, ao transformá-los em
sujeira, o aluno está reduzindo seu vínculo e a importância de suas relações
ecológicas com outros seres vivos.
Em outra situação, o mesmo aluno responde ao questionamento de maneira
correta, no entanto simplificada: “Pesquisadora: De 60 a 75% do nosso corpo é
água. Então é importante pra gente. Se eu bebo uma água boa, limpa, potável, o
que acontece comigo? Água: “Tu” se hidrata”. O aluno demonstra compreender uma
das funções da água no organismo, mas não relaciona a qualidade da água potável
com as consequências na saúde humana. O pensamento reducionista não busca a
conexão das partes com o todo, pois compreende somente uma porção. Dessa
maneira, os alunos perdem a oportunidade de desenvolver novos conhecimentos,
pois a interação entre os elementos que constituem o ecossistema não é abordada.
No exemplo em questão, ao ignorar as funções da água no organismo, o estudante
não relaciona as consequências da poluição dos rios e mares para a saúde humana.
Ainda no terceiro encontro, ao abordar as consequências do aquecimento
global e do degelo das calotas polares em um debate, o aluno Água encontra pontos
positivos e negativos nessa problemática ambiental: “Pesquisadora: Não sei se é
possível encontrar ouro, mas talvez outras pedras preciosas. Vocês acham que é
uma coisa boa ou ruim as geleiras estarem derretendo? Água: Os dois porque pra
eles é bom porque estão lucrando mais, mas pros animais é ruim”. Em relação a
essa situação em particular, foi possível encontrar as seguintes anotações no diário
de campo: “Para um aluno, o degelo das calotas polares é bom para nós seres
humanos, porque descobrimos riquezas e minérios, e ruim para os animais./
Primeiramente o aluno nos separa dos animais, nos diferenciando deles, cada vez
mais nos distanciando./ Mesmo sabendo que o processo é ruim para “animais”, o
estudante acredita que o degelo tem pontos positivos”. Aqui, as percepções
antropocêntricas podem ser observadas à medida que o aluno identifica
características positivas no degelo das calotas polares e relaciona os minérios
naturais com lucros econômicos. Mesmo identificando que o degelo de geleiras
polares pode apresentar prejuízos aos animais, o estudante parece ter investido
mais tempo em buscar as vantagens econômicas da extração mineral. Novamente
está presente o pensamento reducionista na compreensão de que a exploração de

83
recursos naturais apresenta pontos positivos. O aluno, porém, não consegue
enxergar o panorama geral, pois ignora os pontos negativos.
Para Capra (1982), a exploração de recursos naturais está associada à
valorização do pensamento expansivo: “[...] a competição passou a ser vista como a
força impulsora da economia, a “abordagem agressiva” tornou-se um ideal no
mundo dos negócios, e esse comportamento combinou-se com a exploração dos
recursos naturais a fim de criar padrões de consumo competitivo” (CAPRA, 1982, p.
42). A expansão, a dominação e a exploração estão intimamente relacionadas com
a valorização do capital e do lucro − valores autoafirmativos e antropocêntricos.
Esses valores recebem importância quando os indivíduos não conseguem observar
todas as facetas de uma situação específica ou problemática ambiental, pois
pensam de maneira reducionista, como no exemplo antes citado.
No quinto encontro, dois educandos trouxeram para o momento Mural da
ciência uma notícia sobre a tragédia de Bophal, um acidente acontecido na Índia em
1984 em que um vazamento de gás em uma fábrica de pesticidas matou 8 mil
pessoas (BBC Brasil, 2004). Os clubistas debateram a notícia com os colegas, e
muitos apresentaram interessantes percepções. O aluno Tubarão afirmou que o gás
poderia ser corrosivo, conceito recém-estudado no encontro anterior, no entanto
considerou que os efeitos eram danosos para as estruturas sólidas da fábrica, e não
para os seres vivos que habitavam o entorno do local afetado: “Pesquisadora: E será
que o gás é corrosivo? Tubarão: Poderia até ser. Porque tem algumas partes da
indústria que estão todas corroídas”.
Em relação a essa situação, uma observação do diário de campo menciona:
“Os estudantes veem-se como causadores, mas, ao mesmo tempo, como vítimas;
não comentaram sobre os danos causados às outras formas de vida”. Nesse caso,
o estudante Tubarão fez ligação com o conceito visto anteriormente sobre as
propriedades e consequências de substâncias nocivas à vida, mas identificou que os
maiores prejuízos estariam relacionados aos materiais que estruturam a fábrica. O
pensamento reducionista, nessa situação, não só diminui o valor das outras formas
de vida como as considera insignificantes. Os alunos estavam mais preocupados
com o material e equipamento que constituem a fábrica do que com os seres vivos
do entorno.
Ainda no quinto encontro, em um experimento em que os estudantes
descreviam a importância de cada animal presente fixado em álcool 70% (Quadro

84
7), um aluno anonimamente afirmou que não vê importância na vespa: “Acho que
ela não é importante”. Ao ignorar a importância de outras formas de vida, seja por
falta de conhecimento, seja por familiaridade, o estudante não só falta com empatia
como também simplifica os propósitos da abelha na natureza. Ao acreditar que
alguns animais são mais importantes que outros, o indivíduo aproxima-se da ideia
de fragmentação do ecossistema e dos valores antropocêntricos.
A visão reducionista implica diversas consequências, como vimos
anteriormente. Para Guimarães (2008), é importante repensar a visão reducionista,
em que o meio ambiente é fragmentado em partes separadas que não se
relacionam entre si. “Meio ambiente não é apenas o somatório das partes que o
compõem, mas é também a interação entre essas partes em inter-relação com o
todo [...].” (GUIMARÃES, 2008, p. 13).
Como contraponto ao reducionismo, Guimarães (2008) enfatiza a importância
da abordagem relacional, em que as práticas educacionais objetivam compreender a
complexa conexão entre fatores bióticos, abióticos, socioeconômicos e culturais.
O enfoque centrado no ser humano como ser superior vivente neste planeta,
o ator principal da história planetária em que apenas o seu destino é que
conta precisa ser superado. A EA centra o seu enfoque no equilíbrio dinâmico
do ambiente, em que a vida é percebida em seu sentido pleno de
interdependência de todos os elementos da natureza. Os seres humanos e
demais seres vivos estão em parcerias que perpetuam a vida. [...] A mudança
desse enfoque é uma construção a ser objetivada pela educação ambiental.
(GUIMARÃES, 1995, p. 14)
As visões simplista e reducionista caracterizam valores vinculados ao
antropocentrismo, pois diminuem a importância dos elementos que constituem o
ecossistema. Nessas perspectivas, o ser humano pode dominar e explorar as outras
formas de vida e não vida, pois desempenha um papel superior a elas. A abordagem
relacional, ao contrário, apresenta um teor holístico, uma vez que busca
compreender o todo. Valorizar as relações entre os habitantes do planeta Terra
legitima o papel do ser humano como parte integrante do meio e valida os efeitos
catastróficos da ação antrópica antropocêntrica.
Para concluir a categoria é importante compreender que os estudantes, com
diferentes histórias de vida e distintos saberes prévios, apresentaram, durante os
seis encontros no CC, percepções antropocêntricas. A ocorrência dessas
percepções não diminui as capacidades dos estudantes ante a possibilidade de

85
desenvolver o Pensar ecológico. A existência dessas percepções antropocêntricas
apenas ratifica a situação da sociedade frente a uma educação formal e informal
voltada para valores analíticos, mecanicistas, reducionistas e lineares. Valores
antropocêntricos são aqueles que entendem o ser humano como mais importante do
que as outras espécies, dessa maneira ocupando uma posição superior no meio
ambiente.
Retomando o argumento central da investigação, propostas de aprendizagem
como a UA realizada no CC permitem o desenvolvimento do Pensar ecológico. Após
a realização de atividades de cunho ambiental por meio de dinâmicas, atividades
lúdicas e debates, foi possível notar que as falas e ações dos alunos adquiriram
complexidade, mesmo considerando que eles expressaram percepções
antropocêntricas em alguns momentos, como apresentado anteriormente.
4.2 Pensamento em transição
A presente categoria reúne as percepções dos participantes do CC que foram
consideradas em transição, ou seja, não apresentam caráter antropocêntrico, mas,
ao mesmo tempo, não são completamente ecocêntricas. As ideias desta categoria
são importantes passos dados para a caminhada rumo ao Pensamento ecológico.
Aqui serão apresentadas relações estabelecidas pelos educandos a partir de
experimentos, debates e questionamentos dos monitores e colegas. Essa categoria
intermediária auxilia na compreensão do processo pelo qual os alunos passaram
para desenvolver novos significados na categoria final. Para Freire (1986, p.43), “[...]
o verdadeiro é uma busca e não um resultado, o verdadeiro é um processo [...]”.
Esta categoria está organizada em duas subcategorias: reconstrução do
pensamento e desenvolvimento da relação entre ser humano e meio ambiente. Na
primeira subcategoria, estão apresentados os estágios pelos quais os estudantes
passaram para construir a complexificação do Pensamento ecológico. Na segunda,
é possível observar o desenvolvimento das percepções dos estudantes relacionadas
ao vínculo que eles mantêm com o meio ambiente.
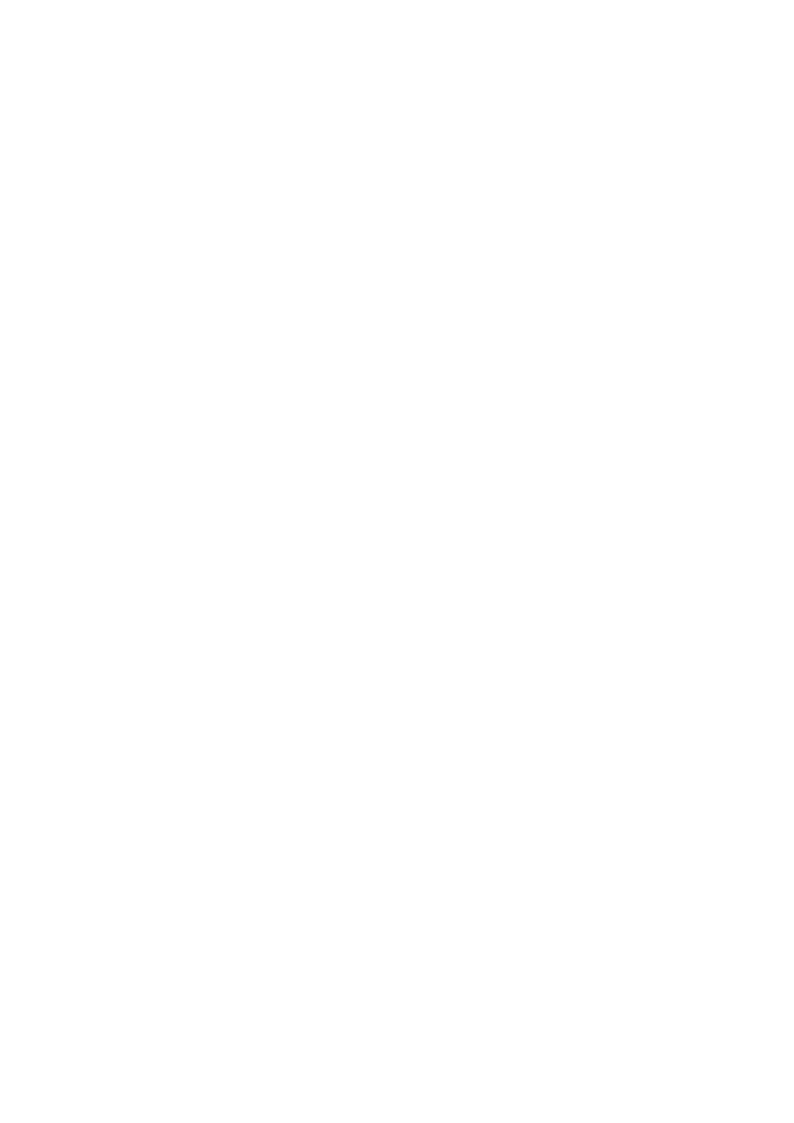
86
4.2.1 Reconstrução do pensamento
Ao analisar o material coletado, foi possível observar, nas falas e ações dos
clubistas, distinção entre percepções antropocêntricas e ecocêntricas (considerando
que percepções ecocêntricas são aquelas que vão ao encontro do Pensamento
ecológico). Para o desenvolvimento desse pensamento foi necessário que os
estudantes trilhassem uma caminhada constituída por diversas etapas. Nesta
subcategoria, serão apresentadas etapas que aparentemente contribuíram para
desenvolvimento do Pensamento ecológico ou ecocêntrico nos estudantes. São
elas: 1) saberes prévios, 2) principais interesses dos clubistas, 3) questionamentos
realizados durante os encontros, 4) relações desempenhadas a partir das atividades,
5) persistência dos clubistas e 6) complexificação do pensamento. Inicialmente, os
conteúdos que formam esta subcategoria emergiram durante a análise do texto.
Logo após, foi possível notar que apresentavam relação entre si e, por essa razão,
foram organizados de maneira a apresentar uma estrutura sequencial e lógica.
Assim como foi apresentado anteriormente, a UA do atual estudo foi
organizada a partir dos critérios sugeridos pelo Educar pela Pesquisa, proposto por
Demo (2015). Esta subcategoria relaciona-se com o Educar pela Pesquisa no modo
como as etapas de questionamento reflexivo, argumentação e comunicação podem
ser observadas nas falas dos estudantes em diversos momentos.
4.2.1.1 Saberes prévios
Inicialmente, foi possível observar, durante os seis encontros, que os
estudantes apresentam conhecimentos prévios e que os trazem para o ambiente do
CC. Para Freire (1996), é importante que o professor não só respeite os saberes que
os educandos já trazem consigo a partir de suas experiências, como também discuta
os conteúdos educacionais dentro de temáticas já conhecidas pelos estudantes,
aproveitando seus conhecimentos. Cada indivíduo traz conhecimentos inerentes,
que podem vir de suas experiências de vida, de notícias com as quais tenha entrado
em contato ou de ensinamentos de parentes e amigos. Conforme Fagundes (2007),
o professor deve iniciar o processo de aprendizagem a partir dos conhecimentos
prévios, mesmo que de senso comum, pois a aprendizagem baseia-se na
reconstrução desses saberes.

87
O ensino informal, que ocorre muitas vezes espontaneamente, sem intenção
de acontecer, é uma importante fonte de saberes prévios. Para Miras (1998), a fonte
dos conhecimentos prévios que permitem aos estudantes desempenharem
importantes relações é variada.
Em muitos casos, são informações e conhecimentos adquiridos tanto no meio
familiar ou em ambientes a ele relacionados como no grupo de colegas ou
amigos. Em nossa cultura, também é provável que algumas dessas
informações tenham sido adquiridas por meio de outras fontes, como leitura
ou meios audiovisuais, especialmente cinema e televisão. (MIRAS, 1998, p.
64)
Durante os encontros, os clubistas expuseram com segurança seus
conhecimentos prévios em diversas situações. Para Demo (2015, p. 31) “[...]
ninguém é propriamente analfabeto, já que todos temos alguma identidade cultural e
histórica e dominamos alguma linguagem”. Miras (1998, p. 58) acredita que as
“mentes de nossos alunos estão bem longe de parecerem lousas limpas [...]”.
Nas conversas com os monitores e outros colegas, os estudantes
demonstram obter conhecimentos teóricos corretos. No segundo encontro, após
realizar o experimento com dois vasos com terra e planta (Quadro 4), o estudante
Eletricidade trouxe suas percepções teóricas relativas ao desmatamento.
“Pesquisadora: O que é desmatamento? Eletricidade: É a retirada da mata, é tipo
uma área de deslizamento, erosão terrestre”. Ainda sobre as plantas, a aluna Árvore
define corretamente o que é mata ciliar: “Pesquisadora: O que é mata ciliar? Árvore:
É o que fica do lado dos rios”. No terceiro encontro, alguns conceitos trazidos pelos
estudantes podem até ser considerados muito avançados e complexos para seus
níveis de desenvolvimento: “Pesquisadora: Alguém sabe o que é ação antrópica?
Eletricidade: Ação humana”. Nessas situações, os estudantes participaram do
encontro com informações corretas e complexas.
Durante o quarto encontro, ao debater a definição sobre energias renováveis
e não renováveis, os estudantes trouxeram respostas relativamente simples, mas
corretas: “Pesquisadora: O que é uma energia não renovável? Eletricidade: O que
acaba. Pesquisadora: O que são fontes de energia renováveis? Raposa: O que dá
para usar de novo”. Não é por coincidência que os alunos apresentam
conhecimentos prévios relativos a ciências da natureza não só em quantidade como
em qualidade. Os educandos ingressaram por vontade própria no CC e por essa

88
razão é possível supor que muitos já apresentam intimidade com alguns dos
assuntos abordados nos encontros. Além de estar familiarizada com conceitos
científicos, a turma parece também conhecer algumas concepções ecológicas.
No quinto encontro, ao discutir sobre agrotóxicos, os clubistas identificam sua
importância e a relação com a alimentação e saúde humana.
“Pesquisadora: Para que serve o agrotóxico?
Tubarão: Para tirar as bactérias e pragas das plantas.
Monitora: E que pragas podem ser essas?
Tubarão: podem ser animais, bactérias, podem ser várias coisas. Gafanhoto,
formiga, minhocas...
Pesquisadora: Mas e as pragas comem o quê?
Raposa: As plantações.”
Em diálogo com os monitores e os colegas, cada estudante auxilia a construir
em conjunto um grande conceito a partir de pequenos saberes já trazidos consigo.
Os alunos do CC demonstram capacidade de relacionar a informações novas com
outras já conhecidas. Segundo Miras (1998, p. 61): “Além de lhes permitirem realizar
este contato inicial com o novo conteúdo, esses conhecimentos prévios são os
fundamentos da construção de novos significados”. Os saberes intrínsecos desses
alunos são fundamentais para a possibilidade de desenvolver o Pensamento
ecológico no futuro.
Participantes ativos dos encontros, os estudantes utilizam seu vocabulário
para expressar suas opiniões sem medo de errar; testam seus conhecimentos. No
terceiro encontro, alguns estudantes utilizam palavras simples e gírias para
apresentar suas concepções e percepções. Alguns estudantes utilizam as palavras
que encontram em seus léxicos para poder se expressar, as quais não
necessariamente incorretas. Onça utiliza uma palavra “incorreta” para explicar sua
concepção: “Monitora: Chernobyl, o que é isso? Onça: Uma cidade onde teve uma
explosão nuclear e daí toda a cidade ficou ‘infeccionada’”. No sexto encontro, ao
debater sobre o pensamento egocêntrico, o aluno Tubarão também utiliza gírias
para definir a palavra ego: “Monitora: Ego, o que significa? Tubarão: Que se acha ‘o
tal’, tem o ego de ser o ‘bonzão’”. Foi possível notar que a turma teve confiança para
expor suas concepções, pois eram respeitados pelos colegas e monitores. Para

89
Freire (1996, p. 35): “O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um
imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”.
A segurança para expor suas percepções e inseguranças demonstra que o
espaço do CC é para esses estudantes um local onde são livres para errar e
aprender. Conforme Albuquerque (2016, p.51):
[...] é possível compreender a razão pela qual os alunos percebem o Clube de
Ciências como um espaço para expressar dúvidas, uma vez que espaços não
formais de ensino possibilitam a criação de ambientes de aprendizagem
diferentes dos do modelo tradicional.
Atualmente, o CC constitui-se como um espaço complementar para a sala de
aula. Fagundes (2007) salienta que o ensino de ciências no espaço escolar é
impessoal e não estimula nem oportuniza os questionamentos dos estudantes, pois
oferece o conhecimento teórico “pronto”.
Durante conversas com monitores e colegas, os alunos também demonstram
ter conhecimento prático, obtido a partir de experiências de vida. Durante o quinto
encontro, os clubistas relacionaram o assunto abordado com sua realidade, mais
especificamente, sua alimentação: “Pesquisadora: Existem os frutos da estação. O
que é fruto do inverno, vocês sabem? Canguru: Bergamota. Onça: Pinhão. Tubarão:
Maçã”. Os estudantes, intuitivamente, a partir de suas vivências, e não amparados
por conhecimentos escolares, apresentaram suas concepções do que são frutos de
inverno. Para Capra (1982), o pensamento intuitivo baseia-se em experiências reais
e não intelectuais, tende a ser sintetizador e não linear e é a base da atividade
ecológica. Nessa situação, podemos observar sinais do pensamento intuitivo, o qual,
até então, não tinha aparecido nos encontros.
Os estudantes estão utilizando seus conhecimentos prévios e a intuição para
reconstruir seus conceitos de maneira natural. Conforme Capra (1982), na cultura
ocidental atual, o saber intuitivo foi negligenciado, privilegiando o saber mecanicista,
e, ao desconsiderar a intuição, os seres humanos estão aumentando o espaço entre
os seres humanos e a natureza. Ainda segundo Capra (1982, p. 39), “tal sabedoria
intuitiva é característica das culturas tradicionais, não-letradas, especialmente as
culturas dos índios americanos, em que a vida foi organizada em torno de uma
consciência altamente refinada do meio ambiente”. A curiosidade e a determinação
desses estudantes são tamanhas que se comunicam da maneira que sabem e

90
podem, sem constrangimento sobre o que é considerado correto ou incorreto na
visão acadêmica.
Os estudantes também trazem percepções críticas em seus comentários. No
quinto encontro, o aluno Onça aborda os agrotóxicos utilizando palavras que
carregam uma opinião crítica: “Pesquisadora: O que é agrotóxico? Onça: É aquele
veneno pra botar em planta”. Para Onça, os agrotóxicos são mais do que
substâncias químicas, pois a palavra veneno carrega um valor negativo. No mesmo
encontro, ao conversar sobre o motivo pelo qual não utilizamos animais vivos nas
atividades, o estudante Tubarão traz suas hipóteses sobre bioética no laboratório de
ciências: “Pesquisadora: A gente não trabalha com animais vivos no Clube de
Ciências porque... Tubarão: Porque é proibido”. Tubarão acredita que é proibido
utilizar animais vivos no CC. Novamente, a escolha de palavras remete a uma
atividade ilegal, negativa. De maneira instintiva, ou intuitiva, os educandos escolhem
palavras para se comunicar que carregam uma forte criticidade.
A partir dos experimentos e debates propostos nos encontros do CC, os
estudantes foram sensibilizados e motivados a apresentar suas percepções e, ao
realizá-las, muitas vezes demonstraram posicionamentos crítico sobre as situações-
problema. Conforme Demo (2015), um indivíduo que consegue se comunicar é
capaz de interpretar uma informação, relacionando-a com fatos concretos, e se
posicionar criticamente em relação a ela, passando da posição de informado para
informador. O posicionamento e a confiança para posicionar-se criticamente frente a
algum fato é característica fundamental para a construção da autonomia e o
aperfeiçoamento do Pensamento ecológico.
4.2.1.2 Principais interesses dos clubistas
Dentre os saberes prévios dos estudantes, foi possível notar também que a
turma traz interesses específicos, os quais constroem suas concepções do que é
ciência. Durante os primeiros encontros, foi possível notar que os clubistas se
interessam por animais: “Pesquisadora: O que vocês gostariam de estudar semana
que vem? Onça: Animais”. No primeiro encontro, foi utilizada a técnica da “caixa de
perguntas”, em que os estudantes escrevem em papéis os assuntos que gostariam
de estudar nos encontros futuros; essas informações auxiliaram na construção da
UA. Anonimamente, cinco estudantes demonstraram interesses pelos animais e

91
suas adaptações. Um estudante escreveu que gostaria de estudar “Sobre os
animais”, o que criou amplas possibilidades de trabalhar diversos assuntos sobre
eles. Outro aluno escreveu: “Quero estudar as adaptações dos animais e plantas
com o meio ambiente”, o que permitiu abordar o vínculo dos seres vivos com a
natureza e adaptações em geral. Um aluno escreveu que gostaria de estudar “Tipos
de animais em seus habitats”, o que inspirou a pesquisadora a abordar as
consequências das ações antrópicas nos habitats de diferentes espécies animais.
Outro aluno registrou que gostaria de estudar “A reação dos animais após
morrerem”, talvez se referindo à decomposição. Por último, um aluno escreveu que
gostaria de estudar “Como se faz um animal diferente (que não existe, mas vai
existir)”, talvez buscando saber mais sobre os transgênicos e manipulação gênica,
permitindo abordar assuntos relacionados com bioética em encontros futuros. Esse
grande interesse por animais apresentado já no primeiro encontro inspirou a
pesquisadora a construir a UA e a trabalhar, no quinto encontro, a temática da
importância dos animais para o meio ambiente, momento em que os estudantes
puderam ter contato e observar diversos animais imersos em álcool 70%. Conforme
Solé (1998, p. 31), “[...] o processo de aprender pressupõe uma mobilização
cognitiva desencadeada por um interesse, por uma necessidade de saber”.
No entanto, o assunto que mais despertou interesse desse grupo de alunos
em diversas oportunidades foram aqueles relacionados ao ensino de Química. A
vontade de aprender Química pode ser observada em notas do diário de campo do
primeiro encontro: “Muitos se interessaram por Química” e no terceiro encontro:
“Como sempre, os alunos se empolgam ao falar sobre Química (fórmulas,
moléculas, elementos, átomos) ou a ideia deles do que é Química”. No primeiro
encontro, por meio da “caixa de perguntas” os alunos selecionaram alguns
conteúdos relacionados à Química. Um aluno escreveu que gostaria de aprender
sobre “Átomos, moléculas e a composição das coisas”. Outros dois escolheram
“Materiais radioativos”. O interesse dos estudantes nessa temática foi fundamental
para a construção da UA, em que, no terceiro e no quarto encontro, foram
abordados temas sobre Química como, por exemplo, chuva ácida, energia nuclear,
descarte de substâncias tóxicas, radiação e acidentes de Chernobyl e Goiânia. Para
Solé (1998), o interesse ou a motivação gera um desequilíbrio inicial que incentiva o
indivíduo a buscar o equilíbrio por meio de determinadas ações, possibilitando assim

92
a aprendizagem. O interesse dos estudantes por Química pôde ser vivenciado por
meio de experimentos realizados nos encontros da UA.
A significativa vontade de estudar e aprender Química demonstrada por esse
grupo de estudantes pode estar relacionada ao fato de os alunos de 6.º e 7.º anos
ainda não terem contato com a disciplina de Química na escola. Sobre isso, Kinalski
e Zanon (1997) afirmam que a educação em ciências no Ensino Fundamental ainda
está relacionada com estudos próximos à Biologia, deixando o ensino de Química
para os últimos anos do Ensino Fundamental (8.º e 9.º anos, atualmente).
Foi possível observar que os clubistas conseguiram relacionar os conceitos
químicos com as questões levantadas e problemáticas ambientais. No terceiro
encontro, ao falar sobre a relação de substâncias químicas e meio ambiente, os
estudantes participaram ativamente: “Pesquisadora: Vocês já ouviram falar de um
gás chamado CFC que destrói a camada de ozônio? Vários: Sim! Monitora: Uau!
Cinco conhecem!”. Ao falar sobre o CloroFluorCarboneto (CFC), além de vincular os
conceitos químicos complexos com sua realidade e outros conteúdos, a turma
também encontrou relações entre a Química e as questões ambientais. Os
educandos relacionaram o assunto com as suas realidades: “Pesquisadora: É um
gás que antigamente estava nos sprays. Eletricidade: No desodorante, né?”. No
diário de campo, a seguinte anotação sobre o terceiro encontro ratifica o interesse
dos estudantes: “Conseguimos relacionar camada de ozônio com poluição e
Química”. Até então, os estudantes não tinham realizado conexão entre os temas de
seu interesse e a UA.
A ansiedade em realizar experiências relacionadas à Química no Ensino
Fundamental gera a possibilidade de abordar outros conteúdos dentro dessa
temática. A Educação Ambiental, tema do presente estudo, apresenta diversas
relações com a Química e pode inspirar maneiras de empreender as temáticas
ambientais. Um comentário dentro dessa ideia foi encontrado no diário de campo no
primeiro encontro: “Talvez uma maneira interessante de trabalhar EA no Clube de
Ciências (6.º e 7.º EF II) seja contextualizar com o ensino de Química: conteúdo que
os alunos se interessam”. Ao longo dos encontros, os temas fonte de energia,
problemáticas ambientais e descarte incorreto de materiais radioativos foram
relacionados com a Química. Essa temática foi abordada durante os encontros, e os
clubistas a receberam de maneira positiva, incluindo-a nos debates e nas conversas.

93
4.2.1.3 Questionamentos realizados durante os encontros
As etapas necessárias para o aperfeiçoamento do Pensamento ecológico até
agora apresentadas demonstraram a importância dos saberes prévios e de assuntos
que motivam o interesse dos estudantes. Porém, os clubistas participam do Clube
de Ciências com o propósito de aprender, conhecer, descobrir. Por essa razão, é
importante valorizar e analisar os questionamentos efetuados pela turma a partir
das atividades realizadas nos encontros. Curiosos, os participantes do CC têm o
hábito de questionar e, durante os encontros, sentem-se livres e seguros para tirar
suas dúvidas. Para Freire (1996, p.53): “O exercício da curiosidade convoca a
imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar, na
busca da perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser”. Para Fagundes
(2007, p.326): “A estratégia fundamental para a pesquisa [...] é o questionamento”.
Assim, o ato de questionar configura-se como uma importante ação para a
aprendizagem e o desenvolvimento do indivíduo.
O questionamento também é valorizado nos conceitos da ecologia profunda e
do Pensamento ecológico. Para Capra (1996), a ecologia profunda está vinculada a
formular questões mais complexas, ou seja, o autor acredita que precisamos, como
sociedade, mudar os paradigmas com base no Pensamento ecológico.
Precisamos estar preparados para questionar cada aspecto isolado do velho
paradigma. Eventualmente não precisaremos nos desfazer de tudo, mas
antes de sabermos isso, devemos estar dispostos a questionar tudo.
Portanto, a ecologia profunda faz perguntas profundas a respeito dos próprios
fundamentos da nossa visão de mundo e do nosso modo de vida modernos,
científicos, industriais, orientados para o crescimento e materialistas.
(CAPRA, 1996, p.26)
Importante, o ato de questionar é valorizado igualmente no Educar pela
Pesquisa: “O contato pedagógico escolar somente acontece quando mediado pelo
questionamento reconstrutivo. Caso contrário, não se distingue de qualquer outro
tipo de contato” (DEMO, 2015, p. 9). O questionamento reflexivo, no entanto, não se
constitui somente de perguntas, mas é desenvolvido por meio do trabalho conjunto
entre professor e educando com o objetivo final de formar conhecimento e
pensamento crítico. “Por ‘questionamento’, compreende-se a referência à formação
do sujeito competente, no sentido de ser capaz de, tomando consciência crítica,
formular e executar projeto próprio de vida no contexto histórico.” (DEMO 2015, p.

94
13). A autonomia desenvolvida por meio do questionamento é uma importante
competência a ser estimulada no estudante, pois desenvolve a consciência crítica,
fundamental para o Pensamento ecológico. O questionamento relaciona-se então
com a aprendizagem, o desenvolvimento da autonomia, do Pensar ecológico e da
consciência crítica.
Mesmo inicialmente não demonstrando muito interesse por EA, aos poucos
os alunos acostumam-se ao conteúdo e realizam questionamentos relacionados
com a unidade de aprendizagem. Aparentemente, quando há questionamento, há
interesse. No segundo encontro, surge pela primeira vez questionamentos relativos
à EA. A partir do experimento sobre desmatamento, ocorre um debate a respeito da
importância das plantas para a saúde do solo. A aluna Rocha questiona a relação do
sol e vegetais: “Rocha: Por que o sol é tão importante para algumas plantas e para
outras não?”. A aluna demonstra curiosidade sobre dois elementos bastante
distintos da natureza, no entanto incrivelmente relacionados devido à fotossíntese: o
sol e as plantas. No terceiro encontro, ao comentarmos sobre a importância da
camada de ozônio, o aluno Eletricidade questiona sobre sua constituição:
“Eletricidade: Professora, mas a camada de ozônio fica dentro ou fora da
atmosfera?”. No quarto encontro, os estudantes interessaram-se pela temática da
chuva ácida e suas consequências. “Onça: Já aconteceu alguma chuva ácida no
Brasil? Onça: Como funciona a chuva ácida?” Quando questionam sobre EA, os
educandos demonstram que prestaram atenção no assunto, que possuem
elementos para compará-lo com novas informações e demonstram interesse em
conhecer mais sobre aquele determinado conteúdo. Os questionamentos
relacionados à EA são fundamentais para o aperfeiçoamento do Pensamento
ecológico, pois demonstram interesse, vontade de aprender e de mudar,
transformar. O Pensar ecológico não é um objetivo independente na educação, pois
para que ele seja alcançado outras competências devem ser desenvolvidas, como a
autonomia e a consciência crítica.
Durante os encontros, as atividades realizadas também despertaram
interesse nos estudantes, que realizaram questionamentos a partir de suas dúvidas
durante a interpretação dos resultados. No primeiro encontro, os estudantes
questionaram os resultados obtidos no experimento do desmatamento: “Canguru:
Por que o vaso que tem grama [A ÁGUA] é mais devagar do que o que só tem
terra?”. Raposa questiona: “Raposa: Por que quando tem grama a água cai mais

95
limpa do que quando só tem terra?”. Os educandos demonstraram curiosidade em
relação ao tema e participaram ativamente das atividades propostas, questionando e
debatendo. Esses questionamentos devem ser valorizados pelos monitores do CC.
Para um educador [...] não há perguntas bobas nem respostas definitivas. Um
educador que não castra a curiosidade do educando, que se insere no
movimento interno do ato de conhecer, jamais desrespeita pergunta alguma.
Porque, mesmo quando a pergunta, para ele, possa parecer ingênua, mal
formulada, nem sempre o é para quem a fez. (FREIRE, 1986, p. 48)
Para Freire (1986), o ato de perguntar está vinculado à aprendizagem, e o
primeiro ensinamento que os estudantes devem receber ao iniciar as atividades
escolares é questionar sua realidade, seu cotidiano e a sociedade. Os
questionamentos realizados a partir de incertezas apresentadas em aula auxiliam a
construir o Pensamento ecológico, pois auxiliam a criar novos significados.
Ao ressignificar alguns conceitos, os estudantes trazem novos
questionamentos: “Pesquisadora: Tu bombardeias núcleos, e esse bombardeio a
gente chama de fissão, fissão nuclear! Eletricidade: Então a fissão nuclear ela
quebra núcleos? Como assim, “bombardear”? Lançar bombas?”. Ainda sobre a
energia nuclear, os alunos questionam o acidente de Chernobyl: “Água: Também
pode ter acontecido um choque térmico na usina. Porque já estava muito quente, e
eles tentaram colocar o frio no quente, não daria um choque térmico?”. Aqui, os
questionamentos dos alunos e o debate com colegas e monitores auxiliam a
questionar antigas informações e desenvolver novos significados. O questionamento
acompanhado de debate e construção de novos saberes constitui o questionamento
reflexivo. Conforme Fagundes (2007), existe um ciclo de aprendizagens, ou
pesquisas, em que o professor questiona e problematiza cada questionamento do
aluno possibilitando a reconstrução de saberes. Para Albuquerque (2016, p. 46):
Uma vez que a busca por novos assuntos e a realização de questionamentos
podem levar os alunos a reconstruírem conceitos e a compreenderem melhor
novos conhecimentos, destaca-se a importância da curiosidade para o
processo de aprendizagem.
No quarto encontro, a leitura de um texto sobre energia nuclear (Apêndice C)
despertou a curiosidade dos clubistas, como registrado em uma anotação do diário
de campo: “Muitos alunos querem saber mais sobre os isótopos a partir do texto
sobre energia nuclear”. O aluno Eletricidade não teve constrangimentos em
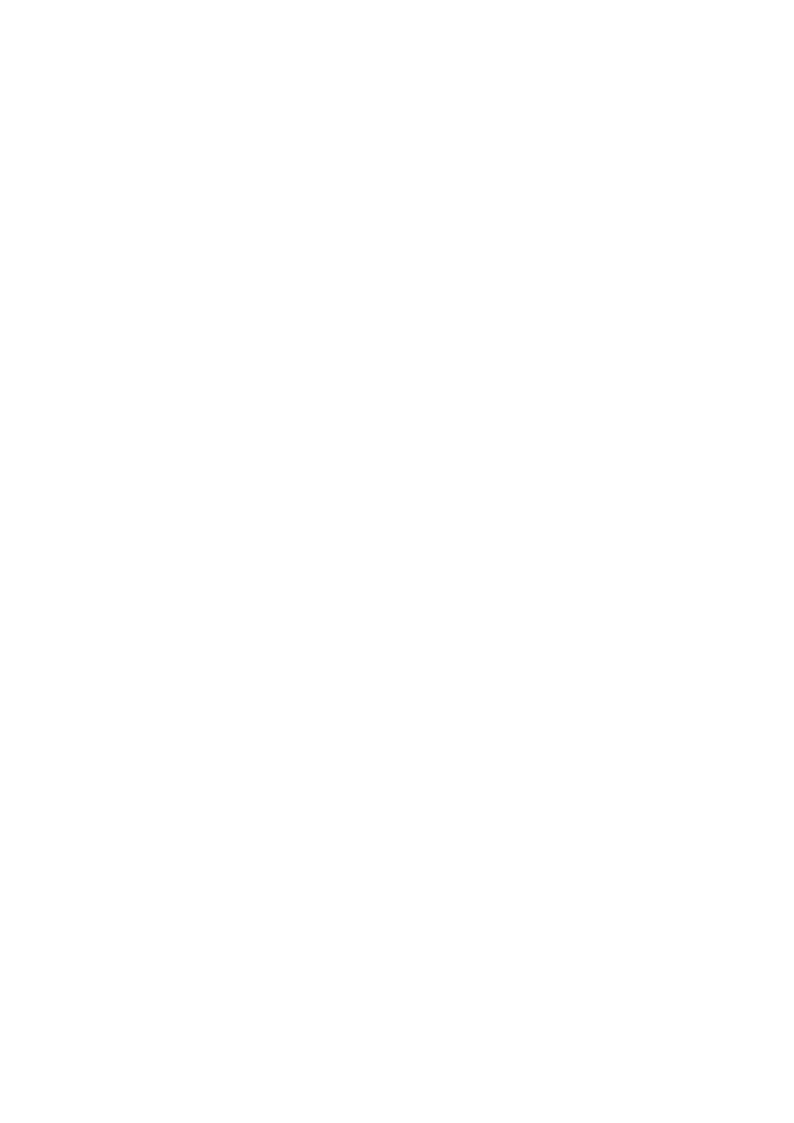
96
demonstrar suas dúvidas e lacunas: “Eletricidade: Tem uma frase que eu marquei
aqui em vermelho: ‘é fácil de transportar combustível’. Como assim?”. Em diversos
momentos os estudantes do CC mostram determinação e coragem para tirar suas
dúvidas, sem medo de errar. Os clubistas demonstraram interesse e tentaram
relacionar o conceito com seus saberes, criando novas concepções: “Eletricidade:
Então tem um átomo do chão e um átomo da mesa, e os dois têm o mesmo número
de prótons, eles são isótopos?”. A curiosidade funciona como mola propulsora para
a formação de novos conhecimentos. “Não haveria criatividade sem a curiosidade
que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não
fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos.” (FREIRE, 1996, p. 17).
Ainda sobre o texto, os estudantes questionam conceitos sobre energia
nuclear: “Onça: Bomba nuclear e bomba atômica é a mesma coisa? Eletricidade:
Bomba nuclear é fissão?”. Ao longo dos encontros, os estudantes demonstraram
interesse sobre os assuntos apresentados, pois os questionaram e debateram sobre
eles. Nessa atividade em particular, os educandos dedicaram-se a realizá-la e
questionaram diversas vezes. Ao questionar partes do texto a turma demonstra ter
dedicado atenção para interpretá-lo. Demo (2015) acredita que, quando o estudante
está motivado para interpretar textos com autonomia, ele deixa de ser objeto para
virar sujeito com proposta de aprendizagem própria.
Além de desenvolver novas aprendizagens, ao realizar o questionamento
reflexivo, os estudantes expandem seus limites cognitivos e ficam abertos a novas
informações. Um dos objetivos do Pensamento ecológico é justamente possibilitar
uma reflexão sobre as nossas ações e expor os indivíduos a novas ações, soluções
e possibilidades.
O desenvolvimento da autonomia é uma importante competência a ser
desenvolvida. O fato de que os participantes do CC manifestaram, em alguns
momentos, atitudes autônomas por meio do questionamento reflexivo demonstra
que a UA sensibilizou os estudantes. Os diversos tipos de questionamentos
realizados ao longo dos encontros refletem a segurança e confiança dos alunos em
participar ativamente no espaço do CC. O questionamento inicial juntamente com a
reflexão e o debate possibilitaram o desenvolvimento de novas competências nos
estudantes como, por exemplo, a autonomia e a criticidade.

97
4.2.1.4 Relações desempenhadas a partir das atividades
O questionamento reflexivo leva à construção de novos significados por meio
de relações desempenhadas entre os conhecimentos prévios dos estudantes e
novas informações apresentadas a partir das intervenções propostas nos encontros.
As perguntas realizadas pelos clubistas permitiram o início de debates em que
válidas relações foram desempenhadas e auxiliaram a reconstruir significados. De
acordo com Freire (1986, p.49), “é preciso deixar claro [...] que a nossa preocupação
pela pergunta em torno da pergunta não pode ficar apenas a nível da pergunta pela
pergunta. O importante, sobretudo, é ligar, sempre que possível, a pergunta e a
resposta a ações que foram praticadas ou a ações que podem vir a ser praticadas
ou refeitas”.
Dentro disso, foi possível relacionar algumas percepções dos estudantes com
a etapa do questionamento reconstrutivo proposto por Demo (2015) por meio do
Educar pela Pesquisa. Nessa etapa, os estudantes reconstroem seus conceitos
prévios por meio de questionamentos e construção de relações. O questionamento
reflexivo envolve a reconstrução de significados a partir das perguntas iniciais e do
interesse dos alunos.
Onde não aparece o questionamento reconstrutivo, não emerge a
propriedade educativa escolar. Entretanto, não se pode reduzir o
questionamento reconstrutivo à simples competência formal da
aprendizagem, mas é crucial compreendê-lo como processo de construção
do sujeito histórico, que se funda na competência advinda do conhecimento
inovador, mas implica, na mesma matriz, a ética da intervenção histórica.
(DEMO, 2015, p.9)
O debate e a troca de ideias entre professores e alunos são fundamentais no
processo de aprendizagem, e o CC constitui-se como um importante espaço para
discutir ciências. Fagundes (2007) afirma que o conhecimento prático e teórico são
interdependentes e que é importante existir um espaço para diálogo, discussões e
reflexão. O CC configura-se como um local para debater ciência, bem como todos os
seus componentes e ramificações, como a EA. Essa ideia será abordada novamente
mais à frente na subcategoria Persistência.
Durante os encontros, os estudantes estabeleceram importantes relações
entre seus conhecimentos prévios e novas informações apresentadas a partir dos
experimentos. Os clubistas relacionaram conceitos científicos, suas implicações

98
sociais e consequências ecológicas. Além disso, os alunos foram capazes de
conectar as temáticas da UA com fatos de suas realidades.
Pela primeira vez foi possível notar que os educandos conseguiram conectar
informações de diferentes encontros, demonstrando que acompanharam as
explicações anteriores dos monitores e da pesquisadora. No quarto encontro, o
aluno Tubarão relacionou espontaneamente os dois acidentes relacionados à
energia nuclear: “Monitora: Ano passado fez 30 anos do desastre de Chernobyl, e
este ano faz 30 anos do de Goiânia. Fala Tubarão. Tubarão: Os dois têm a ver com
radioatividade”. Sobre assuntos relacionados à Química, os alunos aparentam ter
prestado atenção nas simbologias dos criptogramas (Figura 6), pois utilizaram os
termos corretos e relacionaram a imagem ao significado: “Pesquisadora: O elemento
desta semana é o urânio, um dos principais elementos usados para gerar energia na
usina nuclear. Ah e o que é este símbolo mesmo? [MOSTRANDO NO QUADRO]
Alunos: Radioatividade”. Os estudantes demonstraram capacidade de relacionar
conteúdos de diferentes encontros, demonstrando que os conteúdos relativos à UA
foram significativos.
Para o aperfeiçoamento do Pensamento ecológico é imprescindível que os
estudantes vinculem as questões ambientais com sua realidade, com seu meio. No
quinto encontro, o aluno Raposa relacionou os conteúdos de dois encontros
diferentes e demonstrou ter compreendido corretamente os criptogramas e sua
utilidade no cotidiano. “Pesquisadora: A partir dessa noticia que vocês trouxeram e
junto com o que vocês veem em aula, se vocês tivessem que classificar os
agrotóxicos em uma daquelas categorias que vimos no jogo da memória, qual vocês
colocariam? Raposa: Cancerígeno talvez...”. No quarto encontro, os participantes do
CC conseguiram relacionar o conteúdo visto anteriormente sobre criptogramas e
suas realidades, pois identificaram as imagens, seus significados e seus perigos:
“Pesquisadora: Os criptogramas! Alguém viu um desses essa semana?
Onça: Eu sim! Nos galões de alguma coisa.
Tubarão: Eu vi num clube, que era um negócio de inflamável, e era na
cozinha do clube. Eu também vi num posto que era inflamável e que era
cancerígeno.
Raposa: Eu vi num condomínio uma ‘coisa’ de alta tensão.
Eletricidade: Eu vi num posto um de risco de explosão e de inflamável!”

99
Para Freire (1986), é importante que o aluno aprenda a relação entre
“palavra-ação-reflexão” a partir de exemplos concretos de suas realidades e que,
assim, seja estimulado a responder as suas próprias perguntas. Quando o estudante
consegue desempenhar relações entre o conteúdo novo e informações novas com
sua realidade, já conhecida, ele consegue criar conhecimento significativo.
A atividade prática sobre chuva ácida realizada no quarto encontro pareceu
cativar os estudantes, pois muitos lembraram os conceitos complexos vistos
anteriormente. Os alunos Onça, Eletricidade e Água explicaram com exatidão como
esse processo funciona:
“Pesquisadora: Por que isso aconteceu?
Onça: Por causa do efeito do enxofre?
Monitor: Que efeito?
Eletricidade: O enxofre isolou a água das flores.
Água: Já que não tinha água da chuva ele teve que usar a água das flores pra
formar a chuva ácida.”
Ainda sobre a chuva ácida, a aluna Árvore conseguiu relacionar a experiência
com a explicação dada anteriormente. “Pesquisadora: Então como a monitora
explicou, a chuva ácida pode afetar o pigmento das plantas, no caso as pétalas. E o
que mais a chuva ácida pode fazer para os seres vivos? Árvore: Corroer o tecido?”.
Conceitos complexos sobre chuva ácida foram abordados com a turma tendo em
vista o interesse dos clubistas. Os alunos mobilizam saberes para estabelecer
relações entre seus conhecimentos prévios e novos, reconstruindo significados
sobre o conteúdo, o meio ambiente e suas realidades. Segundo Demo (2015, p.
31):
A reconstrução do conhecimento implica processo complexo e sempre
recorrente, que começa naturalmente pelo uso do senso comum.
Conhecemos a partir do conhecido. Compreendemos um texto a partir do
contexto.
As situações experienciadas durante os encontros mobilizaram lembranças
específicas e permitiram que os educandos estabelecessem relações significativas
entre os conteúdos. No terceiro encontro, ao conversar sobre métodos de descarte
de resíduos, o aluno Onça relacionou o conteúdo com uma experiência vivida em
uma viagem: “Pesquisadora: As cidades podem ter cores de lixeiras diferentes.
Onça: Em Maceió é diferente porque não tem só dois, são todos os ‘basicões’, só

100
que ao invés de o orgânico ser marrom é laranja”. Ainda sobre o descarte de
resíduos, a aluna Árvore lembrou-se de situações do seu cotidiano em que pôde
observar o assunto abordado no momento: “Pesquisadora: Eu vi que vocês ficaram
muito preocupados se o vidro é seco ou especial. E o especiais, o lixo hospitalar, as
agulhas, notem que quando vamos tirar sangue tem essas caixinhas especiais que
são para o lixo hospital, luva, agulha, seringa. Árvore: Na farmácia também”. É
possível notar uma observação do diário de campo que explicita as relações que os
estudantes fazem e a importância do diálogo entre professor e estudantes: “As
explicações fizeram as crianças terem ideias brilhantes e lembrarem-se de fatos de
suas próprias vidas”. Os encontros permitiram que os estudantes desempenhassem
relações entre o assunto abordado, suas vivências e experiências pessoais. Ao
participar e elaborar novos raciocínios e relações, os estudantes estão reconstruindo
novos significados. Conforme Demo (2015), quando o estudante supera a
passividade e inicia a formular, elaborar, propor e contrapropor, imprimindo sua
interpretação sobre o contexto, ele está desenvolvendo competência. Aprender não
significa somente adquirir novas informações, pois apresenta consequências para a
vida do aluno e para a sociedade. Para Fagundes (2007, p. 323):
Aprender ciências significa contribuir para que o educando reflita sobre os
conhecimentos socialmente construídos, de modo que possa atuar
criticamente sobre assuntos de seu cotidiano e não se torne mais um
indivíduo que servirá de ‘massa de manobra’.
Além de vincular os debates dos encontros do CC com situações das suas
realidades, os estudantes também conseguem relacionar as questões ambientais
com conteúdos estudados, provavelmente, em ambiente escolar. Ainda no terceiro
encontro, a aluna Rocha relaciona a temática da importância da água doce com um
conhecimento que já trazia sobre o aquífero Guarani: “Pesquisadora: E água doce
acessível, que não está congelada ou não é de difícil acesso, encheria essa
tampinha da garrafa de 2 litros. Então a gente tem muita água no mundo, mas nem
toda é fácil de a gente acessar. E a gente é um planeta água, mas grande parte é
salgada. Rocha: Eu ouvi dizer que não é só na parte das lagoas que tem água,
também tem na parte subterrânea”. Ainda sobre a constituição da água, o aluno
Eletricidade relaciona o assunto abordado em aula com um conhecimento
provavelmente obtido em sua escola, visto que não tínhamos abordado a fabricação

101
de charque nos encontros da UA até aquele momento: “Pesquisadora: A
concentração de sal é tão grande que provoca uma desidratação nas nossas células
internas. Eletricidade: Por isso que usavam o sal pra fazer charque? Pesquisadora:
Por isso que usavam o sal pra fazer charque, por isso que usam o sal para
conservar alimentos”.
No sexto encontro, o aluno Água relacionou a alimentação das tartarugas e
poluição com uma dinâmica que realizou em sala de aula na sua escola: “Água: A
gente aprendeu a fazer uma coisa, eu não lembro como é que é, que dobra a mão,
aí ela enrola o plástico de um jeito e tu tem 15 segundos para conseguir soltar este
elástico do teu dedo só com uma mão. Esta é a dificuldade que uma tartaruga tem
de tirar a sacola da boca”. Novas relações, dessa vez mais complexas, foram
explicitadas pelos estudantes na medida em que apresentam ligações entre o
conteúdo estudado em ambiente escolar, a UA abordada no CC e vivências de suas
realidades. Os participantes do CC, muito ativos e envolvidos, respondem as suas
próprias perguntas subsidiados em suas próprias realidades e saberes. Para Freire
(1996, p. 51): “O bom clima pedagógico democrático é o em que o educando vai
aprendendo à custa de sua prática mesmo que sua curiosidade como sua liberdade
deve estar sujeita a limites, mas em permanente exercício”.
A turma também relacionou o conteúdo abordado durante os encontros com
notícias observadas em suas casas ou ambiente escolar. O ensino informal participa
como importante fonte de informações para os estudantes. No sexto encontro, a
aluna Rocha apresentou uma informação obtida em uma notícia de um programa de
televisão: “Rocha: É que eu estava com uma dúvida, eu me lembro de uma vez que
estava dando no [programa] ‘Fantástico’ uma notícia de uma tartaruga que foi salva
por um grupo né! A tartaruga comeu um canudo. Isso lembra uma água viva?”.
Sensibilizada pela notícia vista anteriormente, a aluna conseguiu relacionar o
assunto de sala de aula com a informação sobre as consequências do descarte
incorreto de resíduos e poluição aquática.
Ainda sobre o ensino informal, a turma relacionou a temática dos encontros
com seus assuntos de interesse como, por exemplo, séries de televisão. No sexto
encontro, Árvore comentou sobre uma série de TV que estava vinculada às
problemáticas ambientais estudadas:
“Árvore: Fizeram uma nave gigante e jogaram os prisioneiros lá. Por menor
que seja o crime que ‘tu’ fizesse mesmo sendo menor de idade ia pra cadeia.

102
Mas aí mudaram os planos na nave e fizeram uma expectativa que depois de
100 anos, a Terra já estaria boa de novo para habitar.
Pesquisadora: Que legal e por que a Terra não estava boa?
Árvore: Por que tinha muita radiação.
Pesquisadora: E tu acha que isto pode acontecer com a Terra?
Árvore: Acho que sim.”
Árvore comenta sobre uma série fictícia de televisão sobre pessoas que
saíram da Terra em um futuro distópico em razão da alta radiação. Por meio de um
debate com a pesquisadora, a estudante conseguiu relacionar seu tema de interesse
com os assuntos recém-abordados no CC. A estudante constituiu uma conexão a
partir da UA e acredita que, em um futuro próximo, as pessoas poderão sair do
planeta devido aos altos níveis de radiação. Além de relacionar os conhecimentos
vistos anteriormente − por exemplo, a radiação −, a aluna posicionou-se criticamente
a respeito das consequências das ações antrópicas atuais.
A aluna sentiu-se confortável para comentar sobre o assunto de seu interesse
com a pesquisadora, relacionando a temática científica e ecológica. Novamente, o
CC é um rico espaço para o desenvolvimento da relação professor-aluno, pois é um
local para o debate de ciências. Um vínculo professor-aluno saudável auxilia o
processo de aprendizagem e reconstrução de saberes. Para Miras (1998, p. 61), o
papel do professor é fundamental para criar novos significados: “[...] contando com a
ajuda e guia necessárias, grande parte da atividade mental construtiva dos alunos
deve consistir em mobilizar e atualizar seus conhecimentos anteriores para entender
sua relação ou relações com o novo conteúdo”. No quinto encontro, é possível
encontrar no diário de campo uma anotação sobre as relações estabelecidas pelos
estudantes: “A partir do que falamos os alunos constroem ótimos exemplos, relações
válidas são feitas”.
Durante os encontros, foi possível notar que a turma conseguiu responder as
perguntas dos monitores de maneira crítica, por meio do questionamento reflexivo.
No segundo encontro, após um extenso debate sobre o desmatamento e o efeito do
deslize de terra nos morros, os clubistas demonstraram suas percepções sobre a
qualidade de vida nas favelas e a relação com o meio ambiente:
“Monitora: O que acontece nas favelas, gente?
Onça: É tanta casa que nem tem planta. Por isso que tem gente que passa
mal de asma lá [na favela], porque não tem muita planta.

103
Eletricidade: Eles não conseguem respirar direito.
Onça: Eles não têm moradia digna.”
Os estudantes conseguiram relacionar suas percepções com sociedade e
meio ambiente, buscando compreender o panorama geral do assunto abordado.
Comparando com a categoria anterior, dessa vez os estudantes não pensaram de
maneira reducionista, pois vincularam a questão ecológica com a social. Após breve
reflexão realizada no quarto encontro, Tubarão afirmou que os vegetais sem
agrotóxicos são chamados de naturais: “Pesquisadora: E tem vegetais sem
agrotóxicos? Como a gente chama? Tubarão: Ahn.... pode ser... ahn... natural,
porque quando a gente coloca agrotóxico, estamos botando veneno na comida... e
seria uma coisa natural se não tivesse agrotóxico”. O estudante demonstrou uma
grande gama de conhecimento, conectando suas percepções com conceitos
teóricos e práticos. Por meio do questionamento reconstrutivo, os alunos estudantes
utilizaram seus saberes prévios e os conhecimentos desenvolvidos para analisar
criticamente a situação. Para Demo (2015, p. 31): “A reconstrução do conhecimento
implica processo complexo e sempre recorrente, que começa naturalmente pelo uso
do senso comum. Conhecemos a partir do conhecido”.
No terceiro encontro, é possível encontrar no diário de campo a seguinte
anotação: “Os alunos se surpreendem e gostam de aprender”. As relações
estabelecidas permitiram a construção de novos argumentos, relacionando
conhecimentos prévios e novos.
Ao estabelecer relações válidas os estudantes estão no caminho para a
construção do pensamento crítico e ecológico. Para Demo (2015, p. 9): “Não é
possível sair da condição de objeto (massa de manobra), sem formar consciência
crítica desta situação e contestá-la com iniciativa própria, fazendo deste
questionamento o caminho da mudança”. Conforme Fagundes (2007, p. 333):
A atividade experimental é fonte geradora de perguntas e de formulação de
hipóteses explicativas [...]. Essa concepção de Ciências é fundamental para a
formação do educando, pois ao construir seu próprio conhecimento, ele
desenvolve características e atitudes essenciais para o exercício de uma
cidadania consciente, que será mais significativa, se o professor levar em
conta os conhecimentos prévios deste aluno e se permitir a ele um
movimento interativo, levando-o a refletir, investigar, observar, debater ideias
e a comunicar aos outros seus resultados. Este processo inicia-se com o
questionamento.

104
As relações estabelecidas entre os conhecimentos prévios e os novos
conceitos apresentados indicam que os estudantes realizam novas aprendizagens,
seja pelo contato com novas informações, seja relembrando temas tratados em
encontros anteriores, seja retomando conteúdos de seus cotidianos. A reconstrução
de conhecimentos é um dos objetivos do questionamento reflexivo, pois busca
formar estudantes autônomos e críticos. A etapa Relações desempenhadas a partir
das atividades demonstra esse importante ciclo de aprendizagem, em que os
estudantes, juntamente com os monitores, criam novos significados para antigos
conceitos e paradigmas. O questionamento e a reconstrução são competências do
sujeito que desenvolve seu Pensar ecológico.
4.2.1.5 Persistência dos clubistas
Além de apresentar saberes intrínsecos e desenvolver relações complexas
entre os conteúdos dos encontros e suas realidades, os participantes do CC
conseguiram expandir seu pensamento devido a sua persistência. A curiosidade, a
determinação em tentar novamente e a vontade de aprender são características
presentes nessa turma. No terceiro encontro, é possível encontrar no diário de
campo a seguinte anotação: “Os alunos se surpreendem e gostam de apreender”.
No quinto encontro (Quadro 7), ao observar os animais em álcool 70%, os alunos
criam diversos palpites tentando identificar qual o líquido em que o animal estava
imerso.
“Pesquisadora: E o que é esse líquido?
Eletricidade: Água.
Canguru: Água com veneno para ela morrer.
Eletricidade: Vinagre.
Raposa: Acetona.
Onça: Vinagre, shoyo.
Canguru: Tem cheiro de álcool.”
No mesmo encontro, após a atividade em que observaram animais imersos
em álcool e descreveram os hábitos de vida dos mesmos, os clubistas levantaram
hipóteses em relação a seus habitats. Eles trabalharam em grupo, apresentaram
seus palpites para descobrir o habitat da vespa recém-observada e, após diversas
tentativas, reconstruíram conceitos:
“Monitora: Qual o habitat da abelha?

105
Tubarão: Voador
Pesquisadora: Que mais?
Eletricidade: Colmeia
Monitora: E essas colmeias ficam onde?
Árvore: Árvores
Raposa: Casas.”
No mesmo encontro, em outro momento, os educandos levantam suas
hipóteses sobre o habitat das tartarugas. Após observarem cada animal em álcool,
os alunos responderam individualmente suas percepções para, então, comunicar
aos colegas suas respostas e em grupo desenvolver um grande conceito geral. Os
estudantes demonstraram persistência, vontade de aprender e apresentaram
respostas mais complexas quando questionados e estimulados pelos monitores.
“Pesquisadora: O que vocês escreveram no exemplar número 1?
Vários: Tartaruga.
Monitora: Qual é o habitat da tartaruga?
Tubarão: Terrestre e aquático.
Pesquisadora: Essa daqui [MOSTRANDO O EXEMPLAR]?
Eletricidade: Parece terrestre...
Pesquisadora: Alguém colocou diferente?
Raposa: Praia.
Tubarão: Pântano?
Pesquisadora: Mais alguma coisa? Guris? Colocaram alguma coisa diferente?
Eletricidade: Jardim Botânico?”
No terceiro encontro, foi possível encontrar no diário de campo uma anotação
sobre a persistência dos estudantes: “Os alunos não têm timidez para debater e
discutir até chegar à resposta. (questionamento/Educar pela Pesquisa)/são
perseverantes/gostam de descobrir a resposta, de serem desafiados. O trabalho
funciona melhor em conjunto. Caso eu deixe o desafio para eles sozinhos, eles não
trabalham tão bem! Gostam de trabalhar COM os monitores”. Para Demo (2015, p.
36): “O aluno-sujeito é aquele que trabalha com o professor, contribui para
reconstruir conhecimento, busca inovar a prática, participar ativamente em tudo”.
Ainda em relação à persistência e vontade de aprender, no quinto encontro foi
possível encontrar a seguinte observação no diário de campo: “Mesmo sem saber a
nomenclatura ‘orgânico’ o estudantes tentou nomear os vegetais sem agrotóxico. Os
alunos parecem não ter medo de errar”. Os alunos não têm constrangimento em

106
assumir que não sabem e não têm medo de tirar suas dúvidas. No terceiro encontro,
a aluna Canguru afirma que não entendeu completamente a explicação:
“Pesquisadora: Você já parou para pensar que a água no planeta é a mesma desde
sempre? Entenderam o que eu quis dizer com isso? Água: Sim. Canguru: Mais ou
menos...”. A aluna sentiu-se confortável para expor suas dúvidas no espaço do CC.
O trabalho intenso e a dedicação demonstram que esses alunos aos poucos
foram criando interesse pela UA. Persistentes, em grupo eles questionam, elaboram
hipóteses, reconstroem significados e, assim, aos poucos, vão construindo
consciência crítica, autonomia e aperfeiçoando o Pensamento ecológico. “As
atitudes de colaborar, discordar, rever aspectos e escolher os mais importantes,
entre outros, denotam capacidade de decisão e a condição de construção de sua
autonomia.” (FAGUNDES, 2007, p. 332).
4.2.1.6 Complexificação do pensamento
Nesta subcategoria, é possível observar os sinais de complexificação do
pensamento dos alunos por meio de relações e falas mais críticas e complexas. O
pensamento complexo apresentado pelos educandos distancia-se do
antropocentrismo e aproxima-se do ecocentrismo, pois não entende o meio
ambiente de maneira reducionista. Para Carvalho (2008, p. 38), “[...] para apreender
a problemática ambiental, é necessário um visão complexa de meio ambiente, em
que a natureza integra uma rede de relações não apenas naturais, mas também
sociais e culturais”. O pensamento complexo é pensamento reconstruído,
integrativo, crítico e não reducionista.
Por reconstrução, compreende-se a instrumentação mais competente da
cidadania, que é o conhecimento inovador e sempre renovado. Oferece, ao
mesmo tempo, a base da consciência crítica e a alavanca da intervenção
inovadora, desde que não seja mera reprodução, cópia, imitação. (DEMO,
2015, p. 13)
No terceiro encontro, Rocha e Tubarão debatem sobre a importância da água
para a saúde dos animais, complexificando suas perguntas e respostas: “Rocha: Eu
‘tô’ com uma dúvida, normalmente a verdura e a salada, alface, ela é feita com água
porque a gente planta e rega, ela cresce e tudo mais. Por que alguns alimentos têm
uma grande quantidade de água? Tubarão: Porque a maioria da água ‘tá’ no nosso

107
sangue então a gente precisa de água porque tá no nosso sangue”. Para entender a
causa da quantidade de água nos alimentos, o aluno Tubarão buscou compreender
a relação da água no sangue dos seres humanos, relacionando conceitos de saúde
humana e qualidade da água e, ao mesmo tempo, ensinando para a colega. No
mesmo encontro, o aluno Água tenta relacionar diferentes assuntos para
compreender o conceito de contaminação pela água: “Pesquisadora: E se eu tomo
uma água contaminada e suja? Água: Tu se hidrata pouco e pode ficar mal?”. Água
sinalizou que a água não somente hidrata como também apresenta conexão com a
saúde humana e a contaminação. É possível comparar essa afirmação do aluno
com uma fala anterior de um colega, que ignora as outras funções da água para a
saúde dos seres humanos.
No quinto encontro, ao debater sobre agrotóxicos, os estudantes Raposa e
Tubarão consideraram que encontrar “bichinhos” grudados nos vegetais que
comemos apresenta pontos positivos e negativos: “Monitora: Isso é bom ou ruim?
Raposa: Bom e ruim. Tubarão: Bom e ruim ao mesmo tempo”. É interessante ver os
próprios estudantes respondendo aos seus questionamentos e, ao mesmo tempo,
considerando que as problemáticas ambientais podem ser mais complexas do que a
classificação bom e ruim. Os alunos conseguiram vincular os diferentes aspectos
sociais e ecológicos que estão envolvidos nas questões dos agrotóxicos. Ainda
sobre o assunto, eles conseguiram relacionar diferentes conteúdos para reconstruir
seus saberes sobre agrotóxicos e alimentação humana: “Pesquisadora: E na nossa
alimentação, temos mais comida com ou sem agrotóxico? Raposa: Com agrotóxico.
Tubarão: Eu acho que com também”. Ainda sobre agrotóxicos, o aluno Tubarão
consegue mudar seu olhar para outros seres humanos e notar que muitas pessoas
têm nojo de insetos nos alimentos orgânicos: “Tubarão: Muita gente que é nojento e
não quer ver praga” − falando sobre um assunto muito debatido atualmente. Os
estudantes conseguem analisar a sociedade fora da sala de aula, demonstrando
consciência crítica e preocupação com a saúde humana.
A complexificação do pensamento é o último estágio das etapas de
reconstrução do pensamento, pois considera que nesse momento os estudantes
reconstruíram significados por meio do questionamento reflexivo. Além de
manifestar pensamento crítico e ecológico, os clubistas analisaram as questões
ambientais de maneira integrativa, compreendendo suas implicações sociais e
políticas em escala global.

108
Analisar o caminho que os estudantes trilharam para estabelecer relações
relevantes, reconstruir conhecimentos e complexificar o pensamento foi importante
para compreender como a estrutura da UA e a EA sensibilizaram os estudantes. Ao
longo do percurso, foi possível notar que a turma criou uma associação positiva com
a temática ecológica, demonstrando interesse e realizando questionamentos válidos
sobre esse tema.
Por meio da valorização dos saberes prévios dos estudantes, os seus
interesses foram valorizados e seus questionamentos foram realizados. Como forma
de reconhecer a importância desses questionamentos − com os monitores −, novos
significados foram desenvolvidos por meio de relações válidas entre conhecimentos
prévios e novos. Devido a sua persistência e outras competências, a turma
conseguiu complexificar o pensamento, participando, agora, dos encontros de
maneira crítica e autônoma.
Aqui, foram apresentadas algumas das etapas percorridas pelos estudantes
para aperfeiçoar o Pensamento ecológico, que será abordado mais à frente na
próxima grande categoria: percepções ecocêntricas dos clubistas.
4.2.2 Desenvolvimento da relação entre ser humano e meio ambiente
Para o aperfeiçoamento do Pensamento ecológico, é imprescindível entender
(e desenvolver) a maneira como os estudantes compreendem a relação ser
humano/meio ambiente. O indivíduo que pensa ecologicamente mantém um
equilíbrio entre suas percepções antropocêntricas e ecocêntricas, relaciona as
partes do todo entendendo que a natureza funciona em um ciclo dinâmico e,
principalmente, consegue expandir suas percepções para diversos aspectos da
natureza, pois compreende que o ser humano faz parte do meio ambiente. Para Boff
(2003, p. 17): “Urge refazer o caminho de volta, rumo à casa materna comum e
irmanarmo-nos com todos os seres”. Nessa categoria, os estudantes estão no meio
da caminhada, questionando e refazendo seus passos e, assim, explorando o seu
vínculo com o meio ambiente.
Ao longo dos encontros no CC, os alunos começaram a desvendar a relação
ser humano/meio ambiente pelos pontos negativos: explorando como a natureza
pode afetar negativamente o ser humano e como o ser humano pode afetar
negativamente a natureza. Na presente subcategoria, foi observado que, em alguns

109
momentos, os clubistas identificaram que acidentes ambientais podem causar
vítimas humanas, mas criticamente também avaliaram que as ações antrópicas
apresentam consequências para o meio ambiente. No entanto, conseguiram
demonstrar empatia frente a outros seres humanos que podem ter sido vítimas de
acidentes relacionados a problemáticas ambientais.
Nesta subcategoria, serão apresentadas as primeiras percepções dos
estudantes relacionadas à maneira como eles se colocam no meio ambiente. Até o
momento, essa relação ainda não havia sido explorada nos encontros, mas, a partir
de atividades propostas, o assunto surgiu e os alunos participaram ativamente.
Nos primeiros encontros, a turma demonstrou suas percepções sobre o papel
do ser humano no meio ambiente e sobre como o ser humano pode afetar o meio
ambiente. Durante um debate, no segundo encontro, a respeito do desmatamento,
os estudantes revelaram suas percepções do impacto do ser humano na natureza:
“Pesquisadora:Tu impacta a natureza? Como?
Onça: Poluição.
Tubarão: Através das caçadas.
Raposa: Pelo desmatamento.”
Inicialmente, a turma creditou à humanidade ações negativas sobre o meio
ambiente, ou seja, quando a pesquisadora questionou sobre o impacto e a relação
humana com a natureza, as respostas indicaram certa negatividade por parte dos
alunos. Nesse momento, eles ainda desempenhavam um vínculo distante com o
ambiente. Ainda sobre o possível impacto dos seres humanos, a aluna Árvore e o
aluno Onça apresentaram suas percepções sobre desmatamento:
“Pesquisadora: Como que os seres humanos retiram a mata?
Árvore: Queimando, cortando.
Onça: Destruindo.”
O aluno Onça escolheu palavras de teor negativo para descrever o processo
de desmatamento. Para ele, a ação antrópica nessa situação está vinculada à
devastação. Para esses alunos, neste momento, a relação da sociedade com o meio
ambiente é negativa, e as ações humanas estão associadas à destruição da
natureza. Sensibilizar-se em relação à ação antrópica – todas as formas, tanto
positiva quanto negativa – é uma importante etapa para o aperfeiçoamento do

110
Pensar ecológico. Pela primeira vez os clubistas analisam os fatos de maneira crítica
e deixam de somente observá-los.
Ao longo da UA, foi possível observar que os alunos desacomodaram-se das
suas antigas percepções e expandiram seus horizontes. Durante esse processo de
aprendizagem, após algumas dinâmicas, os alunos pareciam estar saindo de suas
zonas de conforto. No quinto encontro, dois estudantes trouxeram notícia de um
famoso acidente envolvendo agrotóxicos em Bophal para apresentar no Mural da
ciência, atividade semanal realizada no CC: “Tubarão: Tinha três tonéis cheios de
agrotóxicos de 42 toneladas, quando isso aconteceu teve uma explosão que
explodiu todos os outros. Raposa: Que liberou uma nuvem de 40 toneladas de
agrotóxicos e que tipo destruiu literalmente a empresa inteira”. Essa notícia serve de
exemplo para validar as diferentes percepções dos alunos sobre a relação ser
humano/natureza, pois, conforme os alunos, ela demonstra que as pessoas podem
impactar o ambiente, assim como o meio ambiente pode afetar as pessoas.
A anotação do diário de campo demonstra: “Os estudantes trouxeram uma
notícia relacionada a agrotóxicos: parece que uma maneira de chamar atenção e
falar sobre situações que aconteceram com seres humanos”. Aqui, podemos notar
pela primeira vez uma dicotomia, pois, no processo de reconstrução de significados
os estudantes percebem a associação do ser humano com a natureza de maneira
diferente. Essa dicotomia entre conceitos e percepções não é exclusiva dos
participantes do CC. Conforme Duvoisin e Ruscheinsky (2012), a sociedade vive um
conflito de posições antagônicas, dúvidas e certezas, e a EA deve conseguir
transpor esse obstáculo. “A tensão do paradigma vigente (fragmentação e
superespecialização) e do paradigma da complexidade tem sido tema de debate
desde a emergência da modernidade.” (DUVOISIN; RUSCHEINSKY, 2012, p. 119).
Boff (2003) também sinaliza sobre os diferentes papéis desempenhados pelo ser
humano na natureza:
Por um lado [o ser humano] é parte da natureza por seu enraizamento
cósmico e biológico. É fruto da evolução que produziu a vida da qual ele é
expressão consciente e inteligente. Por outro, se sobreleva à natureza e nela
intervém, criando cultura e coisas que a evolução sem ele jamais criaria como
uma cidade, um avião e um quadro de Portinari. (BOFF 2003, p. 19)
Ao mesmo tempo em que mostram suas preocupações com o meio ambiente,
os educandos também manifestam empatia com seres humanos, principalmente
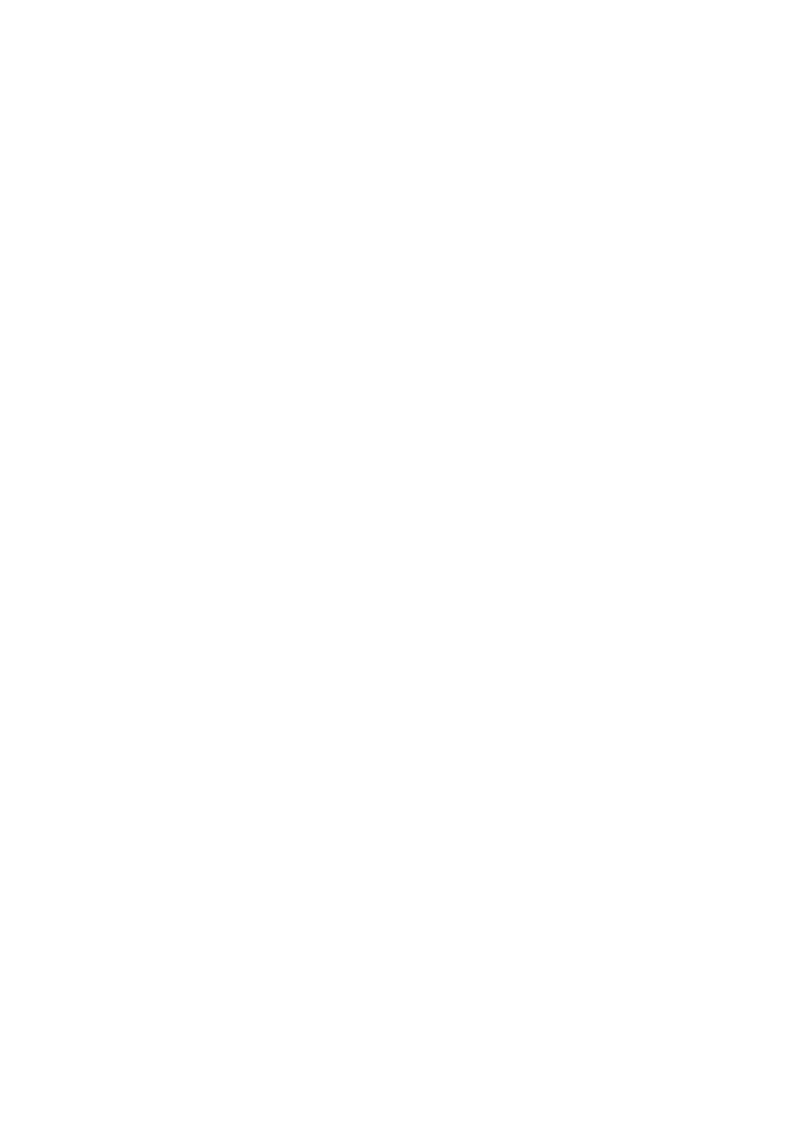
111
com sua saúde. Dessa maneira manifestam suas percepções sobre os efeitos da
natureza na saúde humana. Raposa relatou para os colegas as consequências do
acidente envolvendo agrotóxicos, mostrando preocupação pelo número de vítimas e
feridos: “Raposa: E por volta de 500 mil pessoas foram expostas a esse gás e
dessas, 4 mil morreram instantaneamente. Elas eram sufocadas pelo gás enquanto
dormiam. Enquanto isso 50 mil sobreviveram com graves sequelas”. É possível notar
as seguintes anotações no diário de campo: “Alunos trouxeram notícia sobre um
acidente químico realizado por seres humanos que afetou outros seres humanos” e
“Os estudantes trouxeram uma notícia relacionada a agrotóxicos. Provavelmente
sentiram-se inspirados pela aula de Chernobyl, já que tratava de um acidente
envolvendo veneno e erro humano, com mortes”. A partir dessas duas anotações
podemos notar, primeiramente, que os estudantes sentiram-se sensibilizados pelo
tema recém-abordado − o desastre de Chernobyl e de Goiânia −, pois trouxeram
uma notícia sobre um evento semelhante. Em um segundo momento, é possível
notar que os participantes do CC interessaram-se pelos acontecimentos devido ao
efeito causados nas vítimas do acidente, ou seja, os clubistas compreendem que a
humanidade ainda desempenha um papel fragilizado em algumas situações, e
preocupam-se com outros seres humanos.
A preocupação dos estudantes com pessoas que passaram por tragédias
ambientais desenvolveu-se ao longo dos encontros. No segundo encontro, Onça
mostrou empatia com vítimas de desmoronamento na cidade de Petrópolis:
“Pesquisadora: Na área onde tinham casas não existiam raízes, a água conseguiu
levar tudo. Onça: Muita gente morreu?”. O aluno ignorou os outros seres vivos e
manifestou preocupação em relação às vítimas humanas do acidente ambiental.
Novamente, é apresentada uma percepção que não é antropocêntrica nem
ecocêntrica: o aluno mostra angústia voltada somente aos seres humanos.
No entanto, a manifestação da empatia dos estudantes em relação à saúde e
ao bem-estar de outros seres humanos demonstra que esses alunos compreendem
as consequências de desastres ambientais na sociedade. No terceiro encontro, após
realizar uma atividade (dinâmica Descarte − Quadro 5) em que os estudantes
deveriam indicar a lixeira mais apropriada para o descarte de alguns materiais,
muitos se preocuparam com a saúde dos garis, como é possível encontrar no diário
de campo: “Os alunos ficaram muito preocupados com a possibilidade do lixo seco
(vidro) machucar os garis, e consideraram o vidro como lixo especial por esse

112
motivo”. Também é possível observar diferentes resultados obtidos a partir da
dinâmica Descarte no terceiro encontro, em que alguns grupos de alunos definiram o
vidro como lixo especial justamente pela preocupação com a saúde dos garis
(Figura 7). O cuidado com os outros, nessa situação, também permite mudanças nas
atitudes dos alunos, que compreenderam os perigos do descarte incorreto por meio
da dinâmica. Boff (2003) acredita que a essência humana reside no cuidado e que
esse é fundamental para a conservação da vida.
O cuidado é a força maior que se opõe à lei da entropia, o desgaste natural
de todas as coisas, pois tudo de que cuidamos dura muito mais. Essa atitude
precisamos resgatá-la hoje, como ética mínima e universal, se quisermos
preservar a herança que recebemos do universo e da cultura e garantir nosso
futuro. O cuidado surge na consciência coletiva sempre em momentos
críticos. (BOFF, 2003, p. 23)
É importante notar que os estudantes em nenhum momento culpam o meio
ambiente pelos acidentes ambientais com vítimas humanas. É como se os
educandos entendessem o papel que a sociedade desempenhou nessas diferentes
tragédias ambientais, pois as problemáticas propostas pela investigadora na UA
estavam relacionadas, de alguma maneira, com a ação antrópica. O acidente
nuclear de Goiânia, o desastre de Chernobyl e os deslizamentos de terra advindos
do desmatamento são alguns dos exemplos utilizados ao longo dos encontros no
CC. Além disso, vale lembrar que dois estudantes compartilharam com os colegas
uma notícia sobre a tragédia de Bophal, que, assim como os exemplos acima, está
vinculada ao erro humano.
Dessa forma, é possível observar que os encontros sensibilizaram os
estudantes sobre o vínculo do ser humano com o meio ambiente. Um dos objetivos
da UA foi justamente proporcionar novas experiências e dinâmicas capazes de
estimular a atenção e o interesse em relação à temática ambiental. Apesar de,
nessa etapa, ainda não apresentarem percepções ecocêntricas, os relatos dos
estudantes manifestam uma mudança, uma reestruturação nas percepções
relacionadas ao meio ambiente. Esta subcategoria apresentou falas e atitudes da
turma que demonstram que esses alunos, em diversas situações, saíram da sua
“zona de conforto”, pois foram apresentados a assuntos desconhecidos para eles,
questionaram verdades em diversos momentos e reconstruíram novos significados.

113
A grande categoria Pensamento em transição expressou percepções
fundamentais dos participantes do CC para o aperfeiçoamento do Pensamento
ecológico. Um processo complexo em que foram reconstruídos novos
conhecimentos por meio de etapas que se assemelham ao Educar pela Pesquisa. É
possível dizer que os passos intermediários não foram completamente
antropocêntricos, nem totalmente ecocêntricos, porém desacomodaram os
estudantes quanto as suas antigas concepções do meio ambiente e ampliaram seus
horizontes para novas informações.
4.3 Percepções ecocêntricas dos clubistas
Esta categoria apresenta as percepções dos clubistas, durante os seis
encontros, que se assemelham às ideias do ecocentrismo ou, em outras palavras,
da ecologia profunda. Percepções ecocêntricas baseiam-se na ideia de que todos os
seres vivos são importantes e que o ser humano não ocupa uma posição hierárquica
superior em relação aos outros habitantes do planeta, pois o centro é a ecologia. Os
valores ecocêntricos estão sustentados nos conceitos da ecologia profunda e no
Pensamento ecológico.
Enquanto que o velho paradigma está baseado em valores antropocêntricos
(centralizados no ser humano), a ecologia profunda está alicerçada em
valores ecocêntricos (centralizados na Terra). É uma visão de mundo que
reconhece o valor inerente da vida não-humana. (CAPRA, 1996, p. 38)
Ideias ecocêntricas são opostas a ideias antropocêntricas, pois enquanto uma
valoriza o todo, a outra valoriza somente uma espécie, o ser humano. Relembrando
que, para Capra (1996), o ecocentrismo prestigia o pensamento holístico, não linear,
intuitivo e sintético, além de valores de conservação, cooperação e qualidade. O
antropocentrismo, por sua vez, enaltece o pensamento reducionista, linear, racional
e analítico, em adição a valores de expansão, competição, quantidade e dominação.
Nesse contexto, foi possível identificar tendências ecocêntricas nas falas,
ações e materiais produzidos pelos participantes do CC, principalmente nos últimos
encontros. A presente categoria está organizada em duas subcategorias: conexão
com o meio ambiente e pensamento sistêmico dos clubistas. Na subcategoria
conexão com o meio ambiente, as percepções dos estudantes refletem seu estado

114
de conexão com a natureza. Aqui os alunos estão mais próximos do meio ambiente
e o compreendem de maneira mais complexa, respeitando sua diversidade. A
subcategoria pensamento sistêmico dos clubistas apresenta percepções dos
estudantes organizadas conforme o tripé da sustentabilidade, refletindo as questões
ecológicas, econômicas e sociais relativas ao meio ambiente de forma crítica e
complexa.
4.3.1 Conexão com o meio ambiente
A presente subcategoria tem como objetivo apresentar as percepções dos
educandos que vão ao encontro de valores ecocêntricos relacionados à conexão do
ser humano com o meio ambiente. Durante os seis encontros, foi possível notar que
a maneira pela qual a turma representava seu vínculo com a natureza foi mudando.
Após debates e apresentações, alguns estudantes demonstraram maior conexão em
relação às questões que tangem ao meio ambiente. De diferentes maneiras,
apresentadas a seguir no texto, os alunos demonstraram que consideram o ser
humano parte integrante da natureza. Para Guimarães (1995), é importante ressaltar
essa ideia com os alunos: “Em EA é preciso que o educador trabalhe intensamente
a integração entre ser humano e ambiente e se conscientize de que o ser humano é
natureza e não apenas parte dela” (GUIMARÃES, 1995, p. 30).
Ao assimilarem a ideia complexa de integração com o meio ambiente, os
estudantes demonstram intenção em cuidar dele. Quando o indivíduo compreende
que faz parte do meio, ele entende por que deve conservá-lo. Conforme Guimarães
(1995), o indivíduo integrado com o meio conserva e não domina.
Ao assimilar essa visão (holística), a noção de dominação do ser humano
sobre o meio ambiente perde o seu valor, já que estando integrado em uma
unidade (ser humano/ natureza) inexiste a dominação de alguma coisa sobre
a outra, pois já não há mais separação. Podendo assim resultar em atitudes
harmoniosas por parte do ser humano, em consonância com as relações
naturalmente existentes entre os elementos vivos e elementos não-vivos de
um ecossistema dinamicamente equilibrado. (GUIMARÃES, 1995, p. 30)
As percepções de conexão com a natureza foram observadas em diferentes
momentos. No sexto encontro, a dinâmica Teia da vida, realizada no primeiro dia da
UA, foi relembrada com o objetivo de levar a turma a questionar sobre a

115
possibilidade da adição de outro ser vivo ao círculo. Em resposta ao
questionamento, os clubistas iniciaram um interessante debate:
“Pesquisadora: Vocês lembram aquela atividade do primeiro encontro que a
gente fez, a Teia da vida, em que vocês escolheram um animal integrante do
círculo. Se vocês pudessem escolher outros seres vivos para colocar naquela
teia, quais escolheriam?
Raposa: O ser humano
Pesquisadora: Por que você escolheria o ser humano para compor a teia da
vida?
Raposa: Eu acho que assim como ele pode prejudicar, ele pode ajudar muito
às vezes, se ele souber usar.
Árvore: Se ele souber usar sua consciência.
Tubarão: Usar os frutos, as ‘coisas’ que ele recebe, de maneira correta.”
Ao escolher o ser humano, o aluno Raposa coloca-se como integrante do
meio ambiente, pois considera que as pessoas fazem parte da natureza. É
importante lembrar que, na primeira vez que essa atividade foi realizada, nenhum
aluno citou o ser humano como integrante do círculo da Teia da vida. Além disso,
Raposa reconhece que, apesar de eventualmente impactar de forma negativa a
natureza, o ser humano é capaz de desempenhar uma relação positiva, auxiliando e
resolvendo problemas. Aqui o aluno demonstra conhecimento sobre a dimensão dos
atos realizados pelo ser humano, pois analisa as consequências positivas e
negativas da ação antrópica. Para Carvalho (2008, p.37), “[...] as modificações
resultantes da interação entre os seres humanos e a natureza nem sempre são
nefastas; podem muitas vezes ser sustentáveis, propiciando, não raro, um aumento
da biodiversidade pelo tipo de ação humana ali exercida”. Nesse mesmo debate,
Árvore e Tubarão participaram exibindo suas próprias percepções antropocêntricas:
Árvore acredita que o ser humano pode auxiliar o meio ambiente se souber utilizar
sua consciência, enquanto Tubarão afirma que a sociedade precisa saber utilizar os
recursos que recebe de maneira correta. Além de corresponder aos princípios do
Pensamento ecológico, as ideias apresentadas pelos estudantes carregam em si
complexidade e crítica.
Ainda durante o sexto encontro, em um debate, o aluno Onça relaciona o
descarte de resíduos do Japão com uma notícia que ouviu anteriormente:
“Pesquisadora: Vocês sabem que no Japão não existe lixeira na rua? Onça: Porque

116
‘tu’ é obrigado, não obrigado, ‘tu’ tem que levar teu lixo até o local que tem para
descartar”. Inicialmente o aluno declarou que os cidadãos eram obrigados a realizar
uma ação, mas, logo após, mudou de ideia afirmando que os habitantes levam seus
resíduos até o local correto para descarte por vontade própria. Ao relacionar o
assunto com seus conhecimentos e comunicar para os colegas, o aluno conseguiu
conectar as ações dos cidadãos japoneses aos conceitos de heteronomia e
autonomia.
A heteronomia e autonomia são conceitos discutidos na área acadêmica da
educação e da psicologia e configuram-se como etapas no desenvolvimento infantil.
Em linhas gerais, a heteronomia identifica o período em que o indivíduo precisa da
validação do outro, enquanto na autonomia o indivíduo é capaz de tomar suas
próprias decisões. Montoya et al. (2011, p. 80) sinalizam que, segundo Piaget, a
assimilação das regras promove “a passagem da moral heterônoma ou moral da
obediência, para a moral autônoma ou da justiça”. Um dos objetivos da educação é
permitir que o estudante transmute da heteronomia para a autonomia.
Para educar a autonomia na criança, portanto, é útil “educá-la”
cientificamente. Mas não basta, para isso, submetê-la à sociedade adulta, e
fazê-la compreender de fora as razões desta submissão: a autonomia é um
poder que só se conquista de dentro e que só se exerce no seio da
cooperação. (PIAGET, 1994, p. 276)
Conforme Lima (2012), a autonomia é formada pela autonomia intelectual e
moral. “A autonomia moral é aqui entendida como capacidade do cidadão para
escolher entre as possibilidades que se apresentam e para influir modificando essas
possibilidades na busca de melhores condições, individual e coletiva, de vida.” (LIMA
2012, p. 205). A autonomia moral está vinculada à ética e ao posicionamento crítico
dos estudantes frente às situações apresentadas. A autonomia intelectual, por sua
vez, refere-se à competência cognitiva. “Autonomia intelectual é independência para
gerir aprendizagens próprias. É capacidade de aprender a aprender e aprender a
fazer.” (LIMA, 2012, p. 205). Estudantes autônomos são capazes de desenvolver o
Pensamento ecológico, pois conseguem pensar de maneira crítica. Para Duvoisin e
Ruscheinsky (2012, p. 123):
Estamos vivendo em uma época de intensas transformações na qual é
fundamental a busca por alternativas capazes de contribuir com a formação

117
de indivíduos autônomos, com competência para exercer a cidadania
participativa e o desafio de humanizar a modernidade.
Na Educação Ambiental podemos encontrar semelhanças entre a
heteronomia e a ecologia rasa, em que o indivíduo só realiza um ato sustentável por
que é solicitado ou observado por outros. Em ambientes escolares e públicos, é
possível encontrar placas com dizeres semelhantes a “Não jogue lixo no chão”,
“Proibido alimentar os animais” e “Desligue as luzes do ambiente antes de sair”.
Esses sinais demonstram como indivíduos não autônomos precisam da constante
vigia de outros para realizar ações corretas ecologicamente.
Já a autonomia assemelha-se à ecologia profunda, pois o ser humano
autônomo compreende as razões pelas quais deve realizar ações sustentáveis. O
indivíduo autônomo, nessa situação, é conectado com o meio e entende que ações
negativas em relação à natureza vão eventualmente afetá-lo também. Carvalho
(2008) sugere um contrato social ampliado, ou contrato natural, em que a felicidade
humana está integrada com a sustentabilidade ambiental. “Trata-se aqui de construir
uma cultura ecológica que compreenda natureza e sociedade como dimensões
intrinsecamente relacionadas e que não podem mais ser pensadas [...] de forma
separada, independe ou autônoma.” (CARVALHO, 2008, p. 141).
No sexto encontro, Eletricidade e Água auxiliaram, mesmo sem intenção, a
construir o conceito de EA e, utilizando as palavras de seu léxico, chamaram-na de
ética e educação:
“Pesquisadora: Olha que importante o que o colega falou: Eles têm que fazer;
senão eles são multados. Eles têm que fazer?
Eletricidade: É a ética.
Pesquisadora: É a ética, que mais que a gente pode dizer?
Água: Educação.
Pesquisadora: Da educação, já está no costume deles, eles estão
acostumados a isto, não precisa alguém para dizer: tu vai ser multado, ou isto
está errado, eles já sabem.”
Nessa situação, os estudantes nomeiam com os termos ética e educação
ações e ideias muito semelhantes aos conceitos de Educação Ambiental e
autonomia. Para Capra (1996), as percepções ecocêntricas estão interligadas com
ética e ecologia profunda.
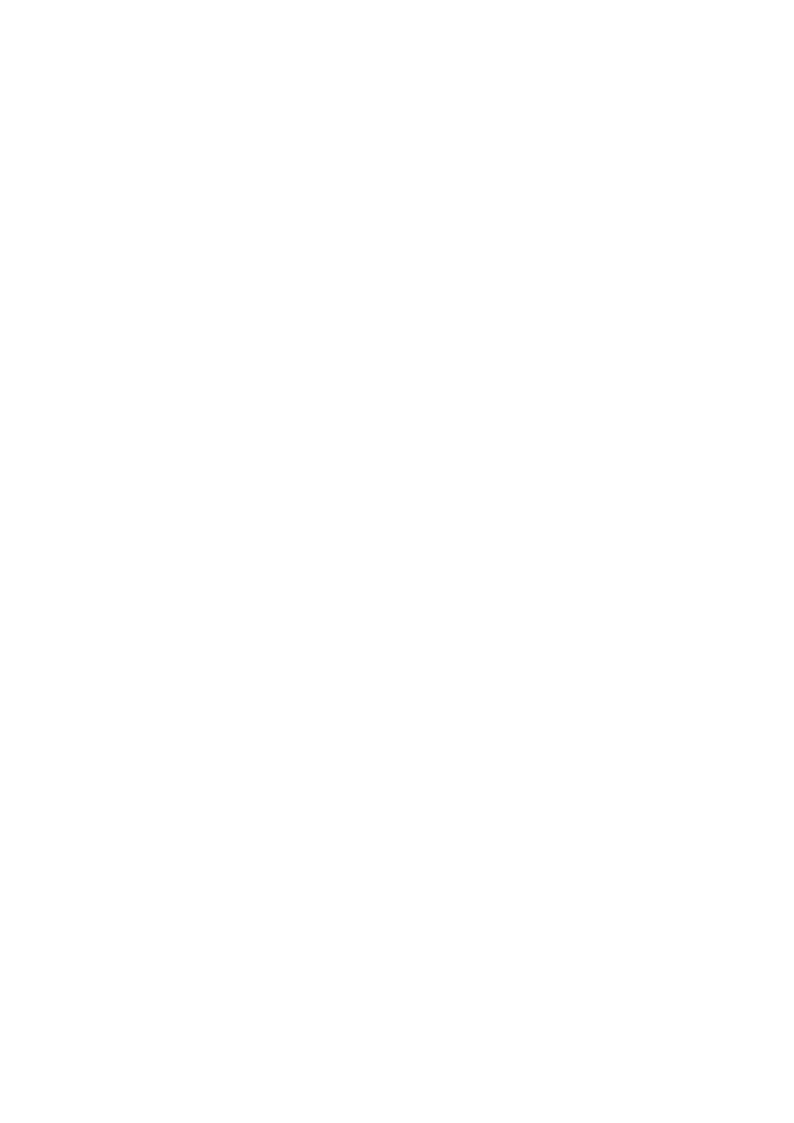
118
Todos os seres vivos são membros de comunidades ecológicas ligadas umas
às outras numa rede de interdependências. Quando essa percepção
ecológica profunda torna-se parte de nossa consciência cotidiana, emerge um
sistema de ética radicalmente novo. (CAPRA, 1996, p. 38)
Em outro momento, no quinto encontro, os educandos demonstraram empatia
com os seres vivos por meio de debate sobre a bioética. Ao serem questionados
sobre a possibilidade de utilizar animais vivos em experimentos no CC, os
estudantes trouxeram ideias relevantes e as relacionaram com ética e maus-tratos
aos animais:
“Pesquisadora: A gente não trabalha com animais vivos no Clube de Ciências
porque...
Folha: ‘Tu’ pode acabar matando os animais.
Canguru: Pode ter mau-trato...
Eletricidade: Falta de ética?”
Folha afirmou que não utilizamos os animais no CC porque podemos acabar
matando os animais, mostrando receio com suas vidas. Canguru acredita que pode
haver maus-tratos, mostrando preocupação com a saúde e o bem-estar dos animais.
E Eletricidade questiona se os animais não são utilizados no CC por falta de ética. A
dedicação dos estudantes para compreender o ponto de vista de outros seres vivos
demonstra compaixão, empatia, cooperação e desenvolvimento do Pensamento
ecológico. Capra (1996) sustenta que a “ética ecológica profunda” é necessária
atualmente porque a maior parte dos cientistas ainda não promove nem preserva a
vida. O Pensamento ecológico está relacionado com ética, autonomia, educação e
EA.
Nos quinto e sexto encontros, em duas atividades diferentes que envolviam
comunicação fictícia com alienígenas, os participantes do CC explicaram a
importância do meio ambiente e dos seres vivos para um desconhecido, um ser
extraterrestre. O material desenvolvido pelos clubistas nessas duas atividades
manifestou algumas percepções ecocêntricas, em que os alunos demonstraram
conexão com o meio ambiente.
Inicialmente, na atividade A importância dos animais (Quadro 7), foi pedido
que os estudantes respondessem à pergunta “Esse animal é importante? Por quê?”,
com o objetivo de elaborar um relatório final para o “ser de outro planeta”. Enquanto
alguns colegas observaram o sapo imerso em álcool e responderam que sua

119
importância estava vinculada com a sua função ecológica na natureza, a aluna
Canguru escreveu: “Para ser feliz”. Ao responder que o sapo é importante “para ser
feliz”, a aluna está representando os princípios da ecologia profunda, pois exerce a
empatia com os seres vivos. A aluna demonstra desprendimento da necessidade de
o sapo servir à humanidade ou qualquer outra espécie, respeitando seu direito à
vida. Layrargues (2004, p.39) afirma que a ecologia profunda “[...] busca a
recuperação de uma ‘harmonia ambiental’, que supõe uma nova maneira de
estabelecer as relações com a Terra, respeitando o direito à vida de todos os seres
que nela habitam”. A resposta da estudante manifesta conexão com o meio
ambiente de uma maneira que não havia sido demonstrada por nenhum outro aluno
até o momento.
A segunda atividade relacionada com comunicação com seres extraterrestres
envolvia enviar, em um celular de papelão (Figura 11), uma mensagem fictícia para
esses seres informando a importância da natureza da Terra (Conversa com aliens −
Quadro 8). A partir da análise do material produzido foi possível notar que três
educandos manifestaram percepções ecocêntricas. O aluno Onça dissertou sobre a
dependência da humanidade com o meio: “Onça: Oi ‘alien’, o meio ambiente é
importante porque nossas vidas dependem dele”. Apesar de apresentar
dependência do meio, o aluno não identifica o ser humano como o mais importante.
Os alunos Água e Fogo aproximaram-se dos conceitos de ecologia profunda
afirmando que os seres humanos fazem parte da natureza: “Água: O meio ambiente
é importante, porque ele faz parte de nós e nos deixa vivo. Fogo: Sim é importante,
pois ele faz parte de nós”. Aqui, os alunos demonstraram transformação positiva da
sua relação com o meio por manifestarem a compreensão da integração do ser
humano com a natureza. A conexão entre seres humanos e a natureza é difundida e
explorada por James Lovelock em sua teoria sobre a Gaia. Para Lovelock (2006),
somos parte da Gaia, um sistema autorregulador que, ao longo de milhões de anos,
mantém a Terra em equilíbrio natural. “Os cientistas reconhecem atualmente que a
Terra é um sistema auto-regulador composto de todas as suas formas vivas,
incluindo os seres humanos e todas as partes materiais que a constituem, o ar, os
oceanos e as rochas da superfície.” (LOVELOCK, 2006, p. 6). As percepções dos
alunos, anteriormente apresentadas, correspondem com os conceitos da Gaia, em
que os humanos fazem parte da natureza.

120
No sexto encontro, atividades de encerramento foram realizadas com o
objetivo de entender as percepções finais dos estudantes. Em um dos debates, os
educandos comentaram sobre se, por meio de suas perspectivas, a sua visão em
relação ao meio ambiente tinha mudado. “Pesquisadora: Eu quero saber se o jeito
que vocês veem o meio ambiente, antes destas cinco atividades e depois destas
cinco atividades, mudou?”. Para esse questionamento, os estudantes tiveram
diferentes respostas: Tubarão notou que a maneira que observa a paisagem da
cidade agora é outra: “Tubarão: Sim, mudou quando estudamos o desmatamento,
porque agora eu sinto que na via pública tem mais carro do que árvores, onde tu
passa tem mais construções do que uma ‘coisa’ que foi gerada pela natureza”. Onça
afirma que, a partir dos encontros, irá respeitar mais as árvores, correspondendo ao
pensamento de conservação: “Onça: Nunca mais vou tirar uma folha de uma
árvore”. Para o aluno Raposa, a natureza é mais importante após os encontros:
“Raposa: Agora na minha opinião a natureza é muito mais importante pra mim do
que era antes”. Os três alunos afirmaram que a relação deles com o meio ambiente
mudou positivamente. Ao mesmo tempo, Canguru aprofunda-se no questionamento
realizado: “Canguru: Olha, pra mim, na verdade, a natureza sempre ‘tá’ desmatada
pela gente só que a gente não enxergava direito”. Por meio de afirmações
ecocêntricas a aluna afirma que o desmatamento sempre aconteceu, mas que, após
os seis encontros, a visão, ou seja, a percepção dela é outra. A noção de que o
caminho para o aperfeiçoamento do Pensamento ecológico acompanha uma
mudança na visão, ou na percepção, é compartilhada por Capra (1982): “Portanto a
consciência ecológica somente surgirá quando aliarmos ao nosso conhecimento
racional uma intuição da natureza não linear de nosso meio ambiente” (CAPRA,
1982, p. 39). A estudante Canguru realizou autoavaliação e identificou que a maior
mudança após os encontros foi a de percepção.
Ainda como atividade de encerramento, foi realizada a atividade Semáforo
(Quadro 8), em que três círculos de três cores diferentes foram fixados no quadro,
imitando um semáforo, e para cada cor existia um significado. O círculo verde
representava as ações que os estudantes iriam mudar em seu cotidiano, o amarelo
as que talvez continuassem fazendo, e o círculo vermelho relacionava-se com as
ações que os estudantes não conseguiriam mudar. Uma das respostas dos alunos
para o círculo verde foi “Ver direito”, ou seja, tentarão mudar sua percepção frente
ao meio ambiente. Conforme Layrargues (2004, p. 39): “Fala-se de uma ‘ecologia

121
fundamentada eticamente’ que associa o equilíbrio ecológico a mudanças profundas
na percepção dos seres humanos sobre o papel que devem desempenhar no
‘ecossistema planetário’”. Novamente, a mudança de percepção é fundamental para
o desenvolvimento do Pensar ecológico. Carvalho (2008, p. 34) afirma que “um bom
exercício para renovar nossa visão de mundo é, às vezes, trocar as lentes, para ver
as mesmas paisagens com olhos diferentes”.
No entanto, como já foi exposto, os estudantes, assim como todos os
indivíduos, já apresentam alguma consciência ambiental intrínseca antes de
qualquer sensibilização ambiental. No primeiro encontro, ao realizar a dinâmica da
Teia da vida, os estudantes apresentaram suas percepções sobre a relação do ser
humano com o meio ambiente: “Pesquisadora: Será que o ser humano está
conectado com a natureza? Eletricidade: Do jeito que ele está agora, não”.
Eletricidade acredita que atualmente o ser humano não está conectado com o
ambiente devido à maneira como se relaciona com ele. Na mesma atividade, alguns
alunos declararam que o ser humano só esteve conectado com a natureza durante a
pré-história: “Pesquisadora: E existiu alguma época onde o ser humano estava
conectado com o meio ambiente? Vários: Pré-história”. Novamente, reconhecem
que a relação atual da humanidade com a natureza está em desequilíbrio. Apesar de
ser apresentada já no primeiro encontro, a ideia da conexão da natureza dos povos
nativos, antigos ou indígenas, está embasada na literatura. Assim como os
estudantes, Guimarães (1995) valoriza e ressalta a importância de aprender com
povos nativos e ancestrais:
[...] o ser humano primitivo surgiu fazendo parte integrada deste todo − a
natureza. Pode-se visualizar o ser humano ancestral vivendo em cavernas e
ocupando claramente um nível trófico na cadeia alimentar. Podem-se
observar os silvícolas, os indígenas, com sua cosmologia, seus rituais e
tradições culturais, bem como suas práticas de sobrevivência em grupo em
grande integração com o ambiente ao redor. Uma relação que preserva o
equilíbrio dinâmico da natureza e que se baseia sempre na capacidade de
suporte dos recursos naturais da área afetada. (GUIMARÃES, 1995, p. 11)
A conexão com o ambiente também pode ser observada por meio da
representação do desenvolvimento da empatia dos estudantes em relação aos
animais. Conforme o Dicionário Michaelis, Empatia é: “Habilidade de imaginar-se no
lugar de outra pessoa” (EMPATIA) − no caso, de outros seres vivos. Para
desempenhar relação de empatia com outros seres vivos, os alunos necessitam
estar conectados com o meio ambiente e compreender a codependência entre os

122
constituintes bióticos do ecossistema. Conforme Guimarães (1995, p. 11), o “que se
chama de natureza ou meio ambiente é um conjunto de elementos vivos e não-vivos
que constituem o planeta Terra. Todos esses elementos relacionam-se influenciando
e sofrendo influência entre si, em um equilíbrio dinâmico”. Para Velasco (2012), o
ser humano é um importante constituinte do meio ambiente: “Pode-se definir meio
ambiente como o conjunto de processos abióticos e bióticos existentes da Terra
passíveis da influência da ação humana” (VELASCO, 2012, p. 43).
Durante os encontros finais, foi possível observar percepções que
representam preocupação e pena para/com outros animais. No quinto encontro, ao
debater sobre a poluição marinha causada pela humanidade, duas alunas
demonstraram preocupação com a saúde dos animais marinhos. A estudante Sol
relaciona a morte da tartaruga com uma notícia sobre a poluição nos mares,
enquanto Canguru lembra um vídeo a que assistiu sobre a saúde desses répteis,
vinculando o sofrimento da tartaruga com a poluição:
“Pesquisadora: Vocês acham que o que mata as tartarugas é poluição?
Sol: Eu vi uma reportagem que uma tartaruga engoliu uma sacola e daí ela
morreu.
Canguru: Tinha uma tartaruga, que eu não consegui ver todo vídeo, que tinha
um canudo enfiado no nariz, mas ela não morreu...”
No mesmo encontro, após a realização da atividade relacionada com os
animais em álcool, os alunos demonstraram pena de outros seres vivos. Eletricidade
afirmou que as tartarugas foram abandonadas no parque devido à ação antrópica:
“Pesquisadora: O ET achou incrível que tinha várias tartarugas no parque, por que
será que estas tartarugas estão aqui? Vocês sabem? Eletricidade: Porque tem umas
pessoas ‘sem coração’ que deixam as tartaruguinhas sofrendo”. Com suas palavras,
o aluno Eletricidade critica a ação de pessoas que abandonam as tartarugas. Em
outro momento, a pesquisadora apresentou para a turma imagens de pássaros que
habitam uma ilha e alimentam-se de resíduos plásticos. Eletricidade e Canguru
ficaram admirados com a foto do pássaro morto que se alimentou de plástico:
“Pesquisadora: Tinha o passarinho também não tinha? Não tinha o
passarinho? [aparece na tela a imagem de um passarinho aberto com plástico
dentro de seu corpo]
Canguru: Isto não é verdade.
Eletricidade: O que é istoooo, é um passarinho aberto?
Canguru: Como é que ele conseguiu engolir tudo isto?

123
Eletricidade: Ele comeu tudo isto?”
Inicialmente os alunos demonstraram surpresa por não conhecerem a
situação e, em seguida, buscaram entender as causas que levaram àquela
consequência. A reação dos educandos assemelha-se ao pensamento de
conservação, em que os seres humanos sentem-se conectados aos seres vivos e
buscam impedir sua extinção ou sofrimento.
Ainda sobre o desenvolvimento da empatia com os animais, no sexto
encontro, os alunos demonstraram preocupação com organismos de constituição
simples, os artrópodes. É interessante notar que a turma também manifestou medo
e nojo em relação aos insetos e artrópodes em outra categoria, mas aqui
demonstram empatia pelos animais. Em um debate no quinto encontro sobre a
importância das abelhas e sua possível extinção, Canguru demonstra preocupação
com a vida e o bem-estar do inseto: “Pesquisadora: E o que a gente pode fazer para
ajudar na extinção das abelhas? Canguru: Não atacar? Com o ferrão, se ela me der
uma ferroada ela morre”. A aluna demonstrou percepção não linear, pois entende as
consequências complexas envolvidas no ato de ferroar da abelha, e por esse motivo
acredita que o ser humano deve protegê-la. É interessante notar que a aluna
demonstra empatia com o inseto, pois o primeiro aspecto sinalizado é a morte e o
sofrimento da abelha, e não a dor humana ao sentir a ferroada. Para Carvalho
(2008), a EA busca sensibilizar os indivíduos quanto às questões ambientais e
estimular mudanças sociais. Para a autora, a EA é “um movimento que busca
produzir novo ponto de equilíbrio, nova relação de reciprocidade, entre as
necessidades sociais e ambientais” (CARVALHO, 2008, p. 158).
Em outro momento no mesmo encontro, foi construída juntamente com os
estudantes uma figura no quadro sobre as relações ecológicas entre seres humanos
e outros seres vivos. A aluna Árvore sugeriu que a abelha fosse inserida no círculo:
“Pesquisadora: Vocês já viram um desenho na Internet que é assim tem um círculo e
um triângulo, tem o ser humano e os animais: a borboleta, o gatinho, que mais?
Árvore: Abelha”. Aqui, a aluna mostrou conexão com a abelha, pois a considera
semelhante ao ser humano. No mesmo encontro, ao retomar o objetivo da atividade
Teia da vida, a mesma estudante sugeriu a inserção da abelha na teia:
“Pesquisadora: Vocês lembram daquela atividade do primeiro encontro que a gente
fez, em relação a teia da vida, que vocês escolheram um animal, será que se vocês

124
pudessem escolher outros, outros animais para colocar naquela teia, que outros
animais vocês escolheriam? Árvore: Abelha”. A importância ecológica da abelha,
debatida anteriormente, trouxe aos estudantes um senso de empatia. As alunas
Árvore e Canguru trouxeram percepções que se aproximam do pensamento de
cooperação, ecocêntrico. Para Lourenço e De Oliveira (2013), a conservação
ambiental deve considerar os direitos animais.
A proteção (o respeito) não é feita, em última ou exclusiva instância, para que
a humanidade, nas gerações atuais ou futuras, usufrua de uma melhor
qualidade de vida, mas sim porque os seres vivos não-humanos possuem
valor moral próprio. (LOURENÇO; DE OLIVEIRA, 2013, p. 211)
O desenvolvimento da conexão com o meio ambiente pode ser observado por
meio não só de palavras, mas também de ações. No sexto encontro, ao realizar a
atividade Semáforo (Quadro 8), os estudantes afirmaram que pretendem realizar
mais ações sustentáveis em seus cotidianos. Em relação ao círculo verde, ou seja,
ações que os estudantes pretendem realizar no futuro, podem ser encontradas
afirmações relacionadas aos componentes bióticos e abióticos: “Não comer palmito”,
indicando consciência sobre o consumo do palmito e a sua extinção; “Cuidar dos
animais”, indicando, como foi apresentado, que os estudantes manifestam cada vez
mais percepções empáticas sobre animais, sendo o próximo passo realizar ações
para cumpri-las; “Não tirar flor”, sinalizando que os estudantes irão se esforçar para
não arrancar flores vivas, pois estariam afetando negativamente o meio ambiente
dentro do pensamento conservacionista; “Não colocar lixo no chão”, indicando que
reconhecem os efeitos do descarte incorreto de resíduos no meio ambiente; e “Não
gastar tanta folha ou água”, demonstrando consumo consciente. Além de
compreender as consequências do descarte incorreto, os clubistas pretendem
realizar ações sustentáveis. Para Carvalho (2008, p. 158), a EA crítica busca
“contribuir para uma mudança de valores e atitudes, formando um sujeito ecológico
capaz de identificar e problematizar as questões socioambientais e agir sobre elas”.
O Pensamento ecológico não somente identifica o problema, mas estimula o aluno a
agir sobre ele, buscando soluções.
Em um encontro após a UA, demonstrando preocupação com o destino dos
materiais usados no CC e com o meio ambiente, a aluna Sol participa ao lembrar a
importância do descarte correto de resíduos: “Ao realizar o experimento do DNA do
morango, a aluna Sol deveria descartar as folhas da fruta e, ao fazê-lo, perguntou

125
para a pesquisadora: ‘Cadê o lixo orgânico?’”. Nessa situação, pela primeira vez
pôde ser observada uma ação sustentável em ação. A aluna demonstra autonomia
para tomar decisões e Pensamento ecológico, pois entende as consequências de
seus atos.
Esta subcategoria buscou analisar as diversas facetas da relação de conexão
com o meio ambiente desenvolvida ao longo dos seis encontros da UA. Foi possível
notar que o pensamento ecocêntrico foi apresentado por meio da empatia, do
pensamento conservacionista, do pensamento de cooperação e de ações
sustentáveis. Os encontros permitiram que os estudantes analisassem seus vínculos
com a natureza e, assim, reconstruíssem significados no que se refere à conexão
com os fatores abióticos, bióticos, culturais e sociais que formam o ecossistema.
4.3.2 Pensamento sistêmico dos clubistas
O pensamento sistêmico, também conhecido como holístico, engloba a visão
geral e corresponde à capacidade de analisar o todo, interpretando o meio ambiente
de maneira não linear e complexa. De acordo com a teoria sistêmica, os biomas são
relacionados entre si, e cada parte interage com o todo. Para Capra (1996, p.46), os
“sistemas vivos são totalidades integradas cujas propriedades não podem ser
reduzidas às de partes menores. [...] As propriedades sistêmicas são destruídas
quando um sistema é dissecado em elementos isolados”. O pensamento sistêmico é
não linear, pois consegue observar diferentes aspectos que constituem o todo e
valorizar a relação entre eles, ou seja, entende que nenhum problema ou solução é
isolado. Dias (2004, p. 225) aponta: “Todas as coisas estão conectadas com outras.
[...] Os sistemas são mais do que a soma de suas partes”. Podemos afirmar que o
pensamento sistêmico é o oposto do pensamento reducionista.
Esta subcategoria apresenta algumas percepções dos estudantes, durante os
seis encontros, em que foi possível observar semelhanças com a teoria do
pensamento sistêmico da ecologia profunda. Durante os encontros do CC,
principalmente nos finais, observou-se que os estudantes perceberam, em alguns
momentos, a natureza de maneira holística, relacionando as diversas questões que
a permeiam. Em suas falas, ações e materiais produzidos, os alunos demonstraram
pensar de maneira sistêmica, ou seja, conseguiram relacionar os aspectos
ecológicos, econômicos e sociais presentes nas questões ambientais.
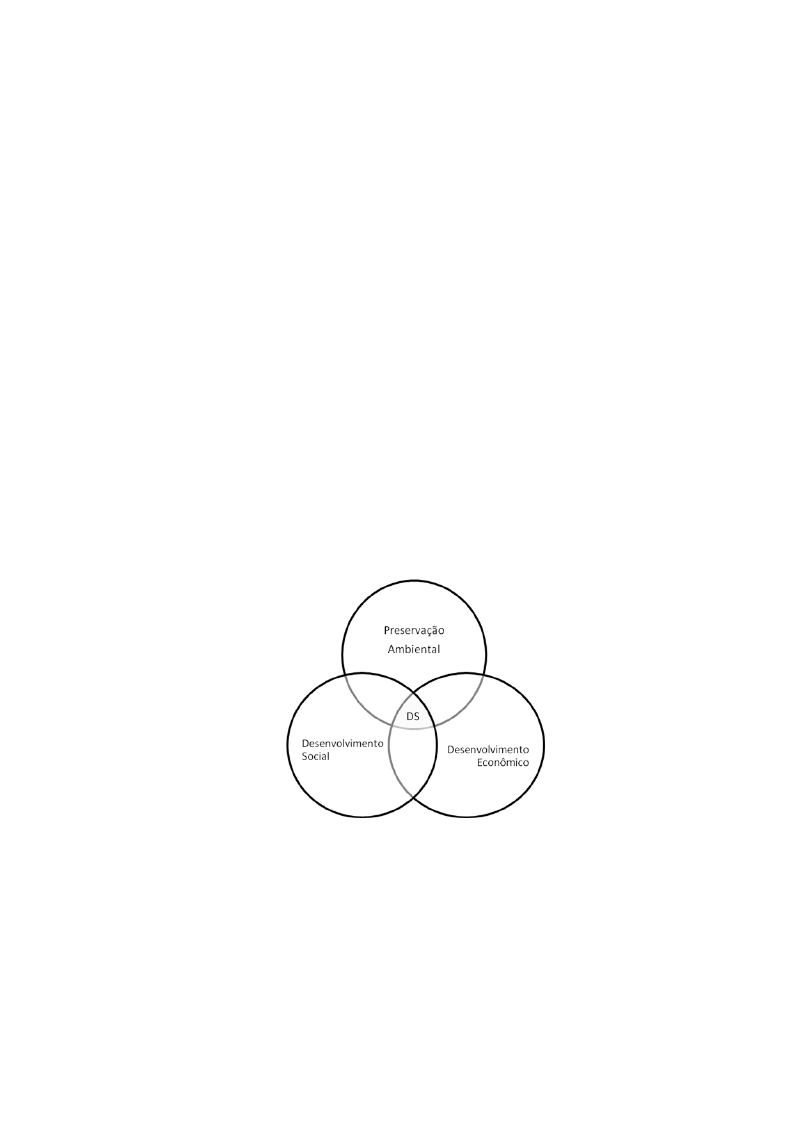
126
Ao analisar o material produzido durante o desenvolvimento da UA, foi
possível notar que algumas percepções ecocêntricas dos clubistas estavam
organizadas dentro de três principais categorias: ecologia, economia e sociedade.
Essas três categorias vão ao encontro dos conceitos do tripé da sustentabilidade ou
desenvolvimento sustentável (DS). Para Dias (1999, p.70), o “DS busca
compatibilizar as necessidades de desenvolvimento das atividades econômicas e
sociais com as necessidades de preservação ambiental”. O tripé da sustentabilidade
(Figura 12) guia projetos que buscam desenvolver atividades sustentáveis. Uma
ação, um projeto, uma empresa, uma instituição ou um produto somente será
considerado sustentável assim que respeitar as três bases do tripé. Assim, apenas
uma ação ecologicamente correta, socialmente justa ou economicamente viável
acompanhará as crenças do desenvolvimento sustentável, pois respeita os pilares
que sustentam o tripé. Conforme Gadotti (2009, p.77): “A sustentabilidade é um
conceito central de um sistema educacional voltado para o futuro”.
Figura 12 − O tripé da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável
(DS).
Fonte: Dias (1999, p. 70).
A turma apresentou suas percepções de maneira crítica, posicionando-se
com segurança frente a cada assunto debatido. Para Costa (2002), estudar o meio
ambiente e suas problemáticas permite a formação de uma consciência crítica. “A
questão ambiental torna-se um instrumento pedagógico imprescindível ao processo
de sensibilização e formação de consciência crítica, que suscita no homem novas

127
formas de pensar e agir. E assim pensando, o ato pedagógico seria colocar em
evidência as contradições que geram a questão ambiental.” (COSTA 2002, p.141).
Analisar uma situação por meio dos aspectos ecológicos, econômicos e sociais de
maneira crítica permite o desenvolvimento de resultados mais equilibrados. Dessa
maneira, podemos observar a relação entre os conceitos de sustentabilidade com a
educação.
Mesmo com essas ambiguidades, o conceito de desenvolvimento
sustentável, visto de forma crítica, tem um componente educativo formidável:
a preservação do meio ambiente depende de uma consciência ecológica e a
formação da consciência depende da educação. (GADOTTI, 2009 p. 76)
Nesse cenário, esta subcategoria está organizada em: conservação ambiental
(ecologia), desenvolvimento econômico (economia) e desenvolvimento social
(sociedade).
4.3.2.1 Conservação ambiental
Inicialmente serão apresentadas as percepções sistêmicas e ecocêntricas dos
estudantes que compreendem a importância do meio ambiente e as relações que o
constituem, ou seja, o pilar da conservação ambiental no tripé da sustentabilidade.
Conservação e preservação ambiental são termos bastante usados na ecologia e na
EA e apresentam significados e objetivos diferentes. A preservação refere-se à
manutenção de florestas, biomas e áreas verdes da maneira mais intocada possível,
sem contato do ser humano.
“[...] preservação visa à integridade e à perenidade de algo. O termo
se refere à proteção integral, a ‘intocabilidade’. A preservação se faz
necessária quando há risco de perda de biodiversidade, seja de uma espécie,
um ecossistema ou de um bioma como um todo”. (PADUA, 2006)
A conservação, por sua vez, compreende o uso sustentável e harmônico dos
recursos naturais, considerando a capacidade do ambiente. “[...] a visão
conservacionista, contempla o amor pela natureza, mas permite o uso sustentável e
assume um significado de salvar a natureza para algum fim ou integrando o ser
humano.” (PADUA, 2006). Os termos não são utilizados com muita rigidez na
literatura e podem confundir-se muitas vezes em artigos científicos ou até em leis.
Carvalho (2008) salienta que a visão “naturalizada” do meio ambiente como uma
mata intocada, pura, estável e independente do ser humano (apresentada em

128
documentários e programas de TV) identifica a presença do ser humano como
problemática e nefasta. Apesar de os termos apresentarem conceitos divergentes e
serem utilizados de maneira confusa na literatura, apresentam uma visão positiva de
proteção e cuidado com o meio ambiente.
No quinto encontro, a turma participou de uma atividade chamada Conversas
com aliens (Quadro 8), em que respondeu a um questionamento relacionado à
importância do meio ambiente. Por meio da análise do material redigido pelos
estudantes foi possível observar que os alunos compreendem a importância da
natureza e valorizam os fatores bióticos e abióticos que a constituem. Para o aluno
Tubarão, a importância do meio ambiente está vinculada ao ecossistema
equilibrado: “Tubarão: É importante porque mantém o ecossistema equilibrado”. Ao
sinalizar todo o ecossistema e não focar nos seres humanos ou em alguma espécie
animal ou vegetal específica, o estudante mostra entendimento sobre o grande
conjunto ecológico, apresentando uma visão sistêmica. Para a mesma pergunta o
educando Eletricidade relaciona os fatores bióticos e abióticos: “Eletricidade: O meio
ambiente é importante para toda a vida terrestre, todos precisam de seus alimentos
e pela produção de O2”. Para o aluno, os fatores abióticos e bióticos estão
conectados com o ecossistema de maneira não linear.
A aluna Canguru valoriza o meio ambiente como um todo, não identificando
um ou outro ser vivo: “Canguru: Sim, o meio ambiente é importante, porque ele é o
centro de tudo, nos dá o oxigênio, a beleza da natureza, etc.”. Ao identificar o meio
ambiente como o centro de tudo, a aluna valida a conexão dos seres vivos acima do
ser humano. Além disso, pela primeira vez na UA, um aluno aprecia a natureza pela
sua beleza. Por último, a aluna Sol ratifica o papel do ser humano na conservação
ambiental: “Sol: Porque o meio faz várias coisas que o ser humano não consegue e
as pessoas teriam que pelo menos ajudar, dar uma força pra ele. Vários frutos e
animais estão em extinção, então ele está sendo prejudicado”. A aluna Sol relembra
o papel da sociedade para preservar o espaço ecológico. Nessa atividade, os
estudantes manifestaram pensamento sistêmico, pois compreenderam as partes que
compõem o meio, relacionando os fatores bióticos e abióticos. Para Duvoisin e
Ruscheinsky (2012), o pensamento sistêmico entende o ecossistema como um
conjunto de conexões que formam uma rede e busca novas lógicas de relação entre
o ser humano e a natureza.

129
A partir da atividade realizada no quinto encontro, relacionada à importância
dos animais, foi possível observar respostas que representam o pensamento
sistêmico. Ao serem questionados sobre a importância dos animais ali presentes em
álcool 70%, a turma respondeu de maneira não linear. Quatro estudantes acreditam
que os pássaros são importantes, pois dispersam sementes e plantam árvores: “O
passarinho é importante porque ele passa uma planta ou mata nova para outro
lugar”, “O pássaro é importante, pois funciona como meio de plantar árvores”, “Ele é
importante por espalhar sementes e plantar árvores” e “Para plantar árvores, porque
assim que eles comem as frutas eles ‘defecam’ as sementes”. Quatro estudantes
acreditam que os pássaros são importantes para manter a cadeia alimentar: “Sim,
pois sem ele a cadeia alimentar está comprometida”, “Sim, porque ele come
minhocas e insetos que regula o número desses seres”, “Sim, porque eles comem
minhocas, gafanhotos” e “Sim, é importante para a cadeia e teia alimentar”. Como
resultado dessa atividade é possível notar percepções ecocêntricas, em que os
estudantes validam a importância dos animais estudados em relação a outros seres
vivos ou ao ecossistema. Nesse momento, os alunos não realizam tantas afirmações
antropocêntricas como anteriormente, como por exemplo, a de que o ser vivo é
importante pois oferece algo de interesse ao ser humano. Os estudantes
conectaram os vários componentes do ecossistema e, de maneira ecocêntrica,
entenderam a importância do equilíbrio ecológico. “Visando atender às demandas da
contemporaneidade, pensar de forma sistêmica e ecológica torna-se essencial.”
(ALBUQUERQUE, 2016, p. 28).
No sexto encontro, uma apresentação teatral realizada por alunos de
graduação (Quadro 8) abordou a extração ilegal e a possível extinção do palmito, e
pareceu ter sensibilizado os estudantes, que apresentaram interessantes
percepções. Inicialmente a turma debateu a possível extinção do palmito:
“Pesquisadora: O palmito é importante, e se o palmito acabar o que
acontece?
Árvore: Muitos animais entram em extinção.
Pesquisadora: Muitos animais entram em extinção, porque a gente quer
palmito, e muitos animais querem palmito, então não só a gente vai sentir
falta do palmito.
Canguru: Eles merecem mais do que a gente.”

130
A aluna Árvore comenta que muitos animais podem entrar em extinção se o
palmito acabar, demonstrando preocupação com outros seres vivos. Canguru afirma
que os animais merecem palmito mais do que os seres humanos, priorizando outras
formas de vida. As duas alunas demonstraram empatia com os animais e
entendimento sobre a complexidade da cadeia alimentar. Novamente, por meio de
percepções ecocêntricas, os estudantes, de maneira não linear, compreendem que
os seres humanos não são os habitantes mais importantes do planeta Terra. Para
Lourenço e De Oliveira (2013), só podemos pensar em sustentabilidade dentro de
uma dimensão ética em que entidades não humanas serão respeitadas assim como
os seres humanos, em um sistema igualitário.
Em outro momento, os estudantes discutem sobre as consequências que a
extinção do palmito poderia causar. Além de demonstrar interesse em compreender,
debater e solucionar a problemática ambiental, os clubistas estabelecem relações
entre o ecossistema e as relações que o permeiam:
“Rocha: Vamos dizer que a extinção, ‘tipo’ zerou, acabou todos os palmitos e
os animais que comem outros frutos, vamos dizer que eles comem mais
palmito. Às vezes aquilo que eles comem mais provavelmente vai fazer falta,
e os outros frutos que eles cultivavam, não vai sumir tanto quanto o palmito.
Tubarão: Daí desequilibra o ecossistema. Se existe um animal que só come
palmito, ele vai lá e não tem mais o fruto pra ele comer.
Árvore: Se acabar o palmito, os animais podem disputar pela comida.”
A partir dos questionamentos e das respostas dos colegas e monitores, os
alunos entendem a relação das ações antrópicas na possível extinção do palmito e,
assim, conectam diferentes aspectos que constituem o meio ambiente e pensam de
maneira sistêmica.
A turma também demonstrou desenvolvimento de conhecimento em relação
às problemáticas ambientais. Ao longo dos encontros, os alunos questionaram e
debateram assuntos sobre a poluição e o aquecimento global. O aluno Eletricidade
demonstrou sensibilidade aos diversos conteúdos. No quinto encontro, quando foi
realizado um debate sobre seres vivos, Eletricidade lembrou-se do solo e da água,
fatores abióticos: “Pesquisadora: Será que a chuva ácida faz bem aos seres vivos?
Eletricidade: Faz mal pro solo, pra água”. A poluição do ar também foi um tema
debatido: “Eletricidade: Eu queria saber se a produção, as usinas nucleares poluem?
Não de radiação, mas da fumaça que solta”. Além de identificar os problemas

131
ambientais, o estudante conectou os conteúdos e apresentou pensamento
sistêmico: “Monitor: O derretimento das calotas polares é ruim só para os animais?
Será que para gente também não é ruim? Eletricidade: É ruim para o planeta inteiro
porque as geleiras derretem e o nível das águas elevam, né? Pode causar uma
inundação. Pode destruir o mundo”. As problemáticas ambientais são situações que
afetam o nosso planeta de maneira global e indicam um desequilíbrio na natureza.
Apesar de muitas discussões sobre suas origens, em geral são causadas pela ação
antrópica e apresentam consequências negativas para o meio ambiente. Alguns
exemplos de problemáticas ambientais são: aquecimento global, desmatamento,
poluição (água, ar e solo), extinção e perda de diversidade natural, buraco da
camada de ozônio, tráfico de animais, entre outros.
A partir das atividades realizadas nos encontros, os estudantes conseguiram
desenvolver pensamento complexo que envolve compreender as ações antrópicas
no meio ambiente. Além de identificar as ações, os educandos conseguem analisá-
las de maneira crítica, posicionando-se. No quarto encontro, o aluno Raposa
consegue identificar as consequências do desastre ambiental de Chernobyl:
“Pesquisadora: O que será que este desastre de Chernobyl tem a ver com meio
ambiente? Raposa: Que a radiação destruiu todo o meio ambiente em volta. A
radiação explodiu e liberou uma grande quantidade de radiação, daí as plantas
começaram a murchar, o rio virou super poluído”. Além da radiação, o aluno
conseguiu identificar os efeitos em longo prazo do acidente nuclear de Chernobyl,
vinculando o assunto com a flora da região e a poluição dos rios. É interessante
notar que o aluno focou nos efeitos da radiação em fatores bióticos e abióticos que
não são o ser humano, ou seja, apresentou percepções ecocêntricas.
No quinto encontro, em um debate sobre alimentação e transgenia, o
estudante Raposa posicionou-se em relação aos alimentos com agrotóxicos:
“Pesquisadora: Existe alguma forma de identificar quando os produtos têm ou não
agrotóxico? Raposa: Pelo gosto ou pela embalagem”. Os agrotóxicos são
identificados pelo aluno a partir de dois critérios principais: gosto e embalagem. Essa
classificação demonstra a percepção de que alimentos com agrotóxicos apresentam
sabor distinto dos orgânicos, mas também valida a percepção de que alimentos com
agrotóxicos são transportados e vendidos em embalagens diferentes. Possivelmente
o aluno relacionou a ideia com o adesivo identificador obrigatório de alimentos
orgânicos no Brasil. Os produtos orgânicos produzidos no Brasil devem ser

132
regulamentados para serem vendidos em feiras, supermercados, hotéis,
restaurantes, Internet, etc. (BRASIL, 2016b). Conforme a Lei n.º 10.831, de 23 de
dezembro de 2003, Art. 2.º:
Considera-se produto da agricultura orgânica ou produto orgânico, seja ele in
natura ou processado, aquele obtido em sistema orgânico de produção
agropecuário ou oriundo de processo extrativista sustentável e não prejudicial
ao ecossistema local. (BRASIL, 2003)
No sexto encontro, foi realizado um debate a partir de uma situação real em
uma ilha em que pássaros estão sendo extintos devido a sua alimentação: plásticos
descartados incorretamente pelos seres humanos. Durante o debate, a aluna Rocha
elaborou uma relação entre cadeia alimentar e poluição: “Pesquisadora: Esse lixo
estava dentro do corpinho dele, olha a quantidade de lixo que ele comeu, por que
será que ele comeu isto aqui? Rocha: Um dos motivos poderia ser que o pássaro
não tem o que comer por conta dos peixes que estão morrendo através do lixo?”.
Além de apresentar capacidade de conectar diversos assunto já abordados como,
por exemplo, descarte incorreto e cadeia alimentar, a aluna demonstrou empatia
com os animais.
No mesmo encontro, em um debate, a estudante Canguru se posicionou
criticamente ao avaliar as ações tomadas pelos órgãos públicos para controlar o
descarte inapropriado de bitucas de cigarro: “Pesquisadora: O Departamento de Lixo
instalou um lixo especial só para as bitucas, para as pessoas não jogarem no chão e
para os pássaros não comerem. Colocaram em alguns lugares principais, onde eles
notaram que as pessoas deixam muita bituca de cigarro. Canguru: Não adianta
muito”. Canguru afirma que a iniciativa de controle do descarte das bitucas não foi
suficiente, mostrando capacidade de relacionar o assunto com suas vivências de
forma crítica. De acordo com Guimarães (1995), para modificar os paradigmas
ambientais é importante que os estudantes apresentem uma visão crítica em relação
à ação humana. “É preciso, então, criticar a lógica e os valores das sociedades
modernas para que possam realmente ser criadas uma tecnologia “limpa” e o
modelo não destrutivo do meio ambiente” (GUIMARÃES, 1995, p. 34). Os
estudantes compreendem os efeitos da ação antrópica no ambiente, pois ao longo
dos encontros desenvolveram compreensão sobre o meio ambiente e sobre a
sociedade.

133
Os participantes do CC conseguem identificar, relacionar e questionar as
questões ambientais, mas, além disso, são capazes de propor soluções
sustentáveis. No terceiro encontro, o aluno Eletricidade compreende que o resíduo
orgânico pode virar adubo: “Pesquisadora: O orgânico é aquele resíduo que não
podemos mais reciclar, mas podemos fazer algo com ele. Eletricidade: Adubo, assim
é bem melhor porque cada coisa vai para um lugar diferente, tipo, se tiver só seco e
orgânico, talvez pode colocar o vidro no seco e talvez quebre”. O estudante
compreende que resíduo orgânico não é sinônimo de lixo, pois apresenta uma
função e possibilidade ecológicas. Já no sexto encontro, os alunos debatem ações
para auxiliar as tartarugas e evitar que elas comam resíduos plásticos:
“Pesquisadora: O que a gente pode fazer para evitar que a tartaruga coma
lixo?
Eletricidade: Reciclar.
Árvore: Não usar sacolas plásticas.
Rocha: Não jogar lixo?
Monitora: Não jogar lixo? Onde, no chão?
Rocha: A princípio em nenhum lugar.”
Em suas respostas, os clubistas relacionam diversos assuntos abordados nos
encontros como, por exemplo, reciclagem, consumo consciente e descarte correto
de resíduos. Com sua afirmação, a aluna Rocha entende que, independentemente
do local onde o resíduo for descartado, poderá afetar o ecossistema e atingir a
tartaruga, pois compreende que habitamos um único ecossistema fechado.
Eletricidade supõe que a reciclagem evita a poluição do mar e que a sua realização
impedirá novos acidentes. A aluna Árvore, por sua vez, sugere que novas atitudes,
como recusar a utilização de sacolas plásticas descartáveis, podem evitar o
problema em questão. Nessa situação, todos os estudantes demonstraram
pensamento complexo e sistêmico, pois conectam as relações do ecossistema e
compreendem como uma determinada ação pode atingir negativamente ou
positivamente a teia da vida. Além disso, a turma está retomando os conceitos já
apresentados nos primeiros encontros sobre os 5Rs (Repensar, Recusar, Reduzir,
Reutilizar e Reciclar), pois a maioria das soluções propostas está conectada de
alguma maneira aos conceitos em questão.
Na presente subcategoria, foi possível observar as percepções dos
estudantes que revelam Pensamento ecológico ao identificar as problemáticas

134
ambientais, as consequências da ação antrópica e a empatia com seres vivos. Os
estudantes analisaram de maneira complexa e crítica a influência do meio ambiente
no nosso cotidiano e a influência do nosso cotidiano no meio ambiente. Além de
identificar os problemas com autonomia, os educandos propuseram ações
ecológicas e soluções sustentáveis, saindo da esfera teórica e indo para a prática.
4.3.2.2. Desenvolvimento econômico
Além dos aspectos relacionados ao pilar da conservação ambiental, os
estudantes também conseguiram analisar criticamente as questões econômicas
envolvidas nos temas estudados durante os encontros. Conforme Lourenço e De
Oliveira (2013, p. 195): “Não é mesmo possível pensar a problemática ambiental
divorciada do aspecto econômico”.
No terceiro encontro, duas alunas demonstram autonomia ao iniciar uma
conversa sobre o papel da economia na conservação ambiental.
“Árvore: Eu não consigo imaginar o mundo sem dinheiro.
Pesquisadora: Como assim? Como seria?
Canguru: Não teria roubo.
Pesquisadora: Mas como funcionaria?
Árvore: Podia fazer que nem no passado, pegar um papelzinho, escrever o
que iriam negociar.
Pesquisadora: Tá, mas e daí ‘tu’ quer fazer um bolo em casa, como iriam ter
as coisas para fazer um bolo?
Canguru: Vai no supermercado e pega.
Pesquisadora: Mas e como que iriam controlar? Se ‘tu’ quer fazer um bolo,
pega dois ovos. Mas e se eu quero pegar mil ovos para ter na minha casa?
Canguru: Pega da galinha.
Árvore: Cada vez que ‘tu’ vai no supermercado tira até 10 ovos.”
Foi possível notar uma anotação no diário de campo sobre o ocorrido:
“Debate interessante trazido pelas alunas Árvore e Canguru: como seria o mundo
sem dinheiro? Para elas seria a solução para muitos problemas/ Parece que os
questionamentos sugeridos nos encontros trouxeram para elas a ideia de relacionar
o meio ambiente com a sociedade e sistema monetário”. A percepção de que
ecologia relaciona-se com economia parece bastante avançada para estudantes
dessa faixa de desenvolvimento. Além de serem curiosas, as estudantes
apresentam conhecimentos prévios, liberdade para questionar esse tema, estímulos
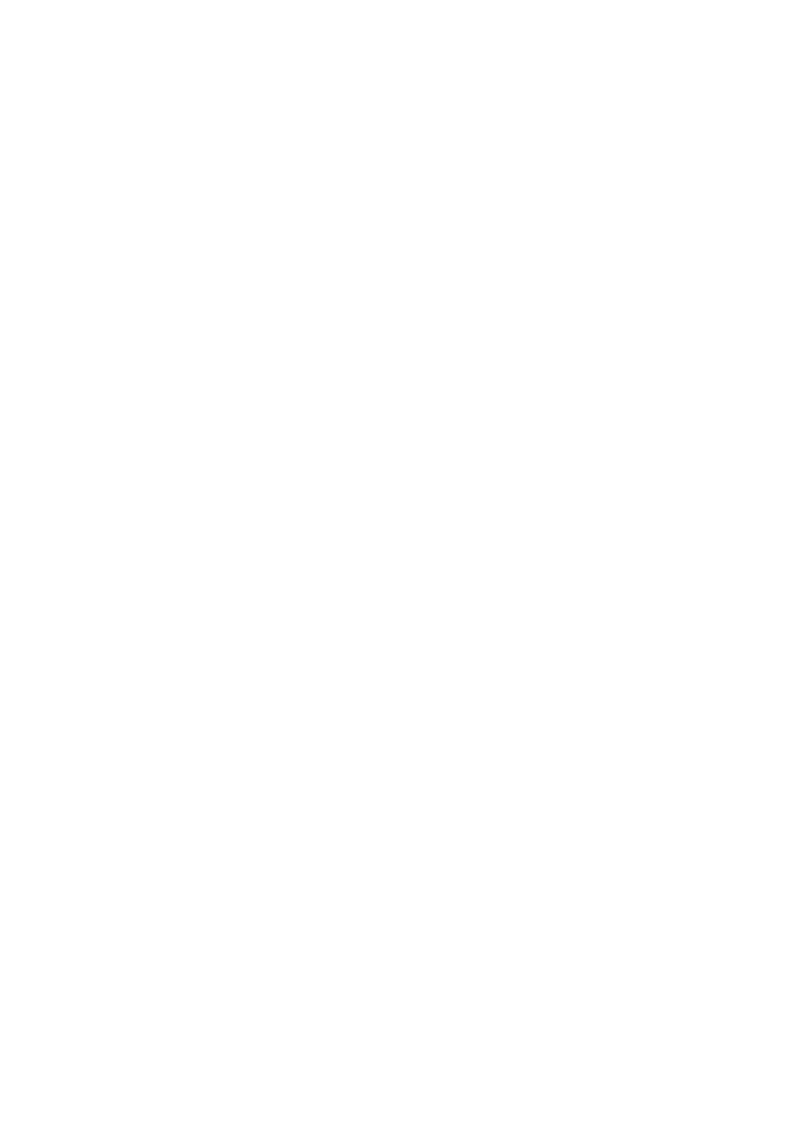
135
obtidos durante os encontros e espaço próprio para debater assuntos de interesse, o
CC. Conectar economia e ecologia denota uma visão crítica apurada, constituindo
sinais de Pensamento ecológico das estudantes. Para Freire (1996), a curiosidade é
fundamental para a construção da criticidade:
Não há para mim, na diferença e na "distância" entre a ingenuidade e a
criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos
procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma superação.
A superação e não a ruptura se dá na medida em que a curiosidade ingênua,
sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curiosidade,
se criticiza. Ao criticizar-se, tornando-se então, permito me repetir,
curiosidade epistemológica, metodicamente "rigorizando-se" na sua
aproximação ao objeto, conota-se seus achados de maior exatidão. (FREIRE,
1996, p. 17)
Ainda no terceiro encontro, dois clubistas debateram com a pesquisadora
sobre as reais motivações de alguns seres humanos realizarem caça predatória de
alguns animais como, por exemplo, tubarões. Durante a conversa, os alunos
demonstraram visão crítica da situação, relacionando o tema com economia e ego:
“Monitora: Por que será que o humano caça tubarões? Canguru: Para deixar de
enfeite na casa. Água: Para ganhar dinheiro”. O aluno Água compreende a
problemática ambiental de maneira não linear, pois a vincula com o interesse
econômico e a competição presente na sociedade. Conforme Carvalho (2008), o
sujeito ecológico é capaz de posicionar-se contra a ordem social vigente que explora
o ambiente, valoriza os bens materiais e, assim, estimula a competitividade. “O
mundo contra o qual a crítica ecológica se levanta é aquele organizado sobre a
acumulação de bens materiais, no qual vale mais ter do que ser [...]” (CARVALHO,
2008, p. 68).
No terceiro encontro, um aluno demonstra preocupação em relação à questão
da escassez de água no planeta − suas consequências para a economia e
sociedade −, e a turma debate sobre o tema:
“Eletricidade: Será que no futuro vai ter algum jeito de transformar água
salgada em doce?
Monitor: Será que no futuro?
Água: Já tem!
Árvore: Já existe, mas o processo é muito caro.
Eletricidade: Então será que no futuro vai ficar mais barato?”

136
Os colegas auxiliam o estudante Eletricidade a compreender o panorama
geral por trás da problemática ambiental sobre a poluição da água, relacionando o
tema com economia, competição e acesso à água potável. Novamente, os
estudantes compreendem a problemática ambiental de maneira sistêmica e
complexa.
Ainda no mesmo encontro, os estudantes debatem a problemática mundial
relacionada ao aquecimento global e ao derretimento das calotas polares. O aluno
Água consegue interpretar criticamente a informação, relacionando o acontecimento
com sociedade e economia: “Monitora: Então é ruim pra todo mundo, mas olha o
que vocês falaram, ‘ah é bom para a gente porque a gente está descobrindo estas
pedras preciosas’. Mais ou menos, porque não vamos ter acesso às pedras
preciosas do outro país. Água: Eles não vão querer dividir com a gente [...]”. Além de
apresentar visão crítica da situação, o aluno demonstra compreender o panorama
mundial e trata a questão ambiental de maneira não linear, relacionando ecologia,
economia e sociedade. Para Capra (1982, p.380), a “visão sistêmica da vida é uma
base apropriada tanto para as ciências do comportamento e da vida quanto para as
ciências sociais e, especialmente, a economia”.
O pensamento sistêmico foi observado na presente subcategoria nas
percepções de estudantes que identificaram os elementos econômicos por trás da
questão ambiental. Ao relacionar a economia com o ambiente, os estudantes
analisaram criticamente o pensamento de competição, dominação e expansão,
típicos do antropocentrismo. De maneira sistêmica, compreenderam as
consequências do modelo capitalista na sociedade e no ambiente.
4.3.2.3. Desenvolvimento social
Finalmente, os estudantes analisaram criticamente situações em que a
ecologia encontra a sociedade. Para que o desenvolvimento sustentável seja
possível, é necessário que as ações dos seres humanos respeitem a sociedade e
seus direitos. Conforme Duvoisin e Ruscheinsky (2012, p. 115): “A EA consiste no
esforço em contribuir para a mutação na forma de encarar o papel do ser humano
ante os bens naturais”.
Entender a relação da natureza com a sociedade significa também
compreender a relação do meio ambiente com a saúde humana. Conforme Capra

137
(1982), o desequilíbrio da sociedade atual gerou uma crise de saúde individual,
social e ecológica. “Esses três níveis de saúde estão intimamente relacionados, e
nossa atual crise constitui uma séria ameaça aos três. Ela ameaça a saúde dos
indivíduos, da sociedade e dos ecossistemas de que somos parte integrante.”
(CAPRA, 1982, p. 36). No terceiro encontro, a temática da poluição e escassez da
água foi abordada pelos alunos e monitores. A aluna Árvore relaciona a importância
da água limpa com saúde humana e conservação ambiental, o aluno Água vincula o
assunto com o ciclo da água e Eletricidade acredita que absorvemos os poluentes:
“Pesquisadora: Se a água não pode acabar por que a gente está tão
preocupado com ela ultimamente?
Árvore: Porque pode acabar água pra gente beber.
Água: Porque a cada vez que a água completa o ciclo ela fica cada vez mais
suja?
Eletricidade: Porque a gente absorve para a gente as partes da água?”
No mesmo encontro, a turma debate as consequências do descarte incorreto
de medicamentos: “Pesquisadora: Nunca devemos colocar medicamento na água. E
por que isso é importante para a gente? Árvore: Para a saúde. Onça: Para não ficar
doente”. Os educandos elencam aspectos relacionados à química, descarte
incorreto de medicamentos, poluição e suas consequências para a saúde humana.
No quarto encontro, os alunos preocuparam-se com os efeitos da radiação na
saúde humana: “Pesquisadora: O raio X é um raio que a gente está em contato
diariamente, e quando vamos receber raio X precisamos colocar uma roupa de
proteção especial. Tubarão: Porque a radioatividade nos afeta”. Dentro da mesma
temática, foi possível notar que Onça se preocupou com a radiação na sala de aula:
“Onça: Nesse momento nessa sala tem radiação?”. Em ambos os casos, os
educandos compreendem as consequência da radiação no bem-estar e na saúde
humana, provavelmente devido ao encontro em que foi estudado casos de acidentes
(Chernobyl e Goiânia) envolvendo radiação e afetando as vítimas.
Em algumas situações, alguns estudantes relacionaram as problemáticas
ambientais com o ego humano, os valores de competição e a expansão. Para Costa
(2002, p.141):
Ao processo criativo é creditada a responsabilidade de formar indivíduos
críticos, conscientes da sua realidade, capazes de interferir na sociedade
promovendo mudanças. Nesta linha de pensamento, a ação pedagógica visa

138
às transformações das relações dos seres humanos com a Natureza e entre
si.
De maneira crítica, a turma analisa os valores antropocêntricos. Tubarão
afirma que o ser humano caça tubarão por objetivos próprios: “Pesquisadora: Por
que será que o humano caça tubarão? Tubarão: Para conseguir a pele dele e falar
que conseguiu matar um tubarão”. O aluno compreende que nessa situação a caça
predatória do tubarão está vinculada com valores de competição entre seres
humanos. No mesmo encontro, o aluno Água se manifestou em relação ao valor do
aquífero guarani: “Pesquisadora: Aqui no Brasil tem uma parte subterrânea. Já
ouviram falar? Água: Sim, estão vindo roubar água né? Alguma coisa assim que eu
ouvi”. O aluno Água consegue interpretar criticamente a informação. Ao escolher
utilizar o termo “roubar”, relaciona o acontecimento com os valores competitivos da
sociedade e suas consequências para a ecologia. Aqui, os clubistas analisam
criticamente sociedade e meio ambiente, compreendendo os efeitos negativos da
ação antrópica.
Conforme Capra (1982), a sociedade atual prima pelos valores
antropocêntricos quando valoriza a competição e dominação entre os seres
humanos, tanto no meio empresarial quanto no espaço escolar.
Situação semelhante existe em nosso sistema educacional, no qual a auto-
afirmação é recompensada no que se refere ao comportamento competitivo,
mas é desencorajada quando se expressa em termos de ideias originais e
questionamento da autoridade. (CAPRA, 1982, p.41)
Os estudantes também conseguem conectar aspectos políticos com questões
ambientais. No sexto encontro, a aluna Árvore opina de maneira crítica:
“Pesquisadora: Estas aqui são iniciativas bem legais, ‘Recolha seu Lixo’ eles fazem
várias ações, este verão eles pegaram todas as bitucas de cigarro que encontraram
na praia e fizeram uma escultura em forma de pulmão. Além de fazer mal para a
gente, o cigarro faz mal para o meio ambiente, para os animais e para a qualidade
no ar. Árvore: Eu acho que devia ter mais propaganda disto aí do que político”.
Posicionar-se frente a uma questão polêmica de maneira crítica demonstra que a
aluna está utilizando sua autonomia.
Consideramos então, que, com esses princípios básicos, a educação
ambiental deve ser entendida como educação política, no sentido de que ela
reivindica e prepara os cidadãos e as cidadãs para exigir e construir uma

139
sociedade com justiça social, cidadanias (nacional e planetária), autogestão e
ética nas relações sociais e com a natureza. (REIGOTA, 2009, p. 14)
A consciência crítica apresenta papel fundamental na Educação Ambiental.
Reigota (2009) afirma que a EA como educação política é questionadora, criativa,
inovadora e muito crítica. A EA configura-se como um importante meio para a
formação da consciência crítica e de novas atitudes.
O pensamento sistêmico discutido nesta subcategoria foi construído pelos
participantes do CC ao relacionar a questão ambiental com a sociedade. Talvez o
pilar da sustentabilidade mais comentado e estudado aqui seja a sociedade, vista
como causa e consequência das problemáticas ambientais. De maneira crítica, mas
ao mesmo tempo cuidadosa e empática, os estudantes demonstraram autonomia
para lidar com as questões sociais em torno da questão ambiental.
O pensamento sistêmico como um todo engloba as questões sociais,
ambientais e econômicas por trás da tão falada sustentabilidade. Foi possível notar
que a autonomia, a criticidade, a empatia, o posicionamento político e o pensamento
sistêmico, aqui, andaram juntos, e assim aperfeiçoaram o Pensamento ecológico
dos participantes do CC. É importante notar que características complexas foram
manifestadas por indivíduos bem jovens, mostrando a capacidade moral e intelectual
que esses estudantes apresentam.

140
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivemos em uma época de modernidade fluida em que o que conhecemos
muda rapidamente. Em meio a esse cenário, enfrentamos desafios tecnológicos,
políticos, antropológicos e ecológicos na educação. O Clube de Ciências é um
espaço não formal de ensino capaz de complementar as lacunas do ensino formal.
As possíveis temáticas a serem trabalhadas no CC são diversas e entre elas a
Educação Ambiental pode ser abordada por meio de experimentos e dinâmicas. A
presente investigação teve como objetivo compreender as contribuições do
desenvolvimento de uma unidade de aprendizagem de EA em um Clube de Ciências
para o aperfeiçoamento do Pensamento ecológico dos estudantes. Para atingir esse
objetivo foram buscados sinais de Pensamento ecológico nas falas e nos materiais
produzidos pelos estudantes ao longo dos seis encontros. Os sinais de Pensamento
ecológico foram encontrados nas percepções ecocêntricas, no pensamento
integrativo, na visão complexa, nas ações sustentáveis, na visão crítica e na
autonomia dos estudantes. De maneira resumida, a unidade de aprendizagem sobre
Educação Ambiental no Clube de Ciências contribui para o aperfeiçoamento do
Pensamento ecológico de várias maneiras, as quais são apresentadas a seguir.
A UA permitiu o reconhecimento e as percepções iniciais dos estudantes
sobre o meio ambiente. Por meio da análise das falas dos alunos foi possível
identificar que eles apresentaram dificuldades em se expressar e se conectar com o
meio ambiente. De maneira geral, inicialmente, os alunos compreendem a Terra de
forma simplista e reducionista, observando as partes de maneira separada, os
problemas ambientais de maneira fragmentada e os fatores bióticos e abióticos
como recursos a serem utilizados para garantir a sobrevivência humana. A partir da
análise, foi possível observar que o modelo de ensino nas escolas atuais,
normalmente, valoriza o pensamento racional ao invés do intuitivo, dificultando a
conexão dos indivíduos com suas naturezas.
A UA contribuiu para a complexificação do pensamento dos estudantes por
meio de relações desempenhadas entre os seus saberes prévios e novas
informações. Os clubistas encontram no CC um espaço em que são motivados a
reconstruírem significados por meio do questionamento reflexivo. Além disso,
sentem-se motivados, pois seus questionamentos e interesses foram valorizados na
construção da UA e nos debates realizados. O pensamento complexo também foi

141
desenvolvido devido à curiosidade e determinação dos estudantes, que
demonstraram perfil participativo ao longo dos encontros.
A UA permitiu que os estudantes repensassem sua relação com o meio
ambiente, explorando os conceitos sobre seu papel na natureza. Durante os
encontros, os clubistas perceberam as diferentes maneiras que o ser humano atinge
o meio ambiente e vice-versa, reconstruindo seu vínculo com o ecossistema. Além
disso, entenderam os aspectos sociais, econômicos e ecológicos que permitem a
sustentabilidade em todas suas dimensões.
A UA propiciou o desenvolvimento da autonomia, da criticidade, da empatia e
do Pensamento ecológico. O Pensamento ecológico alinha-se com as ideias de
Capra (1996) e foi observado nas falas dos alunos, carregadas de ideias de
cooperação e conservação, além de visão holística e não linear. Compreender o
ambiente de maneira complexa significa medir as consequências de seus atos e
compreender que a interação entre ser humano e meio ambiente é não linear. As
percepções ecocêntricas foram demonstradas nos momentos em que os estudantes
consideraram o meio ambiente e a ecologia tão ou mais importantes que o ser
humano.
O aperfeiçoamento do Pensamento ecológico foi observado nos momentos
em que os estudantes se manifestaram de maneira crítica, posicionando-se frente a
uma situação ou problema. A autonomia, tão falada na educação, também é um dos
objetivos da Educação Ambiental, do Pensamento ecológico e da ecologia profunda.
Estudantes autônomos são capazes de tomar decisões por si mesmos, e dessa
maneira podem reconstruir significados arraigados pela sociedade.
Por fim, a UA participou indiretamente da formação de cidadãos críticos e
autônomos que pensam de maneira integrativa. Valores integrativos no espaço do
CC são contribuições valiosas para a ciência e para a sociedade, pois indivíduos
que observam o meio ambiente de maneira holística compreendem as
consequências de seus atos e, no futuro, auxiliarão na formação de uma
comunidade mais sustentável.
Como estratégia pedagógica a UA oportuniza a participação dos estudantes
como agentes de seu próprio ensino. Durante os encontros foi possível observar
pontos positivos e negativos em relação a essa estratégia. Ao mesmo tempo que
permite uma maior flexiilidade na ordem e abordagem de conteúdos, também
desacomoda o educador em seu papel, que precisa rever suas práticas de ensino.

142
É importante lembrar que o CC é um espaço com possibilidades múltiplas
para trabalhar diferentes perspectivas de ensino. A EA não precisa necessariamente
ser abordada em espaço externo − trilhas ecológicas ou dinâmicas ao ar livre. No
CC, a EA encontrou um espaço efetivo para expandir suas possibilidades
juntamente com a química, ecologia, zoologia e tantos outros conteúdos. No espaço
do CC, a ciência e a tecnologia são sempre bem vistos, e aqui os alunos
incorporaram a questão ecológica com a científica.
A presente investigação permite e estimula novas investigações e
descobertas de EA e no espaço do CC. Quando pensamos em EA, normalmente
relacionamos com florestas, naturezas e matas e, quando pensamos em CC,
lembramos de laboratórios, vidrarias, jaleco. Essa experiência permitiu compreender
um pouco mais essas duas áreas e as maneiras pelas quais elas se relacionam e
podem vir a se relacionar. Por meio deste estudo foi possível juntar esses dois
aspectos da ciência de maneira natural e científica. A EA ainda é considerada um
tema relativamente novo, e sua abordagem no espaço do CC ainda é escassa,
permitindo o surgimento de novos estudos nessa área.
Além da compreensão da dimensão do meio ambiente, abordar EA em um
ambiente não formal permitiu a realização de ações sustentáveis que vão além da
teoria, pois sugerem movimento. Um dos objetivos principais da ecologia profunda é
estimular a ação, sair da teoria e concretizar soluções sustentáveis. A partir das
falas e debates foi possível observar que os estudantes sentiram-se sensibilizados
pela temática ambiental e manifestaram o interesse na realização de mudanças.
Cabe também ressaltar que alguns questionamentos ainda permanecem
como, por exemplo, a vontade de compreender quanto do que foi descoberto nos
encontros vai permanecer no cotidiano dos estudantes. Apesar de realizarem
intensos debates e produzirem materiais consistentes com o Pensar ecológico, os
conhecimentos que os estudantes realmente vão aplicar em seu cotidiano ainda é
um mistério e somente podemos esperar que os resultados sejam significativos e
positivos em suas vidas.
Ainda sobre a questão ambiental e EA, podemos questionar sobre os saberes
prévios de cada estudante − quais são as suas realidades e como aprendem de
maneira informal. Inicialmente, foi possível observar que os estudantes trouxeram
saberes, expressos de maneiras muito diferentes, possivelmente relacionados com

143
seus cotidianos. Os conhecimentos prévios de cada estudante podem interferir na
maneira em que perceberam a UA sobre EA e nas ações que irão realizar a partir de
agora. Além disso, a união do ensino de Química e EA surge como nova
possibilidade de abordar a questão ambiental nos espaços formais e informais.
Assim como foi realizado na presente investigação, buscar compreender os
interesses dos alunos como, por exemplo, a química, configura uma importante
ferramenta de ensino e aprendizagem.
Como argumento central da pesquisa, afirma-se que o desenvolvimento e
aperfeiçoamento do Pensamento ecológico são possíveis quando são criadas,
intencionalmente, situações de aprendizagem, como é o caso de uma UA sobre EA.
Como resultado final desta investigação podemos identificar que as atividades
desenvolvidas por meio da UA sobre EA auxiliaram os estudantes a aperfeiçoar o
Pensamento ecológico.
A realização desse estudo foi uma grande oportunidade de aprendizado, pois
permitiu compreender um pouco mais sobre o espaço do CC, os fundamentos da
EA, as etapas do Educar pela Pesquisa, a educação, a maneira que os estudantes
compreendem o meio ambiente e, finalmente, sobre minha escolha profissional
como educadora do ensino de ciências e como educadora ambiental. Como
mensagem final, retomo conceitos da ecologia profunda, segundo a qual fazemos
parte do meio ambiente, de maneira equilibrada e nunca superior. Como integrantes
do meio ambiente e seres humanos integrantes de uma sociedade podemos
desempenhar um importante vínculo com a natureza, um vínculo de respeito,
cuidado e preservação.
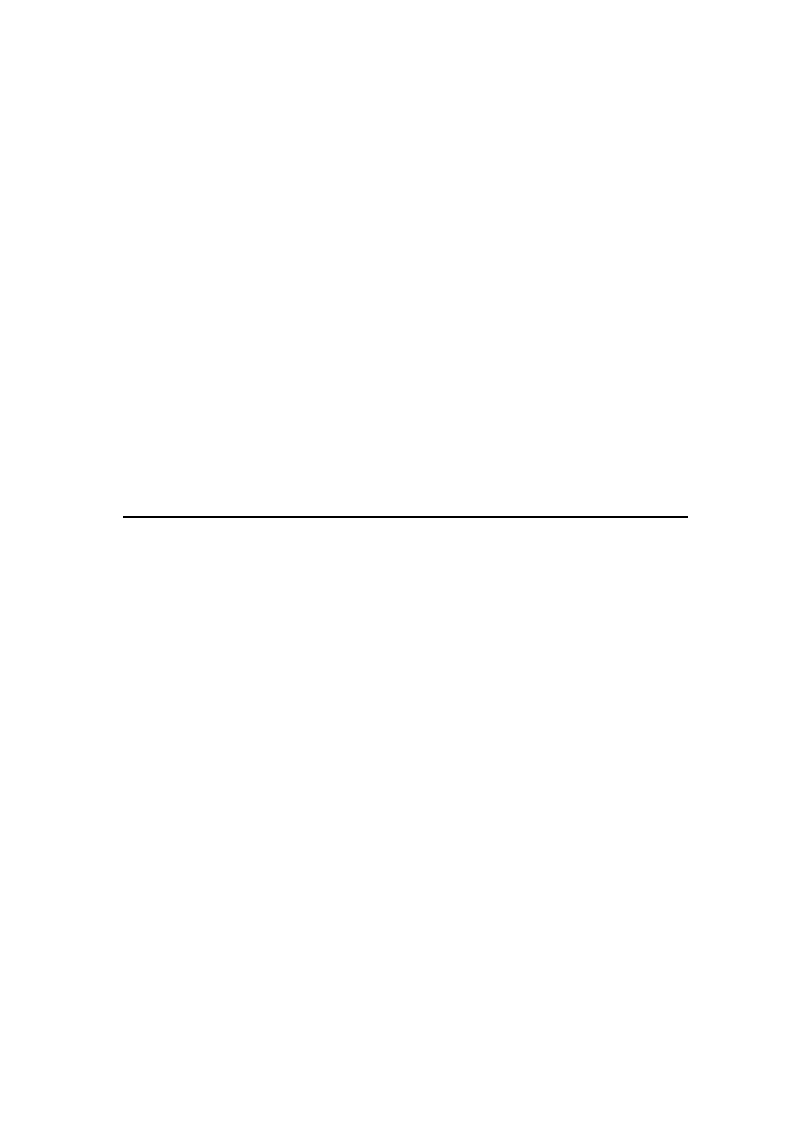
144
REFERÊNCIAS
ALBUQUERQUE, Nathália Fogaça. Clubes de ciências: contribuições para uma
formação contemporânea. 89 f. Dissertação (Mestrado), Porto Alegre, 2016.
ANTROPOCENTRISMO. In: Dicionário Michaelis. 2017. Disponível em:
<http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-
brasileiro/antropocentrismo/>. Acesso em: 15 nov. 2017.
ARAÚJO, Dairla Luzianne Cândido de. Zoofobia: um estudo com alunos do ensino
fundamental II de Nova Floresta. 2012. 25 f. (Trabalho de Conclusão de Curso em
Ciências Biológicas). Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, Paraíba,
2012.
BARRETO, Raquel Goulart. Tecnologia e educação: trabalho e formação
docente. Educação & Sociedade, v. 25, n. 89, p. 1181-1201, 2004.
BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.
BBC Brasil. Como nuvem letal matou mais de 8 mil pessoas em 72 horas. [2014]
Disponível em:
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141203_gas_india_20anos_rp>.
Acesso em: 15 nov. 2017.
BOFF, Leonardo. Ética e moral: a busca dos fundamentos. Petrópolis: Vozes, 2003.
BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação: uma
introdução à teoria e aos métodos. Portugal: Porto, 1994.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 2018.
Disponível em: < http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-
content/uploads/2018/04/BNCC_19mar2018_versaofinal.pdf> . Acesso em: 3 mai.
2018.
_______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Um pouco da história da Educação
Ambiental. 2016a. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/historia.pdf.>.
Acesso em: 16 nov. 2016.
______. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regularização da
produção orgânica. 2016b. Disponível em:
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/regularizacao-da-
producao. Acesso em: 6 jan. 2018.
______. Lei n.º 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.831.htm>. Acesso em: 6 jan.
2018.
______. Lei n.º 9.795, de 27 de abril de 1999. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9795.htm>. Acesso em: 16 nov. 2016.

145
CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas
vivos. Trad. de Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 1996.
______. O ponto de mutação. São Paulo: Cultrix, 1982.
CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação do sujeito
ecológico. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2008.
COSTA, Aurora Maria Figueiredo Coelho. Educação Ambiental no ensino formal:
necessidade de construção de caminhos metodológicos. In: PEDRINI, Alexandre
Gusmão. O contrato social da ciência: unindo saberes na educação ambiental.
Petrópolis: Vozes, 2002. p. 137-171.
DA SILVA, Jeremias Borges; BRINATTI, André Maurício; DA SILVA, Silvio Luiz Rutz.
Clubes de Ciências: uma alternativa para melhoria do Ensino de Ciências e
Alfabetização Científica nas escolas. XVIII Simpósio Nacional de Ensino de Física
(SNEF). Vitória, ES, Disponível em:
http://www.cienciamao.usp.br/dados/snef/_clubesdecienciasumaalter.trabalho.pdf,
2009. Acesso em: 6 jan. 2018.
DECLARAÇÃO de Tbilisi. 1977. Disponível em:
http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/deds/pdfs/decltbilisi.pdf. Acesso em: 16 nov.
2016.
DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. 10. ed. Campinas: Autores Associados,
2015.
______. Pesquisa como princípio educativo na universidade. In: MORAES, Roque;
LIMA, Valderez Marina do Rosário (Orgs.). Pesquisa em sala de aula: tendências
para a educação em novos tempos. 3. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011.
DIAS. Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. 9. ed. São
Paulo: Gaia, 2004.
______. Elementos para capacitação em educação ambiental. Ilhéus: Editus,
1999.
DUVOISIN, Ivane Almeida; RUSCHEINSKY, Aloisio. Visão sistêmica e educação
ambiental: conflitos entre o velho e o novo paradigma. In: RUSCHEINSKY, Aloisio.
(Org.) Educação ambiental: abordagens múltiplas. 2. ed. Porto Alegre: Artmed,
2012. p.115- 135.
EMPATIA. In: Dicionário Michaelis. 2018. Disponível em:
<http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=empatia.> Acesso em: 04
jan. 2018.
FAGUNDES, Suzana Margarete Kurzmann. Experimentação nas aulas de Ciências:
um meio para a formação da autonomia? In: GALIAZZI, Maria do Carmo; AUTH,
Milton; MORAES, Roque; MANCUSO, Ronaldo. (Orgs.). Construção curricular em
rede na educação em Ciências: uma aposta na pesquisa na sala de aula. Ijuí:
Unijuí, 2007. p. 317–336.

146
FLICK, Uwe. Uma introdução à pesquisa qualitativa. Trad. Joice Elias Costa. 3.
ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
FONSECA, João José Saraiva. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza:
UEC, 2002. Apostila. Disponível em:
<http://www.ia.ufrrj.br/ppgea/conteudo/conteudo-2012-
1/1SF/Sandra/apostilaMetodologia.pdf.>. Acesso em: 25 nov. 2016.
FRANCIONE, Gary. Animals: property or persons? In: SUNSTEIN, Cass R.;
NUSSBAUM, Martha C. Animal rights: current debates and new directions. Oxford
University Press. Rutgers University School of Law: Newark. 2004.Disponível em:
<http://law.bepress.com/rutgersnewarklwps/art21 >. Acesso em: 04 jan. 2018.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 28. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.
______ . Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática docente. São
Paulo: Paz e Terra, 1996.
______. Por uma pedagogia da pergunta. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.
FRESCHI, Márcio; RAMOS, Maurivan Güntzel. Unidade de Aprendizagem: um
processo em construção que possibilita o trânsito entre senso comum e
conhecimento científico. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, v. 8,
n. 1, 2009. p. 156-170.
FRISON, Lourdes Maria Bragagnolo. Pesquisa como superação da aula copiada. In:
MORAES, Roque; LIMA, Valderez Marina do Rosário (Orgs.) Pesquisa em sala de
aula: tendências para a educação em novos tempos. 3. ed. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 2012.
GADOTTI, Moacir. Educar para a sustentabilidade. Inclusão social, v. 3, n. 1, 2009.
______. Perspectivas atuais da educação. São Paulo: São Paulo Perspec., v.
14, n. 2, p. 03-11, 2000 . Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
88392000000200002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 21 jan. 2018.
GALIAZZI, Maria do Carmo; GARCIA, Fabiane Ávila; LINDEMANN, Renata
Hernandez. Construindo caleidoscópios: organizando unidades de aprendizagem. In:
MORAES, Roque; MANCUSO, Ronaldo (orgs.) Educação em ciências: produção
de currículos e formação de professor. Ijuí: Unijuí, 2004. p. 65-84.
GERHADT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de pesquisa/
organizado por e coordenado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/ UFRGS e
pelo Curso de Graduação Tecnológica − Planejamento e Gestão para o
Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS − Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.
GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo:
Atlas, 2008.

147
GOHN, Maria da Glória. Educação não formal e o educador social: atuação no
desenvolvimento de projetos sociais. Vol. 1. São Paulo: Cortez, 2010.
GUIMARÃES, Mauro. Abordagem relacional como forma de ação. In: _______
(org.).Caminhos da educação ambiental: da forma à ação. Campinas: Papirus, 3.
ed., 2008. p. 9-16.
______. A dimensão ambiental na educação. Campinas: Papirus, 1995.
GÜNTHER, Hartmut. Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa: esta é a
questão. In: Psicologia: teoria e pesquisa, 2006. p. 201-210.
HOYT, Erich; SCHULTZ, Ted (Ed.). Insect lives: stories of mystery and romance
from a hidden world. Harvard University Press, 2002.
HUGHES, Phillip. Objetivos, Expectativas e realidades de educação para os jovens.
In: DELORS, J. A educação para o século XXI: questões e perspectivas. Trad.
Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2005.
KINALSKI, Alvina Canal; ZANON, Lenir Basso. O leite como tema organizador de
aprendizagens em química no ensino fundamental. Química Nova na Escola, v. 6,
1997. p. 15-19.
LAYRARGUES, Philippe Pomier (coord). Identidades da educação ambiental
brasileira. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. 2004. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/livro_ieab.pdf>. Acesso em:
21 jan. 2018.
LEPELTALK, Jan; VERLINDEN, Claire. Ensinar na era da informação: problemas e
novas perspectivas. In: DELORS, J. A educação para o século XXI: questões e
perspectivas. Trad. Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2005.
LIMA, Valderez Marina do Rosário. Pesquisa em sala de aula: um olhar na direção
do desenvolvimento da competência social. In: MORAES, Roque; LIMA, Valderez
Marina do Rosário (Orgs.) Pesquisa em sala de aula: tendências para a educação
em novos tempos. 3. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012.
______. A sala de aula do Educar pela Pesquisa: uma história a ser contada.
Tese (Doutorado em Educação), Faculdade de Educação, Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 225f, 2003.
______. Clubes de Ciências: contribuições à formação do educando. Dissertação
(Mestrado em Educação), Faculdade de Educação, Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 207f, 1998.
LOUREIRO, Carlos Frederico B. O que significa transformar em Educação
Ambiental? In: ZAKRZEVSKI, Sônia Balvedi; BARCELOS, Valdo. (Orgs.) Educação
ambiental e compromisso social: pensamentos e ações. Erechim: EdiFapes.
2004.

148
LOURENÇO, Daniel Braga; DE OLIVEIRA, Fábio Correia Souza. Sustentabilidade,
economia verde, direito dos animais e ecologia profunda: algumas
considerações. Revista Brasileira de Direito Animal, v. 7, n. 10, 2013.
LOVELOCK, James. Gaia: cura para um planeta doente. Trad. Aleph Teruya
Eichemberg e Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2006.
LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli Eda. Pesquisa em educação: abordagens
qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.
MANCUSO, Ronaldo; LIMA, Valderez Marina do Rosário; BANDEIRA, Vera Alfama.
Clubes de Ciências: criação, funcionamento, dinamização. Porto Alegre:
SE/CECIRS, 365 p., 1996.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de
metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
MENEZES, Celso; SCRHOEDER, Edson; SILVA, Vera Lúcia de Souza e. Clubes de
Ciências como espaço de alfabetização científica e ecoformação. Atos de Pesquisa
em Educação, v. 7, n. 3, p. 811-833, 2012.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa social: teoria, método e criatividade.
21. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.
MIRAS, Mariana. Um ponto de partida para a aprendizagem de novos conteúdos: os
conhecimentos prévios. In: COLL, Cesar; MARTÍN, Elena; MAURI, Teresa; MIRAS,
Mariana; ONRUBIA, Javier; SOLÉ, Isabel & ZABALA, Antoni. O construtivismo na
sala de aula: novas perspectivas para a acção pedagógica. 6. ed. São Paulo: Ática.
1998.
MONTOYA, Adrián Oscar Dongo; MORAIS-SHIMIZU, Alessandra; MARÇAL, Vicente
Eduardo Ribeiro; MOURA, Josana Ferreira Bassi. In: Jean Piaget no século XXI:
escritos de epistemologia e psicologia genéticas / São Paulo: Cultura Acadêmica,
2011.
MORAES, Roque. Educar pela pesquisa: exercício de aprender a aprender. In:
MORAES, Roque; LIMA, Valderez Marina do Rosário (Orgs.). Pesquisa em sala de
aula: tendências para a educação em novos tempos. 3. ed. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 2012.
MORAES, Roque; GALIAZZI, Maria do Carmo. Análise Textual Discursiva. Ijuí:
Unijuí, 2011. 223 p.
MORAES, Roque; GALIAZZI, Maria do Carmo; RAMOS, Maurivan G. Pesquisa em
sala de aula: fundamentos e pressupostos. In: MORAES, Roque; LIMA, Valderez
Marina do Rosário (Orgs.). Pesquisa em sala de aula: tendências para a educação
em novos tempos. 3. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012.
NAESS, Arne. Ecology, community and lifestyle. Trad: David Rothenberg.
Cambridge Press University, 1989.

149
NETO, Eraldo Medeiros Costa; PACHECO, Josué Marques. A construção do
domínio etnozoológico “inseto” pelos moradores do povoado de Pedra Branca,
Santa Terezinha, Estado da Bahia-DOI: 10.4025/actascibiolsci. v26i1. 1662. Acta
Scientiarum. Biological Sciences, v. 26, n. 1, p. 81-90, 2008.
NUSSBAUM, Martha. Sem fins lucrativos: por que a democracia precisa das
humanidades. Trad. Fernando Santos. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2015.
O’RIORDAN, Tim. Education for Sustentability. In: SANTOS, José Eduardo dos;
SATO, Michèle. A contribuição da educação ambiental à esperança de Pandora.
3. ed. São Carlos: RiMa, 2006.
ORDOÑEZ, Victor M. A educação fundamental no século XXI. In: DELORS, J. A
educação para o século XXI: questões e perspectivas. Trad. Fátima Murad. Porto
Alegre: Artmed, 2005.
PADUA, Suzana. Afinal, qual a diferença entre conservação e preservação? 2006.
Disponível em: < http://www.oeco.org.br/colunas/suzana-padua/18246-oeco-
15564/>. Acesso em: 6 jan. 2018.
PAPADOPOULOS, George.S. Aprender para o século XXI. In: DELORS, J. A
educação para o século XXI: questões e perspectivas. Trad. Fátima Murad. Porto
Alegre: Artmed, 2005.
PIAGET, Jean. O juízo moral na criança. Trad. Elzon Lenardon. São Paulo:
Summus. 1994.
PIRES, Melissa Guerra Simões; DALARIVA, Kelly Compagnoni; FERNANDES,
Carolina; FRAGA, Cristiani Souza; SALDANHA, Thaina; DE SOUZA, Marielli Costa;
FAILACE Daniela Motta; ROSITO, Berenice Alvares. Motivações e expectativas de
alunos/as do ensino fundamental na participação de um Clube de Ciências. VI
Encontro Nacional de Pesquisa e Educação em Ciências. Disponível em:
http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/vienpec/CR2/p363.pdf, 2007.
REIGOTA, Marcos. O que é educação ambiental. 2. ed. São Paulo: Brasiliense,
2009.
REIS, Pedro. Observação de aulas e avaliação do desempenho docente. Lisboa:
Ministério da Educação. Conselho científico para a avaliação de professores,
2011.
RIBES, Eva Lizety. Escola e meio ambiente - um intercâmbio produtivo. In:
LAMPERT, Ernani. Educação brasileira: desafios e perspectivas para o século XXI.
1. ed. Porto Alegre: Sulina, 2000.
ROSITO, Berenice Alvares; LIMA, Valderez Marina do Rosário. Clube de Ciências:
espaço para produção artística? In: CONGRESSO REDPOP 2015 – Arte,
Tecnologia y Ciências. Nuevas Maneras de Conocer, 2015, Medelin. Livro de
Memórias RedPop 2015. Medelin: RedPop, v. 1. p. 1046-1052, 2015.

150
SACRISTÁN, José Gimeno. Prólogo: ¿Por qué nos importa la educación en el
futuro? In: Jarauta, Beatriz & Imbernón , Francisco (coods). Pensando en el futuro
de la educación: una nueva escuela para el siglo XXII. Vol. 39. Graó: Barcelona,
2012.
SALVADOR, Paula Maria Pinheiro Dias. Avaliação do impacte de actividades
outdoor: contributo dos clubes de ciências para a alfabetização científica.
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
Departamento de Geologia, Porto, 2002.
SANMARTÍ, Neus. El diseño de unidades didácticas. Didáctica de las ciencias
experimentales: teoría y práctica de la enseñanza de las ciencias. Barcelona:
Editorial Marfil, 2000.
SANTOS, José Eduardo dos; SATO, Michèle. Universidade e ambientalismo:
encontros não são despedidas. In: SANTOS, José Eduardo dos; SATO, Michèle. A
contribuição da educação ambiental à esperança de Pandora. 3. ed. São Carlos:
RiMa, 2006.
SENNETT, Richard. The culture of the new capitalism. Yale University Press,
2007.
SOLÉ, Isabel. Disponibilidade para a aprendizagem e sentido da aprendizagem. In:
COLL, Cesar; MARTÍN, Elena; MAURI, Teresa; MIRAS, Mariana; ONRUBIA, Javier;
SOLÉ, Isabel & ZABALA, Antoni. O construtivismo na sala de aula: novas
perspectivas para a acção pedagógica. 6. ed. São Paulo: Ática. 1998.
STAKE, Robert. E. The art of case study research. Sage Publication. 1995.
TEDESCO, Juan Carlos. Escuela y sociedad en el siglo XXII. In: Jarauta, Beatriz;
Imbernón, Francisco (Coords). Pensando en el futuro de la educación: una nueva
escuela para el siglo XXII. Vol. 39. Graó: Barcelona, 2012.
TEDESCO, Juan Carlos. Tendências atuais das reformas educacionais. In:
DELORS, J. A educação para o século XXI: questões e perspectivas. Trad. Fátima
Murad. Porto Alegre: Artmed, 2005.
THE LIFE and legacy of Rachel Carson. Silent Spring. 1996-2016. Disponível em:
http://www.rachelcarson.org/SilentSpring.aspx. Acesso em: 16 nov. 2016.
VELASCO, Sírio Lopez. Querer-Poder e os desafios sócio-ambientais do século
XXI. Educação Ambiental: abordagens múltiplas. 2 ed.Porto Alegre: Artmed, p. 35-
46, 2012.
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos [recurso eletrônico] /
Robert K. Yin; Trad. Cristhian Matheus Herrera. 5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
ZABALZA, Miguel Angel. Diários de aula: um instrumento de pesquisa e
desenvolvimento profissional. Porto Alegre: Artmed, 2004.

151
APÊNDICES
APÊNDICE A
Questionário utilizado no primeiro encontro
Questionário de associação de palavras
(Escrever de 3 a 5 palavras, expressões ou frases que te lembrem do termo.)
1) Planeta Terra
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2) Meio ambiente
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________
3) Sustentabilidade
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4) Problemas ambientais
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
5) Maneiras de ajudar o planeta Terra
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

152
APÊNDICE B
Roteiro utilizado no primeiro encontro para a atividade Desmatamento.
O título criativo que escolhemos para o experimento é _________________
______________________________________________________________.
Inicialmente, recebemos um vaso (1) com _________________________
e outro (2) com _________________________________________________.
Começamos o experimento ao _____________________________________
_______________________________________________________________.
Notamos que no Vaso 1 _________________________________________
_______________________________________________________________.
Enquanto que no Vaso 2 _______________________________________
_______________________________________________________________.
Conseguimos relacionar esse experimento com _______________________.
A partir desse experimento entendemos que __________________________
_______________________________________________________________.
Nossos questionamentos para serem debatidos com o grande grupo são:
________________________________________________________?
________________________________________________________?
________________________________________________________?
________________________________________________________?

153
APÊNDICE C
Texto de apoio sobre energia nuclear utilizado no quarto encontro.
Energia nuclear − produção e utilização
Sublinhar de VERDE os trechos que entendeu, sublinhar de AMARELO os trechos
que tem dúvidas ou curiosidade, sublinhar de VERMELHO os trechos que não
entendeu ou não conhece.
A utilização da energia nuclear possui elevados riscos, mas em contrapartida também traz
benefícios. Isto faz com que o recurso a centrais nucleares esteja longe de gerar consenso.
Esta energia pode ser vista como uma possível fuga ao elevado consumo e dependência do
petróleo, mas como todas as outras energias teremos de fazer um balanço às vantagens e
desvantagens da sua utilização.
Energia nuclear é a energia libertada numa reação nuclear, ou seja, em processos de
transformação de núcleos atômicos. Alguns isótopos de certos elementos apresentam a
capacidade de se transformar em outros isótopos ou elementos através de reações
nucleares, emitindo energia durante esse processo. A tecnologia nuclear tem como uma
das suas finalidades gerar eletricidade. Aproveitando-se do calor emitido na reação, para
aquecer a água até se tornar vapor, e assim movimentar um turbogerador. A reação nuclear
pode acontecer controladamente num reator de uma usina nuclear ou descontroladamente
numa bomba atômica.
Vantagens e desvantagens
Vantagens
É uma fonte mais concentrada na geração de energia. Uma pequena quantidade de
urânio pode abastecer uma cidade inteira, fazendo assim com que não sejam
necessários grandes investimentos no recurso.
É fácil de transportar como novo combustível.
É uma fonte de energia segura, pois o número de acidentes ocorridos até à data é
extremamente reduzido.
Desvantagens:
Ser uma energia não renovável, como referido anteriormente, torna-se uma das
desvantagens, visto que o recurso utilizado para produzir este tipo de energia se
esgotará futuramente.
As elevadas temperaturas da água utilizada no aquecimento causa a poluição
térmica, pois esta é lançada nos rios e nas ribeiras, destruindo assim ecossistemas e
interferindo com o equilíbrio destas mesmas.
O risco de acidente, visto que qualquer falha humana, ou técnica poderá causar uma
catástrofe sem retorno. Apesar de atualmente existirem sistemas de segurança
elevada, de modo a tentar minimizar e evitar que estas falhas (humanas ou técnicas)
aconteçam.
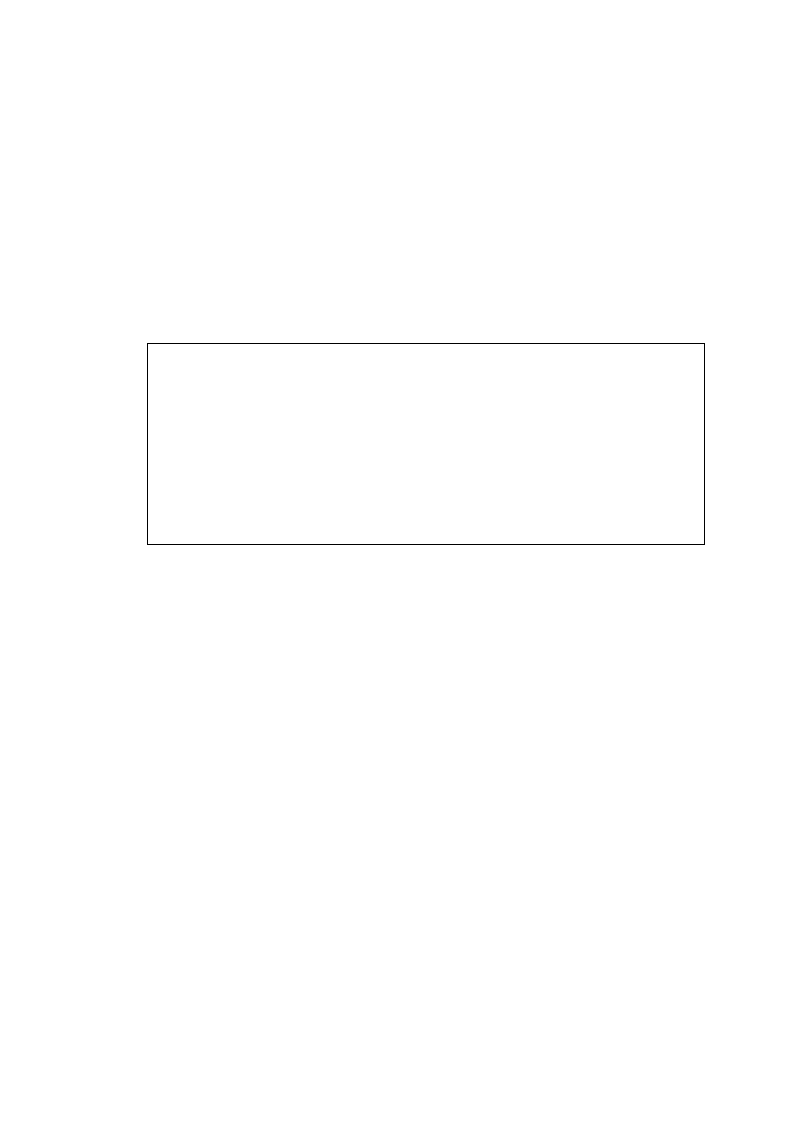
154
A formação de resíduos nucleares perigosos e a emissão causal de radiações
causam a poluição radioativa. Os resíduos são um dos principais inconvenientes
desta energia, visto que atualmente não existem planos para estes resíduos, quer de
baixo ou alto nível de radioatividade. Estes podem ter um período de vida de até 300
anos após serem produzidos podendo assim prejudicar as gerações vindouras.
Pode ser utilizada para fins bélicos, para a construção de armas nucleares. Esta foi
uma das primeiras utilizações da energia nuclear.
O investimento inicial, e a manutenção das energias nucleares representam custos
elevados.
Fonte: http://www.explicatorium.com/energia/energia-nuclear.html
Sim! Nós temos perguntas!
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
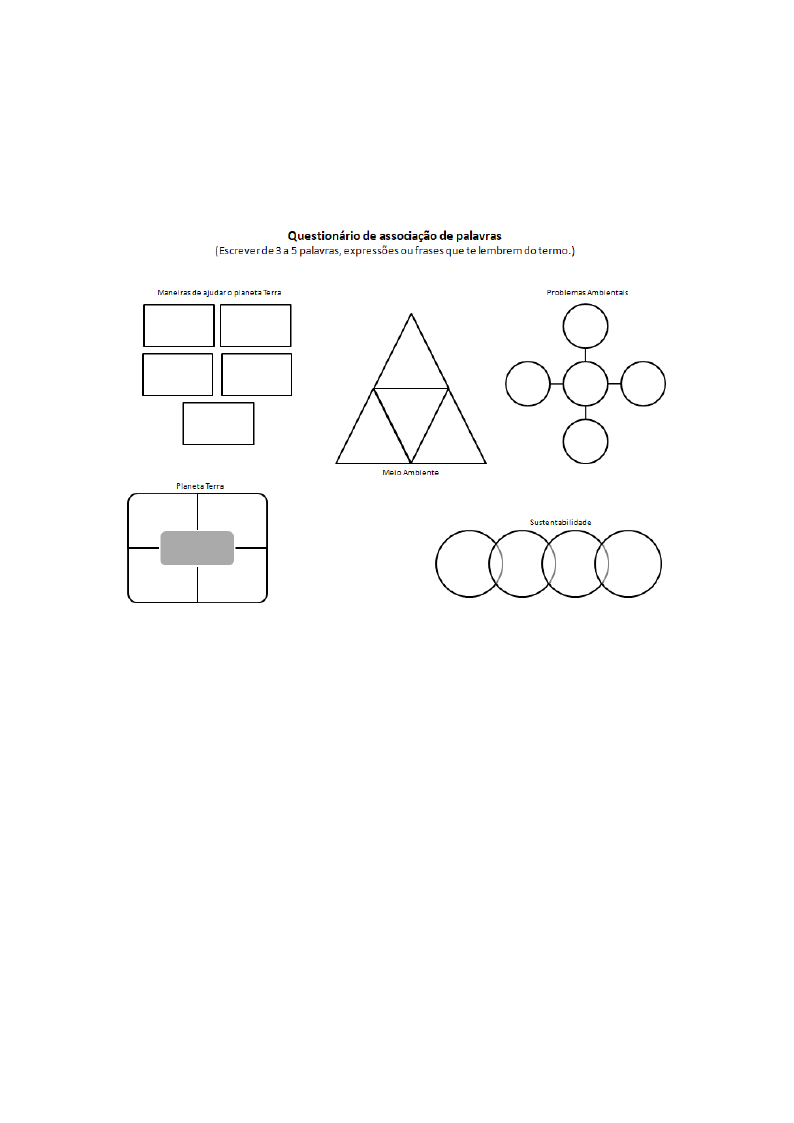
155
APÊNDICE D
Questionário utilizado no sexto encontro.
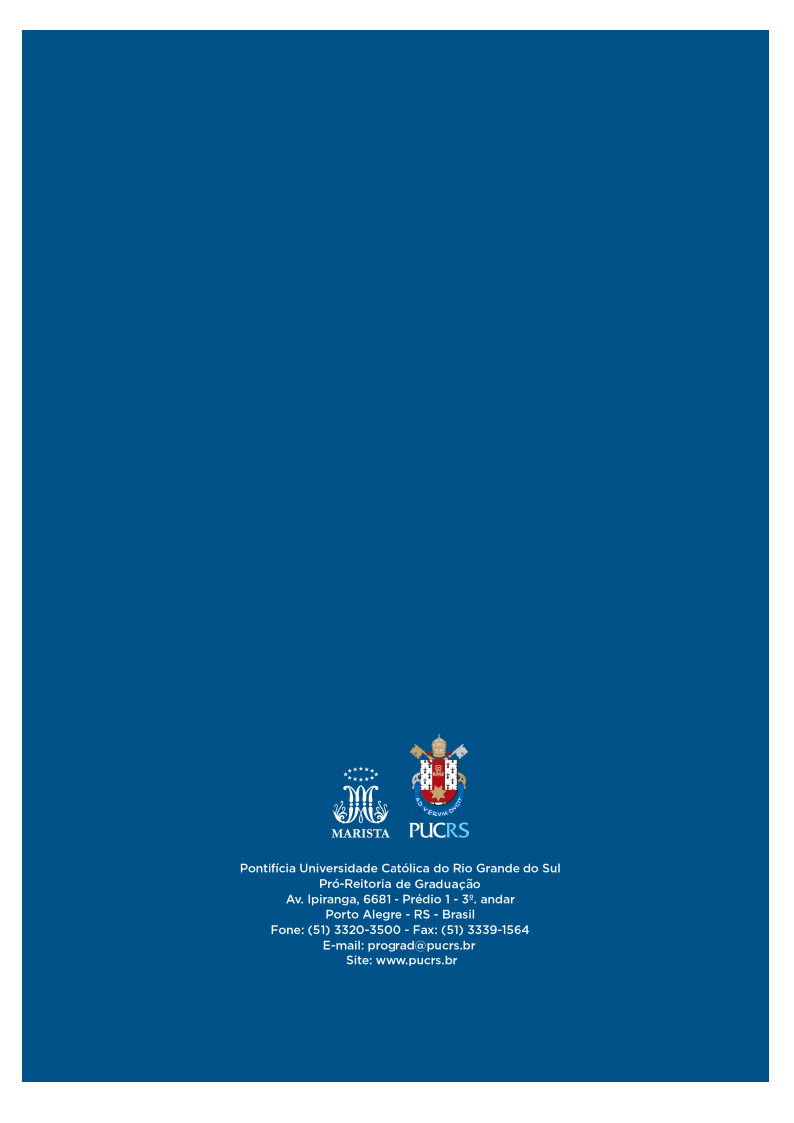
156
