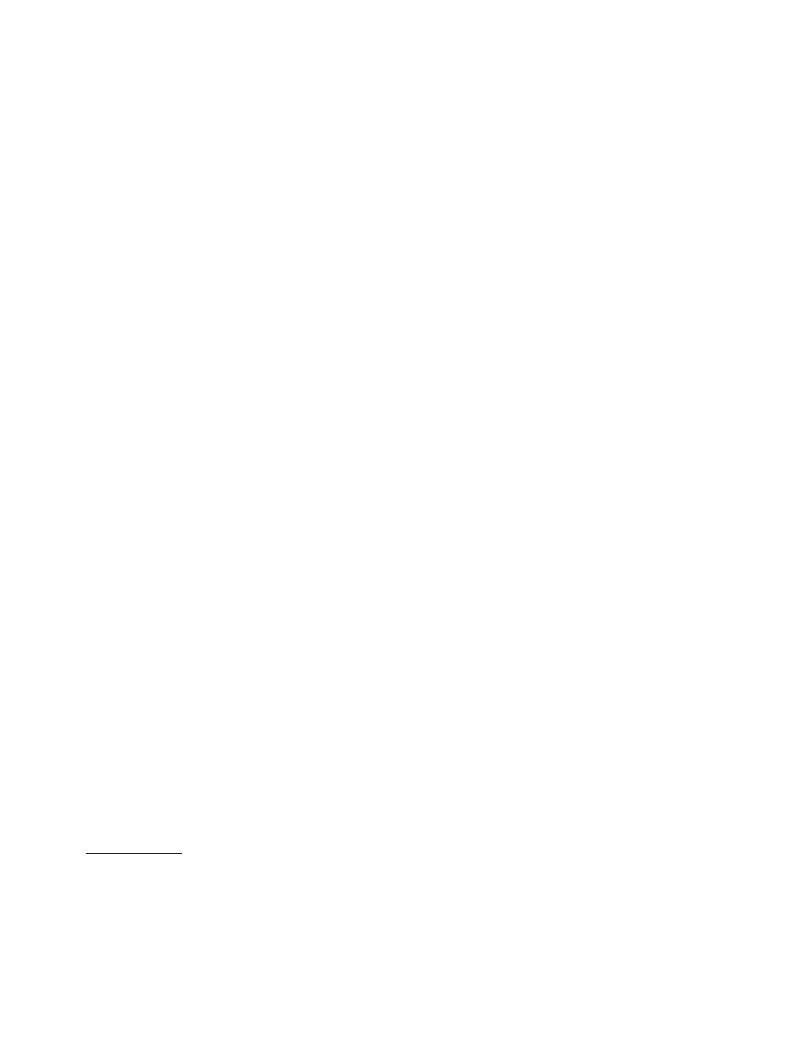
Psicologia: Teoria e Pesquisa
Jul-Set 2009, Vol. 25 n. 3, pp. 453-460
Comportamento Humano e Recursos Naturais:
Qualidade e Disponibilidade da Água Avaliadas pelos Usuários1
Ariane Kuhnen2
Universidade Federal de Santa Catarina
Rafaella Lenoir Improta
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Scheila Machado da Silveira
Universidade de São Paulo
RESUMO - A pesquisa buscou conhecer as representações da água em cidades de São Paulo e Santa Catarina. Foram realizadas
296 entrevistas estruturadas com uso de questionário elaborado a partir de eixos temáticos, categorias e variáveis. Para análise
dos resultados, realizou-se a exploração textual dos questionários, reconhecendo os núcleos dos discursos e suas características,
agrupadas por semelhança de conteúdo. A maioria dos entrevistados indica a água como fundamental para a sobrevivência, sendo
suficiente no momento atual, porém temem pela sua indisponibilidade no futuro. Apontam as ações humanas como principal
responsável pela situação. Conclui-se que os entrevistados questionam os modos de vida e de produção atual, a organização
da sociedade e, por consequência, chamam a atenção para o modo insustentável de consumo de água.
Palavras-chave: água; percepção; psicologia ambiental.
Human Behavior and Natural Resources:
Quality and Availability of Water as Evaluated by Users
ABSTRACT - The research aimed to know the representations of water in some cities in Sao Paulo and Santa Catarina. Two
hundred and ninety six structured interviews were conducted using a questionnaire elaborated on themes, categories and
variables. In order to analyze the results, textual exploration of the questionnaires was performed identifying the discourse
nuclei and their characteristics, grouped by content similarity. The majority of respondents indicated water as fundamental to
survival. They also affirmed that it is currently sufficient, but they fear its unavailability in the future. They say that human
actions are primarily responsible for this situation. It is concluded that the respondents question the ways of life and production
nowadays, society organization and, consequently, they call attention to the unsustainable way of water consumption.
Keywords: water; perception; environmental psychology.
A água é um bem extremamente fundamental para a so-
brevivência de todo o planeta. Ao longo da história humana,
o ser humano sempre necessitou de água. Porém, diferente-
mente dos outros seres vivos, o ser humano também necessita
desse recurso para garantir o desenvolvimento de suas ativi-
dades produtivas. Em algumas, muito explicitamente, como,
por exemplo, na agricultura; já em outras atividades, como
na indústria ou pecuária, a necessidade da água se apresenta
um pouco mais implícita (Trigueiro, 2005).
Além disso, a qualidade da água pode ser uma medida
que diagnostique o estado de conservação do ambiente como
um todo, já que por meio de sua análise se verifica o grau
de erosão do solo, os lançamentos orgânicos, a poluição por
1 Apoio financeiro: Ministério da Saúde – FUNASA. Colegas colabo-
radores: Pedro Roberto Jacobi, Roberto Moraes Cruz, Fernanda G.
Müller, Guilherme Baldo e Maisa M. Hortal. Origem do Trabalho:
Pesquisa realizada para o Ministério da Saúde – FUNASA – Programa
de Pesquisa em Saúde e Saneamento, sob o título Representações e
Práticas Sociais Ligadas à Água – REÁGUA.
2 Endereço para correspondência: Universidade Federal de Santa Catari-
na, Departamento de Psicologia, Laboratório de Psicologia Ambiental.
Florianópolis, SC. CEP 88040-970. Fone: (48) 3721-8574; Fax: (48)
3721-9283. E-mail: ariane@cfh.ufsc.br.
esgotos e, inclusive, a poluição atmosférica. Não por outra
razão, as bacias hidrográficas são atualmente utilizadas como
unidades de planejamento de gestão ambiental (Freitas, 2000;
Graff, 2000).
Ocorre que o comportamento humano é considerado a
maior causa de deterioração ambiental. A utilização desre-
grada do meio ambiente como recurso ao longo dos séculos,
agravada com o crescimento populacional, semeou e deu fru-
tos à crise ambiental contemporânea, que não é uma crise do
ambiente e sim uma crise das pessoas-nos-ambientes (Clark,
1995, Oskamp, 2000; Pinheiro, 1997; Pol, 1993; Stern, 2000).
Além disso, a superpopulação humana exige cada vez mais
recursos para sua sobrevivência (Corral-Verdugo, 2001).
Incluído nesse panorama está o uso insustentável do recurso
água nas atividades humanas, comprometendo sua qualidade
e preocupando por sua iminente escassez (Corral-Vedugo,
2001; Oskamp, 2000; Trigueiro, 2005). Por esse fato, o tema
da relação com a água é bastante presente atualmente na so-
ciedade, tanto na comunidade acadêmica quanto nos demais
segmentos. As questões buscadas e tratadas pelas Ciências
Humanas agrupam-se em torno de temas como o papel das
percepções, representações, das dimensões individuais e
socioculturais e das práticas cotidianas em torno do tema da
453

A. Kuhnen & cols.
água. Alguns estudos vêm sendo realizados buscando com-
preender esses fenômenos. Dentro desse escopo encontra-se
esta pesquisa.
Segundo Corral-Verdugo, Armenta, Urías, Cabrera e
Gallego (2002) e Vargas e Paula (2002), as atitudes, informa-
ções e expectativas dos usuários da água são fundamentais
para garantir uma gestão sustentável dos recursos hídricos.
Sendo assim, para que se possa envolver os usuários no pro-
cesso de gestão dos recursos hídricos é necessário entender
a maneira como percebem e interagem com o ambiente.
Segundo Corral-Verdugo (2001, 2002, 2003), as motivações
para economia estão entre os preditores psicológicos de
conservação de água significativos de ações pró-ambientais.
Essas motivações podem ser agrupadas em três instâncias: a
água é economizada para cooperar com alguma campanha
de conservação; para pagar menos pelo recurso; ou ainda,
devido à punição pelo consumo excessivo. Cabrera, Gallego
e Lomeli (2002) e Corral-Verdugo (2002) apontam variáveis
demográficas e contextuais que influenciam na economia de
água, tais como sexo, lugar de origem, escolaridade, renda e
conhecimento ambiental.
No que diz respeito à percepção ambiental do recurso
água, Vargas e Paula (2003) concluem que apesar de existi-
rem estudos objetivando conhecer a percepção da água, em
geral tais estudos focam aspetos fragmentados da relação
que temos com o recurso água. Buscando dar amplitude à
temática, esses autores verificaram que a percepção da água
é marcada pela falta de conhecimentos acerca de mananciais
de abastecimento, do tratamento, da legislação e mesmo do
consumo familiar e do custo da água.
Ribeiro e Galizzoni (2003) investigaram os usos locais
da água para compreender de que forma tais usos dialogam
ou conflitam com as leis e técnicas propostas pelas agências
reguladoras do recurso. Em suas conclusões, referem que
qualidade e sensibilidade estão associadas também à cap-
tação. A boa água, ou água fina é conseguida em brotos,
olhos d’água, nascentes preservadas, com mato em volta,
ou surge sobre pedras, possuindo sentido daquilo que é
puro e intocado, nascido da terra. Dessa forma, as distintas
hierarquias de usos das águas estão relacionadas à disponi-
bilidade de fontes e de sua qualidade: existe água para beber,
para consumo animal, para lavar roupa e regar. Vale dizer
que há uma percepção de escassez que pode ser, ao mesmo
tempo, qualitativa e quantitativa. Qualidade aí faz relação
com classificações culturais, captação e partilha; por isso o
importante é zelar prioritariamente pelas pequenas águas, não
as grandes; estas últimas estão fora do entendimento que a
população costuma conceber para a ação humana. Mesmo na
escassez, há resistência à idéia de armazenar água. Inclusive,
o acesso à água corrente e nascente está associado à própria
ideia de um direito natural de todos.
O que esses e outros estudos parecem advertir é que face
à amplitude dos problemas relacionados á água, a preocupa-
ção maior da época contemporânea parece ser a questão da
natureza dentro da esfera interrogativa sobre a relação cons-
truída entre os seres humanos e o ambiente. A preocupação
com a água talvez seja um dos símbolos mais prementes de
uma mutação necessária na relação do ser humano com esse
recurso. A gestão dos recursos hídricos tem sido identificada
como a questão de maior poder integrador entre as questões
ambientais e a sociedade. O ano de 2005 marcou o início da
Década Internacional da Água para a Vida, que visa reduzir
pela metade, até 2015, o número de pessoas sem acesso à água
potável e ao saneamento básico, e acabar com a exploração
insustentável dos recursos hídricos.
Mas, infelizmente, o distanciamento entre ciência,
tecnologia e políticas públicas faz com que as atitudes e
os comportamentos da população venham sendo avaliados
pelas autoridades e serviços públicos a partir de estereótipos
que consideram as reações individuais relativas ao uso da
água como indiferença, ignorância e desperdício, embora o
olhar devesse combinar estratégias político-tecnológicas e
sócio-comportamentais. A base desta pesquisa ancora-se no
postulado de que, para intervir no segundo plano, devem ser
identificados os determinantes dos comportamentos que se
quer manter ou modificar em relação aos recursos naturais
(Corral-Verdugo, 2003). Portanto, organizou-se o estudo em
torno do objetivo de investigar processos subjacentes aos
conhecimentos e comportamentos relativos ao abastecimento
de água, buscando trazer à tona as representações sociais de
seus usuários.
Sendo assim, este estudo aponta para uma dimensão
onde se inscrevem junto às representações outros fenômenos
psicológicos, como: crenças (conceitos), motivos (valores),
atitudes (avaliação), habilidades (ação) e normas (ética).
Esse conjunto de fenômenos culmina, então, por promover
representações sociais muitas vezes paradoxais, ora am-
bientalmente antropocêntricas, ora ecológicas e relevantes
para que se inscrevam novos modelos de relação entre a
humanidade e o ambiente. Esse encontro de novas e velhas
idéias num movimento dialético é próprio do fenômeno
humano chamado por Moscovici (1981, 1989) de Repre-
sentação Social. Enquanto imagens, opiniões e atitudes
somente traduzem a posição e a escala de valores de uma
informação circulante na sociedade, representações ainda
produzem comportamentos e se relacionam com o meio. É
um conhecimento espontâneo, do senso comum e que orienta
a comunicação, servindo de interação com o mundo e com
os outros. O conceito de representação social pressupõe
que o próprio processo de representação constrói o objeto
de representação, ou seja, é produto e processo. Portanto,
vale lembrar que meio ambiente, por se tratar de um tema
complexo, apresenta-se em representações não regidas pelo
princípio da não-contradição (Castro, 2003). Um dos desafios
talvez seja, entendendo como se dá esse processo, intervir
conciliando e articulando ideias que estão mais perto ou mais
longe dos ideais ecológicos.
Método
Participantes
O critério de escolha dos participantes foi essencialmen-
te serem usuários dos serviços de abastecimento de água.
Para definir o tamanho da amostra, optou-se pelo critério
psicométrico usado para escalas de atitude, o qual busca
identificar o número de respondentes necessários para gerar
um grau de saturação do fenômeno ou característica medida,
454
Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, Jul-Set 2009, Vol. 25 n. 3, pp. 453-460
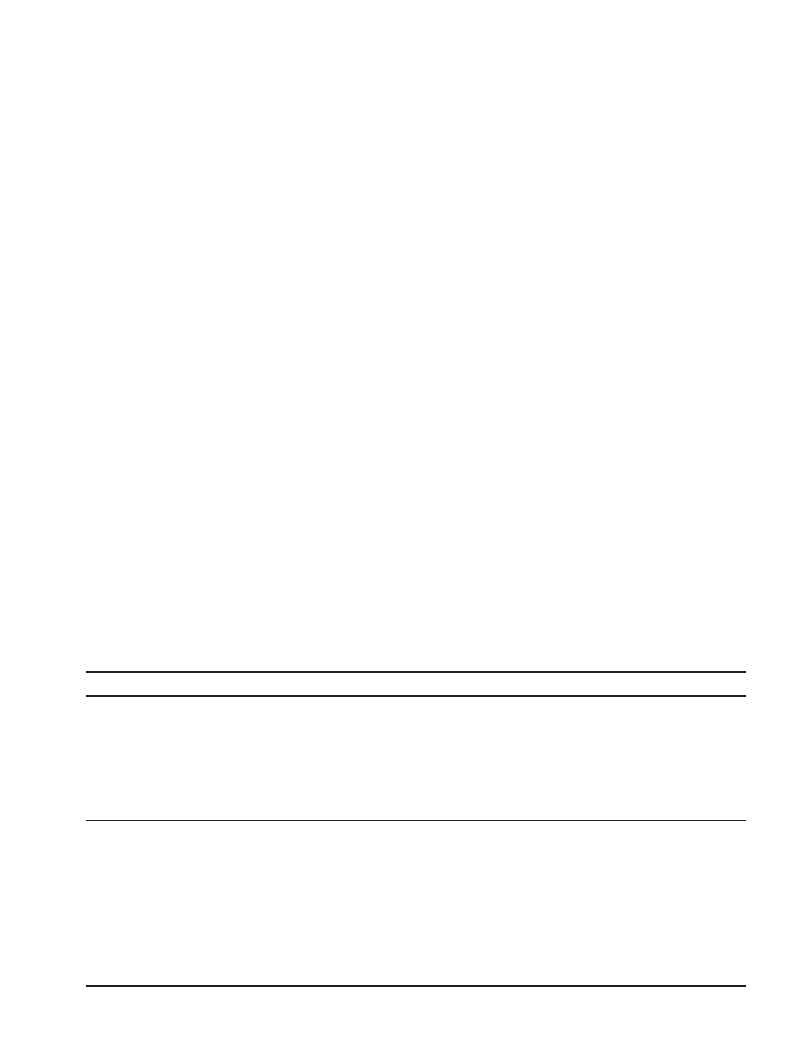
Comportamento Humano e Recursos Naturais
ou seja, quando os dados capturados pelo instrumento de
pesquisa começam a se repetir ou reduzir significativamente
sua variabilidade. O processo de saturação se inicia quando
a quantidade de itens de um questionário é multiplicada por
uma escala que varia de seis (mínimo) a 10 (ótimo) (Pasquali,
1999). Para esta pesquisa, utilizou-se o critério mínimo de
seis, multiplicado pela quantidade de itens (47), prevendo
a necessidade de aplicar 282 questionários para se alcançar
o objetivo proposto. Entretanto, foram entrevistados 296
usuários.
Instrumento
O presente estudo utilizou como principal instrumento a
entrevista estruturada. Para sua construção, algumas etapas
foram seguidas. A primeira se dedicou à definição do cons-
truto, ou seja, à formulação teórica que definiu e explicou as
características e a natureza do fenômeno psicológico a ser
pesquisado – representação da água.
A segunda etapa foi de elaboração do questionário. Este
foi composto por perguntas abertas e fechadas. Realizou-se o
processo de definição constitutiva com a elaboração de cate-
gorias, que foram definidas e valoradas. Um passo relevante
na fase de criação das categorias foi o processo de definição.
Atribuiu-se significado e valor de uso a cada categoria,
facilitando, dessa forma, a observação de seus atributos, o
que culminou na formulação das questões (itens) que tinham
como objetivo capturar a magnitude de suas variáveis para
as diferentes categorias pré-estabelecidas.
Em seguida, definiram-se as variáveis mais importantes
ou mais significativas que representavam a dimensão de cada
uma das categorias. Nesse processo, observou-se o campo
semântico em estudos semelhantes e foram consultados pro-
fissionais da área de meio ambiente. A Tabela 1 apresenta as
categorias e as variáveis correspondentes.
O questionário final foi criado a partir da decomposi-
ção das propriedades do construto a fim de garantir que as
perguntas realizadas se enquadrassem nas categorias. Com
os itens do instrumento definidos e alocados, foi realizada
inicialmente a análise semântica, que teve como objetivo
verificar se todos os itens eram compreensíveis para uma
amostra dos membros da população à qual o instrumento se
destinava. Buscou-se, então, encontrar a melhor forma de
perguntar, a melhor proposição para as finalidades de quem
iria responder.
Partiu-se para a terceira etapa - a análise de conteúdo.
Almejou-se confrontar as hipóteses contidas no construto
com a opinião de juízes (experts: três especialistas, dois
que possuíam experiência na elaboração de questionários e
um com experiência no assunto em estudo). Mantiveram-se
os itens com 80% de concordância no questionário piloto.
Quando o percentual de concordância ficou entre 60% e 80%,
o item foi modificado, sendo os itens com menos de 60% de
concordância desprezados.
A quarta etapa do processo de avaliação do instrumento
foi a aplicação piloto do questionário em uma cidade localiza-
da na região metropolitana de Florianópolis. A escolha dessa
cidade garantiu diversidade dos participantes da população
que seria trabalhada. A validade empírica teve como finali-
dade verificar se a medida, agora em forma de questionário,
era comunicável e pertencente ao grupo semântico da popu-
lação. Após a aplicação do piloto foram realizados ajustes ao
questionário, alterando ou retirando itens que se mostraram
confusos ou incompreensíveis para os entrevistados.
Escolha das cidades
Os critérios para a escolha das cidades seguiram, pri-
meiramente, a orientação do órgão financiador da pesquisa.
Além disso, buscou-se contemplar contextos sociais distintos
Tabela 1. Categorias e variáveis utilizadas na elaboração do questionário.
Categorias
Significado da água
Simbologia da água: expressa meios para avaliar o significado ou a
importância do recurso água para o indivíduo no âmbito doméstico
e societal.
Importância da água
Variáveis
Geral
Para saúde das
pessoas
Para vida no planeta
Quantidade
Percepção da disponibilidade da água: expressa como o indivíduo
discrimina a quantidade, as fontes e recursos por meio dos quais a
água está disponível em âmbito doméstico e societal.
Fontes disponíveis
Pessoal
Social
Consciência em relação ao futuro da
disponibilidade da água
Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, Jul-Set 2009, Vol. 25 n. 3, pp. 453-460
455

A. Kuhnen & cols.
(rural e urbano), restringindo-se às cidades beneficiadas por
sistemas de abastecimento de água por rede, que faziam parte
de comitês de bacias hidrográficas, e que tinham reconheci-
mento de atuação da sociedade civil e científica com projetos
ambientais (ONGs, outros projetos de pesquisa e extensão
universitários etc.). Além disso, essas cidades deveriam estar
situadas geograficamente de tal forma que apresentassem
condição logística para a pesquisa. Dessa forma, as cidades
escolhidas no estado de Santa Catarina foram: Santa Rosa
de Lima, Santo Amaro da Imperatriz, Rancho Queimado,
Balneário Camboriú e Joinville. Já no estado de São Paulo,
as cidades escolhidas foram: São Paulo (bairro do Butantã),
Embu das Artes e Taboão da Serra. A escolha de cidades em
diferentes contextos populacionais e regionais permitiu que
fossem comparadas realidades diversas.
Procedimento
Os participantes foram entrevistados em suas residências
ou em vias públicas, como praças ou no comércio. Adotou-
se a estratégia de conduzir a entrevista com uma dupla de
pesquisadores, sendo um destes responsável pelos questio-
namentos e o outro pelas anotações no instrumento.
Análise de dados
O trabalho de análise dos dados iniciou pela exploração
textual dos questionários, em que se buscou delinear os temas
presentes no texto, reconhecendo os núcleos dos discursos,
bem como suas principais características. As respostas obti-
das com base nas entrevistas definiram o campo semântico
do estudo. Posteriormente, essas respostas foram analisadas
e agrupadas por semelhança de conteúdo. Após a definição
das diferentes características observadas para cada questão,
os dados passaram por tratamento estatístico através do Pro-
grama SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
Com o referido software, foram feitas análises descritivas,
bem como cruzamentos entre dados de cada estado, grupos de
cidades e as diferentes características observadas na amostra
para cada questão.
Resultados
Para a análise dos dados, inicialmente, as respostas foram
agrupadas em termos de características sócio-demográficas.
Em seguida, foram analisados os dados referentes às repre-
sentações do recurso água.
Dados sócio-demográficos
A amostra da pesquisa foi constituída de 296 responden-
tes, sendo 44,7% homens e 55,3% mulheres. Mais da metade
dos participantes era casada (55,3%) e 36,9% estava acima de
45 anos. Os anos de escolaridade variaram entre 8 e 14 anos.
A maioria trabalhava em atividades do setor privado, com
renda variando entre 3 a 10 salários mínimos alcançados pelo
casal (39,7%), e possuía residência própria. Somente 13,2%
da amostra morava há menos de 5 anos no local.
As representações do recurso água
Os demais itens do questionário foram tratados optando-
se inicialmente por agrupar as cidades por macrotendência,
ou seja, o comportamento da amostra total e da amostra por
estado. Em seguida, uma segunda análise foi executada,
chamada de microtendência, onde optou-se por agrupar as
cidades em metrópoles, semi-urbanizadas e rurais. Esses
agrupamentos seguiram a tendência de considerar metrópole
o conjunto de cidades que exercem influência funcional, eco-
nômica e social sobre as cidades menores. São consideradas
como cidades semi-urbanas aquelas localizadas próximas
a uma metrópole, muitas vezes servindo como cidades-
dormitório, em que a atividade econômica está geralmente
baseada no comércio e na prestação de serviços. Já as cidades
localizadas em região rural se caracterizam por terem na
agropecuária a principal atividade econômica, grande parte
de seus moradores residirem fora do perímetro urbano e
apresentarem baixa densidade populacional.
No que diz respeito à categoria simbologia da água,
de modo geral a água, enquanto recurso, foi percebida pela
amostra como um tema essencial para o presente e o futuro,
tanto no âmbito doméstico quanto societal. Tal representação
está sedimentada em noções valorativas e de direitos. Para
a amostra geral, a água simbolicamente foi definida a partir
da avaliação do significado dado tanto no nível local quanto
global. O mais importante significado dado à água se liga a
temas relativos à ‘sobrevivência’ (49% da amostra), definida
pela importância dada à água como necessária, essencial e
fundamental para a qualidade de vida. Também nessa ca-
tegoria surgem como relevantes as atividades relativas ao
‘cotidiano’ (32% da amostra), como utilização do recurso
em tarefas diárias de limpeza, alimentação, entre outras.
Comparando o significado da água com os dados demo-
gráficos, homens e mulheres, jovens e adultos, na mesma
proporção, percebem a água como ligada à manutenção
da sobrevivência – ou seja, as variáveis demográficas não
exercem significativa influência.
Observando-se os dados da Tabela 23, decompostos por
microtendência (desde as cidades mais urbanizadas até as
rurais), vê-se maior incidência de valoração do modo de
vida cotidiana como dependente do uso da água assim como
o recurso é indicado como essencial à sobrevivência. Essas
são as duas categorias (cotidiano e sobrevivência) que se
sobressaem, indistintamente, em relação às outras, nas três
regiões. Para os moradores da região metropolitana essas
duas categorias apresentaram pesos semelhantes (42% para
sobrevivência e 46% para cotidiano), o mesmo não ocorrendo
para os moradores das regiões semi-urbanas e rurais. Para
esses dois últimos grupos de moradores, chama atenção que
a sobrevivência ligada ao recurso água é mais fortemente
3 A soma percentual aqui e em outras tabelas subsequentes excede 100%
já que certas perguntas do questionário possibilitavam resposta múltipla
e alguns respondentes citavam mais de uma alternativa. Dessa forma,
o discurso dos respondentes foi classificado em mais de uma unidade
de análise na categorização do discurso.
456
Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, Jul-Set 2009, Vol. 25 n. 3, pp. 453-460
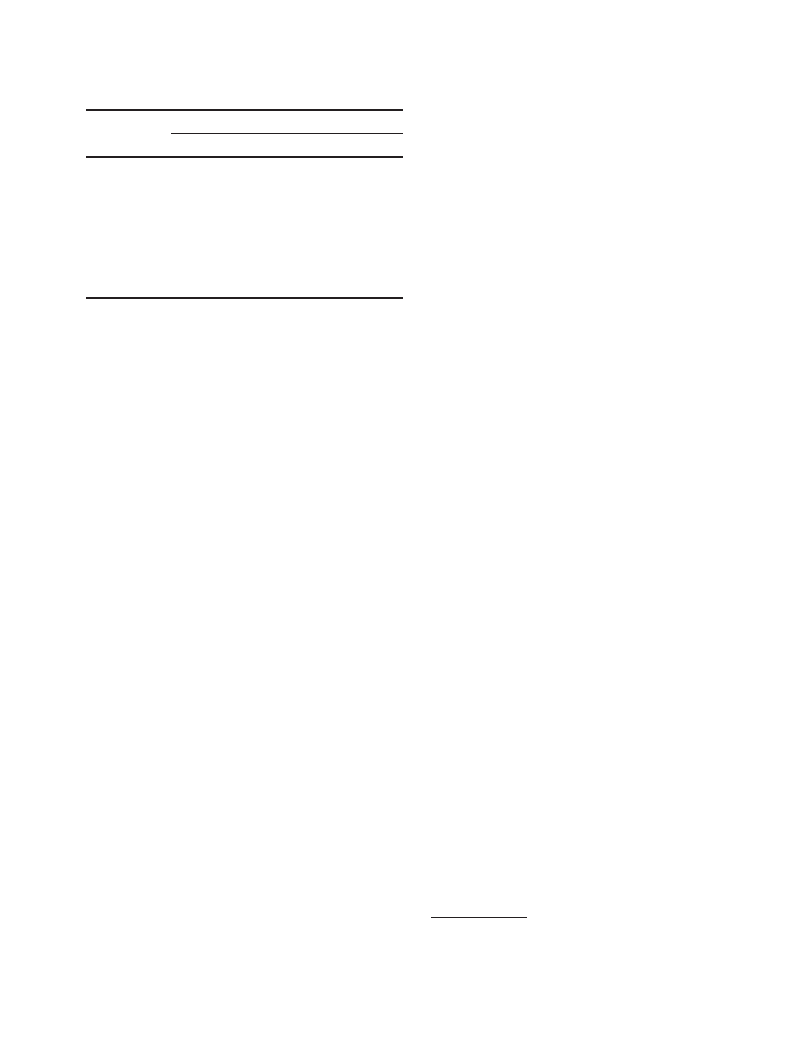
Comportamento Humano e Recursos Naturais
Tabela 2. Porcentagem de respostas da amostra por grupo de cidades na
categoria analítica Simbologia da água.
Respostas
Finitude
Boa qualidade
Má qualidade
Natureza
Sobrevivência
Cotidiano
Metropolitana
3
9
4
10
42
46
Região
Semi-urbana
10
10
4
12
50
24
Rural
5
10
5
5
65
22.5
marcada em contraposição à importância da água para as
atividades cotidianas (50% e 24%, respectivamente, para os
moradores das regiões semi-urbanas; 65% e 22,5%, respec-
tivamente, para os moradores das regiões rurais).
Comparando esses dados com os da amostra toda (macro-
tendência), conclui-se que tal detalhamento (por microten-
dência) oportunizou o entendimento de que a representação
da água apresenta nuances consideráveis por região. Pode-se
inferir que os moradores das regiões menos urbanizadas es-
tejam mais sensibilizados que os da região mais urbanizada
quanto à vinculação do recurso água à sobrevivência.
Nos parece que a água associada ao conforto cotidiano,
seja pela disponibilidade do serviço de abastecimento (infra-
estrutura técnica de redes e estações de tratamento) e/ou
pelas possibilidades de lazer (parques aquáticos, piscinas),
assim como recurso vital e patrimonial comum, suscita um
caráter ambíguo, já que associa benefícios (uso) e preserva-
ção (economia).
A dimensão avaliativa e normativa da água pode ser
sentida em trechos destacados do discurso dos usuários ao
responderem à questão: O que lhe vêm à cabeça ao se falar
em água? Os entrevistados afirmaram: “Quando acordo
eu agradeço por ela existir”; “Sem água, o que seria de
nós?”; “A maior riqueza do mundo é a água”; “Saúde,
vida, sem água não nasce nada”; e “Água significa tudo,
sobrevivência, vida”.
A segunda categoria analisada refere-se à percepção
da disponibilidade da água que recebem em sua casa, em
termos de discriminação da quantidade, assim como das
fontes e recursos por meio do qual a água está disponível
em âmbito doméstico e societal. Do total da amostra [Santa
Catarina (SC) e São Paulo (SP) juntos], 89% responderam
afirmativamente quanto à suficiência. A análise por macro-
tendência mostra que entre os paulistas, 98% consideram
suficiente a água que chega em suas casas, enquanto 81%
dos catarinenses assim percebem a suficiência do recurso.
Em SC, 19% dos entrevistados não concordam que seja
suficiente e em SP, 2%. Esses dados demonstram uma ava-
liação distinta entre os estados quanto à discriminação de
suficiência da água que recebem em suas residências, sendo
os paulistas os mais satisfeitos. Os dados por microtendência,
sobre a afirmação de ser suficiente a água que chega em suas
casas, são os seguintes: região rural 98%, semi-urbana 82%
e metrópole 95%.
Já em termos de disponibilidade do recurso no futuro,
77% da amostra total demonstra descrédito no futuro, ou
seja, são pessimistas, crêem que não haverá água suficiente.
No entanto, 23% da amostra é otimista em relação ao futuro,
apostando que o recurso não faltará.
A partir desse resultado, “pessimistas” e “otimistas” fo-
ram distribuídos de forma mais detalhada, buscando entender
como cada uma das tipologias vinculava a percepção do
suprimento de água ao próprio recurso ou ao comportamento
humano. Dessa forma, entendeu-se por pessimista em relação
ao recurso, os usuários que percebiam a escassez ou sua dimi-
nuição ao longo do tempo. Na fala de um dos entrevistados é
possível identificar o padrão de tal discurso: “A água vai aca-
bar, pois o planeta vem sofrendo com as catástrofes naturais,
mudanças climáticas”. Já entre os pessimistas em relação
ao comportamento estão os sujeitos que responsabilizam as
ações humanas pela escassez. Alegam que o desperdício, o
descaso com a natureza, a superpopulação, a falta de educa-
ção e de fiscalização são os principais itens indicativos de
problemas comportamentais que acarretam em fragilidade
e escassez do recurso. Esse grupo apresenta discursos nos
quais alegam: “Têm que cuidar mais, se tivessem cuidado
da água essa seria pura, seria tudo diferente”.
No grupo dos otimistas em relação ao recurso estão os
usuários que percebem abundância do recurso, atestado por
afirmações como: “Pode diminuir, mas não vai acabar”. Os
otimistas em relação ao comportamento o percebem como
responsável pela conservação da água. Nesse grupo há uma
crença nas possibilidades educativas e tecnológicas para
superar ou melhorar a situação. O discurso recorrente é o de
que a educação pode diminuir problemas futuros relativos
à água: “O pessoal cuida da nascente, porque se desmatar
prejudica. São conscientizados”; “Se as pessoas mudarem a
atitude delas..., acho que sim, porque afinal quem vai querer
consumir água suja, tóxica?”.
Finalmente, os dados se apresentam dessa forma: dentre
os entrevistados, são pessimistas em relação ao recurso,
37,8% do grupo, e pessimistas em relação ao comportamen-
to, 71,6%4. São otimistas em relação ao recurso, 35,8%; já
são otimistas em relação ao comportamento, 53,7% desse
grupo5.
Como se pode observar nas tabelas 3 e 4, mantém-se na
análise por microtêndencia a avaliação pessimista em relação
à disponibilidade do recurso no futuro, e tanto pessimistas
quanto otimistas das três regiões (metropolitana, semi-urbana
e rural) ancoram no comportamento humano a percepção da
causa da insustentabilidade do recurso. Na área semi-urbana,
68,1% , na metropolitana, 71,8% e na região rural, 88% dos
entrevistados são pessimistas em relação ao comportamento.
E os otimistas em relação ao comportamento estão assim
distribuídos: 33% na região semi-urbana, 56,3% na região
metropolitana e 73,3% na região rural.
Essa argumentação vai ao encontro de resultados de estu-
dos em psicologia ambiental (Pinheiro, 1997; Oskamp, 2000;
4 Os dados totalizam mais de 100% em função de respostas que atribuem
argumentos pessimistas para recurso e também para comportamento.
5 Os dados não totalizam 100% porque alguns usuários responderam que
haveria disponibilidade do recurso no futuro, entretanto não argumentam
sua visão.
Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, Jul-Set 2009, Vol. 25 n. 3, pp. 453-460
457
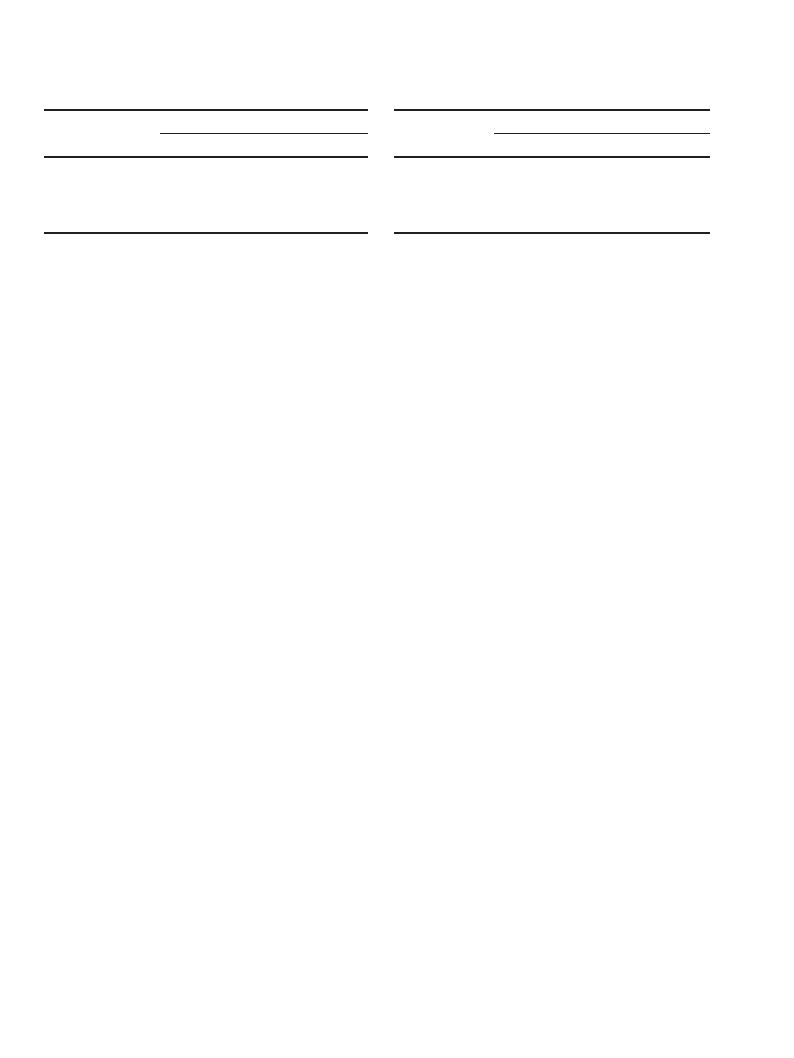
A. Kuhnen & cols.
Tabela 3. Porcentagem de respostas da amostra por grupo de cidades, na
categoria analítica Percepção da disponibilidade da água (pessimistas)
Pessimista em relação
ao recurso
Pessimista em relação
ao comportamento
Região.
Metropolitana Semi-urbana
38.5
39.5
71.8
68.1
Rural
28
88
Pol, 1993). Esses autores chegaram a conclusão de que a crise
ambiental contemporânea se deve ao uso desregrado dos
recursos naturais, estruturando não uma crise do ambiente,
mas sim uma crise das pessoas nos ambientes. Observa-se,
em algumas falas dos entrevistados, essas constatações: “A
minha geração só estragou a água. A minha filha não terá
mais água potável” (pessimista quanto à suficiência de água
no futuro); “Porque o povo brasileiro está se conscienti-
zando, tem mais economia” (otimista com o futuro). Mas a
dúvida cede, dando lugar para a crença na tecnologia, para
esse otimista: “Não sei, devido à evolução pode até não faltar
porque a tecnologia pode dar conta disso”.
Discussão
A partir dos dados pode-se constatar que o discurso dos
usuários está baseado numa construção subjetiva complexa
da água. As representações evidenciadas foram construídas
em função de dimensões temporais e espaciais, ligadas à
experiência pessoal. A categorização do discurso aponta
para elementos demonstrativos de que as representações
asseguram a organização e estruturação do real, compondo
as representações sociais da água.
A sobrevivência aparece com o status de uma represen-
tação que se evidencia entre as demais e, afirmando-se como
uma representação circulante, a manutenção da sobrevivência
implica numa reconsideração notável nas práticas. Ao mesmo
tempo, por considerar a água não apenas como recurso, mas
como meio de vida, os resultados sugerem aos gestores o
anseio da população de ver equacionado o frágil equilíbrio
entre as exigências econômicas e a preservação ambiental.
Infere-se que a inter-relação de diferentes elementos, que
não podem ser pensados separadamente, pode permitir ao
gestor avaliar o peso de suas decisões em função desse tipo
de percepção da sociedade.
Ao analisar os resultados desta pesquisa em termos do
pessimismo e otimismo dos usuários em relação ao recurso
água, nos chama a atenção a adequação das tecnologias à
vida social. Como afirmam Clark (1995) e Howard (2000),
a crença “cega” na tecnologia para resolver os problemas
provenientes das atividades humanas é uma séria questão a
ser discutidada, haja visto que há um limite para as soluções
tecnológicas; essas também, em certos casos, “mascaram” o
problema e, muitas vezes, são a própria causa dos problemas
humano-ambientais.
Ao observar a forte ênfase que esses entrevistados dirigem
aos comportamentos humanos, é importante lembrar o que
Tabela 4. Porcentagem de respostas da amostra por grupo de cidades, na
categoria analítica Percepção da disponibilidade da água (otimistas)1.
Região
Metropolitana Semi-urbana Rural
Otimista em relação
ao recurso
21.7
29.6
20
Otimista em relação
ao comportamento
56.2
33.3
73.3
1 O grupo dos otimistas apresentou um número alto de missing, ou
seja, não deram motivos para a sua resposta, ou ainda não foi possível
identificar uma unidade de análise para a justificativa dada. Por essa
razão, não totalizam 100% pois nem todos os que responderam ‘sim’
apresentaram um argumento para tal resposta.
diz Corral-Verdugo (2001); para ele, a educação ambiental
pode ser um veículo para o desenvolvimento de compe-
tências pró-ambientais, a partir do desenvolvimento dos
pré-determinantes para a ação ambiental, tais como atitudes,
valores, normas e crenças ecológicas. Aliando habilidades,
teremos boas chances de resolução de problemas ambientais
pela via da instauração de comportamentos pró-ambientais.
Com o desenvolvimento de competências pró-ambientais,
têm-se soluções complexas e versáteis para a resolução de
problemas, quebrando o sistema normativo que a sociedade
estabelece para regular o comportamento de todos os inte-
grantes na sua relação com o contexto sócio-físico. A partir
do momento que a pessoa se dá conta dos “mitos ambientais
irresponsáveis”, ela desenvolve um pensamento ambiental
crítico, que lhe permite tomar decisões responsáveis quanto
aos problemas.
As representações sociais dependem das características
dos indivíduos, de sua experiência, pertencimento e horizonte
cultural; como também, implicam estruturas perceptivas,
cognitivas, de crenças e saberes. A dimensão de fundo dos
resultados apresentados neste artigo está atrelada à condição
de informar o papel dessas representações, além de incentivar
e instigar práticas que contribuam para se chegar a confluên-
cias entre as necessidades humanas e a qualidade ambiental.
O percurso desta pesquisa encontra amplamente justificati-
vas para isso. O tema da água é percebido, pela maioria da
amostra, como um forte condicionante para o presente e o
futuro. Isso demonstra que os entrevistados questionam os
modos de vida e os modos de produção atual, a organização
da sociedade e, por consequência, o consumo de água, mes-
mo que o imediatismo da sociedade contemporânea, muitas
vezes, conduza a uma percepção de futuro como algo muito
distante, provocando uma frágil ligação entre ações presentes
e consequências futuras. Além disso, não há nitidez a respeito
dos problemas ambientais originados do modo de vida oci-
dental, que são agravados devido à grande extensão temporal
entre a ação humana e seus efeitos deletérios no ambiente
(Pinheiro, 2002). Com isso, perpetuam-se valores e crenças
descontextualizados dos problemas ambientais ocasionados
por esse modo de vida (Clark, 1995). Especificamente sobre
o recurso água, Corral-Verdugo (2002) indica que o proble-
ma da escassez de água possui componentes psicológicos
458
Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, Jul-Set 2009, Vol. 25 n. 3, pp. 453-460

Comportamento Humano e Recursos Naturais
e sociais. As pessoas desperdiçam água influenciadas por
motivos, crenças, percepções e normas pessoais. E, ainda,
o autor prescreve que são necessários estudos desses com-
ponentes para se entender quais características pessoais e
situacionais do comportamento podem ser estudadas quando
se prevê a promoção do que chama de padrões de consumo
responsável de água.
Tais constatações podem ser importantes para que os
gestores reconsiderem a forma com que vêm atuando, e,
assim, dirijam suas ações para buscar equilíbrio entre as
exigências econômicas e a preservação ambiental e envolver
a população nas políticas de gestão.
Considerações Finais
A inclusão das questões ambientais no âmbito das temáti-
cas próprias das Ciências Humanas em geral e da Psicologia
em particular, tem avançado nos últimos anos. Entretanto,
observou-se ao longo deste trabalho a quase inexistência de
aportes teóricos e metodológicos, tanto para definição do
construto, como para auxiliar na análise dos dados coletados.
Poucos foram os trabalhos alcançados por cuidadosa pesquisa
bibliográfica para subsidiar a construção do método, assim
como para referenciar, comparar e discutir os dados alcan-
çados por este estudo.
Viu-se a importância de ampliar o escopo dos temas
de estudos da ciência psicológica para questões relativas à
relação pessoa-ambiente, seja referente à água, como neste
caso, ou ao saneamento, poluição atmosférica, mudanças
climáticas, preservação da fauna e flora, biodiversidade, áreas
de preservação, entre tantos outros temas. A saída possível
tem se revelado, a cada dia, pelo caminho do entendimento
da interdependência entre as escalas pessoal, social, local e
planetária para compreender as realidades presentes e agir
mais adequadamente. Como este, estudos dessa natureza
podem subsidiar ações na área ambiental. Urge essa tarefa
à Psicologia.
Indica-se este tipo de estudo para referendar políticas de
gestão e educação ambiental. Os dados oferecem subsídios
para colaborar com setores atuantes na área de tratamento
de água e saúde pública, assim como auxiliar programas de
educação ambiental, e também na identificação de elementos
de participação social (políticas públicas). Os resultados
podem vir a colaborar no desenvolvimento de uma medida
ou ferramenta gerencial para avaliação permanente e com-
parada sobre as necessidades e comportamentos de consumo
da água na população. Sendo assim, observa-se e justifica-se
a necessidade de se fomentar estudos que possam conhecer
comportamentos adotados frente a problemas ambientais
atuais em função das representações do meio ambiente ou
algum componente, como a água.
A valorização patrimonial e a aproximação com os
espaços da vida cotidiana lançam o ideal de valorização
social da natureza. Por exemplo, o estudo da relação que
estabelecemos com a água tem se mostrado particularmente
fecundo para aspectos relacionados aos recursos hídricos,
assim como serve de ressonância para outros aspectos da
relação sociedade/natureza. As duas dinâmicas aí presentes,
simbólicas e materiais, não são regularmente tratadas como
fazendo parte uma da outra. Justapostas, sem comunicação,
pouco oferecem a sociedade de maneira geral.
O compromisso dos setores da sociedade comprome-
tidos com o bem estar e a qualidade de vida das pessoas
depende, em grande parte, do comportamento humano. O
esforço de aproximação das áreas tecnológicas, científicas
e de outros campos do saber com certeza tem demonstrado
ser o caminho mais promissor para se alcançar algo nesse
sentido. As Ciências Humanas podem contribuir com seus
aportes de análise. Entretanto, essas análises precisam ser
operacionalizadas pelos gestores. Ao mesmo tempo, não se
deve cair na falácia de que é possível modelizar a sociedade,
acreditar em receitas milagrosas de normas a aplicar para
garantir comportamentos almejados. Compreender como as
pessoas, em função de sua experiência, seus valores, suas
metas e interesses, constroem relações diferenciadas entre
si e com o mundo material, oferece um quadro explicativo
de suas ações e pode permitir aos sistemas de gestão avaliar
o peso de suas decisões.
Ancorado nessa perspectiva, reitera-se a intenção de
buscar interlocutores por meio da publicação destes dados.
Tal oportunidade pode ser o início de uma rica troca entre
pesquisadores e interessados em estudos de questões am-
bientais.
Referências
Cabrera, V. O., Gallego, N. B. E., & Lomelí, D. G. (2002).
Relación entre variables demográficas, variables contextuales,
conocimiento ambiental y el ahorro de água. Em V. Corral-Verdugo
(Org.), Conductas protectoras del ambiente: teoría, investigación
y estrategias de intervención (pp. 99-115). México: CONACYT/
Rm/UniSon.
Castro, P. (2003). Pensar a natureza e o ambiente – alguns
contributos a partir da Teoria das Representações Sociais. Estudos
de Psicologia, 8, 263-272.
Clark, M. E. (1995). Changes in Euro-American values needed
for sustainability. Journal of Social Issues, 51, 63-82.
Corral-Verdugo, V. (2001). Comportamiento proambiental: una
introducción al estudio de las conductas protectoras del ambiente.
Santa Cruz de Tenerife: Resma.
Corral-Verdugo, V. (2002). Structural model of pro-environmental
competency. Environment & Behavior, 34, 531-549.
Corral-Verdugo, V. (2003). Determinantes psicológicos e
situacionais do comportamento de conservação de água: um modelo
estrutural. Estudos de Psicologia, 8, 245-252.
Corral-Verdugo, V., Armenta, M. F., Urías, F. P., Cabrera, V.
O., & Gallego, N. E. (2002). Consumo doméstico de la agua,
motivación para ahorrala, y la continua tragedia de los comunes.
Em V. Corral-Verdugo (Org.), Conductas protectoras del ambiente:
teoria, investigación y estratégias de intervención (pp. 81-97).
México: CONACYT/Rm/UniSon.
Freitas, W. P. (2000). Águas: aspectos jurídicos e ambientais.
Curitiba: Juruá.
Graff, A. C. B. (2000). A tutela dos estados sobre as águas. Em
W. P. Freitas (Org.), Águas: aspectos jurídicos e ambientais (pp.
51-75). Curitiba: Juruá.
Howard, G. S. (2000). Adapting human lifestyles for the 21st
Century. American Psychologist, 55, 509-515.
Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, Jul-Set 2009, Vol. 25 n. 3, pp. 453-460
459

A. Kuhnen & cols.
Moscovici, S. (1981). Collective cognition: On social
representations. Em J. P. Forgas (Org.), Social cognition:
Perspectives on everyday understanding, Vol 26. (pp. 181-209).
Londres : Academic Press.
Moscovici, S. (1989). Des represéntations collectives aux
representations sociales . Em D. Jodelet (Org.), Les représentations
sociales: élements pour une histoire (pp. 62-86). Paris: PUF.
Oskamp, S. (2000). A sustainable future for humanity? How can
psychology help? American Psychologist, 55, 406-508.
Pasquali, L. (1999). Instrumentos psicológicos: Manual prático
de elaboração. Brasília: IBAPP.
Pinheiro, J. Q. (1997). Psicologia Ambiental: a busca de um
ambiente melhor. Estudos de Psicologia, 2, 329-333.
Pinheiro, J. Q. (2002). Apego ao futuro: escala temporal e
sustentabilidade em Psicologia Ambiental. Em V. Corra-Verdugo
(Org.), Conductas protectoras del ambiente: teoria, investigación
y estratégias de intervención (pp. 29-48). México: CONACYT/
Rm/UniSon.
Pol, E. (1993). Environmental Psychology in Europe: from
Architectural Psychology to Green Psychology. Aldershot:
Avebury.
Ribeiro E. M., & Galizoni f. L. (2003). Água, população rural
e políticas de gestão: o caso do vale do Jetinhonha, Minas Gerais.
Ambiente & Sociedade, 5, 129-146.
Stern, P. C. (2000). Psychology and the science of human-
environment interactions. American Psychologist, 55, 523-530.
Trigueiro, A. (2005). Mundo sustentável: abrindo espaço na
mídia para um planeta em transformação. São Paulo: Globo.
Vargas, M. C., & Paula, G. O. (2002). Água e cidadania:
percepção social dos problemas de quantidade, qualidade e custo
dos recursos hídricos em duas bacias hidrográficas do interior
paulista. Retirado em 01/10/2005, de http://www.anppas.org.br.
Vargas, M. C., & Paula, G. O. (2003). Introdução na percepção
social da água: estudos de caso no interior paulista. Em R. C. Martins
& N. F. L da S. Valencio (Orgs.), Uso e gestão de recursos hídricos
no Brasil, Vol. II – Desafios teóricos e político-institucionais (pp.
127-147). São Carlos: RiMa.
Recebido em 28.12.07
Primeira decisão editorial em 23.10.08
Versão final em 17.02.09
Aceito em 05.03.09 n
II ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA EN
EMERGENCIAS Y DESASTRES
“Latinoamerica: Escenario de gestión en emergencias y desastres”
Período: 03 a 05 de dezembro de 2009
Local: Santiago, Chile
460
Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, Jul-Set 2009, Vol. 25 n. 3, pp. 453-460
