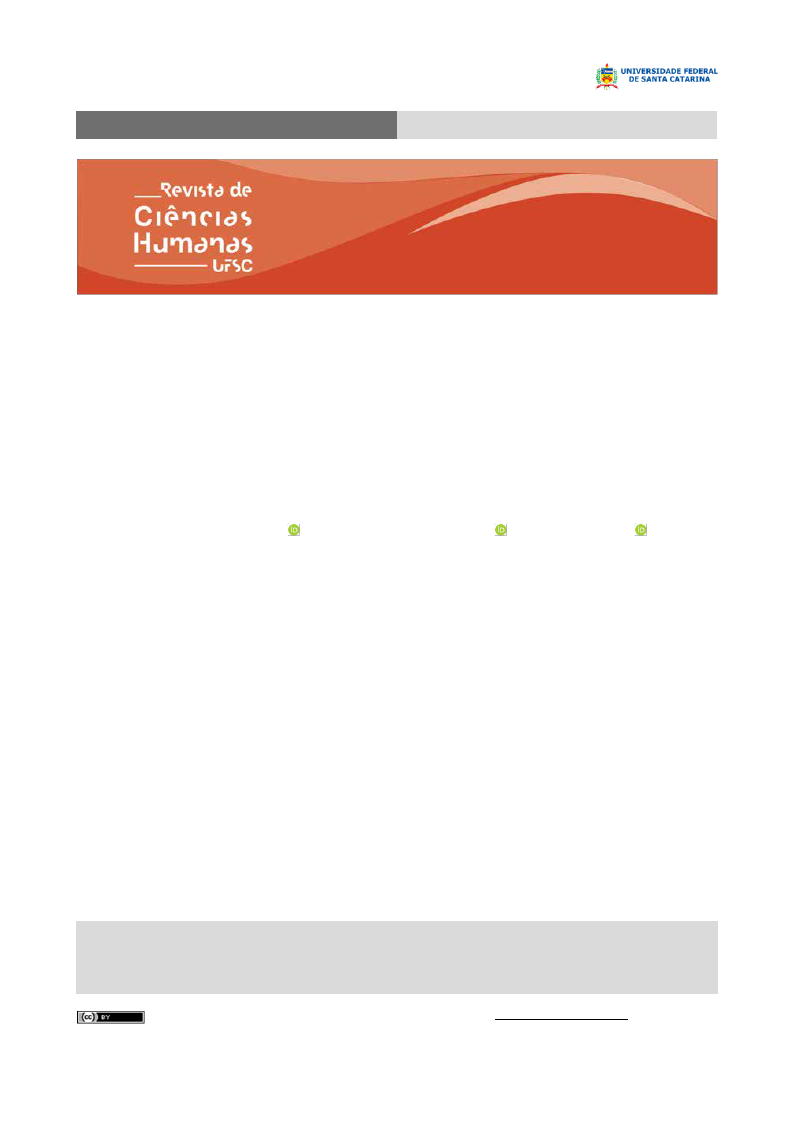
Revista de Ciências Humanas, Florianópolis, v.53, 2019, e67153
ISSN 2178-4582
http://dx.doi.org/10.5007/2178-4582.2019.e67153
Artigo Original
Acesso Aberto
Dimensões das escalas atitudinais parentais acerca do contato com a
natureza: estudos psicométricos iniciais
Dimensiones de las escalas de actitud de los padres sobre el contacto con
la naturaleza: estudios psicométricos iniciales
Dimensions of parental attitudinal scales about the contact with nature:
initial psychometric studies
Patricia Maria Schubert Peres a , Maíra Longhinotti Felippe b e Ariane Kuhnen c .
a Doutora em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Universitário, Trindade, Florianópolis/SC, Brasil.
E-mail: pmschu@hotmail.com
b Departamento de Arquitetura e Urbanismo/CTC, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, Brasil. E-mail: mairafe-
lippe@gmail.com
c Docente do Programa de Pós-graduação em Psicologia, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis/SC, Brasil. E-mail: ariane.kuhnen@ufsc.br
Resumo: O estudo objetivou investigar a estrutura interna de duas escalas de atitude parental, originalmente produzidas em
língua inglesa e então adaptadas ao contexto brasileiro. Da aplicação de questionários online com 105 genitores, propriedades
psicométricas dos instrumentos foram investigadas pela análise de consistência interna, de componentes principais e estudo
relacional entre as variáveis atitudinais. Na ‘Atitude Parental para com a Natureza’, os itens agruparam-se em ‘adesão estética’,
‘oportunidades de contato’ e ‘transformação positiva’ e, na ‘Atitude Parental para com a Criança na Natureza’, em ‘benefícios
ao desenvolvimento’, ‘riscos à segurança’ e ‘repercussões desfavoráveis’. Os Coeficientes Alfa de Cronbach mostraram-se sa-
tisfatórios e, apesar de tipicamente positiva, a atitude parental foi desfavorecida pela percepção de riscos à segurança da criança.
Concluiu-se que a estrutura interna das escalas correspondeu às expectativas teóricas e empíricas encontradas na literatura e
análises de consistência interna entre os itens forneceram indícios de confiabilidade dos instrumentos.
Palavras-chave: medidas de atitude; estilo parental; psicologia ambiental.
Resumen: El estudio tuvo como objetivo investigar la estructura interna de dos escalas de actitud parental, producidas
originalmente en inglés y luego adaptadas al contexto brasileño. A partir de la aplicación de cuestionarios en línea con
Como citar o artigo: PERES, P. M. S.; FELIPPE, M. L.; KUHNEN,. A. Dimensões das escalas atitudinais paren-
tais acerca do contato com a natureza: estudos psicométricos iniciais. Revista de Ciências Humanas, Florianópolis,
v. 53, 2019 DOI: 10.5007/2178-4582.2019.e67153
Direito autoral e licença de uso: Este artigo está licenciado sob uma Licença Creative Commons. Com essa licença
você pode compartilhar, adaptar, para qualquer fim, desde que atribua a autoria da obra, forneça um link para a
licença, e indicar se foram feitas alterações.

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN
105 padres, se investigaron las propiedades psicométricas de los instrumentos mediante el análisis de la consistencia in-
terna, los componentes principales y un estudio relacional entre las variables de actitud. En la ‘Actitud parental hacia la
naturaleza’, los ítems se agruparon en ‘adhesión estética’, ‘oportunidades de contacto’ y ‘transformación positiva’ y, en
‘Actitud parental hacia el niño en la naturaleza’, en ‘beneficios para el desarrollo’, ‘riesgos de seguridad’ y ‘repercusiones
desfavorables’. Los coeficientes alfa de Cronbach fueron satisfactorios y, aunque típicamente positivos, la actitud de los
padres se vio perjudicada por la percepción de riesgos para la seguridad del niño. Se concluyó que la estructura interna de
las escalas correspondía a las expectativas teóricas y empíricas encontradas en la literatura y los análisis de consistencia
interna entre los ítems proporcionaron evidencia de la confiabilidad del instrumento.
Palabras clave: medidas de actitud; estilo parental; psicología ambiental.
Abstract: This study aimed to investigate the internal structure of two parental attitude scales, originally produced in En-
glish and then adapted to the Brazilian context. Psychometric properties of the instruments were investigated by means of
internal consistency and principal component analysis, besides the relational study between the attitudinal variables from
the application of online questionnaires with 105 parents. In the ‘Parental Attitude toward Nature’, the dimensions found
were ‘aesthetic adherence’, ‘opportunities for contact’ and ‘positive transformation’. In the ‘Parental Attitude toward
Child in Nature’, the components were ‘development benefits’, ‘security risks’ and ‘unfavorable repercussions’. Cron-
bach’s Alpha Coefficients were satisfactory and the parental attitude was typically positive, although it was disfavored
by the perception of child safety risks. It was concluded that the internal structure of the scales corresponded to the the-
oretical and empirical expectations found in the literature and analysis of internal consistency among the items provided
evidence of reliability of the instruments.
Keywords: attitude measures; parenting styles; environmental psychology.
1 INTRODUÇÃO
A relação da criança com a natureza é permeada pelo contexto social e cultural, no qual os pais,
pelos seus comportamentos, são a potencial fonte de oferta de experiências significativas e positivas aos
filhos (GONZÁLES; BAKKER; RUBIALES, 2014; FONSÊCA et al., 2014; NORONHA; BATISTA,
2017). A atitude parental destaca-se como um fator preditivo dos comportamentos dos pais para com as
crianças. A atitude pode ser definida como uma inclinação para a ação, que se expressa por respostas
avaliativas em relação a um objeto (NEIVA; MAURO, 2011). Uma revisão de literatura sobre atitude
parental frente ao uso dos espaços abertos com natureza por crianças indicou uma escassez de estudos
sobre a temática (PERES, 2018). Tal revisão1, realizada no Portal CAPES (Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior), de alcance nacional e internacional, no período de 1995 a
2016, identificou 548 estudos. Destes, no entanto, apenas 21 trabalhos relacionavam-se a construtos
psicológicos parentais ligados ao uso de espaços abertos por crianças e 5, mais especificamente, exa-
minavam a relação da atitude parental frente a situações percebidas como de risco à integridade física
da criança (CEVHER-KALBURAN; IVRENDI, 2016; LITTLE, 2010; REMMERS et al., 2014), ou
frente a sua mobilidade e exploração de espaços abertos com natureza (MCFARLAND et al., 2011;
MCFARLAND; ZAJICEK; WALICZEK, 2014).
São escassos os estudos que trazem instrumentos de mensuração de construtos psicológicos
subjacentes aos comportamentos parentais em contexto de natureza (LITTLE, 2010; MCFARLAND;
ZAJICEK; WALICZEK, 2014). Em Little (2010), escalas de atitude parental foram investigadas em
relação à percepção de risco em estruturas de parques infantis. A atitude parental em relação ao uso de
espaços abertos com natureza por crianças foi tratada especificamente em apenas dois artigos (MCFAR-
1 A busca bibliográfica utilizou como descritores as palavras “outdoor”, “park”, “play”, “environment”, “natur*”,
“neighborhood”, “permission”, “supervision”, “perception”, “parent*” AND “styles” OR “practice”, “risky” AND
“play”, “attitude”, “influence”,“safety”,“memor*”.
2

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN
LAND et al., 2011; MCFARLAND; ZAJICEK; WALICZEK, 2014), sendo eles oriundos do estudo
de McFarland (2011), que construiu duas escalas: Parental Attitude Toward Nature (PAN) e Parental
Attitude Toward their Child’s Outdoor Recreation (PACOR). Os instrumentos foram construídos com
base em estudos qualitativos e quantitativos, sendo testados com 140 genitores ou responsáveis legais
estadunidenses de crianças dos 6 aos 13 anos de idade e 73 pais de crianças dos 3 aos 5 anos de idade
(MCFARLAND et al., 2011; MCFARLAND; ZAJICEK; WALICZEK, 2014). Para esses dois grupos,
os resultados dos testes de confiabilidade se mostraram satisfatórios (MCFARLAND et al., 2011;
MCFARLAND; ZAJICEK; WALICZEK, 2014).
Identificam-se nas escalas, itens que fazem referência a aspectos teóricos para explicar compor-
tamentos de uso de espaços com natureza por adultos e crianças. Um dos aspectos teóricos tratados
nos itens da escala PAN são as atividades preferidas por adultos em espaços abertos (MCFARLAND,
2011; MCFARLAND et al., 2011; MCFARLAND; ZAJICEK; WALICZEK, 2014). Os autores cria-
ram itens de escala que refletem atividades passivas em áreas recreativas abertas que adultos buscam
realizar para relaxar e descansar. Essas são formas de uso relacionadas a benefícios que podem atuar
sobre a preferência por espaços com natureza devido à propriedade restauradora desses ambientes. A
capacidade de se restaurar no uso de espaços com natureza tem sido consistentemente encontrada tanto
em adultos (e.g. KORPELA; HARTIG, 1996; VAN DEN BERG; KOOLE; VAN DER WULP, 2003)
como em crianças (e.g. KORPELA; KYTTÄ; HARTIG, 2002; TAYLOR; KUO; SULLIVAN, 2001).
A restauração em espaços com elementos naturais vem sendo estudada desde os anos 1950 (HAR-
TIG, 2011) e tem cada vez mais atraído o interesse de pesquisadores de diversas áreas (e.g. KAPLAN,
1995; KORPELA, 1989) em função das potencialidades desse campo de investigação para a elaboração
de políticas e planejamento ambientais. Estudos clássicos, como o de Ulrich et al. (1991), por exemplo,
mostram que a visualização de paisagens naturais percebidas como não ameaçadoras produz alterações
psicofisiológicas de redução do estresse. Outros estudos (e.g. BERMAN; JONIDES; KAPLAN, 2008;
BERTO, 2005) têm enfatizado que ambientes naturais podem promover a recuperação da capacidade
de atenção dirigida fragilizada durante as mais diversas exigências diárias, devolvendo ao indivíduo o
controle sobre um recurso central da efetividade humana, como predito pela Teoria da Restauração da
Atenção (KAPLAN, 1995). Todas essas alterações geram um estado emotivo positivo e de bem-estar
que dá à natureza o significado de lugar esteticamente prazeroso (GRESSLER; GÜNTHER, 2013).
Um estudo experimental realizado por Hartig e Staats (2006) mostrou a relação entre a qualidade
restauradora de um espaço com natureza e a preferência pelo seu uso, que para os autores reflete-se na
atitude para o uso de determinados espaços. Estudantes que foram colocados em situação de fadiga
(após participar de atividades acadêmicas), comparados àqueles expostos a uma situação de não fadiga
(antes de iniciar as atividades acadêmicas), apresentaram uma atitude mais favorável a uma caminhada
na floresta do que para uma caminhada na cidade. Essa diferença deu-se pela qualidade restauradora
avaliada pelos participantes, que foi maior entre aqueles da situação de fadiga do que na situação de
não fadiga. Os autores explicam que ao fazer uso de imagens para apresentar espaços com natureza e
urbanizados para os participantes, estes avaliaram as qualidades restauradoras dos espaços remeten-
do-se às experiências vividas nesses ambientes.
No instrumento PACOR, uma parte dos itens liga-se a dimensões do desenvolvimento infantil
(MCFARLAND, 2011; MCFARLAND; ZAJICEK; WALICZEK, 2014), como habilidades e capa-
cidades das crianças que podem ser beneficiadas pelo uso de espaços abertos. Estudos têm tratado
especificamente das atividades que estimulam a habilidade motora e a imaginação (FJØRTOFT,
2004; FJØRTOFT; SAGEIE, 2000; KUH; PONTE; CHAU, 2013; SCHAFFER; KISTEMAN, 2012),
bem como oferecem oportunidades de socialização e busca de privacidade (ÄNGGARD, 2010;
CZALCZYNSKA-PODOLSKA, 2014; KYLIN, 2003; MALONE; TRANTER, 2003). Devido às
propriedades potencializadoras de desenvolvimento, os espaços abertos de uso recreativo têm sido
investigados quanto às interações que as crianças estabelecem com os elementos naturais (FJØRTOFT,
3

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN
2004; SARGISSON; MCLEAN, 2012; SCHAFFER; KISTEMAN, 2012) bem como as escolhas e
preferências dos pais pelo uso desses espaços (SKAR; KROGH, 2009; GUNDERSEN et al., 2016;
LARSON; WHITING; GREEN, 2013; VEITCH et al., 2006).
Um ulterior aspecto tratado na escala PACOR está relacionado, principalmente, à percepção
de risco em relação à segurança das crianças no uso dos espaços abertos. A percepção das condições
físicas e sociais do espaço de mobilidade, exploração e brincadeira da criança influencia as atitudes
dos pais (AZIS; SAID, 2011; LUZ; RAYMUNDO; KUHNEN, 2010). O tráfego intenso das cidades
(AARTS et al., 2012; KALISH et al., 2010; VEITCH et al., 2006), a má conservação dos espaços
públicos (GIELEN et al., 2004) e a presença de estranhos e grupos de adolescentes (TIMPERIO et al.,
2004; VALENTINE; MCKENDRICK, 1997; VEITCH et al., 2006) são considerados pelos pais como
fatores de risco à segurança da criança e motivos para restringir a mobilidade e o uso de espaços abertos.
Entre os resultados encontrados na revisão de literatura realizada por Luz, Raymundo e Kuhnen
(2010) e Azis e Said (2011), tem-se que a percepção negativa em relação à segurança e a qualidade
ambiental de espaços abertos leva pais a tomarem decisões que restringem a mobilidade autônoma
das crianças, bem como o uso que fazem desses ambientes. Veitch et al. (2006), que entrevistaram
87 genitores sobre suas percepções a respeito dos espaços urbanos utilizados para brincadeiras livres
por crianças, encontraram que a segurança foi uma condição mencionada por 94% dos participantes.
Dentre os aspectos citados, estão os atributos sociais, como a presença de estranhos e adolescentes,
bem como os atributos físicos, tais quais objetos perigosos e tráfego intenso.
Apesar de uma percepção por vezes negativa dos pais, estes identificam a vivência da criança
em áreas verdes como necessária à sua maturação. Um exemplo de estudo que ilustra os benefícios à
criança atrelados a atividades percebidas pelos pais como de risco é a pesquisa desenvolvida por Little
(2010), que objetivou explicar as interações dos pais com os filhos em um contexto de parque infantil. A
pesquisadora investigou crenças de 12 genitores (11 mães e 1 pai) sobre os benefícios que percebiam no
uso do equipamento. Ela encontrou que a maioria dos pais acreditava que as crianças poderiam aprender
a partir de experiências negativas, como quando, por exemplo, machucam-se no parque. Os entrevistados
também acreditavam que a própria disposição de correr risco da criança contribui especificamente para o
desenvolvimento motor, a resolução de problemas, a autoconfiança e a autoestima. Os benefícios à saúde
física (LARSON; WHITING; GREEN, 2013) e o desenvolvimento da autoconfiança e da autonomia
(LITTLE, 2010; LITTLE; WYVER; GIBSON, 2011; PREZZA et al., 2005; VALENTINE; MCKEN-
DRICK, 1997) são apontados pelos pais como habilidades da criança estimuladas nas experiências em
espaços abertos. Valentine e McKendrick (1997) argumentam que esse reconhecimento se deve possi-
velmente às próprias experiências de infância em contextos de cidades pequenas.
Pais declaram notar uma mudança no uso de espaços abertos ao longo das gerações (CLEMENTS,
2004; KARSTEN, 2005; SKAR; KROGH, 2009; VALENTINE; MCKENDRICK, 1997; WITTEN;
KEARNS; CARROLL, 2013). Por exemplo, em um estudo realizado em uma área urbana nos Estados
Unidos, no qual 830 mães de filhos de 3 a 12 anos foram entrevistadas, 85% delas concordaram que
as crianças de hoje brincam menos ao ar livre do que as crianças de anos atrás e, 70% dessas mães
confirmaram que brincavam todos os dias ao ar livre em suas infâncias, comparados com aproxima-
damente 31% das suas crianças (CLEMENTS, 2004). Resultados semelhantes foram encontrados em
estudo anterior realizado por Valentine e McKendrick (1997) com 400 pais de filhos de 8 a 11 anos de
idade e moradores de uma área rural, que relataram terem sido na infância mais autônomos que seus
filhos e reconheceram terem realizado brincadeiras que atualmente não percebem como possíveis,
devido às condições de segurança dos centros urbanos.
Dada a importância do papel mediador dos pais na relação que a criança estabelece com os espaços
abertos e com a natureza, estudos a partir de escalas atitudinais parentais, tais quais PAN e PACOR,
ganham importância. No Brasil, tratando-se de um país em crescimento e com natureza abundante, o
uso dessas escalas como ferramentas de pesquisa pode fornecer informações orientadoras no desenvol-
4

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN
vimento de intervenções e políticas públicas que estimulem o uso dos espaços abertos com natureza
pelas crianças. Tendo isso em vista, propomos investigar a estrutura interna de duas escalas de atitude
parental e evidências psicométricas iniciais em versão traduzida dos instrumentos, procedendo-se,
portanto, a (a) tradução e adequação das escalas ao contexto brasileiro; (b) realização de um estudo
piloto para verificar a qualidade do conteúdo e da apresentação dos instrumentos em formato online e
(c) realização de estudo definitivo para a verificação das propriedades psicométricas das escalas pela
análise de consistência interna e fatorial, além de estudo relacional entre as duas variáveis atitudinais.
2 MÉTODO
2.1 INSTRUMENTOS: AS ESCALAS DE ATITUDE
Originalmente, os instrumentos Parental Attitude Toward Nature — PAN e Parental Attitude Toward
their Child’s Outdoor Recreation — PACOR (ver MCFARLAND, 2011; MCFARLAND et al., 2011),
a partir dos quais as traduções para a língua portuguesa foram realizadas, são descritos pelos autores
como escalas do tipo Likert de seis pontos e possuem, respectivamente, 15 e 28 sentenças afirmativas.
O desenvolvimento das escalas deu-se a partir da aplicação de testes de confiabilidade, sendo as versões
finais utilizadas pelo presente estudo. Em McFarland et al. (2011), foi relatada a retirada de 6 itens da
PAN e 1 item da PACOR (a partir de 21 e 29 itens em cada escala, respectivamente), o que resultou em
valores de consistência interna considerados satisfatórios (α = 0,85 para PAN e α = 0,87 para PACOR).
Os autores dos instrumentos não apresentaram uma estrutura interna dimensional para as escalas, porém,
consideraram-nas multidimensionais devido aos diversos comportamentos, crenças e percepções que são
abordados nos itens e que foram, segundo os autores, levantados a partir da literatura científica.
A escala PAN incluiu sentenças relacionadas a atividades passivas recreativas ao ar livre, por
exemplo, “Eu gostaria de saber mais sobre a natureza” ou “Eu me sinto bem quando estou perto da
natureza”. A escala PACOR incluiu sentenças relacionadas ao medo dos pais para com a segurança
das crianças quando estão fora de casa, os benefícios e consequências para as crianças quando elas
brincam ao ar livre e questões comportamentais relacionadas ao tempo que as crianças despendem em
espaços abertos. Exemplos de itens são: “Tenho medo que meu filho seja machucado por bandidos se
ele brincar fora de casa”, “Brincar fora de casa é uma maneira de aprimorar a coordenação motora” e
“Brincadeiras fora de casa deixam meu filho agitado”. As respostas possíveis a essas escalas incluem
“concordo totalmente” (strongly agree), “concordo parcialmente” (somewhat agree), “concordo um
pouco” (slightly agree), “discordo um pouco” (slightly disagree), “discordo parcialmente” (somewhat
disagree) e “discordo totalmente” (strongly disagree).
Nesses instrumentos, o valor 6 foi atribuído às respostas que correspondiam a uma atitude mais
positiva e o valor 1, a uma atitude mais negativa. Itens não respondidos receberam pontuação nula. O
escore total em ambas as escalas correspondeu à soma das pontuações dos itens. Uma vez calculado
o escore total por respondente em cada escala, os autores prosseguiam com a seguinte interpretação: o
escore total dividido pelo número de itens da escala indicava a média de pontuação para cada questão
e servia como indicador para a avaliação da atitude. Por exemplo: imaginando-se que o escore total
obtido por um respondente à escala PAN, com 15 sentenças, tenha sido 80. Este valor, dividido pelo
número de itens (15), resultaria em uma média de 5,33 para cada item. Isso significaria que o res-
pondente forneceu mais declarações do tipo “concordo um pouco” (pontuação igual a 5) e “concordo
totalmente” (pontuação igual a 6), sugerindo uma visão geral positiva da natureza.
Já os instrumentos como propostos aos participantes no presente estudo, aqui denominados
Atitude Parental para com a Natureza (APN), traduzido a partir de PAN, e Atitude Parental para com
a Criança na Natureza (APCN), traduzido a partir de PACOR, são escalas do tipo Likert de cinco
5
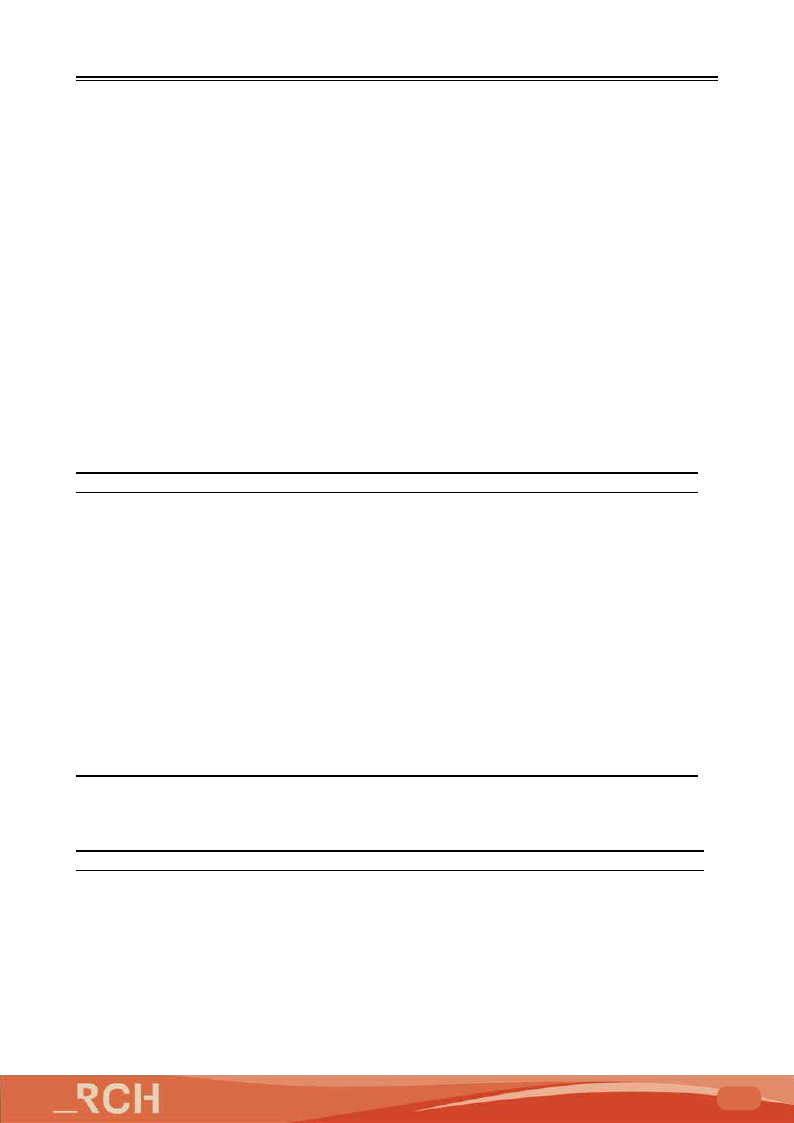
PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN
pontos, com o mesmo número de itens das escalas originais. Exemplos de itens da escala APN são “Eu
gosto de programas de TV que falam sobre natureza” e “As pessoas deveriam passar mais tempo em
locais abertos” e, para APCN, “Eu penso que meu filho deveria fazer trilhas” e “Todos os parquinhos
infantis deveriam conter elementos naturais”. As Tabelas 1 e 2 apresentam todos os itens das escalas
apresentados aos respondentes.
As respostas possíveis foram elaboradas de modo a se incluir um ponto neutro na escala e
favorecer a capacidade discriminatória do respondente pela manutenção de apenas duas opções de
concordância e duas opções de discordância, a saber: “concordo muito”, “concordo”, “não concordo
nem discordo”, “discordo” e “discordo muito”, codificados como 1, 2, 3, 4 ou 5, de modo que o valor
1 sempre corresponde a uma atitude mais negativa e o valor 5, a uma atitude mais positiva. Itens não
respondidos são estimados pela tendência linear naquele ponto (Linear Trend at Point). Diferentemente
do que foi proposto pelos autores das escalas, optou-se por calcular como medida da atitude, para cada
respondente, a média aritmética das pontuações obtidas nas sentenças de APN e de APCN, ao invés de
se proceder ao cálculo de um escore total dado pela soma das pontuações dos itens. Acredita-se que,
desse modo, o resultado da aplicação de cada instrumento pode guardar uma correspondência mais
direta com o sistema de codificação dos itens, o que favorece a interpretação dos achados.
Tabela 1 - Escala de Atitude Parental para com a Natureza (APN) como proposta aos participantes
Itens
1. Eu gosto da natureza.
2. Eu gosto de ver o céu nas noites de verão.
3. Eu gosto de fotografias de pássaros e animais.
4. Eu gosto de me sentar perto de uma lagoa silenciosa.
5. Andar pela floresta é uma perda de tempo.
6. Eu gostaria de saber mais sobre a natureza.
7. As pessoas deveriam passar mais tempo em locais abertos.
8. Eu gosto de programas de TV que falam sobre a natureza.
9. Eu gostaria de passar férias em uma cabana no meio da mata.
10. Eu me sinto bem quando estou perto da natureza.
11. Eu gosto de ouvir o barulho que os rios fazem.
12. Eu gosto de andar sobre as folhas durante o outono.
13. Realizar atividades fora de casa é melhor do que assistir televisão.
14. Férias em família é uma boa oportunidade para passar mais tempo em locais abertos.
15. Eu gosto de realizar refeições em locais abertos.
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho.
Tabela 2 - Atitude Parental para com a Criança na Natureza (APCN) como proposta aos participantes
Itens
1. Brincar em locais abertos encoraja comportamentos agressivos.
2. Todos os parquinhos infantis deveriam conter elementos naturais.
3. Penso que brincar em locais abertos é bom para a saúde do meu filho.
4. É muito perigoso para o meu filho brincar em locais abertos.
5. Eu penso que meu filho deveria fazer trilhas.
6. As crianças brincarem fora de casa é um desperdício de tempo.
7. Minha vizinhança é segura o bastante para meu filho brincar na rua.
8. Eu deixaria meu filho caminhar na chuva mesmo que ele se molhe.
9. Meu filho se suja muito quando brinca em locais abertos.
6
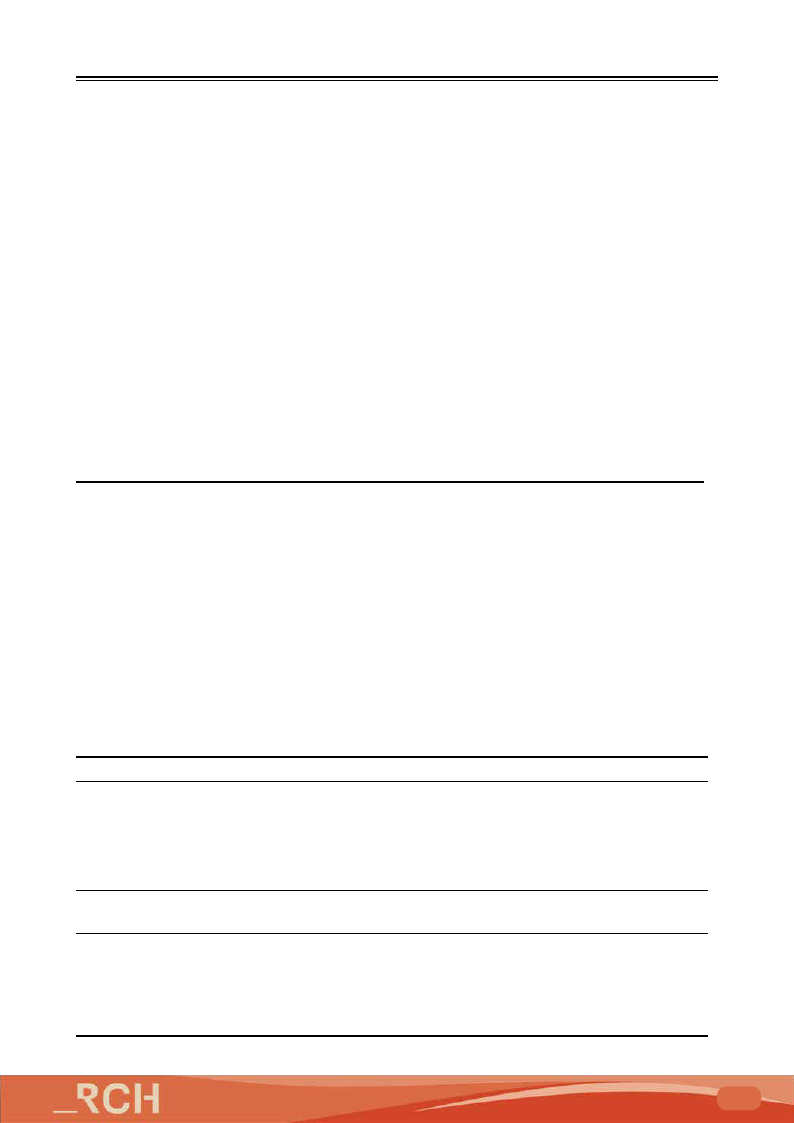
PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN
10. Tenho medo que estranhos possam machucar meu filho em locais abertos.
11. Passar tempo com a família em áreas abertas é uma atividade agradável.
12. Tenho medo de que meu filho seja machucado por bandidos se ele brincar fora de casa.
13. O aprendizado de meu filho pode ser estimulado por brincadeiras em áreas abertas.
14. Brincar fora de casa prejudica o desempenho escolar de meu filho.
15. Brincar fora de casa é uma boa maneira de aprimorar a coordenação motora.
16. Meu filho está seguro se brincar com outras crianças da vizinhança.
17. Crianças que brincam fora de casa ganham confiança.
18. Eu permito que meu filho tenha uma ampla variedade de atividades recreativas em áreas abertas.
19. Eu percebo que brincadeiras em áreas abertas interferem bastante no horário das tarefas escolares
do meu filho.
20. Meu filho comporta-se melhor depois de passar algum tempo em áreas abertas.
21. Tenho medo de que meu filho seja sequestrado fora de casa.
22. Eu permito que meu filho brinque com lama.
23. Brincar em áreas abertas estimula as habilidades de comunicação do meu filho.
24. Brincadeiras em áreas abertas deixam meu filho agitado.
25. Brincadeiras em áreas abertas ajudam a aumentar o nível de independência de meu filho.
26. Eu permito que meu filho brinque em caixas de areia.
27. Brincadeiras em áreas abertas permite meu filho fazer amigos.
28. Participar de brincadeiras em áreas abertas permite que meu filho se exercite.
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho.
2.2 PARTICIPANTES
Participaram do estudo, na fase definitiva, 73 mães (69,52%) e 32 pais (30,48%) de pelo menos
uma criança na faixa etária dos 6 aos 9 anos. A média de idade dos respondentes foi de 39 anos e 6
meses (DP = 4 anos e 6 meses), sendo a idade mínima de 29 anos e a máxima de 50 anos. A Tabela 3
apresenta os dados que caracterizam os participantes do estudo. Como se descreverá na seção ‘Pro-
cedimentos’, além destes participantes, colaboraram com a investigação outros 13 genitores, na fase
de adequação e de estudo piloto dos instrumentos.
Tabela 3 - Dados sociodemográficos dos participantes do estudo
Variável
Local de moradia
Tipo de moradia
Estado civil
Valores
Fora de Florianópolis
Região Central de Florianópolis
Região Leste de Florianópolis
Região Norte de Florianópolis
Região Sul de Florianópolis
Região Continental de Florianópolis
Casa
Apartamento
Casado(a)
União estável
Separado(a), Divorciado(a)
Solteiro(a)
Viúvo(a)
Frequência (%)
45,7
16,2
13,3
11,4
11,4
1,9
67,6
32,4
60,0
21,9
11,4
5,7
1,0
7
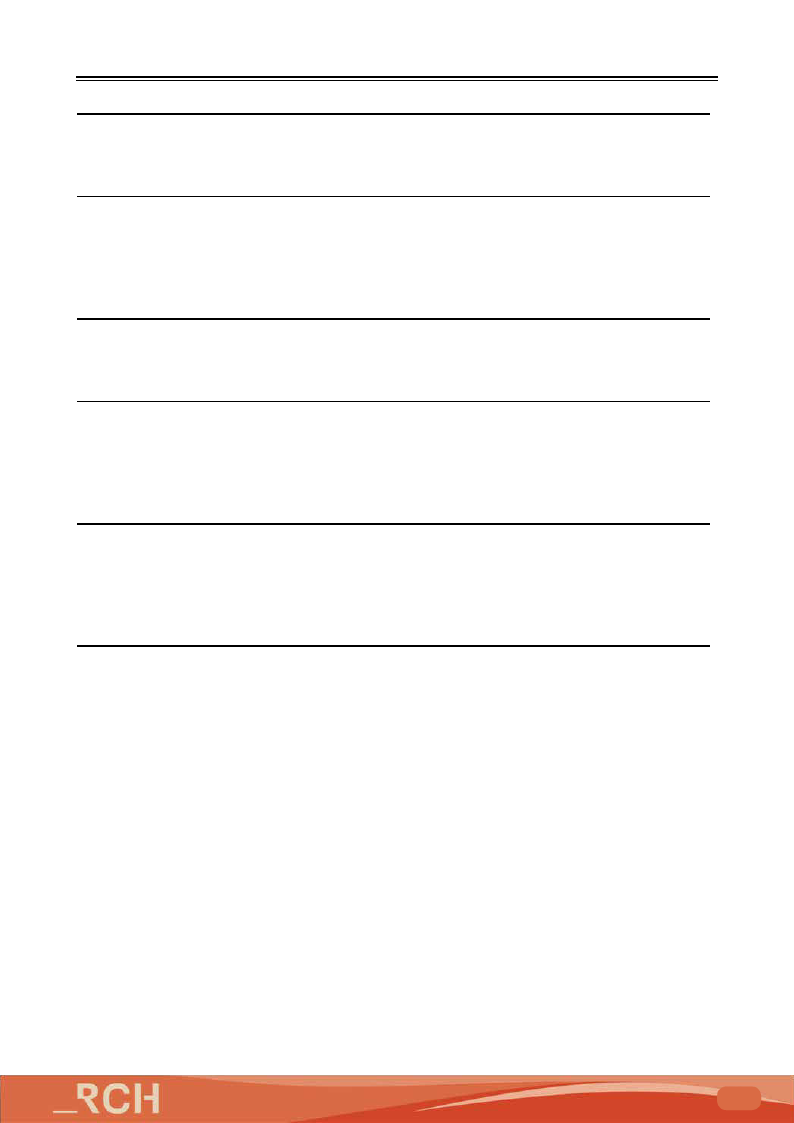
PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN
Número de filhos
Um filho
54,3
Dois filhos
34,3
Três filhos
10,5
Quatro filhos
1,0
Com quem mora
O(a) companheiro(a) e todos os filhos
70,5
Sozinho(a) com todos os filhos
8,6
O(a) companheiro(a) e alguns filhos (incluindo 6 a 9 anos)
7,6
Apenas o(a) companheiro(a)
6,7
Sozinho(a)
5,7
O(a) companheiro(a) e alguns filhos (sem os de 6 a 9 anos)
1,0
Escolaridade
Ensino superior completo
93,3
Ensino superior incompleto
4,8
Ensino médio completo
1,0
Ensino fundamental completo
1,0
Ocupação
Servidor público
43,8
Estudante
6,7
Dona de casa
3,8
Profissional autônomo
18,1
Empresário/comerciante
13,3
Empregado de empresa privada
14,3
Faixa de renda
Acima de R$ 7.241,00
55,2
De R$ 5.069,00 até R$ 6.516,99
13,3
De R$ 3621,00 até R$ 5.068,99
11,4
De R$ 6.517,00 até R$ 7.240,99
10,5
De R$1.449,00 até R$ 3.620,99
6,7
De R$ 725,00 até R$ 1448,99
2,9
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho.
2.3 ANÁLISE DE DADOS
Os dados obtidos por meio de questionário online foram registrados em planilha virtual Google
e, posteriormente, exportados para o software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), através
do qual foram desenvolvidas as análises. Inicialmente, utilizou-se o Coeficiente Alfa de Cronbach
para indicação de consistência interna e obtenção de evidência de confiabilidade dos instrumentos.
Análises de componentes principais com rotação ortogonal Varimax foram também empregadas para a
identificação da estrutura dimensional dos construtos estudados. Foram excluídos os itens das escalas
que, na análise de consistência interna, diminuíam o Coeficiente Alfa de Cronbach e, na análise de
componentes principais, apresentavam valores para as comunalidades abaixo do valor crítico de 0,50
ou cargas altas de correlação (no caso, acima de 0,35) em mais de um componente contemporanea-
mente após rotação. Os critérios de autovalores, diagrama de declividade e variância foram utilizados
em conjunto para a decisão relativa ao número de componentes a serem retidos.
Uma vez conhecidos os itens e os componentes constituintes de ambas as escalas, análises esta-
tísticas descritivas foram realizadas. Para tal, um escore único (escore total) por participante e escala
foi calculado utilizando-se a média dos escores dos itens integrantes. Então, histogramas de frequência,
diagramas de caixa e bigodes e coeficientes de assimetria (S) e curtose (K) foram analisados, bem
8

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN
como o Teste de Normalidade Kolmogorov-Smirnov foi executado para o estudo da distribuição dos
dados. Finalmente, o teste não paramétrico Correlação de Spearman (ρ) foi utilizado para investigar
a relação entre as duas variáveis atitudinais (APN e APCN).
2.4 PROCEDIMENTOS
As escalas de atitude parental para com a natureza e a criança na natureza — como publicadas
por McFarland et al. (2011) — foram inicialmente traduzidas, de modo independente, do inglês para
o português brasileiro, por dois pesquisadores, falantes nativos da língua alvo e proficientes na língua
inglesa. Uma versão de conciliação das traduções foi então produzida pelos mesmos tradutores, de
modo conjunto, alcançando-se a concordância a partir de eventuais pontos de divergência entre as
traduções individuais. Posteriormente, com o objetivo de verificar a compreensão semântica dos itens,
três pais foram convidados a responder as escalas traduzidas na presença do pesquisador. Itens não
compreendidos foram apontados pelos respondentes e substituições de palavras foram realizadas para
aumentar a clareza das questões.
Os instrumentos foram então submetidos a um estudo piloto com 10 indivíduos, sendo estes
pais ou mães com pelo menos um(a) filho(a) na faixa etária dos 6 aos 9 anos. A faixa etária escolhida
deu-se em razão da fase de desenvolvimento sensorial, cognitivo, afetivo e moral que desperta nas
crianças um interesse natural por observar fenômenos da natureza e realizar brincadeiras motoras,
construtivas e simbólicas em espaços abertos (SAMBORSKI, 2010; SARGISSON; MCLEAN, 2012),
exigindo dos pais, portanto, comportamentos que atendam a essas necessidades.
Os participantes do estudo piloto foram escolhidos pelos pesquisadores e convidados a responder
um questionário online, que incluiu as duas escalas atitudinais e questões sociodemográficas para
a caracterização da amostra de respondentes, a saber: idade, sexo, local e tipo de moradia, estado
civil, número de filhos, familiares com quem se compartilha a habitação, escolaridade, ocupação e
faixa de renda familiar mensal. O formato de aplicação online foi escolhido pela facilidade em aces-
sar os participantes em um menor período de tempo possível, diferentemente das escalas originais
(PAN e PACOR), que foram aplicadas nos formatos online e em papel. Com o intuito de verificar
a compreensão das instruções, respostas não previstas, averiguar a qualidade do conteúdo dos itens
das escalas e o formato das questões, os participantes do estudo piloto foram instruídos a responder
o questionário e relatar por correio eletrônico dificuldades que surgissem enquanto o respondiam.
Não houve relatos de dificuldades e, portanto, não foram realizadas modificações. Assim, a versão
final foi estabelecida.
Os instrumentos resultantes desse processo foram então incluídos em uma versão final do
questionário online, junto às mesmas questões para a caracterização da amostra de responden-
tes, como realizado no estudo piloto. Para o recrutamento de participantes utilizou-se a técnica
de amostragem não probabilística bola-de-neve, na qual o pesquisador estabelece contato com
alguns sujeitos previamente identificados, e estes indicam potenciais futuros respondentes. Em
uma mesma família, se o pai e a mãe manifestassem interesse em participar da pesquisa, poderiam
fazê-lo separadamente.
Potenciais participantes foram primeiramente contatados por correio eletrônico. Nesse
momento, informações acerca da pesquisa foram dadas e os pais ou responsáveis tiveram acesso ao
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Caso concordassem em participar, uma resposta de
autorização era requisitada. Uma vez consentida a participação, uma segunda mensagem eletrônica
contendo um link de acesso ao questionário online era enviada. A coleta de dados ocorreu entre os
meses de outubro de 2014 a março de 2015. A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética
em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Estadual de Santa Catarina, sob o protocolo
39701114.0.0000.0118.
9
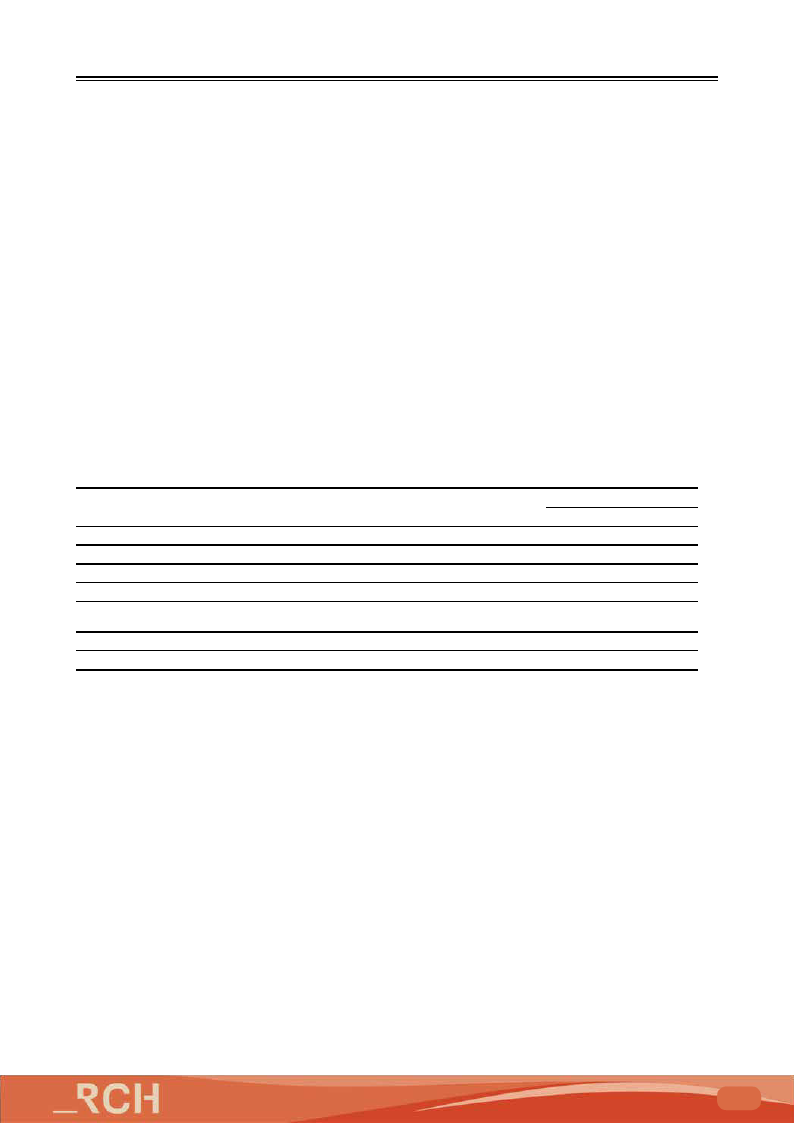
PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN
3 RESULTADOS
3.1 ATITUDE PARENTAL PARA COM A NATUREZA
As análises de consistência interna e de componentes principais executadas sugeriram a retirada
de 8 itens da Escala APN — Atitude Parental para com a Natureza. A escala resultante, constituída
dessa forma por 7 itens, forneceu satisfatória estrutura dimensional e coeficiente de consistência interna
(Alfa de Cronbach igual a 0,79). A análise de componentes principais com rotação ortogonal Varimax
conduzida nos itens finais identificou três componentes explicando 78,97% da variância (autovalor
para o último componente extraído igual a 1,03). A Medida de Kaiser-Meyer-Olkin indicou adequação
amostral para o cálculo (KMO = 0,70) e o Teste de Esfericidade de Bartlett apontou que as correlações
entre os itens foram suficientes para a realização das análises [χ2 (21) = 299,72; p < 0,001]. Todos
os valores para as comunalidades superaram o valor crítico de 0,50 (menor valor igual a 0,73). A
Tabela 4 apresenta a matriz rotacionada dos componentes extraídos para APN. Itens com carga igual
ou superior a 0,35 após rotação foram incorporados ao componente.
Tabela 4 - Matriz rotacionada dos componentes da Escala de Atitude para com a Natureza.
Itens
Eu gosto da natureza.
Eu gosto de ver o céu nas noites de verão.
Eu me sinto bem quando estou perto da natureza.
Realizar atividades fora de casa é melhor do que assistir televisão.
Férias em família é uma boa oportunidade para passar mais tempo em
locais abertos.
As pessoas deveriam passar mais tempo em locais abertos.
Eu gostaria de saber mais sobre a natureza.
Componentes
1
2
3
0,89
0,88
0,78
0,90
0,83
0,85
0,82
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho. Nota: N = 105. Os coeficientes Alfa de Cronbach para os componentes 1,
2 e 3 são, respectivamente, 0,86; 0,76; e 0,62.
Em APN, o primeiro componente reúne itens que se referem ao gosto pela natureza e seus ele-
mentos, bem como ao prazer que se pode ter pelo contato com paisagens naturais. Trata-se, portanto,
de um componente relacionado à adesão estética derivada da apreciação ou gosto, o qual se denominou
‘adesão estética’. O Componente 2, a sua vez, reporta a oportunidades ou ocasiões para passar tempo
ou realizar atividades ao ar livre. É uma dimensão ligada a momentos de contato com a natureza nas
práticas individuais e familiares, componente que recebeu o nome de ‘oportunidades de contato’. O
terceiro e último componente agrupa variáveis que fazem referência à necessidade de maior proxi-
midade e conhecimento do elemento natural. Esses itens têm em comum o reconhecimento de que a
situação corrente não atende a requisitos tidos como ideais ou mais favoráveis e, por isso, ligam-se
ao desejo ou à premência de mudança com vistas ao melhoramento futuro. Trata-se, dessa maneira,
do componente ‘transformação positiva’.
A mediana (Mdn) dos escores totais de APN (N = 105) foi de 4,71 (M = 4,61; DP = 0,39; A =
1,71), o que indicou uma atitude parental tipicamente positiva. As análises por dimensão da escala
informaram que a mediana dos escores nos Componentes 1 e 2 foi igual a 5,00, com amplitude 2,00;
enquanto no Componente 3, a mediana foi de 4,50 e a amplitude 2,50. Como é possível verificar, a
10
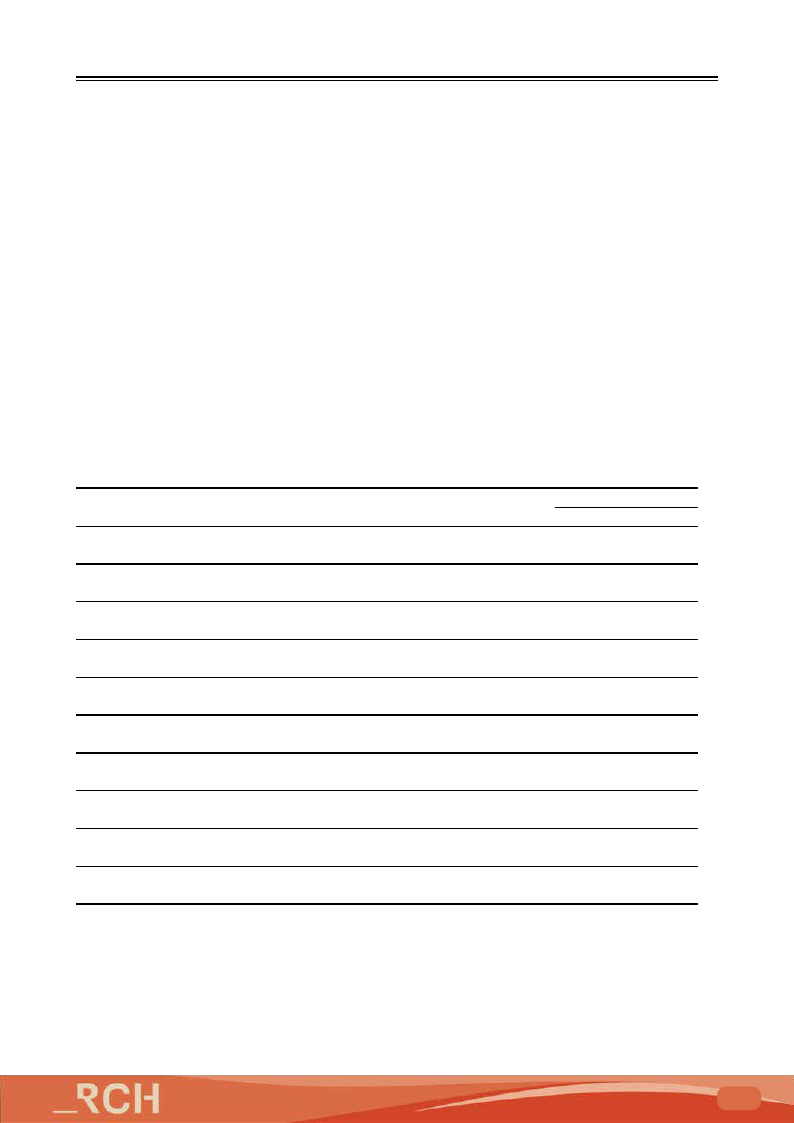
PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN
atitude parental nas três dimensões da Escala APN foi semelhante e representada por altos escores,
embora ligeiramente mais baixos no componente ‘transformação positiva’ (Componente 3).
3.2 ATITUDE PARENTAL PARA COM A CRIANÇA NA NATUREZA
No que se refere à Atitude Parental para com a Criança na Natureza, as análises de consistência
interna e de componentes principais executadas sugeriram a retirada de 18 itens do instrumento. A escala
APCN resultante, constituída desse modo por 10 itens, forneceu satisfatória estrutura dimensional e
coeficiente de consistência interna (Alfa de Cronbach igual a 0,74). A análise de componentes principais
com rotação ortogonal Varimax conduzida nos itens finais identificou três componentes explicando
68,18% da variância (autovalor para o último componente extraído igual a 1,20). A Medida de Kaiser-
-Meyer-Olkin indicou adequação amostral para o cálculo (KMO = 0,75) e o Teste de Esfericidade de
Bartlett apontou que as correlações entre os itens foram suficientes para a realização das análises [χ2
(45) = 373,26; p < 0,001]. Todos os valores para as comunalidades superaram o valor crítico de 0,50
(menor valor igual a 0,59). A Tabela 5 apresenta a matriz rotacionada dos componentes extraídos.
Itens com carga igual ou superior a 0,35 após rotação foram incorporados ao componente.
Tabela 5 - Matriz rotacionada dos componentes da Atitude para com a Criança na Natureza
Itens
O aprendizado de meu filho pode ser estimulado por brincadeiras em áreas
abertas.
Participar de brincadeiras em áreas abertas permite que meu filho se exercite.
Componentes
1
2
3
0,80
0,78
Brincar em áreas abertas estimula as habilidades de comunicação do meu
0,76
filho.
Brincadeiras em áreas abertas ajudam a aumentar o nível de independência 0,76
de meu filho.
0,76
Brincar fora de casa é uma boa maneira de aprimorar a coordenação motora.
Tenho medo de que meu filho seja machucado por bandidos se ele brincar
0,90
fora de casa.
0,83
Tenho medo de que meu filho seja sequestrado fora de casa.
0,82
Tenho medo que estranhos possam machucar meu filho em locais abertos.
Brincadeiras em áreas abertas deixam meu filho agitado.
0,85
Eu percebo que brincadeiras em áreas abertas interferem bastante no horário
0,83
das tarefas escolares do meu filho.
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho. Nota: N = 105. Os coeficientes Alfa de Cronbach para os componentes 1,
2 e 3 são, respectivamente, 0,83; 0,82; e 0,66.
Na escala APCN resultante, é possível observar que os cinco itens que compõem o Componente
1 tratam dos benefícios que as brincadeiras em áreas abertas podem trazer para o desenvolvimento geral
da criança, particularmente o desenvolvimento físico, motor, cognitivo e social, visto que se constituem
11

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN
estímulos à atividade física, ao melhoramento da coordenação motora, bem como às habilidades de
comunicação e independência. É a dimensão ‘benefícios ao desenvolvimento’. O segundo componente
reúne itens que abordam a ameaça à salvaguarda em locais abertos, referindo-se ao temor de ter o
próprio filho machucado ou mesmo sequestrado por estar ou brincar ao ar livre. Trata-se, por isso, da
dimensão ‘riscos à segurança’. Por fim, as variáveis que compõem o Componente 3 da Escala APCN
se referem a possíveis efeitos prejudiciais de brincadeiras em áreas abertas, tais quais, eventualmente
atuar como distrações ao cumprimento de tarefas cotidianas ou mesmo contribuir para estados de
ânimo contraproducentes. A esse componente daremos a denominação de ‘repercussões desfavoráveis’.
A mediana (Mdn) dos escores totais de atitude (N = 105) foi de 4,10 (M = 4,04; DP = 0,46; A
= 2,10), o que indicou uma atitude parental tipicamente positiva. As análises por dimensão da escala
informaram que a mediana dos escores no Componente 1 foi igual a 4,80 (A = 1,6); seguida da mediana
no Componente 3 (Mdn = 4,00; A = 3,00); e, finalmente, daquela no Componente 2 (Mdn = 3,00; A
= 4,00). Nota-se que os dados caracteristicamente variaram da posição neutra da escala, na dimensão
‘riscos à segurança’ (Componente 2), à posição que corresponde à atitude mais positiva na dimensão
‘benefícios ao desenvolvimento’ (Componente 1), tendo o Componente 3 — relativo às ‘repercus-
sões desfavoráveis’ de se brincar áreas abertas — ocupado uma posição intermediária entre as duas
primeiras dimensões.
3.3 ANÁLISE RELACIONAL
O teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov (D) apontou que a distribuição dos escores totais
em ambas as escalas difere significativamente de uma distribuição normal [D(105) = 0,19, p < 0,001
em APN; D(105) = 0,1, p = 0,016 em APCN], embora a observação de histogramas de frequência
e diagramas de caixa e bigodes, bem como a análise de coeficientes de assimetria (S) e curtose (K)
indiquem que a distribuição dos dados assume uma configuração muito próxima da condição de
normalidade para a Escala APCN [S = -0,35 (z = - 1,47; p > 0,05); K = 0,57 (z = -0,45; p > 0,05)], o
mesmo não ocorrendo para a Escala APN [S = - 0,93 (z = - 3,95; assimetria negativa significativa; p
< 0,001); K = 0,32 (z = 0,69; p > 0,05)]. Por essa razão, e porque APN e APCN são escalas do tipo
ordinal, o teste não paramétrico Correlação de Spearman (ρ) foi utilizado para investigar a relação
entre as duas variáveis atitudinais. Verificou-se uma correlação positiva de força moderada e estatis-
ticamente significativa entre os dois conjuntos de dados (ρ = + 0,41; p < 0,001; N = 105): as atitudes
parentais para com a natureza e a criança na natureza covariaram positivamente.
4 DISCUSSÃO
O presente estudo teve como objetivo investigar a estrutura interna das escalas Atitude Parental
para com a Natureza (APN) e Atitude Parental para com a Criança na Natureza (APCN), adequadas
ao contexto brasileiro a partir de Parental Attitude Toward Nature (PAN) e Parental Attitude Toward
their Child’s Outdoor Recreation (PACOR). As análises de consistência interna forneceram valores
para Alfa de Cronbach satisfatórios (α = 0,79 para APN e α = 0,74 para APCN), embora ligeiramente
mais baixos que nas escalas originais (α = 0,85 para PAN e α = 0,87 para PACOR). Também a aná-
lise de componentes principais nas versões brasileiras das escalas conduziu à definição de estruturas
dimensionais com indicadores estatísticos satisfatórios. Esse resultado, todavia, não pode ser com-
parado ao dos estudos originais, visto que a estrutura interna dimensional das escalas não foi neles
nomeada ou descrita.
Na escala APN foram aqui identificadas três dimensões estruturais, sendo elas: ‘adesão estética’,
‘oportunidades de contato’ e ‘transformação positiva’. Uma explicação para esses achados pode estar
ligada ao papel adaptativo que a preferência teria em inibir ou promover a aproximação a determinado
12

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN
ambiente em função do efeito que esse ambiente pode produzir (VAN DEN BERG; KOOLE; VEN
DER WULP, 2003). O indivíduo avaliaria rapidamente e em maneira automática as propriedades do
lugar e o seu potencial para a restauração e o bem-estar; e tenderia a preferir os ambientes que forne-
cem pistas de que tais benefícios podem ocorrer.
O componente ‘adesão estética’, que nesse contexto é entendido como uma expressão da prefe-
rência ambiental, pode estar especialmente ligado à capacidade restauradora dos espaços com natureza,
ou seja, a capacidade que certos ambientes naturais possuem de favorecer a recuperação de recursos
psicofisiológicos e sociais afetados pelas tarefas cotidianas (BERMAN; JONIDES; KAPLAN, 2008;
BERTO, 2005; HARTIG, 2011). Na escala APN, os itens “Eu gosto da natureza”, “Eu gosto de ver o
céu quando estou perto da natureza” e “Eu me sinto bem quando estou perto da natureza” formam uma
estrutura dimensional consistente que, claramente, reflete a necessidade de estar em meio à natureza
pela sensação de bem-estar que a visualização desse ambiente dá ao indivíduo.
Além de prazer estético e bem-estar, o contato com a natureza favorece oportunidades de brin-
cadeiras às crianças e lazer à família, um conjunto de qualidades que pode explicar a presença do
componente ‘oportunidades de contato’ na estrutura dimensional da atitude dos genitores para com a
natureza. Ao procurarem espaços para recreação familiar, os pais privilegiam aqueles que oferecem
uma diversidade de atividades, para que atendam às necessidades de desenvolvimento de diferentes
faixas etárias (VEITCH et al., 2006). Os espaços abertos frequentemente escolhidos por famílias são
aqueles que têm uma estrutura de lazer agregada às áreas verdes como os parques urbanos e naturais
(LARSON; WHITING; GREEN, 2013; PERES, FELIPPE, KUHNEN, 2019). Os itens “Realizar ati-
vidades fora de casa é melhor do que assistir televisão” e “Férias em família é uma boa oportunidade
para passar mais tempo em locais abertos” complementam-se em suas informações no sentido de
apontar para comportamentos desejáveis e positivos de serem promovidos como práticas de atividades
ao ar livre no cotidiano familiar.
A razão para esses dois itens serem representativos da estrutura de crenças dos pais pode ser
explicada por uma diferença geracional. Os pais reconhecem uma mudança no uso dos espaços aber-
tos ao longo das gerações e suas representações nostálgicas de uma infância com memórias de boas
vivências nesses lugares — onde usufruíam de maior contato com a natureza e autonomia de explora-
ção (CLEMENTS, 2004; KARSTEN, 2005; SKAR; KROGH, 2009; VALENTINE; MCKENDRICK,
1997; WITTEN; KEARNS; CARROLL, 2013) — influenciam na construção de suas crenças e práticas
familiares. De fato, há uma associação positiva entre regras e hábitos de realização de atividades ao
ar livre e a maior quantidade de tempo em atividades ao ar livre dos pais com os filhos (REMMERS
et al., 2014).
A percepção do conjunto de benefícios proporcionados a pais e crianças pela presença de áreas
verdes reflete-se possivelmente no desejo de maior conhecimento acerca da natureza, bem como de
maior contato para com ela (LARSON; WHITING; GREEN, 2013), aspectos estes ligados à terceira
dimensão atitudinal identificada em APN: ‘transformação positiva’. Esse tópico adquire ainda maior
relevância no contexto da sempre crescente urbanização. O estilo de vida nas cidades — onde hoje
se encontra cerca de 50% das crianças (UNICEF, 2012) — bem como a inacessibilidade a espaços
com natureza seguros e de qualidade e a indisponibilidade de pais para o lazer no curso das atividades
cotidianas tornam o uso de áreas como os parques, por exemplo, eventos esporádicos.
Um estudo com 3.160 pais noruegueses com filhos de 6 a 12 anos de idade encontrou que visi-
tas a espaços com mais natureza, como parques ou reservas florestais, são mais frequentes nos finais
de semana e feriados (GUNDERSEN et al., 2016). Segundo os autores, uma programação cheia de
atividades formais durante a semana não permite que as famílias tenham tempo disponível para visitar
esses espaços, mesmo que estes estejam próximos de suas residências. Devido à escassez de tempo
das famílias para realizar atividades recreativas em espaços abertos, os itens “As pessoas deveriam
passar mais tempo em locais abertos” e “Eu gostaria de saber mais sobre a natureza” transmitem a
13

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN
ideia de comportamentos a serem almejados pelos benefícios que estar na natureza e saber sobre ela
podem trazer às pessoas.
No que se refere à APCN, os 3 componentes encontrados tratam tanto dos aspectos positivos
como dos aspectos negativos que podem ser percebidos pelos pais acerca do uso dos espaços aber-
tos pelas crianças. A dimensão ‘benefícios ao desenvolvimento’ aborda comportamentos ao ar livre
relacionados a ganhos positivos ao desenvolvimento infantil. São variados os estudos que mostram a
diversidade de brincadeiras motoras, imaginativas e construtivas que são realizadas por crianças na
interação com elementos naturais (FJØRTOFT, 2004; FJØRTOFT; SAGIE, 2000; MACHADO et al.,
2016; MALONE; TRANTER, 2003). Os itens “O aprendizado de meu filho pode ser estimulado por
brincadeiras em áreas abertas”, “Participar de brincadeiras em áreas abertas permite que meu filho se
exercite” e “Brincar fora de casa é uma boa maneira de aprimorar a coordenação motora” representam
ganhos ao desenvolvimento infantil focados, principalmente, na área cognitiva e motora.
Outros itens da dimensão ‘benefícios ao desenvolvimento’ trazem à tona ganhos do contato com
a natureza para a socialização e o estímulo à autonomia. O item “Brincar em áreas abertas estimula as
habilidades de comunicação do meu filho” leva ao entendimento de que a criança encontra nos espaços
ao ar livre um ambiente social, onde ela tem a oportunidade de interagir e se comunicar com outras
crianças e adultos. Alguns estudos vêm investigando a socialização que ocorre no uso dos espaços
abertos com natureza por grupos de crianças e, de fato, nesses lugares crianças utilizam elementos da
natureza e seus micro-espaços em brincadeiras imaginativas que as estimulam na interação entre os
pares (CZALCZYNSKA-PODOLSKA, 2014; KUH; PONTE; CHAU, 2013; MALONE; TRANTER,
2003; RAYMUNDO, KUHNEN; SOARES, 2010; SAID, 2008). Os pais reconhecem a natureza como
um espaço que estimula a socialização não só entre as crianças, mas também deles próprios com seus
filhos (LARSON, WHITING; GREEN, 2013; SCHUBERT-PERES et al., 2017).
O desenvolvimento da autonomia das crianças é outro aspecto que os pais reconhecem como
necessário. O item “Brincadeiras em áreas abertas ajudam a aumentar o nível de independência de
meu filho” destaca o brincar ao ar livre como uma forma de estimular a autonomia das crianças. Em
alguns estudos que investigam crenças parentais sobre comportamentos de riscos de crianças em
espaços abertos, os pais reconhecem que os desafios motores e cognitivos enfrentados pelas crianças
na interação com locais que eles percebem apresentar maior risco à integridade física são oportunida-
des para os seus filhos desenvolverem autonomia, confiança e autoestima (CEVHER-KALBURAN;
IVRENDI, 2016; LITLLE, 2010; LITTLE; WYVER; GIBSON, 2011).
Entretanto, em contextos de espaços abertos e urbanos, estudos identificam que a percepção de
risco dos pais também constitui um componente interveniente na relação que crianças estabelecem
com os seus espaços de mobilidade, exploração e brincadeira (LITTLE, 2010; VEITCH et al., 2006). A
dimensão ‘riscos à segurança’ que se constitui pelos itens “Tenho medo que meu filho seja machucado
por bandidos se ele brincar fora de casa”, “Tenho medo que meu filho seja sequestrado fora de casa” e
“Tenho medo que estranhos possam machucar meu filhos em locais abertos” refletem que a percepção
negativa em relação à segurança leva pais a tomarem decisões que restringem a mobilidade autônoma
das crianças, bem como o uso que fazem desses ambientes. O escore mais baixo para essa dimensão
indica que a percepção de risco dos pais do presente estudo constitui um fator impeditivo importante
no uso de espaços abertos com natureza pelas crianças.
Resultado similar foi encontrado em McFarland (2011), no qual os pais de crianças de 3 a 5 anos
de idade apresentaram, particularmente, uma atitude negativa para o item “Tenho medo que estranhos
possam machucar meus filhos em locais abertos” da escala PACOR. A idade das crianças pode exer-
cer uma influência sobre a percepção de risco dos pais, mas não é um fator preponderante. Embora
alguns estudos apontem para uma maior permissividade dos pais quanto a exploração e mobilidade
autônoma em espaços abertos na faixa etária dos 6 aos 9 anos, outros estudos indicam que a qualidade
14

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN
do espaço urbano tem uma prevalência sobre as decisões parentais, independentemente da idade da
criança (AARTS et al. 2012; FYHRI; HJORTHOL, 2009; LITTLE, 2010; SOORI; BHOPAL, 2002).
Complementar à questão dos riscos à segurança, estão também os aspectos envolvidos no compo-
nente ‘repercussões desfavoráveis’. Esta dimensão introduz outro enfoque no que se refere a potenciais
efeitos negativos de áreas abertas com natureza, dessa vez não diretamente ligados às características
intrínsecas do ambiente físico e social, mas ao uso e a relação que se estabelece com esse tipo de espaço.
Os itens “Brincadeiras em áreas abertas deixam meu filho agitado” e “Eu percebo que brincadeiras em
áreas abertas interferem bastante no horário das tarefas escolares do meu filho” surgem juntos para
essa dimensão como possíveis efeitos negativos gerados pelo uso de espaços abertos. Esse resultado
se diferencia do encontrado por McFarland et al. (2011), que observaram poucos pais com filhos na
faixa etária dos 3 aos 5 anos que consideram o uso de espaços abertos como distração às atividades
escolares. A diferença nos resultados pode estar relacionada à idade das crianças e às crenças a res-
peito do que os pais acreditam ser importante oferecer como atividade para uma determinada idade.
Talvez pais de crianças pequenas se sintam menos afetados pelas atividades ao ar livre, por não terem
a expectativa que seus filhos desempenhem atividades escolares. Ao contrário dos pais de crianças de
mais idade, como no presente estudo. Cuidadores de crianças de 6 a 9 anos podem acreditar que as
suas necessidades devam estar mais voltadas para as atividades formais da escola e que muito tempo
em espaços que promovam atividades informais pode promover agitação e prejuízo escolar.
Ainda que tenha existido a tendência a uma atitude mais negativa para com a criança na natureza
devido aos componentes ‘riscos à segurança’ e ‘repercussões desfavoráveis’, os genitores demonstra-
ram uma atitude tipicamente positiva na dimensão ‘benefícios ao desenvolvimento’. Apesar do receio
em relação à segurança dos filhos e da percepção de eventuais efeitos negativos, os pais não deixam
de perceber as oportunidades de crescimento nos campos da autonomia, cognição, habilidade motora
e socialização que a natureza pode oferecer à criança. Esse resultado dá indicações dos setores que
poderiam ser priorizados ao longo da elaboração de políticas de incentivo ao uso de espaços verdes:
divulgar os benefícios da natureza — fato aparentemente sabido — pode não ser tão efetivo quanto
investir na promoção da segurança e do sentir-se seguro em áreas abertas, bem como em recomendações
que levam em conta o enfoque trazido pela dimensão ‘repercussões desfavoráveis’ (PERES; FELIPPE;
KUHNEN, 2019). A posição intermediária dos pais frente a este componente se deve possivelmente
a condições que não são facilmente observáveis, mas que se relacionam direta ou indiretamente a
aspectos do desenvolvimento da criança que pais não desejariam que fossem afetados.
A visão dos pais em relação ao uso de espaços livres sofre pelo efeito negativo dos riscos per-
cebidos, mesmo que a ciência já apresente muitos dos benefícios derivados do uso desses ambientes.
Melhorias na estrutura física das ruas, na conservação das áreas recreativas e o oferecimento de mais
segurança no trânsito, por exemplo, criariam condições adequadas para que os pais colocassem em
prática aquilo que já reconhecem como benéfico: dar à criança a oportunidade do desenvolvimento em
contato com a natureza. Os respondentes do presente estudo, que pelas suas características sociodemo-
gráficas apresentam-se como parte de uma população com nível educacional elevado e distribuídos em
faixas de renda também elevadas, podem ser favorecidos por locais de moradia seguros e saudáveis,
acesso à informação e um modo de vida que influencia suas percepções, crenças e valores. Por con-
seguinte, isso pode se refletir em uma atitude mais positiva para com a natureza e o uso desse espaço
pelas crianças. No presente relato de estudo, não foi objetivo desenvolver uma análise relacional entre
as variáveis sociodemográficas e as atitudes. No entanto, no trabalho de Mcfarland, Zajicek eWallczek
(2014), as relações entre as atitudes e a renda familiar, e entre as atitudes e o nível educacional foram
testadas e se mostraram estatisticamente significativas. Os autores concluíram, todavia, que estas
variáveis sozinhas não são preditoras das atitudes.
No que diz respeito à relação entre as variáveis atitudinais, este estudo mostra que uma atitude
positiva para com a natureza está relacionada a uma atitude positiva para com a criança na natureza.
15

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN
De modo semelhante, uma correlação forte e estatisticamente significativa, na mesma direção, foi
encontrada no estudo de McFarland (2011). Neste mesmo trabalho, foi também encontrada uma relação
positiva entre as atitudes e a quantidade de tempo que crianças permaneciam em atividades ao ar livre
(MCFARLAND; ZAJICEK; WALLCZEK, 2014). Embora a presente pesquisa não tenha realizado
esse teste, os resultados para as escalas originais identificaram que ambas as variáveis atitudinais são
preditoras de comportamentos de uso de espaços abertos por crianças. Sugere-se que as escalas adap-
tadas para o contexto brasileiro sejam também testadas em relação a esse aspecto.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A estrutura interna identificada nas escalas em estudo correspondeu às expectativas teóricas e
empíricas encontradas na literatura e as análises de consistência interna entre os itens em contexto
brasileiro revelaram-se satisfatórios, o que constitui indício de confiabilidade dos instrumentos. A
correlação positiva, moderada e estatisticamente significativa entre as duas escalas investigadas
sugere uma predisposição dos pais que gostam de estar na natureza para motivar o uso dos espaços
abertos com natureza pelos seus filhos. Os resultados encontrados indicam que os instrumentos aqui
estudados podem vir a oferecer, futuramente, evidências de validade pela correlação com testes que
avaliam construtos relacionados (validade de construto). Apesar dos resultados promitentes, a pesquisa
apresenta limitações no que diz respeito à representatividade da amostra. Parece-nos útil a obtenção
de ulteriores evidências de fidedignidade e validade dos instrumentos para o contexto estudado, se
possível, em amostras alargadas, tanto do ponto de vista numérico, como no que diz respeito ao perfil
dos participantes.
A literatura tem consistentemente demonstrado o quanto as crianças podem se beneficiar do
contato com a natureza, nas esferas da saúde e do desenvolvimento físico, motor, cognitivo, afetivo e
social. Não obstante, é necessário considerar que a relação estabelecida por meninos e meninas com
os espaços verdes de lazer é frequentemente mediada por seus genitores, que orientam o próprio com-
portamento em função de experiências, percepções e, consequentemente, crenças e atitudes. Como
um fator preditivo de comportamentos, a atitude parental para com a natureza e a criança na natureza
sugere indícios de como a relação familiar com espaços abertos pode estar ocorrendo e, principalmente,
antecipa potenciais modos de interação. Isso é de particular importância para o desenvolvimento
de ações coletivas e políticas públicas voltadas à resolução de problemas e a promoção do vínculo
criança-natureza. Finalmente, até o nosso conhecimento, não existem disponíveis para o contexto
brasileiro outros instrumentos de medição da atitude parental aqui discutida. Espera-se, assim, que
o presente estudo possa ter contribuído nesse sentido, colaborando para investigações dedicadas ao
conhecimento do tema no país.
16

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN
REFERÊNCIAS
AARTS, M.-J. et al. Outdoor play among children in relation to neighborhood characteristics: a cross sectional neigh-
borhood observation study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, v. 9, n. 98, p. 3-11,
2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/1479-5868-9-98>. Acesso em: 8 março de 2019.
ÄNGGARD, E. Making use of “nature” in an outdoor preschool: classroom, home and fairyland. Children, Youth and
Environments, v. 20, n. 1, p. 4-25, 2010. Disponível em: <http://www.buv.su.se/polopoly_fs/1.120149.1358777081!/
menu/standard/file/CYE%20Making%20use%20of%20nature.pdf>. Acesso em: 8 de março 2019.
AZIS, F.; SAID, I. The trends and influential factors of children’s use of outdoor environments: a review. Asian
Journal of Environment-Behavior Studies, v. 2, n.5, p. 67-80, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.sb-
spro.2012.03.341>. Acesso em: 8 de março 2019.
BERMAN, M. G.; JONIDES, J.; KAPLAN, S. The cognitive benefits of interacting with nature. Psychological Science,
v. 19, n. 12, p. 1207-1212, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02225.x>. Acesso em: 8 de
março 2019.
BERTO, R. Exposure to restorative environments helps restore attention capacity. Journal of Environmental Psychol-
ogy, v. 25, n. 3, p. 249-259, 2005. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvp.2005.07.001>. Acesso em: 8 de
março 2019.
CEVHER-KALBURAN, N.; IVRENDI, A. Risky Play and Parenting Styles. Journal of Child and Family Studies, v.
25, n.2, 2016, p. 355-366. Disponível em: <http://dx.doi.org/doi:10.1007/s10826-015-0236-1>. Acesso em: 8 de março
2019.
CLEMENTS, R. An investigation of the status of outdoor play. Contemp. Issues Early Child, 5, p.68-80. 2004. Dispo-
nível em: <http://dx.doi.org/10.2304/ciec.2004.5.1.10>. Acesso em: 8 de março 2019.
CZALCZYNSKA-PODOLSKA, M. The impact of playground spatial features on children’s play and activity forms: an
evaluation of contemporary playgrounds’ play and social value. Journal of Environmental Psychology, v. 38, n. 0, p.
132-142, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2014.01.006>. Acesso em: 8 de março 2019.
FONSÊCA, P, N da; et al. Hábitos de estudo e estilos parentais: estudo correlacional. Revista Quadrimestral da
Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP. v. 18, n.2, p. 337-345, 2014. Disponível em: <http://
dx.doi.org/10.1590/ 2175-3539/2014/0182755>. Acesso em: 26 de maio de 2020.
FJØRTOFT, I.; SAGEIE, J. The natural environment as a playground for children: landscape description and analyses
of a natural landscape. Landscape and Urban Planning, v. 48, n. 1-2, p. 83-97, 2000. Disponível em: <https://doi.
org/10.1016/S0169-2046(00)00045-1>. Acesso em: 8 de março 2019.
FJØRTOFT, I. Landscape as playscape: the effects of natural environments on children’s play and motor develop-
ment. Children, Youth and Environments, v. 14, n. 2, p. 21-44, 2004. Disponível em: <http://www.jstor.org/discov-
er/10.7721/chilyoutenvi.14.2.0021>. Acesso em: 8 de março 2019.
FYHRI, A.; HJORTHOL, R. Children’s independent mobility to school, friends and leisure activities. Journal of
Transport Geography, v. 17, n. 5, p. 377-384, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2008.10.010>.
Acesso em: 8 de março 2019.
GIELEN, A. C. et al. Child pedestrians: the role of parental beliefs and practices in promoting safe walking in urban
neighborhoods. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, v. 81, n. 4, p. 455-555,
2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/jurban/jth139>. Acesso em: 8 de março 2019.
GONZÁLES, R; BAKKER, L.; RUBIALES, J. Estilos Parentales em niños y niñas com TDHA. Revista Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales. Niñez y Juventud, v. 12, n.1, 141-158, Disponível em:<http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/
v12n1/v12n1a08.pdf>. Acesso em: 26 de maio de 2020.
GRESSLER, S. C.; GÜNTHER, I., A. Ambientes restauradores: definição, histórico, abordagens e pesquisas. Estudos
17

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN
de Psicologia, v. 18, n. 3, p. 487-495, 2013. Disponível em:<http://dx.doi.org/10.1590/S1413-294X2013000300009>.
Acesso em: 8 de março 2019.
GUNDERSEN, V. et al. Children and nearby nature: A nationwide parental survey from Norway. Urban Forestry &
Urban Greening, v. 17, p. 116-125, 2016. Disponível em:<http://dx.doi.org/10.1016/j.ufug.2016.04.002>. Acesso em:
8 de março 2019.
HARTIG, T. Issues in restorative environment research: matters of measurement. In: Fernández-Ramírez, B.; Villodres,
C. H.; Ferrer, C. M. S., Méndez, M. J. M. (Eds.). Psicologia Ambiental 2011: entre los studios urbanos y el análisis de
la sostentenibilidad. Almería: Universidad de Almería y Associación de Psicologia Ambiental, 2011, p. 41-66. Dispo-
nível em:<http://repositorio.ual.es:8080/bitstream/handle/10835/1001/Psicologiaambiental2011.pdf?sequence=1&i-
sAllowed=y#page=59>. Acesso em: 8 de março 2019.
HARTIG, T.; STAATS, H. The need for psychological restoration as a determinant of environmental preferences.
Journal of Environmental Psychology, v. 26, p. 215-226, 2006. Disponível em:<http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.jen-
vp.2006.07.007>. Acesso em: 8 de março 2019.
KALISH, M. et al. Outdoor play: A survey of parent’s perceptions of their child’s safety. Journal of Trauma and
Acute Care Surgery, v. 69, n. 4, p. S218-S222. 2010. Disponível em < http://www.jstor.org/doi: 10.1097/TA.0b013e-
3181f1eaf0>. Acesso em: 8 de março 2019.
KAPLAN, R. The restorative benefits of nature: toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychol-
ogy, v. 15, n. 3, p. 169-18, 1995. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/0272-4944(95)90001-2>. Acesso em: 8 de
março 2019.
KARSTEN, L. It all used to be better? Different generations on continuity and change in urban chil-
dren’s daily use of space. Children’s Geographies, v. 3, p. 275–290, 2005. Disponível em: <https://doi.
org/10.1080/14733280500352912>. Acesso em: 8 de março 2019.
KORPELA, K.; HARTIG, T. Restorative qualities of favorite places. Journal of Environmental Psychology, v. 16, n.
3, p. 221-233, 1996. Disponível em: <https://doi.org/10.1006/jevp.1996.0018>. Acesso em: 8 de março 2019.
KORPELA, K. Place identity as a product of environmental self-regulation. Journal of Environmental Psychology, v.
9, n. 3, p. 241-256, 1989. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/S0272-4944(89)80038-6>. Acesso em: 8 de março
2019.
KORPELA, K.; KYTTÄ, M.; HARTIG, T. Restorative experience, self-regulation, and children’s place preferenc-
es. Journal of Environmental Psychology, v. 22, n. 4, p 387-398, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1006/
jevp.2002.0277>. Acesso em: 8 de março 2019.
KUH, L. P.; PONTE, I.; CHAU, C. The impact of a natural playscape installation on young children’s play behaviors.
Children, Youth and Environments, v. 23, n. 2, p. 49-77, 2013. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/10.7721/
chilyoutenvi.23.2.0049>. Acesso em: 8 de março 2019.
KYLIN, M. Children’s dens. Children, Youth and Environments, v. 13, n.1, p. 1-20, 2003. Disponível em <https://
www.jstor.org/stable/10.7721/chilyoutenvi.13.1.0030>.Acesso em: 8 de março 2019.
LARSON, L. R.; WHITING, J. W.; GREEN, G. T. Young people’s outdoor recreation and state park use: perceived ben-
efits from the parent/guardian perspective. Children, Youth and Environments, v. 23, n.3, p. 89-118, 2013. Disponível
em: <https://doi.org/doi: 10.7721/chilyoutenvi.23.3.0089>. Acesso em: 8 de março 2019.
LITTLE, H. Relationship between parents’ beliefs and their responses to children’s risk-taking behavior during
outdoor play. Journal of Early Childhood Research, v. 8, n.3, p. 315-330, 2010. Disponível em: <https://doi.
org/10.1177/1476718X10368587>. Acesso em: 8 de março 2019.
LITTLE, H.; WYVER, S.; GIBSON, F. The influence of play context and adult attitudes on young children’s physical
risktaking during outdoor play. European Early Childhood Education Research Journal, v. 19, n.1, p. 113-131,
2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/1350293X.2011.548959>. Acesso em: 8 de março 2019.
18

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN
LUZ, G. M.; RAYMUNDO, L. S.; KUHNEN, A. Uso dos espaços urbanos pelas crianças: uma revisão. Psicologia:
Teoria e Prática, v. 12, n. 3, p. 172-184, 2010. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S151636872010000300014>. Acesso em: 8 de março 2019.
MACHADO, Y. S. et al. Brincadeiras infantis e natureza: investigação da interação criança-natureza em parques verdes
urbanos. Temas em Psicologia, 24, v.2, p. 669–680, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.9788/TP2016.2-14>.
Acesso em: 8 de março 2019.
MALONE, K.; TRANTER, P. Children’s environmental learning and the use, design and management of school-
grounds. Children, Youth and Environments, v. 13, n. 2, p. 1-45, 2003. Disponível em: <http://www.jstor.org/discov-
er/10.7721/chilyoutenvi.13.2.0087>. Acesso em: 8 de março 2019.
MCFARLAND, A. L. Growing minds: the relationship between parental attitude about nature and the development
of fine and gross motor skills in children. 2011. 127f. Tese (Doutorado em Horticultura)—Programa de Pós-Gradua-
ção em Horticultura, Texas A & M University, Texas. 2011. Disponível em: <http://hdl.handle.net /1969.1/ETD-TA-
MU-2011-05-9067>. Acesso em 8 de março 2019.
MCFARLAND, A. L. et al. Growing minds: the development of an instrument to measure parental attitude toward na-
ture and their child’s outdoor recreation. Hortechnology, v. 21, n. 2, p. 225-229, 2011. Disponível em: <http://horttech.
ashspublications.org/content/21/2/225.full.pdf+html>. Acesso em: 8 de março 2019.
MCFARLAND, A. L.; ZAJICEK, J. M.; WALLCZEK, T. M. The relationship between parental attitudes toward nature
and the amount of time children spend in outdoor recreation. Journal of Leisure Research, v. 46, n. 5, p. 525, 2014.
Disponível em: <doi.org/10.1080/00222216.2014.11950341> Acesso em: 8 de março 2019.
NEIVA, E. R.; MAURO, T. G. Atitudes e mudança de atitude. In: Torres, C. V. & Neiva, E. R. (Orgs), Psicologia so-
cial: principais temas e vertentes. São Paulo: Artmed, p. 169-201, 2011.
NORONHA, A. P. P.; BATISTA, H. H. V. Escala de forças e estilos parentais: Estudo correlacional. Estudos Interdis-
ciplinares em Psicologia, v. 8, n. 2, p. 02-19, 2017. Disponível em: < https://doi: 10.5433/2236-6407.2016v8n2p02>.
Acesso em: 26 de maio de 2020.
PERES, P. M. S. Mediação dos pais na interação criança-natureza. 2018. 258f. Tese (Doutorado em Psicologia) –
Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.
PERES, P. M. S.; FELIPPE, M. L.; KUHNEN, A. Percepção parental das barreiras para o contato da criança com a
natureza. Revista Faz Ciência, v. 21, n. 33, p. 46-60, 2019. Disponível em: <http://e-revista.unioeste.br/index.php/faz-
ciencia/article/view/23087/15504>. Acesso em: 26 de maio de 2020.
PREZZA, M. et al. Parental perception of social risk and of positive potentiality of outdoor autonomy for children: the
development of two instruments. Journal of Environmental Psychology, v. 25, n. 4, v. 437-453, 2005. Disponível em:
<https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2006.04.003>. Acesso em: 8 de março 2019.
RAYMUNDO, L. S.; KUHNEN, A.; SOARES, L. B. O espaço aberto da educação infantil: Lugar para brincar e
desenvolver-se. Psicologia Em Revista, v. 16, p. 251–270, 2010. Disponível em: <https://doi.org/doi: 10.5752/P.
1678-9563.2010v16n2p251>. Acesso em: 8 de março 2019.
REMMERS, T.; BROEREN, S. M.; RENDERS, C. M.; HIRASING, R. A. A longitudinal study of children’s outside
play using family environment and perceived physical environment as predictors. International Journal of Behavioral
Nutrition and Physical Activity, v. 11, n.1, p. 11-76, 2014. Disponível em: <https://doi.org/doi: 10.1186/1479-5868-
11-76>. Acesso em: 26 de maio de 2020.
SAID, I. Evaluating affordances of streams and rivers pertaining to children’s functioning in natural environments.
Journal of King Saud University—Architecture and Planning Division, v. 20, 2008
Disponível em <https://cap.ksu.edu.sa/sites/cap.ksu.edu.sa/files/imce_images/jap_k su_jul2008_e2.pdf>. Acesso em: 26
de maio de 2020.
19

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN
SAMBORSKI, S. Biodiverse or barren school grounds: Their effects on children. Children, Youth and Environments, v.
20, n.2, p. 67–115. 2010. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/10.7721/chilyoutenvi.20.2.0067>. Acesso em: 8
de março de 2019.
SARGISSON, R. J.; MCLEAN, I. G. Children’s use of nature in New Zealand playgrounds. Children, Youth and
Environments, v. 22, n. 2, p. 144-163. 2012. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/10.7721/chilyouten-
vi.22.2.0144>. Acesso em: 8 de março 2019.
SCHÄFFER, S. D. & KISTEMANN, T. Reconceptualizing school design: learning environments for children and
youth. Children, Youth and Environments, v. 22, n. 1, p. 270-279, 2012. Disponível em: <http://doi:10.7721/chilyou-
tenvi.22.1.0011>. Acesso em: 26 de maio de 2020.
SCHUBERT-PERES, P. M. S. et al. A. Parents’ perceptions of affordances for children in nature. Psyecology: Bi-
lingual Journal of Environmental Psychology, v. 8, n.2, p. 1-13, 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/doi:
10.1080/21711976.2017.1291185>. Acesso em: 8 de março 2019.
SKAR, M., KROGH. E. Changes in children’s nature-based experiences near home: from spontaneous play to
adult-controlled, planned and organized Activities. Children’s Geographies, v. 7, p. 339–354. 2009. Disponível em:
<http://dx.doi.org/doi:10.1080/14733280903024506>. Acesso em: 26 de maio de 2020.
SOORI, H.; BHOPAL, R. S. Parental permission for children’s independent outdoor activities. European Journal of
Public Health, v. 12, n. 2, p. 104-109, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/eurpub/12.2.104>. Acesso em: 8
de março 2019.
TAYLOR, A. F.; KUO, F. E.; SULLIVAN, W. C. Coping with AD: the surprising connection to green play settings.
Environment & Behavior, v. 33, n. 1, p. 54-77, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/00139160121972864>.
Acesso em: 8 de março 2019.
TIMPERIO, A. et al. J. Perceptions about the local neighborhood and walking and cycling among children. Preventi-
ve Medicine, v. 38, n.1, p. 39-47, 2004. Disponível em: <https://doi:10.1016/j.ypmed.2003.09.026>. Acesso em: 8 de
março 2019.
ULRICH, R.S. et al. Stress recovery during exposure to natural and urban environments. Journal of Environmental
Psychology, v. 11, n. 3, p. 201-230, 1991. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80184-7>. Acesso
em: 8 de março 2019.
UNITED NATIONS CHILDREN´S FUND (UNICEF). Situação mundial da infância 2012: crianças em um mundo
urbano. Nova York: UNICEF. (2012). Disponível em: <https://www.unicef.org/sowc2012/>. Acesso em: 8 de março
2019.
VALENTINE, G.; MCKENDRICK, J. Children’s outdoor play: exploring parental concerns about children’s safety and
the changing nature of childhood. Geoforum, v. 28, n. 2, p. 219-235, 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/
S0016-7185(97)00010-9>. Acesso em: 8 de março 2019.
VAN DEN BERG, A. E.; KOOLE, S. L.; VEN DER WULP, N. Y. Environmental preference and restoration: (how)
are they related? Journal of Environmental Psychology, v. 23, n. 2, p. 135-146, 2003. Disponível em: <http://dx.doi.
org/10.1016/S0272-4944(02)00111-1>. Acesso em: 8 março de 2019.
VEITCH, J. et al. Where do children usually play? A qualitative study of parents’ perceptions of influences on children’s
active free-play. Health & Place, v. 12, n. 4, p. 383-393, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.healthpla-
ce.2005.02.009>. Acesso em: 8 de março 2019.
WITTEN, K.; KEARNS R.; CARROLL P. New Zealand parents’ understandings of the inter- generational decline in
children’s independent outdoor play and active travel. Children’sGeographies, v. 11, n. 2, p. 215-229, 2013. Disponí-
vel em: <http://dx.doi.org/10.1080/14733285.2013.779839>. Acesso em: 8 março de 2019.
20

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN
Histórico
Contribuição
Recebido em: 21/08/2019
Revisado em: 06/03/2020
Aceito em: 27/05/2020
Concepção: PMSP; AK
Coleta de dados: PMSP
Análise de dados: PMSP; MLF
Elaboração do manuscrito: PMSP; MLF
Revisões críticas de conteúdo intelectual importante: AK
Aprovação final do manuscrito: AK
Financiamento
Não houve financiamento
Aprovação, ética e Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade
consentimento
21
