
UFRRJ
INSTITUTO DE AGRONOMIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
EDUCAÇÃO AGRÍCOLA
DISSERTAÇÃO
DE PROFESSOR PARA PROFESSOR
A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA SALA DE AULA
SILVIA HELENA LOLI BEZERRA
2010

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE AGRONOMIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO AGRÍCOLA
DE PROFESSOR PARA PROFESSOR
A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA SALA DE AULA
SILVIA HELENA LOLI BEZERRA
Sob a Orientação da Professora
Nedda Garcia Rosa Mizuguchi
e Co-orientação da Professora
Ana Maria Dantas Soares
Dissertação submetida como requisito
parcial para obtenção do grau de Mestre
em Ciências, no Programa de Pós-
Graduação em Educação Agrícola, Área
de Concentração em Educação Agrícola.
Seropédica, RJ
Setembro de 2010
2
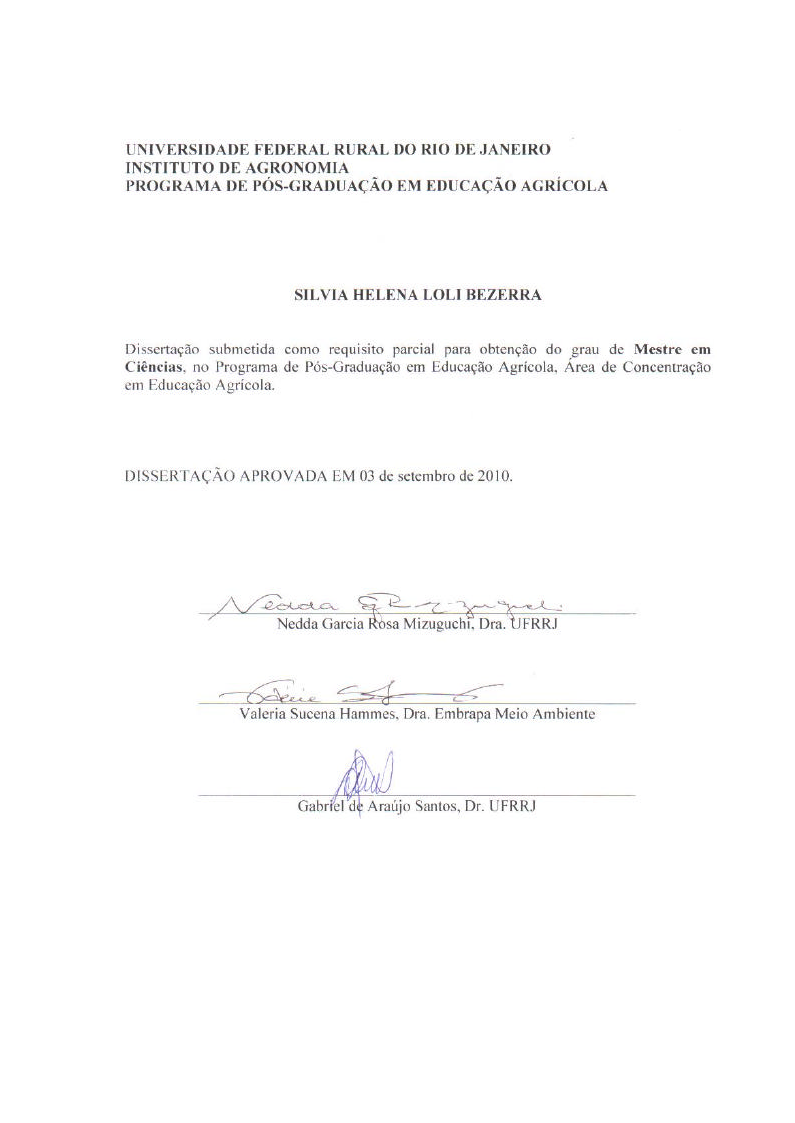
3
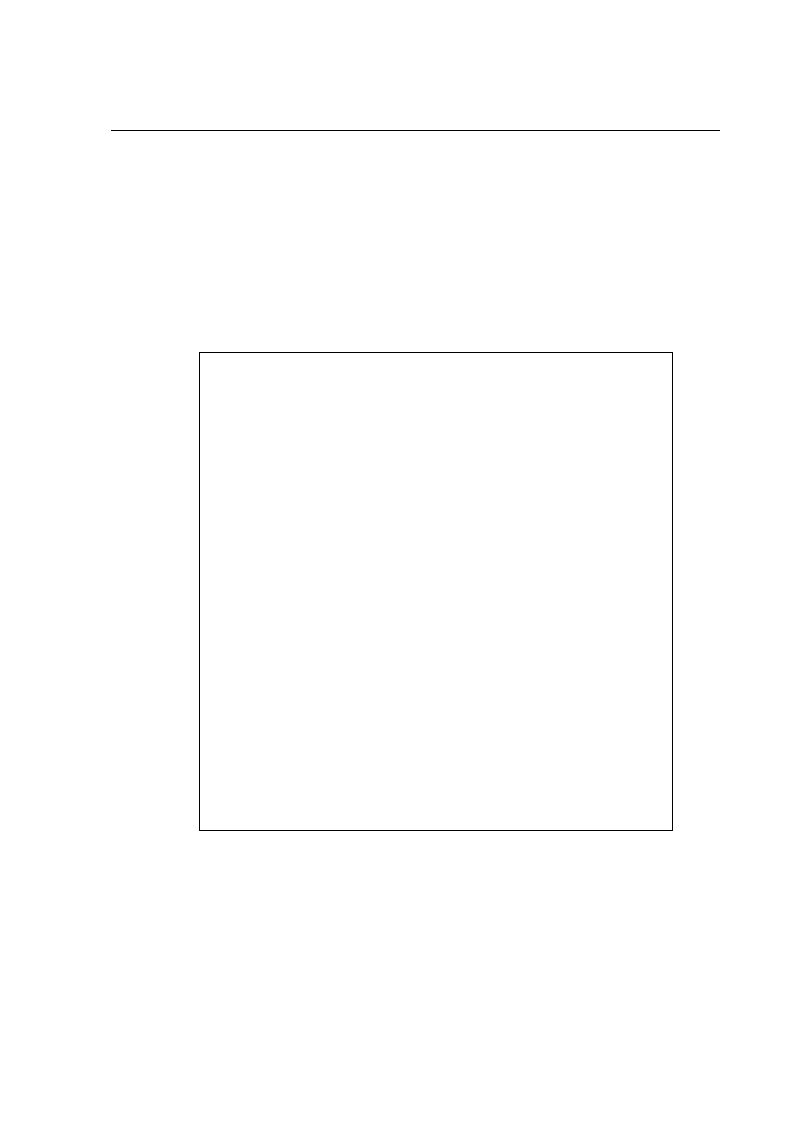
UFRRJ / Biblioteca Central / Divisão de Processamentos Técnicos
304.2
B574d
T
Bezerra, Silvia Helena Loli, 1970-.
De professor para professor: a
prática da educação ambiental na
sala de aula / Silvia Helena Loli
Bezerra – 2010.
101 f.: il.
Orientador: Nedda Garcia Rosa Mizuguchi.
Dissertação
(mestrado)
–
Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro, Programa de Pós-
Graduação em Educação Agrícola.
Bibliografia: f. 93-98.
1. Educação ambiental – Estudo e
ensino - Teses. 2. Currículos -
Planejamento
-
Teses.
3.
Planejamento educacional – Teses. I.
Mizuguchi, Nedda Garcia Rosa, 1960-.
II. Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro. Programa de Pós-
Graduação em Educação Agrícola.
III. Título.
4

AGRADECIMENTOS
A minha orientadora Professora Nedda Garcia Rosa Mizuguchi e co-orientadora Ana
Maria Dantas Soares, pela atenção, dedicação e valiosas contribuições deste trabalho;
A todos os meus familiares e amigos pelo apoio e incentivo;
Aos professores Gabriel de Araújo Santos e Sandra Barros Sanchez que abriram as
portas do conhecimento e aperfeiçoamento para os professores deste país;
Aos professores do PPGEA e toda equipe administrativa: Marize, Nilson, Cris, Luís e
Léo, pessoas especiais que passam e ficam marcados em nossas vidas;
Aos colegas da Turma 2-2008, que deixaram muitas saudades;
Aos alunos, professores e funcionários do CTUR, pois sem eles não seria possível a
realização deste trabalho;
A Pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente, Valéria Sucena Hammes, que se
disponibilizou a estar presente na apresentação desta dissertação e por sua batalha em pró da
Educação Ambiental.
A Decana de Pós-Graduação Profa. Áurea Echevarria Aznar Neves Lima, pela
amizade e carinho;
A CAPES que apoiou financeiramente este trabalho;
Aos meus pais que, impossibilitados de estaram presentes ao meu lado nesta valiosa
jornada, sempre caminharam comigo no meu coração, a eles dedico cada momento especial,
principalmente este, pois estariam muito orgulhosos de mais uma etapa vencida.
A todos e todas, que de uma forma ou outra, contribuíram para este trabalho;
Meu muito obrigado.
.
5

RESUMO
BEZERRA, Silvia Helena Loli. De Professor para Professor: A Prática da Educação
Ambiental na Sala de Aula. 2010. 100p. Dissertação (Mestrado em Educação Agrícola).
Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2010.
O trabalho teve por objetivo investigar a contribuição de práticas de Educação Ambiental
(EA), no projeto pedagógico do Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro (CTUR). Inicialmente, foi feito um estudo exploratório com os alunos do terceiro ano
do Ensino Médio em Agropecuária Orgânica e uma parte dos funcionários da escola,
utilizando-se, como elementos de motivação, vídeos de curta duração, visita pelas instalações
do colégio para observação de um problema ambiental específico - o lixo comum, e visita
guiada ao depósito de lixo da cidade de Seropédica. Após essas atividades, foi feito um
levantamento da percepção ambiental dos participantes, mediante manifestações livres por
meio da elaboração de relatórios do que foi visto e discutido nas atividades, seguido de uma
exposição de idéias, com apresentação de soluções possíveis para o problema do lixo escolar.
À continuação, foi aplicado um questionário semiestruturado com questões abertas, nas quais
o entrevistado manifestou-se livremente por escrito sobre o tema proposto, e com questões
fechadas pré-formuladas, mediante as quais assinalava respostas que melhor representavam
sua opinião. Responderam ao questionário 65 entrevistados, entre estudantes e funcionários.
Os questionários foram analisados estatisticamente por dispersão e pelos resultados,
observou-se que os argumentos dos entrevis tados foram tipicamente cartesianos. Essa visão
reducionista limita a capacidade de enxergar o problema de uma forma sistêmica, pois são
argumentos que apresentam uma concepção mecanicista do universo, cujas leis, de acordo
com essa concepção, poderiam em tese, ser aprendidas objetivamente mediante
procedimentos científicos. Essas estruturas de pensamento não são exclusivas dos
entrevistados, sobretudo dos estudantes. Elas foram certamente consolidadas no convívio
familiar, nas relações de vizinhança e nos demais grupos de relacionamento, inclusive na
escola. Dentro desta perspectiva, entende-se que à EA cabe a tarefa de desarmar essas
estruturas de pensamento que percebem a relação homem/natureza dentro de uma mecânica
binária na lógica formal e racionalista. Esta pesquisa serviu-se de uma população especial
que pode ser considerada representativa da elite discente do país. Portanto, não se tratam de
conclusões generalizadas sobre o conjunto da população brasileira. Se essa premissa é
verdadeira, a constatação é de que a situação é preocupante, pois a grande maioria dos
brasileiros seguramente encontra-se em condições instrucionais menos privilegiadas do que os
participantes dessa pesquisa, sustentando o argumento de que os resultados obtidos são
representativos e espelham a realidade brasileira, o que subsidiaria a premência na
implementação da EA no currículo das escolas de todo o país. A análise dos resultados
obtidos na pesquisa permitiu uma interpretação e um diagnóstico mais preciso e
pormenorizado do quadro da EA nos seus mais variados aspectos no âmbito do CTUR. Como
resultado, puderam-se identificar equívocos e falhas, decorrente principalmente de uma
abordagem superficial da EA na instituição. Foi dado um conjunto de sugestões, de caráter
epistemológico, para auxiliar no Projeto Político Pedagógico da instituição e na
implementação efetiva da EA, entendendo que a tarefa do professor é, não só complementar
essa sugestão, como também encontrar respostas às provocações que o tema evoca e, assim,
propor formas alternativas de pensamento e de atuação.
Palavras chave: Percepção ambiental, currículo, projeto pedagógico.
6

ABSTRACT
BEZERRA, Silvia Helena Loli. From teacher to Teacher: The practice of environmental
education in the classroom. 2010. 100 p. Dissertation (Master in Agricultural Education).
Institute of Agronomy, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, RJ, Seropédica, 2010.
The purpose of this research was to investigate the contribution of environmental education
practices (EE), on the educational project of the Technical College of Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro (CTUR). Initially, an exploratory study was done with students of the
Organic Farming high school and some school staff, using short videos, visits to the College's
campus to observe the school´s garbage, and a guided tour on the city's garbage deposit as
elements of motivation. After these activities, a survey was done of the participants’
environmental awareness, through free demonstrations via reports about what was seen and
discussed in these activities, followed by a brainstorming with presentation of possible
solutions to the school problems. Further, a semistructurade questionnaire was applied with
open questions, in which the interviewee had freedom to write about the proposed issue, and
pre-formulated closed questions, whereby highlighted the best answers which represented
their opinion. 65 students and members of staff filled questionnaire up. The questionnaires
were analyzed statistically by dispersion and by the results, it was noted that the arguments of
the interviewers were typically Cartesian. This reductive vision limits their ability to see the
problem in a systemic way, because they are arguments that show a mechanistic design of the
universe, whose laws, according to this conception, could be in theory, objectively learned
through scientific procedures. These structures of thought are not exclusive of interviewees,
particularly among students. They were certainly consolidated in family conviviality,
neighborhood relationship and in other groups of relationship, including the school. Within
this perspective, it is understood that EE has the purpose to disarm these structures of thought
that perceive the relationship man/nature within a binary mechanics in formal logic and
rationalist. This research used a special population that can be considered as been
representative of the student elite of the country. So, they are not generalized conclusions
about the set of the Brazilian population. If this premise is true, this finding is that the
situation is worrying since the vast majority of Brazilians surely has an instructional level
lower than the interviewees in this research, supporting the argument that the results obtained
are representative and mirror the Brazilian reality, what sustain the urgency of to implement
EE in the school’s curriculum across the country. The analysis of the results obtained in this
research allowed an interpretation and a more precise and detailed diagnosis of the EE
framework in its most varied aspects under CTUR. As a result, could be identified
misconceptions and faults, resulted primarily from a shallow approach of the EE at the
institution. Was given a set of epistemological suggestions, to assist to the institution's
Pedagogical Political Project and to the effective implementation of EE, understanding that
the teacher's target is not only complement this suggestion, but also find answers to the
questions that issue evokes and thus, propose alternative ways of thinking and acting.
Keywords: Environmental perception, curriculum, pedagogical project.
7

LISTA DE FIGURAS E TABELAS
Pag.
Tabela 1 Síntese das políticas públicas para Educação Ambiental
18
Figura 01 Modelo de Desenvolvimento vigente Imposto pelos Países Ricos
19
Figura 02 Modelo Sistêmico Vigente de Desenvolvimento e suas Consequências no
Contexto Socioambiental
20
Figura 03 Processo de Funcionamento da Educação Ambiental
23
Figura 04 Localização Política do CTUR
24
Figura 05 Localização Geográfica do CTUR às Margens da BR 465
25
Figura 06 Detalhe da Distribuição Física dos Prédios do CTUR
25
Figura 07 Fachada do Prédio Principal do CTUR
27
Figura 08 Exibição do filme ‘À História das Coisas”
28
Figura 09 Avaliando o lixo no Campus Escolar
29
Figura 10 Exposição de Idéias
30
Figura 11 Avaliando a capacidade de trabalho em grupo
31
Figura 12 Avaliando e discutindo as propostas elaboradas
32
Figura 13 Preenchimento do questionário por alunos e funcionários
33
Figura14 Aplicação dos questionários para a avaliação da percepção de problemas
ambientais
33
Figura 15 Visita guiada ao lixão de Seropédica - RJ
34
Figura 16 Os principais problemas do Planeta Terra sob a ótica dos alunos
36
Figura 17 Frequência relativa dos problemas do Planeta Terra por alunos
37
Figura 18 Os principais problemas do Planeta Terra sob a ótica das alunas
38
Figura 19 Frequência relativa dos problemas do Planeta Terra por alunas
38
Figura 20 Os principais problemas do Planeta Terra sob a ótica de alunos e alunas
39
Figura 21 Frequência relativa dos problemas do Planeta Terra por alunos e alunas
40
Figura 22 Os principais problemas do Planeta Terra sob a ótica dos funcionários
41
Figura 23 Frequência relativa dos problemas do Planeta Terra , apontada por
funcionários
42
Figura 24 Importância atribuída em geral aos problemas do Planeta Terra
43
Figura 25 Frequência de respostas atribuídas em geral do Planeta Terra
43
Figura 26 Os principais problemas brasileiros sob a ótica dos alunos
44
Figura 27 Frequência relativa das respostas atribuídas por alunos aos problemas
brasileiros
45
Figura 28 Os principais problemas brasileiros sob a ótica das alunas
46
Figura 29 Frequência relativa das respostas atribuídas por alunas aos
problemas brasileiros
47
Figura 30 Os princ ipais problemas brasileiros sob a ótica de alunos e alunas
48
Figura 31 Frequência relativa das respostas atribuídas por alunos e alunas aos
problemas brasileiros
48
Figura 32 Os principais problemas brasileiros sob a ótica dos funcionários
49
8

Figura 33 Frequência relativa das respostas atribuídas por funcionários aos
problemas brasileiros
50
Figura 34 Importância atribuída em geral aos problemas do Brasil
51
Figura 35 Frequência relativa de respostasatribuídas em geral aos problemas
brasileiros
51
Figura 36 Grau de interesse por questões ambientais
53
Figura 37 O embate entre as necessidades de preservar e de usar os recursos naturais
54
Figura 38 A difícil relação entre nível de desenvolvimento e sustentabilidade
55
Figura 39 Os fatores chave, segundo os alunos, para entender a Questão Ambiental
56
Figura 40 Os fatores chave, segundo as alunas, para entender a Questão Ambiental
57
Figura 41 Os fatores chave, segundo alunos e alunas, para entender a Questão
Ambiental
58
Figura 42 Os fatores chave, segundo os funcionários, para entender a Questão
Ambiental
59
Figura 43 Os fatores chave, segundo a ótica geral dos entrevistados, para entender a
Questão Ambiental
60
Figura 44 Frequência relativa geral dos fatores chave para entender as questões
ambientais
61
Figura 45 Subsídios para a EA: Projeto Político de transformação pessoal, assentado
em princípios ecológicos e no ideal de uma sociedade comunitária e não-opressiva
62
Figura 46 Subsídios para a EA: Estudo de múltiplos aspectos da relação entre os
homens e o meio ambiente e as ciências agrárias
63
Figura 47 Subsídios para a EA: Estudo do funcionamento dos sistemas (florestas,
mangues, oceanos, etc.) estando ligada ao campo da biologia e se valendo dos
elementos da física, da química, da geografia, das artes e da matemática
64
Figura 48 Subsídios para a EA: Percepção da destruição ambiental da ação voltada
para a luta em favor da conservação dos recursos naturais
65
Figura 49 Origem dos problemas ambientais: frequência relativa
66
Figura 50 Origem dos problemas ambientais: valores absolutos
68
Figura 51 O alvo dos problemas ambientais: frequência relativa
70
Figura 52 O alvo dos problemas ambientais: valores absolutos
71
9

Figura 53 Práticas humanas que se opõem à idéia de um mundo ecologicamente
73
equilibrado na visão do aluno
Figura 54 Práticas humanas que se opõem à idéia de um mundo ecologicamente
75
equilibrado na visão da aluna
Figura 55 Práticas humanas que se opõem à idéia de um mundo ecologicamente
76
equilibrado na visão de alunos e alunas
Figura 56 Práticas humanas que se opõem à idéia de um mundo ecologicamente
77
equilibrado na visão dos funcionários
Figura 57 Práticas humanas que se opõem à idéia de um mundo ecologicamente
78
equilibrado na visão geral
Figura 58 Frequência relativa geral das práticas humanas que se opõem à idéia de um 79
mundo ecologicamente equilibrado
Figura 59 A fonte de iniciativa de uma relação equilibrada com o meio ambiente
80
Figura 60 Principais fontes de informação dos alunos sobre o meio ambiente
83
Figura 61 Principais fontes de informação das alunas sobre o meio ambiente
85
Figura 62 Principais fontes de informação de alunos e alunas sobre o meio ambiente 86
Figura 63 Principais fontes de informação dos funcionários sobre o meio ambiente 87
Figura 64 Principais fontes de informação dos intrevistados em geral sobre o meio
88
ambiente
Figura 65 Frequência relativa das fontes de informção dos entrevistados em geral
65
sobre o meio ambiente
Tabela 2 Definição de estratégias propostas para o Plano de Ensino a ser
91
implementado
10

SUMÁRIO
Pag.
INTRODUÇÃO
01
2 OBJETIVOS
04
2.1 Objetivo Geral
04
2.2 Objetivo Específico
04
3 REVISÃO DE LITERATURA
05
3.1 Histórico da Educação Ambiental
05
3.2 Política/Educação Ambientale Globalização
16
3.3 Análise Sistêmica do Contexto Socioambiental
18
3.4 Evolução dos Conceitos de EA
21
3.5 A área de estudo: Breve histórico do CTUR e sua inserção no Município de
Seropédica
24
4 MATERIAL E MÉTODOS
27
4.1 Escolha do Público Alvo e da Área de Estudo
27
4.2 Metodologia
28
4.2.1 Abordagem motivacional e manifestação voluntária sobre os problemas
ambientais
28
4.2.2 Sistematização da percepção dos alunos quanto às questões ambientais
32
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
35
5.1 A Percepção Geral e Livre dos Alunos a Questão Ambiental
35
5.2 Avaliação Qualiquantitativa do Grau de Percepção sobre as Questões Ambientais
35
5.2.1 Importância Atribuída aos Problemas do Planeta Terra e do Brasil
36
5.2.1.1 Diagnóstico da percepção dos alunos sobre o Planeta Terra
36
5.2.1.2 Diagnóstico da percepção das alunas sobre o Planeta Terra
37
5.2.1.3 Diagnóstico da Percepção de alunos e alunas sobre o Planeta Terra
39
5.2.1.4 Diagnóstico da percepção de funcionários sobre o Planeta Terra
40
5.2.1.5 Diagnóstico da percepção geral (alunos e funcionários) sobre o Planeta Terra
42
5.2.1.6 Diagnóstico da percepção dos alunos sobre os problemas do Brasil
44
5.2.1.7 Diagnóstico da percepção das alunas sobre os problemas do Brasil
45
5.2.1.8 Diagnóstico da percepção de alunos e alunas sobre os problemas do Brasil
47
5.2.1.9 Diagnóstico da percepção de funcionários sobre os problemas do Brasil
49
5.2.1.10 Diagnóstico da percepção geral (alunos e funcionários) sobre os problemas do
Brasil
50
5.2.2 Importância Atribuída aos Problemas Ambientais
52
5.2.3 As Relações Intrínsecas entre Preservação e Uso da Natureza e suas Implicações
sobre a Harmonia entre Desenvolvimento e Sustentabilidade
53
5.2.4 Fatores Chave para Compreender a Questão Ambiental
55
5.2.4.1 Fatores chave para a questão ambiental sob a ótica dos alunos
55
11

5.2.4.2 Fatores chave para compreender a questão sob a ótica das alunas
56
5.2.4.3 Fatores chave para compreender a questão ambiental sob a ótica de alunos e
alunas
57
5.2.4.4 Fatores chave para compreender a questão ambiental sob a ótica dos
funcionários
58
5.2.4.5 fatores chave para compreender a questão ambiental sob a ótica geral dos
entrevistados
59
5.2.5 Elementos Subsidiários para a Educação Ambiental
61
5.2.6 Problemas Ambientais: Os Acoimados na Percepção de Testemunhas Oculares
65
5.2.7 Problemas Ambientais: A quem pertence o Passivo?
69
5.2.8 Práticas humanas que se opõem à idéia de um mundo ecologicamente
equilibrado
72
5.2.8.1 A percepção dos alunos sobre as práticas humanas e o equlíbrio ecológico
72
5.2.8.1 A percepção das alunas sobre as práticas humanas e o equlíbrio ecológico
75
5.2.8.3 A percepção de alunos e alunas sobre as práticas humanas e o equilíbrio
ecológico
75
5.2.8.4 A percepção dos funcionários sobre as práticas humanas e o equilíbrio
ecológico
76
5.2.8.5 A percepção geral sobre as práticas humanas e o equilíbrio ecológico
77
5.2.9 As iniciativas de uma relação mais equilibrada e menos egoísta com o meio
ambiente
79
5.2.10 A busca pela informação sobre as questões ambientais
82
5.2.10.1 As fontes de informação dos alunos
82
5.2.10.2 As fontes de informações das alunas
84
5.2.10.3 As fontes de informações do conjunto de alunos e alunas
85
5.2.10.4 As fontes de informações usuais dos funcionários
86
5.2.10.5 As fontes de informações dos entrevistados em geral
87
6 CONCLUSÕES
90
7 LITERATURA CONSULTADA
93
ANEXOS
99
Anexo A- Questionário
99
12

INTRODUÇÃO
A despeito da crescente conscientização em relação aos problemas ambientais, e dos
inegáveis esforços de muitos países para desenvolver os meios técnicos e institucionais para
lidar com eles, em geral, as ações desenvolvidas parecem ser insuficientes para neutralizar a
deterioração da qualidade do meio ambiente. Esses problemas resultam em grande parte, da
situação socioeconômica e dos padrões de comportamento inadequados. Assim, ao se
pretender mudanças nesse sentido, deve-se agir sobre os sistemas de conhecimento e valores
para que haja esperanças de encontrar soluções adequadas, permanentes e sustentáveis para os
problemas ambientais.
É incumbência da educação e da formação, como meio fundamental de integração e
de mudança social e cultural, conceber objetivos e empregar novos métodos capazes de tornar
os indivíduos mais conscientes, mais responsáveis e mais preparados para lidar com os
desafios de preservação da qualidade do meio ambiente e da vida, no contexto do
desenvolvimento sustentado para todos os povos. A compreensão da problemática ambiental
passa pela análise do processo de crescimento econômico e educacional, sendo este último
mediador entre os setores do contexto social.
O desenvolvimento sustentável prevê a Educação Ambiental como instrumento de
melhoria da qualidade de vida, a partir da formação de cidadãos conscientes de sua
participação local no contexto de conservação ambiental global. Pelos seus objetivos e
funções, a Educação Ambiental é necessariamente uma forma de prática educacional
sintonizada com a vida e com a sociedade. Ela é considerada um processo permanente pelo
qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem o
conhecimento, os valores, as habilidades, as experiências e a determinação que os tornam
aptos a agir, individual e coletivamente, na busca de resolver problemas ambientais presentes
e futuros. Oficialmente, a Educação Ambiental é definida pelo Ministério do Meio Ambiente
(MMA) como ¨... um processo permanente, no qual os indivíduos e a comunidade tomam
consciência do seu meio ambient e e adquirem conhecimentos, valores, habilidades,
experiências e determinação que os tornam aptos a agir – individual e coletivamente – e
resolver problemas ambientais presentes e futuros”. A EA foi institucionalizada no Brasil a
partir da Lei 6.938/81 onde foi criada a Política Nacional do Meio Ambiente; em 1989, outra
data importante, mediante a lei 7.797/89, foi criado o Fundo Nacional de Meio Ambiente e
em 1992 foi estabelecido o Ministério do Meio Ambiente.
No MEC a institucionalização deu-se a partir de 1991 pela Portaria 678, onde ficou
estabelecido que a Educação Ambiental deve permear os currículos dos diferentes níveis e
modalidades de ensino. Posteriormente, através da Portaria 2.421, foi criado o GT de EA para
participar da Rio-92; em 1997 foi lançado os Parâmetros Curriculares Nacionais e
complementado em 2001 com os Programas Parâmetros em Ação-Meio Ambiente na Escola
(MEC, 2009).
Estrategicamente as atividades de Educação Ambiental devem estar no centro do
Projeto Pedagógico, porquanto permitem aos alunos, oportunidades de desenvolver, na
sociedade, uma sensibilização a respeito dos seus problemas ambientais e buscar formas de
soluções, conduzindo pesquisas no ambiente escolar, relacionando fatores psicossociais e
históricos com fatores políticos, éticos e estéticos. Assim, será possível identificar e definir
problemas ambientais, coletar e organizar informações, gerar soluções alternativas,
desenvolver e gerar planos de ações. Mas, em que pese a necessidade da prática da Educação
Ambiental ser desenvolvida em todos os níveis de escolaridade, parece insofismável a

necessidade de maior ênfase dessa prática nas escolas agrícolas, em razão dos potenciais
impactos que essas atividades antropogênicas podem exercer sobre o meio ambiente. Soma-se
a isso a grande pressão que a sociedade internacional tem exercido sobre os países em
desenvolvimento no que tange à expansão das fronteiras agrícolas, exigindo que medidas
sejam adotadas objetivando a minimização dos impactos ambientais dessa expansão.
O papel do professor deve ser o de facilitador da exploração do “metabolismo ” do
ambiente de seus alunos e dos processos transdisciplinares que acontecem nesse ambiente. A
aprendizagem será mais significativa se a atividade estiver adaptada concretamente às
situações da vida real da cidade, ou do meio, do aluno e do professor. Nessa abordagem
transdisciplinar é fundamental considerar os vários graus de contextualização que se fazem
presentes na interlocução educativa. Por isso não faz sentido o ensino que prioriza um único
significado para todos os seus participantes. A diversidade humana é um dado que se impõe
nas relações magistrais.
A ideia de trabalho com Educação Ambiental surgiu da própria experiência em sala
de aula, quando a autora lecionava Química na Rede Pública de Ensino do Estado de São
Paulo (Diretoria Centro Oeste da Capital) entre os anos de 2000 e 2003, considerando vários
aspectos relevantes do meio ambiente em que estava inserida a comunidade escolar. Dentre
esses aspectos, destacam-se os problemas de poluição do ar e sonora em razão das grandes
avenidas que marginavam o local, o problema de enchentes que ocorrem na Grande São Paulo
e problemas com coleta seletiva de lixo e limpeza das ruas, bem como a necessidade de
atender as exigências dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Basicamente o trabalho era
realizado paralelo ao conteúdo programático da disciplina de Química e compreendia a
identificação de problemas ambientais a investigar que estavam presentes na rotina dos
alunos. Através dos trabalhos com as turmas, era realizado o levantamento dos “Efeitos” no
Meio Ambiente, as hipóteses sobre as possíveis causas e as responsabilidades sobre os
problemas.
Os principais instrumentos utilizados para elaboração dos conteúdos teóricos e
práticos, de acordo com o levantamento dos problemas e seguindo os PCN´s, eram
constituídos de livros, revistas, jornais, fotos, filmes, consulta à internet, legislação,
entrevistas, estudos do meio, etc., que subsidiavam a elaboração de propostas e alternativas de
soluções, ações possíveis e de aplicabilidade, além da avaliação dos resultados alcançados e
conclusões. O trabalho expressava o entusiasmo dos professores e dos alunos, voltado para os
mesmos objetivos de ensino e aprendizagem, construção de noções e conceitos e aquisição de
habilidades e competências. Todos os envolvidos no processo se voltavam para os mesmos
interesses em participação, pesquisa e ação com propostas inovadoras. Foi importante, neste
trabalho, o apoio da equipe gestora da escola para que esta metodologia de trabalho
pedagógico desse certo, pois alunos e professores tiveram que circular pelos espaços
escolares, se ausentar da escola para visitas a locais de estudo, como , por exemplo, Estação
de Tratamento de Esgoto (ETE), o que permitiu maior dinamismo dos participantes, em razão
do fluxo dos agentes do processo. Os alunos realizaram trabalhos como Fontes Alternativas
de Energia, Utilização da Água pelo Ser Humano, Tratamento de Esgoto, Tratamento de Lixo
e outros tantos temas relacionados à EA.
O propósito do desenvolvimento desse trabalho no Colégio Técnico da Universidade
Rural foi verificar como a Educação Ambiental é inserida nos componentes curriculares dessa
escola, na medida em que ela não está presente como disciplina formal na grade curricular do
CTUR. Além disso, buscou-se avaliar o impacto que essa inserção teria no resgate de alguns
valores humanos, criando condições essenciais para a melhoria do meio ambiente e da vida.
Com o levantamento das informações a cerca da percepção da comunidade escolar no que diz
respeito às questões ambientais e diante da inexistência de disciplina específica para tratar o
2

tema, a ideia é permitir trabalhar as questões ambientais num contexto interdisciplinar e/ou de
forma paralela, mitigando as deficiências decorrentes desse lapso sobre o necessário
conhecimento e conscientização dos estudantes e de resto, de toda a comunidade escolar.
3

2 OBJETIVO
2.1 Objetivo Geral
Este trabalho teve por objetivo investigar o nível de percepção de problemas
ambientais por parte de alunos e funcionários do Colégio Técnico da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro (CTUR/UFRRJ).
2.2 Objetivos Específicos:
ü Investigar a inserção da Educação Ambiental no Projeto Pedagógico da instituição
escolhida;
ü Identificar a percepção de Educação Ambiental da comunidade escolar;
ü Testar e avaliar um plano de trabalho sobre Educação Ambiental;
ü Apresentar os resultados para a comunidade escolar.
4

3 REVISÃO DE LITERATURA
3.1 Histórico da Educação Ambiental
Apenas um ano após o contundente ensaio de Thomas Huxley sobre a
interdependência dos seres humanos com os demais seres vivos (Evidências sobre o lugar do
homem na natureza, 1863), o diplomata George Perkin Marsh publicava o livro O homem e a
natureza: ou geografia física modificada pela ação do homem, documentando como os
recursos do planeta estavam sendo esgotados e prevendo que tais ações não continuariam sem
exaurir a generosidade da natureza. Analisava as causas do declínio de civilizações antigas e
previa um destino semelhante para as civilizações modernas, caso não houvesse mudanças
(Kennedy 1993).
A preocupação com o ambiente, entretanto, restringia-se ainda a um pequeno
número de estudiosos e apreciadores da natureza-espiritualistas, naturalistas e outros. Nesse
período, o Brasil recebia a visita de ilustres naturalistas - Darwin Bates (inglês que recolheu e
levou oito mil espécimes de plantas e animais da Amazônia), Warning (dinamarquês que
conduziu os estudos do ambiente de cerrado em Lagoa Santa Minas Gerais)-, despertando a
atenção dos estudiosos para a exuberância dos recursos naturais brasileiros, tão apregoada
pelos colonizadores (Dias, 2000). Havia, entretanto, na época, uma excessiva preocupação
com aspectos meramente descritivos do mundo natural, destacando-se a botânica e a
zoomorfologia. As inter-relações eram pouco abordadas e a noção do todo ficava circunscrita
a análises filosóficas. Percebendo essa lacuna, o biólogo Ernst Haeckel, em 1896, propôs o
vocábulo "ecologia" para estudos de tais relações entre espécies e desses com o meio
ambiente.
O livro de Marsh suscita um movimento em prol da preservação, materializando a
criação do primeiro Parque Nacional do mundo - Yellowstone National Park, nos Estados
Unidos (1872). Enquanto isso, no Brasil, a Princesa Isabel autorizava a operação da primeira
empresa privada de corte de madeira (o ciclo econômico do pau-brasil encerrar-se-ia em
1875, com o abandono das matas exauridas, e, em 1920, o pau-brasil seria considerado
extinto), segundo Dias, 2000.
Patrick Geddes, escocês, considerado o "pai da Educação Ambiental", já expressava
sua preocupação com os efeitos da revolução industrial, iniciada em 1779, na Inglaterra, pelo
desencadeamento do processo de urbanização e suas consequências para o ambiente natural.
O intenso crescimento econômico do pós-guerra acelerara a urbanização, e os sintomas da
perda da qualidade ambiental começavam a aparecer em diversas partes do mundo (Hardin
1991). No Brasil, essa preocupação ainda não havia transposto o círculo restrito de poucos
intelectuais que cuidavam do assunto - a exemplo de André Rebouças, que propusera a
criação dos parques nacionais da ilha do Bananal e de Sete Quedas - e nem mesmo a então
recém-promulgada Constituição Brasileira de 1891 referia-se ao tema, apesar da forte pressão
extrativista dos europeus sobre nossos recursos naturais (Dias, 2000). Entretanto, nesse
mesmo ano, já se havia iniciado uma das práticas mais demagógicas utilizadas pelos políticos
brasileiros, no que tange à gestão ambiental, comuns até hoje: anunciar a criação de unidades
de conservação (parques nacionais, estações ecológicas, reservas biológicas, etc.) sem efetivá-
las posteriormente, ou seja, sem dar a estrutura para o seu funcionamento, deixando-as apenas
"no papel". Assim pelo Decreto 8.843 de 1891, criava-se a Reserva Florestal do Acre, com
5
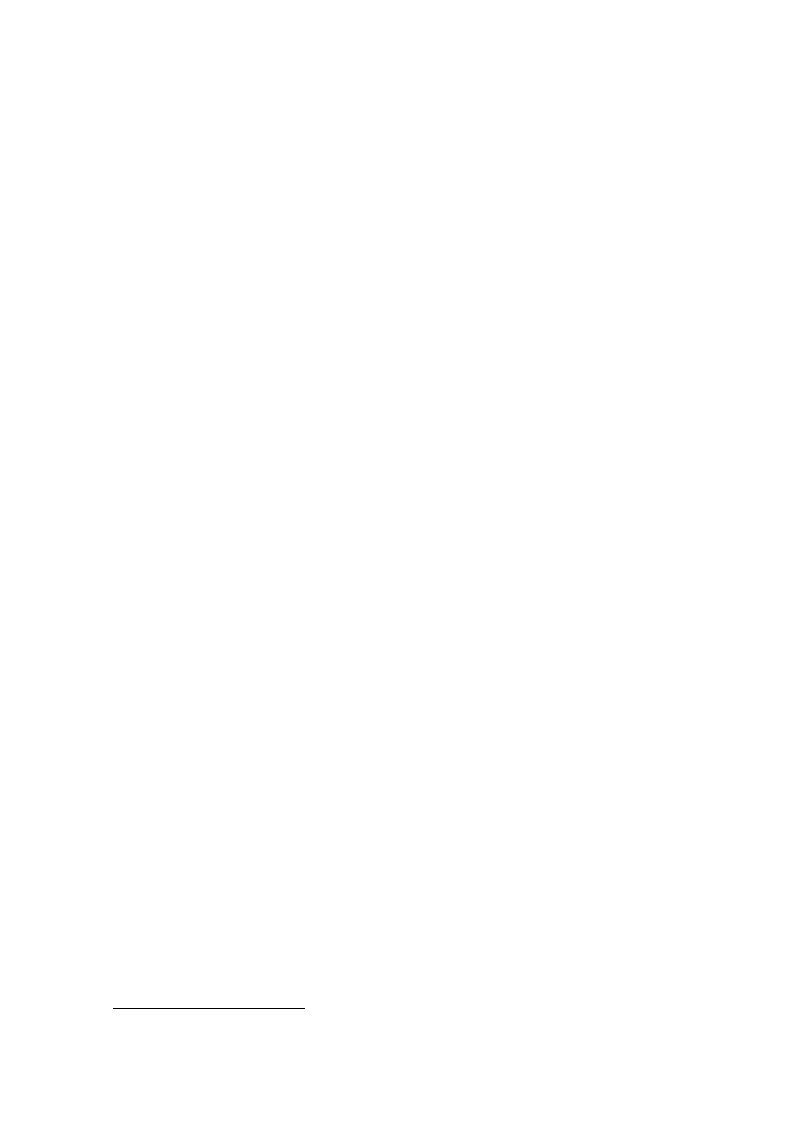
2,8 milhões de hectares, cuja implantação não ocorreu até os nossos dias, passando mais de
um século 1. Era o prenúncio de como seria tratada a questão ambiental em nosso país.
No início de 1945, a expressão "estudos ambientais" começava a ser utilizada por
profissionais de ensino na Grã-Bretanha e, quatro anos mais tarde, a temática ambiental
passaria a ocupar o County Sand Almanac, nos Estados Unidos, com os artigos de Aldo
Leopoldo sobre a ética da terra. O trabalho desse biólogo de Yowa é considerado a fonte mais
importante do moderno biocentrismo ou ética holística, tornando-o patrono do movimento
ambientalista (Goldim, 2006).
A primeira grande catástrofe ambiental - sintoma da inadequação do estilo de vida
do ser humano - viria a acontecer em 1952, quando o ar densamente poluído de Londres
(smog) provocaria a morte de 1.600 pessoas, desencadeando o processo de sensibilização
sobre qualidade ambiental na Inglaterra, e culminando com a aprovação da lei do Ar Puro
pelo parlamento na Inglaterra, em 1956. Esse fato desencadeou uma série de discussões em
outros países, catalisando o surgimento do ambientalismo nos Estados Unidos a partir de 1960
(Goldemberg & Barbosa, 1988). Ali ocorriam reformas no ensino de ciências, em que a
temática ambiental começaria a ser abordada, porém de forma reducionista. A promoção de
percepção dos efeitos globais, resultantes da ação local das atividades humanas, ainda era
incipiente e ficava reduzida a algumas advertências praticadas no meio acadêmico.
A década de 60 começava, exibindo ao mundo as consequências do modelo de
desenvolvimento econômico adotado pelos países ricos, traduzido em níveis crescentes de
poluição atmosférica nos grandes centros urbanos - Los Angeles, Nova Iorque, Berlim,
Chicago, Tóquio e Londres, principalmente -: em rios envenenados por dejetos industriais -
Tâmisa, Sena, Danúbio, Mississipi e outros -: em perda da cobertura vegetal da terra,
ocasionando erosão, perda da fertilidade do solo, assoreamento dos rios, inundações e
pressões crescentes sobre a biodiversidade (Pereira, 2006). Os recursos hídricos, sustentáculo
e derrocada de muitas civilizações, estavam sendo comprometidos a uma velocidade sem
precedentes na história humana. A imprensa mundial registrava essa situação, em manchetes
dramáticas.
Descrevendo minuciosamente esse panorama e enfatizando o descuido e
irresponsabilidade com que os setores produtivos espoliavam a natureza, sem nenhum tipo de
preocupação com as consequências de suas atividades, a jornalista americana Rachel Carson
lançava o seu primeiro livro “Primavera Silenciosa” (formato de bolso, 1962, 44 edições), que
viria a se tornar um clássico na história do movimento ambientalista mundial, desencadeando
uma grande inquietação internacional e suscitando discussões nos diversos foros. Tais
inquietações chegariam a ONU, seis anos depois, quando a delegação da Suécia chamaria a
atenção da comunidade internacional para a crescente crise do ambiente humano, constituindo
a primeira observação oficial, naquele foro, sobre a necessidade de uma abordagem
globalizante para a busca de soluções contra o agravamento dos problemas ambientais
(Gonçalves, 2008).
Enquanto os governos não conseguiam definir os caminhos do entendimento, a
sociedade civil movimentava-se em todo o mundo. Em março de 1965, durante a Conferência
em Educação na Universidade de Keele, Grã Bretanha, surgia o termo Environmental
Education - Educação Ambiental (Neves, 2005). Na ocasião, foi aceito que a Educação
Ambiental deveria se tornar uma parte essencial da educação de todos os cidadãos e seria
vista como sendo essencialmente conservação ou ecologia aplicada. Nesse mesmo ano, Albert
1 Essa prática ainda é comum. Estimam-se em apenas 5% as unidades de conservação criadas e efetivamente
implantadas.
6

Schwitzer ganharia o Prêmio Nobel da Paz, em reconhecimento ao seu trabalho de
popularização da ética ambiental. Em 1969, seria fundada na Inglaterra a "Sociedade para a
Educação Ambiental", e a TV BBC de Londres levaria ao ar o programa Reith Lectures,
apresentado por Sir Frank Fraser Darling (ecologista), que promoveria debates sobre a
questão ambiental, despertando o interesse de artistas, políticos e imprensa, em geral, para a
necessidade premente de discussão e decisão sobre aquelas questões. Seria lançado também,
nos Estados Unidos, o número 1 do Jornal da Educação Ambiental (Adams, 2005).
O Brasil, imerso no regime ditatorial, na "contramão" da tendência internacional de
preocupação com o ambiente, mostrava ao mundo o Projeto Carajás e a Usina Hidrelétrica de
Tucuruí, iniciativas de alto potencial de degradação ambiental. Nesse contexto desfavorável,
criava-se a "Associação Gaúcha de Proteção ao Meio Ambiente Natural" - Agapan -,
precursora de movimentos ambientalistas em nosso país, quando ainda não existia nem
mesmo uma legislação ambiental, como a maioria das nações (Santos, 2010).
O Clube de Roma, criado em 1968 por um grupo de trinta especialistas de diversas
áreas (economistas, pedagogos, humanistas, industriais e outros), liderado pelo industrial
Arillio Peccei, e que tinha como objetivo promover a discussão da crise atual e futura da
humanidade, publica em 1972 o seu relatório Os Limites do crescimento. Estabelecia modelos
globais, baseados nas técnicas pioneiras de análise de sistemas, projetados para predizer como
seria o futuro, se não houvesse modificações ou ajustamentos nos modelos de
desenvolvimento econômico adotados. O documento denunciava a busca incessante do
crescimento material da sociedade, a qualquer custo, e a meta de se tornar cada vez maior,
mais rica e poderosa, sem levar em conta o custo final desse crescimento (Sousa, 2005).
De acordo com Sousa (2005) as análises do modelo indicaram que o crescente
consumo geral levaria a humanidade a um limite de crescimento, possivelmente a um colapso.
Estava iniciada a busca de modelos de análise ambiental global. Como era de se esperar, a
classe política rejeitaria as observações. Apesar disso, o relatório atingiria o seu objetivo:
influenciar a humanidade sobre a questão. Hoje, é um clássico reverenciado na literatura da
história do movimento ambientalista mundial.
O ano de 1972 testemunharia os eventos mais decisivos para a evolução da
abordagem ambiental no mundo. Impulsionada pela repercussão internacional do Relatório do
Clube de Roma, a Organização das Nações Unidas promoveria, de 05 a 16 de junho, na
Suécia, a Conferência de Estocolmo, como ficaria consagrada, reunindo representantes de 113
países com o objetivo de estabelecer uma visão global e princípios comuns que servissem de
inspiração e orientação à humanidade, para a preservação e melhoria do ambiente humano.
Considerada um marco histórico-político internacional, decisivo para o surgimento de
políticas de gerenciamento ambiental, a Conferência gerou a "Declaração, sobre o Ambiente
Humano", estabeleceu um "Plano de Ação Mundial" e, em particular, recomendou que
deveria ser estabelecido um Programa Internacional de Educação Ambiental. A
Recomendação n0 96 da Conferência reconhecia o desenvolvimento da Educação Ambiental
como elemento crítico para o combate à crise ambiental (Godoy, 2007).
A Conferência de Estocolmo, além de chamar a atenção do mundo para os
problemas ambientais, também gerou controvérsias. Os representantes dos países em
desenvolvimento acusaram os países industrializados de quererem limitar seus programas de
desenvolvimento, usando as políticas ambientais de controle de poluição como um meio de
inibir a sua capacidade de competição no mercado internacional. A delegação brasileira
chegou a afirmar que o Brasil não se importaria em pagar o preço da degradação ambiental,
desde que o resultado fosse o aumento do seu Produto Interno Bruto (Dias, 2000).
7

As consequências da Conferência de Estocolmo chegariam ao Brasil acompanhadas
das pressões do Banco Mundial e de instituições ambientalistas que já atuavam no país. Em
1973 a Presidência da República criaria, no âmbito do Ministério do Interior, a Secretaria
Especial de Meio Ambiente - SEMA, primeiro organismo brasileiro de ação nacio nal,
orientado para gestão integrada do ambiente (Guimarães, 1977).
Como reflexo da "simpatia" do regime vigente pela causa ambiental, a SEMA
iniciava-se com apenas três funcionários. Tinha tudo para não dar certo e reafirmar a
expressão de que fora criada para "inglês ver" (traduza-se, Banco Mundial). Entretanto, a
abnegação e persistência dos seus membros a tornaram, em pouco tempo, uma instituição
reconhecida internacionalmente, a despeito das suas compreensíveis limitações. O professor
Paulo Nogueira Neto seria o titular dessa secretaria, de 1973 a 1986, deixando um legado as
bases das leis ambientais e estruturas que continuam, muitas delas, até o presente; estabeleceu
o programa das Estações Ecológicas (pesquisa e preservação) e ainda conquistas significativas
em normatizações. Em termos de Educação Ambiental, porém, a sua ação foi extremamente
limitada pelos interesses políticos da época.
Em resposta às recomendações da Conferência de Estocolmo, a UNESCO
promoveria em Belgrado, Iugoslávia (1975), o Encontro Internacional de Educação
Ambiental, congregando especialistas de 65 países. No encontro, foram formulados princípios
e orientações para um programa internacional de educação Ambiental, segundo os quais esta
deveria ser contínua, multidisciplinar, integrada às diferenças regionais e voltada para os
interesses nacionais. Ficaria acertada a realização de uma conferência intergovernamental,
dentro de dois anos, com o objetivo de estabelecer as bases conceituais e metodológicas para
o desenvolvimento da Educação Ambiental, em nível mundial (MEC 197l).
Igualmente, a discussão sobre as terríveis disparidades entre os países do Norte e do
Sul, à luz da crescente perda de qualidade de vida gerou nesse encontro, a Carta de Belgrado,
na qual se expressava a necessidade do exercício de uma nova ética global, que
proporcionasse a erradicação da pobreza, da fome, do analfabetismo, da poluição e da
dominação e exploração humana (SMA/SP, 1994) . A carta, um dos documentos mais lúcidos
produzidos sobre o tema na época, preconizava que os recursos do mundo deveriam ser
utilizados de um modo que beneficiasse toda a humanidade e proporcionasse a todos a
possibilidade de aumento da qualidade de vida. Nesse período, já se configurava a matriz de
graves desigualdades que iriam deflagrar um panorama de contrastes cruéis, décadas adiante.
No âmbito dos setores competentes da Educação no Brasil, não se vislumbrava, até
então, a mais remota possibilidade de ações de apoio Educação Ambiental, quer pelo
desinteresse que o tema desperta entre os políticos dominantes, quer pela ausência de uma
política educacional definida para o país, como reflexo do próprio momento que atravessa.
Percebendo esta situação e sabendo da urgência ditada pela perda de qualidade ambiental,
amplamente discutida na comunidade internacional, os órgãos estaduais brasileiros de meio
ambiente tomaram a iniciativa de promover a Educação Ambiental no Brasil. Começariam a
surgir as parcerias entre as instituições de meio ambiente e as Secretarias de Educação dos
Estados (Guimarães, 1977).
Por sua vez, o MEC e o Minter, como para reafirmar as suas inoperâncias, firmavam
"Protocolos de Intenções", com o objetivo de formalizar trabalhos conjuntos, visando à
"inclusão de temas ecológicos" nos currículos de 10 e 20 graus, atualmente Educação Básica.
Tais "Protocolos de Intenções", "pérolas" refinadas da idiossincrasia tecnocrata vigente, nunca
sairiam realmente da intenções e seriam prósperos em fazer a conexão entre o nada e coisa
alguma (MEC/Minter, 1977).
8

Ao mesmo tempo, disseminava-se no país o "ecologismo" - deformação da
abordagem que circunscrevia a importância da Educação Ambiental à flora e à fauna, à
apologia do "verde pelo verde", sem que nossas mazelas socioeconômicas fossem
consideradas nas análises - obliqua mente incentivadas por instituições internacionais com
sedes nos países ricos (Cautela, 1979).
Entrementes, por força da pressão dos órgãos ambientais, a disciplina "Ciências
Ambientais" passaria a ser obrigatória nos cursos de engenharia, e diversos cursos voltados à
área ambiental seriam criados nas universidades brasileiras; porém, nas inúmeras faculdades
de Educação do país, o assunto era simplesmente ignorado, como continua a sê- lo em sua
maioria.
Os órgãos ambientais dos Estados passariam a intensificar suas ações educativas,
com destaque para a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo
(CETESB), a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente do Rio de Janeiro
(Feema), a Superintendência dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente do Estado do Paraná
(SURHEMA), a Companhia Pernambucana de Controle da Poluição Ambiental e
Administração de Recursos Hídricos (CPRM) e outros.
Ocorreria, em 1977, o evento mais importante para a Educação Ambiental no
mundo. Havia uma grande confusão sobre o que seria realmente "Educação Ambiental".
Defendiam-se conceitos e abordagens bem diferenciados em função das diversas visões,
condicionadas ao interesse de casa país ou bloco de países. Os ricos não apoiavam abordagens
que pudessem expor as mazelas ambie ntais socioeconômicas, políticas, ecológicas, culturais e
éticas - produzidas pelos modelos de "desenvolvimento" econômico, praticados durante
décadas e impostos a países pobres. A situação sinalizava para a necessidade de uma reunião
internacional, na qua l se resolvesse esse impasse, já previsto no “Encontro de Belgrado”, em
1975. Assim, realizar-se-ia de 14 a 26 de outubro de 1975, em Tbilisi, na Geórgia (ex-União
Soviética), a Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental,
organizada pela UNESCO, em colaboração com o Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente – PNUMA. Foi um prolongamento da Conferência das Nações Unidas sobre o
Ambiente Humano (Estocolmo, 1972), cujas implicações haviam de precisar, em matéria de
Educação Ambiental. A Conferência de Tbilisi – como ficou consagrada – foi o ponto
culminante da Primeira Fase do Programa Internacional de Educação Ambiental, iniciado em
1975, em Belgrado (UNESCO/UNEP 1997) .
A Conferência de Tbilisi reuniu especialistas de todo o mundo, para apreciar e
discutir propostas elaboradas em vários encontros sub-regionais, promovidos em todos os
países acreditados na ONU, e contribuiu para precisar a natureza da Educação Ambiental,
definindo seus princípios, objetivos e características, formulando recomendações e estratégias
pertinentes aos planos regional, nacional e internacional. Lançou a conferência, ainda, um
chamamento aos estados membros, para que incluíssem, em suas políticas de educação,
medidas que visassem à incorporação dos conteúdos, diretrizes e atividades ambientais nos
seus sistemas e convidou as autoridades de educação a intensificarem seus trabalhos de
reflexão, pesquisa e inovação, com respeito à Educação Ambiental (Guimarães,1977).
Guimarães, 1977 escreve que a Conferência de Tbilisi solicitou a colaboração,
mediante o intercâmbio de experiências, pesquisas, documentos e materiais, serviços de
formação à disposição dos docentes e dos especialistas de outros países. Exortou a
comunidade internacional a ajudar a fortalecer essa colaboração, em uma esfera de atividades
que simbolizassem a necessária solidariedade entre todos os povos.
Para o desenvolvimento da Educação Ambiental, foi recomendado que se
considerassem todos os aspectos que compõem a questão ambiental, ou seja, os aspectos
9

políticos, sociais, econômicos, científicos, tecnológicos, culturais, ecológicos e éticos; que a
Educação Ambiental deveria ser o resultado de uma reorientação e articulação de diversas
disciplinas e experiências educativas, que facilitassem a visão integrada do ambiente; que os
indivíduos e a coletividade pudessem compreender a natureza complexa do ambiente e
adquirir os conhecimentos, os valores, os comportamentos e as habilidades práticas para
participar eficazmente da prevenção e solução dos problemas ambientais; que se mostrassem,
com toda clareza, as interdependências de alcance internacional; que suscitasse uma
vinculação mais estreita entre os processos educativos e a realidade, estruturando suas
atividades em torno dos problemas concretos que se impõem à comunidade e enfocando-as
através de uma perspectiva interdisciplinar e globalizadora; que fosse concebida como um
processo contínuo, dirigido a todos os grupos de idade e categorias profissionais (MEC-
MINTER, 1977).
Continuando com o documento citado, o MEC e o extinto Ministério do Interior
(MEC-MINTER, 1977) promoveram a Educação Ambiental com finalidade para a
compreensão da existência e da importância da interdependência econômica, política, social e
ecológica da sociedade; proporcionar a todas as pessoas a possibilidade de adquirir
conhecimentos, o sentido dos valores, o interesse ativo e as atitudes necessárias para proteger
e melhorar a qualidade ambiental; induzir novas formas de conduta nos indivíduos, nos
grupos sociais e na sociedade em seu conjunto, tornando-a apta a agir em busca de
alternativas de soluções para os seus problemas ambientais, como forma de elevação da sua
qualidade de vida.
Dessa forma, a Educação Ambiental acabara de estabelecer um conjunto de
elementos que seriam capazes de compor um processo através do qual o ser humano pudesse
perceber, de forma nítida, reflexiva e crítica, os mecanismos sociais, políticos e econômicos
que estavam estabelecendo uma nova dinâmica global, preparando-os para o exercício pleno,
responsável e consciente dos seus direitos de cidadão, por meio dos diversos canais de
participação comunitária, em busca da melhoria de sua qualidade de vida e, em última análise,
da qualidade da experiência humana.
Estavam lançadas as grandes linhas de orientação para o desenvolvimento da
Educação Ambiental no mundo. Caberia a cada país, dentro das suas características e
particularidades, especificar as linhas nacionais, regionais e locais, através dos seus sistemas
educacionais e ambientais.
De forma surpreendente, porém, como se desconhecesse a existência da Conferência
de Tbilisi, o MEC publicaria, no ano seguinte, o documento Ecologia – uma proposta para o
ensino de 1º e 2º graus. Tal proposta representava um retrocesso grotesco, dada à abordagem
reducionista apresentada, na qual a Educação Ambiental ficaria acondicionada nos pacotes da
ciências biológicas, como queriam os países industrializados, sem que se considerassem os
demais aspectos da questão ambiental (sociais, culturais, econômicos, éticos, políticos, etc.),
comprometendo o potencial analítico e reflexivo dos seus contextos - desde o local até o
global-, bem como o seu potencial catalítico- indutor de ações. O documento causaria um
misto de insatisfação, frustação e escândalo nos meios ambientalistas e educacionais
brasileiros, já envolvidos com a EA, uma vez que Tbilisi continham os elementos
considerados essenciais e adequados ao desenvolvimento contextualizado das atividades em
desenvolvimento, e estavam sendo oficialmente desconsideradas. Se apenas os aspectos
biológico-ecológicos estavam sendo enfatizados a quem interessaria essa abordagem?
Em 31 de Agosto de 1981, a despeito de se estar em plena ditadura militar, o então
Presidente da República João Figueiredo sancionava a Lei 6.938, que dispunha sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formação e aplicação.
10

Constituiu-se num importante instrumento de amadurecimento, implantação e consolidação
da política ambiental no Brasil. A partir daí, os esforços para o desenvolvimento da Educação
Ambiental no país seriam impulsionados e os boicotes passariam a ser mais notáve is.
A Coordenadoria de Comunicação Social e Educação Ambiental da SEMA, em
1985, publicaria um documento ("Educação Ambiental", Brasília, 1985) no qual reconheceria
que, após quase dez anos de criação daquele órgão, a Educação Ambiental seria a área básica
de atuação da SEMA que menos teria desenvolvido.
Acrescentava, ainda, que as diversas iniciativas de atividades de Educação
Ambiental, desenvolvidas no âmbito dos órgãos estaduais e secretarias de meio ambiente,
eram dispersas e heterogêneas, o que impedia uma avaliação de sua eficácia. Atribuía isso à
ausência de conceituação e de políticas e diretrizes unificadoras dessas iniciativas.
Considerando-se que as premissas de Tbilisi foram formuladas em 1977, o que então foi feito
nesses oito anos que seguiram à Conferência? Atribui-se a ineficácia das iniciativas à ausência
de conceituação e de políticas (de conceituação, não; de políticas, sim). Na verdade, nem a
SEMA nem o MEC, por razões diversas conseguiriam difundir sistematicamente as
orientações básicas para o desenvolvimento da EA no Brasil, muito menos promover
discussões e aprofundamentos epistemológicos e estabelecer as tais políticas. Foi um caso
curioso de autofagia tecnocrata (Portal do MEC) .
Esse mesmo documento reunia as propostas apresentadas pela SEMA aos órgãos
ambientais dos estados, durante reunião realizada em Recife (de 27 de julho a oito de agosto
de 1984) e a histórica proposta de Resolução para o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), estabelecendo as diretrizes para a Educação Ambiental no país e definindo-a
como "o processo de formação e informação social, orientado para o desenvolvimento da
consciência crítica sobre a problemática ambiental; de atitudes que levem à participação das
comunidades na preservação do equilíbrio ambiental" (p. 8 e 9). Não seria de admirar que tal
resolução fosse boicotada. Afinal, as premissas de consciência crítica e participação da
comunidades não eram exatamente as mais desejadas para os interesses políticos da época.
Assim, tão logo a proposta foi apresentada ao CONAMA, pediram-se "vistas" do processo, e
a apreciação da proposta foi retirada de pauta, nunca mais voltando ao plenário (Farias, 2006).
Boicotes por um lado, tentativas de estabelecimento do processo de
desenvolvimento da Educação Ambiental por outro: num esforço conjunto da SEMA,
Fundação Universidade de Brasília, CNPq, CAPES, PNUMA, seria realizado na Universidade
de Brasília , o "10 Curso de especialização em Educação Ambiental", com o objetivo de
formar recursos humanos para a implantação de programas, no Brasil. O curso seria oferecido
também em 1987 e 1988, quando seria extinto, após fortes boicotes oriundos das mais
diversas fontes, principalmente políticas, devidamente mascaradas por supostas dificuldades
financeiras. Em parte, os objetivos dos cursos que exerceriam papéis importantes nos seus
Estados de origem e que, hoje formam a "nata" da Educação Ambiental do país, com notável
ação multiplicadora (Portal do MEC).
Transcorridos dez anos desde a Conferência de Tbilisi, o que o país havia produzido
em Educação Ambiental devia-se, em sua maior parte, à atuação dos órgãos ambientais e à
iniciativa de alguns centros acadêmicos abnegados. O processo não fora estabelecido, e o que
dependeu do MEC não foi executado. Perdido em incontáveis e sucessivas substituições dos
seus titulares, embargados pela rotina de toneladas de papéis, em seus enfadonhos corredores,
o MEC tinha mais ministros que anos de fundação. Faltava- lhe agilidade, percepção e fluidez,
embalsamados pela intenção política de mantê-lo assim, como estratégia medonha e eficaz de
perpetuação de acesso a privilégios, de evitar o processo educacional renovador e promotor de
mudanças sociais, políticas e econômicas, absolutamente necessárias à nação e ao seu povo.
11

Se não tínhamos uma política educacional para o Brasil, imaginem uma política para a
Educação Ambiental! Dessa forma, não seria novidade que a abordagem "ecológica" se
espalhasse pelas escolas. Afinal, os professores não tinham recebido nenhuma informação
sobre a natureza da Educação Ambiental, e esta era confundida com ecologia (Souza, 2007).
Conforme ficara acordado em Tbilisi, realizar-se-ia em Moscou (de 17 a 21 de
agosto de 1987) o Congresso Internacional sobre Educação e Formação Ambiental,
promovido pela UNESCO, em colaboração com o PNUMA, com o objetivo de analisar as
conquistas e dificuldades encontradas pelos países no desenvolvimento da Educação
Ambiental e estabelecer os elementos para um estratégia internacional de ação para a década
de 90. Fora solicitado que cada país elaborasse um relatório, descrevendo os sucessos e
insucessos obtidos no processo de implantação da Educação Ambiental. Esse documento, a
cargo da SEMA e do MEC, não foi apresentado em Moscou, pois não houve acordo entre as
partes (Portal do MEC).
Com a aproximação do Congresso de Moscou e sem que se vislumbrasse a
possibilidade de entendimento entre aquelas instituições, o Conselho Federal de Educação
aprovaria o Parecer 226/87, que considerava necessária a inclusão da Educação Ambiental
dentre os conteúdos a serem explorados nas propostas curriculares das escolas de 1º e 2º
graus. Seria o primeiro documento oficial do MEC a tratar do assunto sob a abordagem
recomendada em Tbilisi. Mesmo reconhecendo a importância desse ato, a comunidade
ambientalista não aceitaria as razões pelas quais o MEC demoraria uma década para
reconhecer a Conferência de Tbilisi. De qualquer forma, esse parecer não ajudou a demo ver o
tácito propósito de nada levar a Moscou (Ruy, 2004).
O vexame que o Brasil passara no Congresso de Moscou teria forte repercussão
internaciona l e chegaria até o Banco Mundial e a outros organismos internacionais da área
ambiental de alto poder de pressão política. A essa altura, o mundo convulsionava-se em
crises sucessivas das mais diversas ordens: Chernobyl, Bophal, Three Miles Island, efeito
estufa, diminuição da camada de ozônio, alterações climáticas e frustações de safras agrícolas,
aceleração dos processos de desmatamento, queimadas, erosão e desertificação, crescimento
populacional, diminuição do estoque pesqueiro mundial, poluição dos mares, do solo, do ar,
surgimento e recrudescimento de pragas, surtos de doenças tropicais, perda de biodiversidade,
AIDS e agravamento generalizado do quadro de pobreza internacional, acompanhados de atos
terroristas, revolução e fome (Dias, 2000).
Em termos ambientais globais, muito do que os especialistas preconizavam para
acontecer a partir de 2020 já estava frequentando as manchetes da mídia em todo o mundo,
impulsionado pelas exacerbações dos fenômenos menos meteorológicos. As instituições
apressavam-se em assinaturas de acordos, como estratégia para a construção de regimes
internacionais setoriais ("Protocolo de Montreal" sobre a proteção da camada de ozônio,
dando seguimento à Convenção de Viena, em 1985, que viria a ser aperfeiçoado na Emenda
de Londres, em 1990). O êxito dessas iniciativas segundo Viola (1995) se daria devido à
prática formação de consenso na comunidade científica e à eficiência da comunicação extra
acadêmica, aliada à capacidade de pesquisa das corporações produtoras de CFC
(Clorofluorcarboneto).
Em 1988, as associações ambientalistas europeias divulgavam, na Itália, um
documento que apontava as pressões para o pagamento da dívida externa, contraída pelos
países subdesenvolvidos, como responsáveis por transformações drásticas na economia, na
sociedade e no ambiente dos devedores. Na verdade, o sistema financeiro internacional havia
devorado as perspectivas de desenvolvimento das nações endividadas e promovera um
distanciamento cruel entre as classes sociais. Dessa forma, foram sendo estabelecidos
12

ambientes socialmente insustentáveis, com uma contínua e crescente perda de estabilidade
política e de qualidade de vida. Até então, essas constatações não eram preocupações
consistentes sobre as consequências de ações locais para a biosfera, como um todo, em grande
parte das sociedades mais ricas (Aicher e Diesel 2004). A ameaça dos sistemas que
asseguravam a vida no planeta não extrapolava da eco histeria para o cotidiano das pessoas,
instaladas em suas confortáveis casas, bem equipadas e com farto sortimento e quantidade de
alimento à disposição, sempre que necessário (consumismo).
Nesse mesmo ano, por força das articulações dos ambientalistas, a Constituição
brasileira, então promulgada, trazia um capítulo sobre o ambiente e muitos artigos afins e, em
especial, sobre o papel do Poder Público em "promover a educação ambiental em todos os
níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente"
(Capítulo VI, Artigo 255, parágrafo 1, item VI). Esse artigo e outros concernentes a
aspectos específicos dos vários instrumentos de gestão ambiental eram constantemente
modificados, durante o processo da constituinte. Muitas vezes uma vírgula ou troca de
palavras comprometia a sua eficácia. Essas manobras eram executadas por dezenas de
políticos, que queriam ver afastada da carta constitucional a consideração das questões
referentes ao ambiente. Eram os fiéis representantes de grupos nacionais e transnacionais,
acostumados a utilizar os recursos naturais sem nenhuma responsabilidade e que viam, nesses
dispositivos constitucionais, a diminuição dos seus lucros. Felizmente, alguns parlamentares
sensibilizados, liderados pelo Deputado Federal Fábio Feldmann, conseguiram consolidar, na
Constituição, um anseio claro da sociedade brasileira (Feldmann, 2002).
Em 1989, seguindo as recomendações nascidas e articuladas no Programa Nossa
Natureza, criar-se- ia o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis- IBAMA, com a finalidade de formular, coordenar e executar a política nacional
do meio ambiente. Competia- lhe a preservação, a conservação, o fomento e o controle dos
recursos naturais renováveis, em todo o território federal, proteger bancos genéticos da flora e
da fauna brasileira e estimular a Educação Ambiental nas suas diferentes formas. Formou-se
pela fusão de quatro órgãos que, direita ou indiretamente, estavam relacionados com a
temática ambiental (SEMA, IBDF, SUDEPE e SUDHEVEA). Dessas instituições, apenas a
SEMA tinha recursos humanos capacitados em gestão ambiental, porém o seu quadro era
muito reduzido, em termos proporcionais. O IBDF, reconhecido na época como "escritório
dos madeireiros", sede de incríveis falcatruas, salvava-se pelos profissionais ligados à área de
conservação. A SUDEPE preocupava-se com os peixes e a SUDHEVEA, com a borracha
(IBDF/FBCN, 1979).
Segundo o próprio IBAMA, após a sua criação, não houve capacitação profissional
de seus servidores, conforme recomendado pela Comissão Interministerial, criada para propor
a sua estrutura, muito menos em Educação Ambiental, o que significou a quase inoperância
desse órgão, em relação a essa área. Na época, ficou entendido que a Educação Ambiental,
pelas suas próprias características e pelas peculiaridades do IBAMA, não poderia ficar restrita
a uma "caixinha", circunscrita num espaço físico definido, limitado. Deveria constituir-se
numa espécie de coordenadoria, dotada de alta permeabilidade e plasticidade, capaz de
integrar todas as diretorias da instituição, assegurando a sua presença em todos os campos de
atuação.
A estrutura do IBAMA foi sendo fragmentada de diretoria para departamentos,
destes para divisões e, nestas as gerências, desfigurando a sua fluidez e formatando um
organograma extremamente denso, propício ao estabelecimento do lento, antiquado,
retrógrado e ineficiente reino da burocracia. Dessa forma, a Educação Ambiental terminaria
sendo colocada numa divisão, consolidando a falta de compromisso e seriedade do governo
com as questões ambientais (IBAMA,1991). O que esperar de uma divisão, sem autonomia,
13

em relação ao gigantesco trabalho de resgate da institucionalização das ações de Educação
Ambiental em todo país?
As iniciativas de ações em Educação Ambiental continuavam a ser esporádicas, sem
a menor participação e apoio das instituições encarregadas da sua promoção. Um exemplo,
seria o curso de Ecologia, promovido pelo programa Universidade Ab erta, mantido pela
Fundação Demócrito Rocha, em convênio com quinze universidades nordestinas e diversas
outras instituições de pesquisa e difusão tecnológica. O curso levava informações, na forma
de encartes, em treze jornais brasileiros e através de programa de rádio (EDR,1989).
Após certo período, segundo a própria Fundação Demócrito Rocha o programa foi
suspenso por absoluta falta de apoio e interesse dos diversos setores do governo brasileiro,
inclusive IBAMA e MEC. A despeito do curso receber a denominação de "ecologia", trazia
uma abordagem holística, integradora e analisava as nossas mazelas ambientais sob diferentes
aspectos, oferecendo às pessoas uma reflexão política, social, econômica, cultural, ecológica e
ética das principais questões ambientais que afligiam e que continuam até hoje, muitas delas
agravadas e acompanhadas de outras novas.
Extinto da Universidade de Brasília pelas políticas públicas, o curso de
Especialização em Educação Ambiental, promovido pela PNUMA, CNPq, CAPES e IBAMA
(substituindo a SEMA) encontraria abrigo na Universidade Federal do Mato Grosso, em
Cuiabá. O curso seria oferecido quatro vezes, até esbarrar nos mesmos entraves de Brasília e
ser extinto. Enquanto pôde, o curso operacionalizou um exercício interdisciplinar de análise
de desenvolvimento, sob uma visão crítica, referenciando o desenvolvimento autossustentável
e a elevação da qualidade de vida, sob uma ótica analítica local, regional, nacional e global.
Formou especialistas que, hoje, detêm atuação importante nos diversos setores da gestão
ambiental no Brasil (Portal do MEC).
Ainda no Portal do MEC é possível visualizar que em 1991, passados quatorze anos
da conferência de Tbilisi, as premissas básicas da Educação Ambiental, corroboradas pela
Conferência de Moscou, em 1987, ainda não tinham chegado à sociedade brasileira. Diante de
tal fato, o MEC e o IBAMA elaboraram uma proposta de divulgação/informação das
premissas básicas da Educação Ambiental, dirigida a professores de 1º grau, na forma de um
encarte que seria veiculado pela revista Nova escola, contendo ainda um questionário do tipo
resposta-postagem paga.
O então Presidente da República Fernando Collor de Melo, após a demora da
resposta da pesquisa pelos órgão competentes, solicitou a divulgação dos resultados da
pesquisa, revelando que a respeito da Educação Ambiental, 85% dos professores assinalaram
que aquele era o primeiro material que recebiam sobre o assunto. A carência de informações
básicas sobre Educação Ambiental era absoluta. Este foi o primeiro documento MEC-IBAMA
a respeito do assunto.
No final de 1989, o MEC criaria o Grupo de Trabalho para Educação Ambiental,
que seria coordenado pela professora Neli Aparecida de Melo. A partir daí, uma série de
iniciativas teria lugar principalmente após a Conferência da Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento e o Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro (Rio-92), com a
participação de representantes de 170 países (PROCAM-USP, 1989).
O IBAMA criaria, no âmbito das suas Superintendências Estaduais, os NEAS -
Núcleos de Educação Ambiental, através dos quais apesar dos poucos recursos, iniciaria uma
série de eventos nos Estados. Em Curitiba, a Universidade Livre do Meio Ambiente firmava-
se como polo difusor de divulgação de conhecimento através dos seus programas de
14

capacitação em várias áreas da gestão ambiental, notadamente na área de ambientes urbanos e
Educação Ambiental (UNILIVRE, 1991).
A Rio-92, em termos de Educação Ambiental, corroboraria as premissas de Tbilisi e
Moscou e acrescentaria a necessidade de concentração de esforços para a erradicação do
analfabetismo ambiental e para as atividades urbanas de Educação Ambiental. Visando à
concretização das recomendações aprovadas nessa conferência, o MEC instituiria um Grupo
de Trabalho em caráter permanente (Portaria 773 de 10/05/93), para também coordenar,
apoiar, acompanhar, avaliar e orientar as ações, metas e estratégias nos sistemas de ensino, em
todos os níveis e modalidades. Esse Grupo de Trabalho conseguiu promover em todas as
regiões do país encontros com as Secretarias de Educação dos Estados e Municípios para
planejamentos conjuntos, mas foi prejudicado pela deficiência de informações sobre o
assunto, da parte dos participantes, na maioria dos encontros promovidos. A despeito dessas
dificuldades, o grupo conseguiu realizar em dois anos, o que o MEC não havia realizado
desde a Conferência de Tbilisi, em 1977.
No governo Fernando Henrique Cardoso, as atividades do Grupo de Trabalho foram
reduzidas. No IBAMA, o andamento dos programas ambientais continuava sendo prejudicado
pelas ameaças de desestabilização, via reformas estruturais da instituição, com cortes
orçamentários. A instituição já sofrera os entraves da descontinuidade administrativa, causada
pela troca de seus presidentes.
Cada novo Ministro anunciava a "prioridade" da Educação Ambiental, como
instrumento valioso de gestão ambiental; entretanto destinava apenas 0,03% para a área (em
1999/2000, chegaria a 0,0%). Discurso e a prática nunca andaram tão afastados. Diante de
tantos desmandos, não seria de admirar a espantosa carência de especialistas em Educação
Ambiental no Brasil, pela absoluta falta de oportunidades de capacitação (vários brasileiros
foram fazer especialização fora do país, muitas vezes em locais cuja abordagem não nos
interessaria, por serem reducionistas e atenderem a interesse de países que ofereciam os
cursos, em geral pertencentes ao grupo dos sete). Só no Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA - há uma reconhecida demanda mínima de dois mil especialistas. No entanto, as
oportunidades de capacitação continua vam restritas a alguns cursos oferecidos por
universidades - Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal,
principalmente - mas sem fazerem parte de um esforço sistemático governamental
(CONAMA, 2000).
Por outro lado, na maioria das dezenas de "encontros" sobre Educação Ambiental
realizados no país tem-se praticado uma negra visão de possibilidade, atrelada as teias
complexas nas quais o professor não teria autoridade para circular.
Outro grande encontro de Educação Ambiental importante a ser citado, promovido
pela UNESCO e que gerou a Declaração de Thessaloníki (Grécia, 1997) gerou novamente
apelos para a situação ambiental (UNESCO 1997).
Em 1994, o então Ministério da Educação e do Desporto (MEC) e o Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA), com interveniência do
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e o Ministério da Cultura (MinC), formularam o
Programa Nacional de Educação Ambiental -PRONEA-, cujos esforços culminaram com a
assinatura pela Presidência da República da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei
9795 de 27/4/99).
Conforme a Lei anteriormente citada, tem-se os instrumentos necessários para impor
um ritmo mais intenso de desenvolvimento do processo de EA, no Brasil. As perspectivas são
animadoras. A julgar pelas importantes decisões da Coordenação de Educação Ambiental do
15

MEC, do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, adicionadas às iniciativas dos governos
estaduais e municipais, das ONGs, empresas e universidades, a EA viverá, em pouco tempo,
um período fértil, a despeito das dificuldades variadas.
3.2 Política/Educação Ambiental e Globalização
Com o advento da revolução dos transportes e, por último, das informações - muito
além do que preconizaram para a “aldeia global”- ,as relações entre os seres humanos
sofreram alterações profundas, dentro de um espaço de tempo histórico muito curto
(McLuhan, 1996).
Conforme observa McLuhan, 1996 essa velocidade de eventos, a bordo do processo
multidimensional da globalização, produziu e precipitou uma das mais graves preocupações
para os cientistas da área ecológico-ambiental, referente à capacidade de suporte da terra e à
viabilidade biológica da espécie humana: o número crescente de indivíduos que passam a
ocupar o mesmo nicho, dentro da biosfera, ou seja, cada vez mais pessoas adotam os mesmos
padrões de consumo, em todo o mundo, exercendo pressões crescentes sobre uma mesma
categoria de recursos finitos, cuja velocidade de regeneração não está sendo observada e ainda
as teorias ecológicas ditam que o resultado das interações dessa natureza normalmente se
traduz em aumento da competição, estresse, migração ou extinção. Mesmo sabendo da
plasticidade que possui o ser humano pela natureza e cultura e, consequentemente, pelo seu
potencial de respostas, os seus requerimentos para sobrevivência terminam sendo os mesmos
da maior parte dos seres vivos. Esse processo não poderia continuar sem que graves
consequências começassem a eclodir maior ou menor grau, em todas as partes da terra onde
os seres humanos habitam. A situação global presente aproxima o indivíduo humano do
indivíduo de espécies sob estresse ecossistêmico.
Outra preocupação é a crescente perda de diversidade cultural, como efeito colateral
da globalização e que encontra explicação nas entranhas das suas próprias características,
diluição dos limites entre o nacional e o internacional, passagem do nacional ao transnacional,
encurtamento das distâncias, nova natureza da relação micro macrossocial e outras (Viola,
1995). Este autor vai além da dimensão econômica para caracterizar o processo de
globalização e apresenta onze dimensões. Uma delas, a dimensão comunicacional-cultural,
estaria intrinsecamente relacionada com o desencadeamento desse processo: a disseminação
de conteúdos, modos de vida e formas de lazer, originalmente americanos. A mídia mundial,
americanizada, projeta a sua cultura para o mundo todo e desperta nas pessoas o desejo de
“ter” aquilo e “ser” assim, sem que as suas condições econômicas, sociais, políticas, culturais
e até ecológicas permitam, exacerbando o consumismo.
Reúnem-se aí os elementos para a formação de estados de insatisfação, frustração,
estresse e violência e a reprodução de uma característica da modernidade (que é a mesma
característica de espécies sob estresse ecossistêmico): todos contra todos. Essa forma de
pensar e agir, que passou a orientar a conduta das pessoas na maioria dos países com alto
poder de pressão de consumo sobre os recursos naturais, não tardaria a causar estresses
cumulativos em todo o planeta. Os diversos processos de Educação Ambiental desenvolvidos
em todo o mundo terminaram promovendo a sensibilização de pessoas a respeito da questão,
mas continuariam incipientes quanto às reais possibilidades de configurar prospectivas menos
sombrias. Isso viria desencadear, segundo Porter & Brown (1991) a emergência dessa área de
questões na política internacional, traduzida em esforços para a negociação de acordos
16

multilaterais de cooperação para a proteção do ambiente natural e seus recursos, buscando
constituir Regimes Ambientais Globais.
Ainda segundo os autores anteriormente citados, como nenhuma outra área do
conhecimento humano, as questões ambientais vieram suscitar nas sociedades, pelas
consequências do “metabolismo” de suas atividades econômicas sobre os sistemas naturais, a
discussão das “influências de vizinhança”, a avaliação supra fronteiriça das suas atitudes,
decisões e procedimentos e a mudança de paradigmas - do paradigma social (uso infinito dos
recursos, ambiente insocial) para o novo paradigma do desenvolvimento sustentável. Neste
momento, a Educação Ambiental deverá desempenhar o importante e fundamental papel de
promover e estimular a aderência das pessoas e da sociedade, como um todo, a esse novo
paradigma. Aliás, este não seria o papel apenas da Educação Ambiental, mas da Educação
como um todo.
Segundo Kennedy (1993), as forças das mudanças que ocorrerão em breve no
mundo serão tão complexas, profundas e interventivas que exigirão a reeducação da
humanidade. Essas observações já eram feitas por pensadores sociais – de Wells a Toynbee –
ao acentuarem que a sociedade mundial estaria empenhada numa corrida entre a educação e a
catástrofe. Este autor acrescenta que qualquer tentativa geral de preparar a sociedade mundial
para o século XXI deverá considerar o papel da educação, o papel da mulher e a necessidade
de liderança política. Nessa relação, acrescentaria ainda a participação de diferentes atores
como os organismos internacionais, as empresas, os sindicatos e as organizações não-
governamentais – ONGs. Estas últimas constituem uma forma de poder sem controle social,
interlocutores privilegiados do Estado e, em última análise, uma forma de a sociedade
demonstrar que a democracia caminha para a caducidade (cuja evolução é a meritocracia).
Essas novas relações entre os referidos atores estão sendo dinamizadas pelo vetor
globalização, para configurações transnacionais. Essas configurações nos permitem
testemunhar a regressão do Estado, a expansão do mercado e da terceirização, por meio de
processos progressivos, em que as empresas estão indo mais rápido que os Estados e se
constrói, gradativamente, a governabilidade global. A EA deverá ser capaz de catalisar o
desencadeamento de ações que permitam preparar os indivíduos e a sociedade para o
paradigma do desenvolvimento sustentável, modelo estrategicamente adequado para
responder aos desafios dessa nova ordem mundial.
Kennedy (1993) ainda reconhece que o mundo está imerso numa era de
imprevisibilidade, em meio a uma transição muito turbulenta e é preciso estar preparado para
o que vai ocorrer nos próximos anos. Reconhece-se que se está diante de um sistema cada vez
mais limitado para responder aos anseios das sociedades, e que se vivencia as diversas crises
antrópico-ambientais, sociais, econômicas - que são meros sintomas de uma crise mais
profunda, cujas raízes se encontram na perda e aquisição de novos valores humanos e na
carência de ética. Porém, reconhece-se também a plasticidade da natureza humana, que, na
sua exuberância, se permite encontrar respostas. Está inscrita no patrimônio genético humano
a orientação para a sobrevivência e para a evolução. Nessa escalada de busca de
redirecionamento da conduta humana, de reeducação da sociedade humana, em busca do
resgate de valores e criação de outros, elege-se a ideia- força do desenvolvimento humano
sustentável como transformadora dessa sociedade, que já produz no mundo corporativo uma
nova ordem de maior impacto do que as revoluções sangrentas e dramáticas da história
humana, na Terra. Estamos passando do mundo euclidiano, cartesiano, para uma nova
construção: a complexidade sistêmica. Esse novo paradigma, operacionalizado em atividades
de Educação Ambiental, deverá catalisar a formação de novos valores e promover a
percepção do ser humano em várias direções, incluindo a percepção do custo da recuperação
17
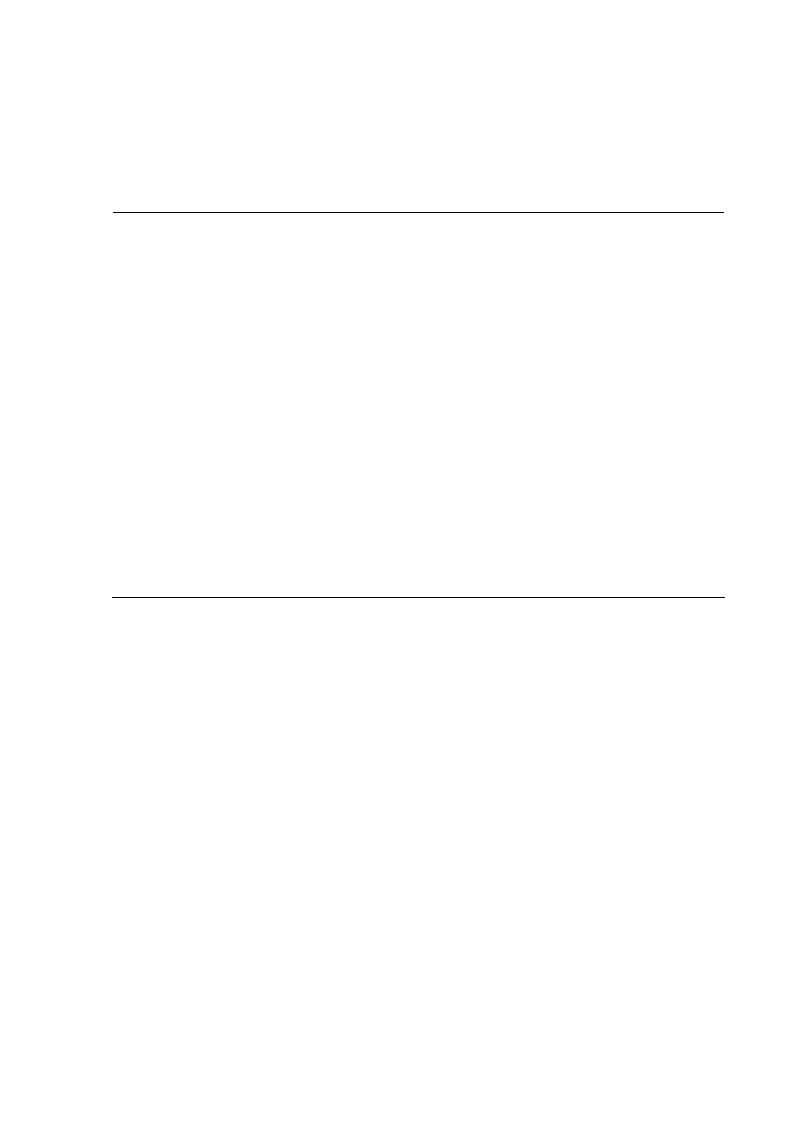
ambiental e dos seus valores estéticos, além dos de sobrevivência. Deverá utilizar as diversas
vias de integração globalizadora, promovendo as possibilidades evo lutivas da espécie.
Quadro 1 - Síntese das políticas públicas para Educação Ambiental (Carvalho, 2004)
1984
1988
1992
1994
1997
1999
2001
2002
2003
Criação dos Programa s Naciona is de Educação Ambiental (Ex.. Programa Nacional
de Educação na Reforma Agrária : PRONERA)
Inclusão da Educação Ambiental como direito de todos e dever do Estado no
capítulo de meio ambiente da Constituição.
Criação dos Núcleos de Educação ambiental pelo Instituo Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e dos Centros de
Educação ambiental pelo Ministério da Educação (MEC)
Criação do programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA)
Criação do Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONERA) pelo
Ministério da Educação (MEC) e pelo Ministério do Meio Ambiente (MAA).
Aprovação da Política Nacional de Educação Ambiental pela Lei 9 795
Implementação do programa Parâmetros em ação: meio ambiente na escola, pelo
MEC.
Regulamentação da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9 795) pelo
Decreto 4 281
Criação do órgão Gestor da Política de Educação ambiental reunindo Ministério da
Educação (MEC) e pelo Ministério do Meio Ambiente (MAA).
3.3 Análise Sistêmica do Contexto Socioambiental
Os modelos de “desenvolvimento” vigentes (Fig. 01), impostos pelos sete países
mais ricos por meio de diversos processos e instituições, como o Sistema Financeiro
Internacional, o FMI, o Banco Mundial e outros, e das suas influências nos sistemas políticos,
de educação e informação, em quase todo o mundo, legaram- nos uma situação socioambiental
insustentável, como foi concluído na Rio-92 (Dias, 2000).
Uma crítica-reflexão sobre tal modelo de desenvolvimento econômico (MDE) se
torna fundamental para a compreensão dos caminhos conceituais que a EA tomou, ao longo
dos anos. Tal MDE se fundamenta no lucro, a qualquer custo, e este está atrelado à lógica do
aumento da produção (em que os recursos naturais são utilizados sem nenhum critério, em
que o ambiente é visto como um grande supermercado gratuito, com reposição infinita de
estoque, em que se privatiza o benefício e se despreza e socializa o custo). Essa produção
crescente precisa ser consumida. O consumo é estimulado pela mídia-especialista em criar
“necessidades desnecessárias”-, tornando as pessoas amarguradas ao desejarem ardentemente
algo que não podem comprar, sem perceber que viviam muito bem sem aquele objeto de
consumo (Lacroix, 2009).
18
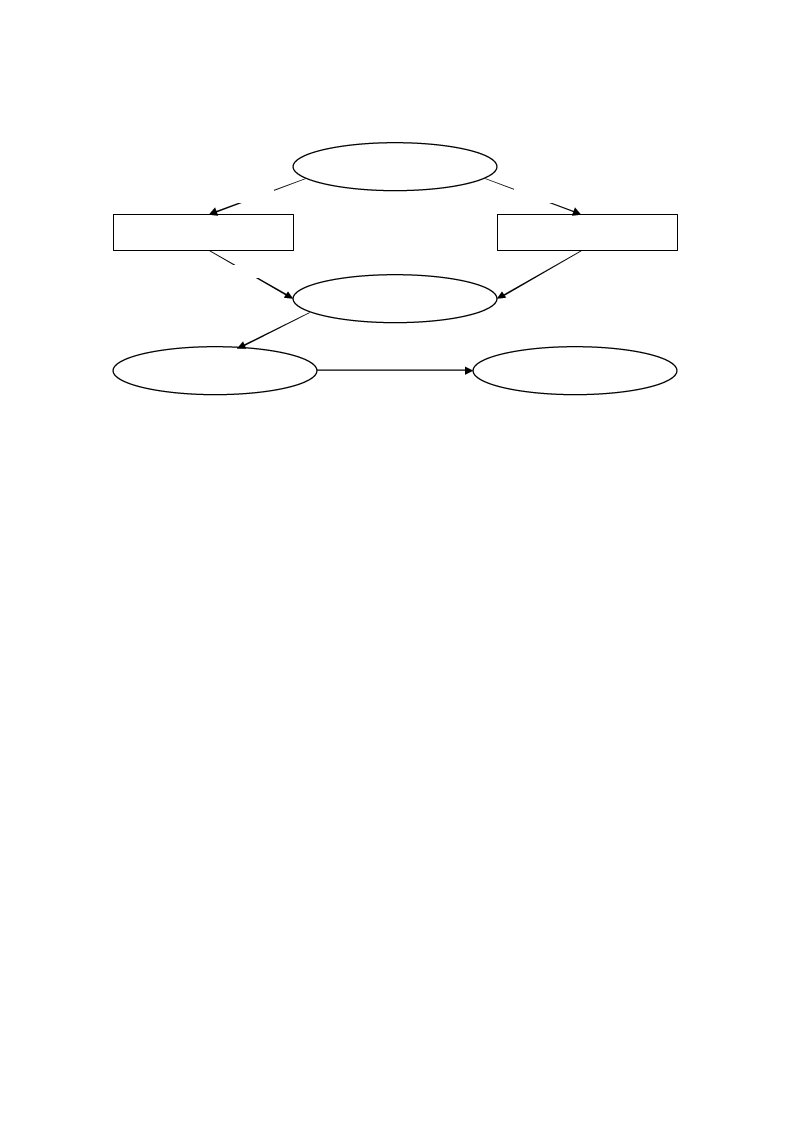
Produz
Modelo de desenvolvimento
Produz
EXCLUSÃO SOCIAL
CONSUMISMO
Miséria - Fome
Opulência - Desperdício
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
Perda de qualidade de vida
PERDA DE QUALIDADE DA
EXPERIÊNCIA HUMANA
Fig. 01 – Modelo de desenvolvimento vigente imposto pelos países ricos (Dias, 2000)
O binômio produção-consumo termina gerando uma maior pressão sobre os recursos
naturais (consumo de matéria-prima, água, energia elétrica, combustíveis fósseis,
desflorestamentos, etc.), causando mais degradação ambiental (Barreto, 2009). Essa
degradação reflete-se na perda da qualidade de vida, por condições inadequadas de moradia,
poluição em todas as suas expressões, destruição de hábitats naturais e intervenções
desastrosas nos mecanismos que sustentam a vida na Terra.
Muitas vezes, para recuperar o que se degradou, tomam-se empréstimos ao mesmo
Sistema Financeiro Internacional que lucrou com a degradação desse ambiente e, agora, lucra
novamente ao emprestar dinheiro a juros extorsivos, aumentando a nossa dívida externa,
comprometendo as nossas finanças, o nosso orçamento interno e o nosso futuro (Ramão,
2010). É óbvio que esse sistema é não sustentável, e os sintomas dessa insustentabilidade
preenchem as manchetes da mídia, diariamente, traduzidos em graves e profundas crises
socioambientais, econômicas e políticas, em todo o mundo. O modelo sistêmico pode ser
representado na forma de diagrama (Fig. 02).
Para sair dessa situação, a promoção do Desenvolvimento Sustentável salta da
utopia para assumir o papel de estratégia para a sobrevivência da espécie humana, e a EA
passa a representar um importante componente dessa estratégia, em busca de um novo
paradigma, de um novo estilo de vida, tão bem expresso por Mikhail Gorbachev, por ocasião
do Encontro Rio+5, realizado no Rio de Janeiro em julho de 1997: “O maior desafio, tanto da
nossa época como do próximo século, é salvar o planeta da destruição. Isso vai exigir uma
mudança nos próprios fundamentos da civilização moderna - o relacionamento dos seres
humanos com a natureza”. A discussão dessa questão não é nova; ela já se fazia presente no
início do movimento ambientalista mundial e, mais intensamente, nos primeiros documentos
da EA, conforme se verá mais adiante (Fatá, 2003).
19
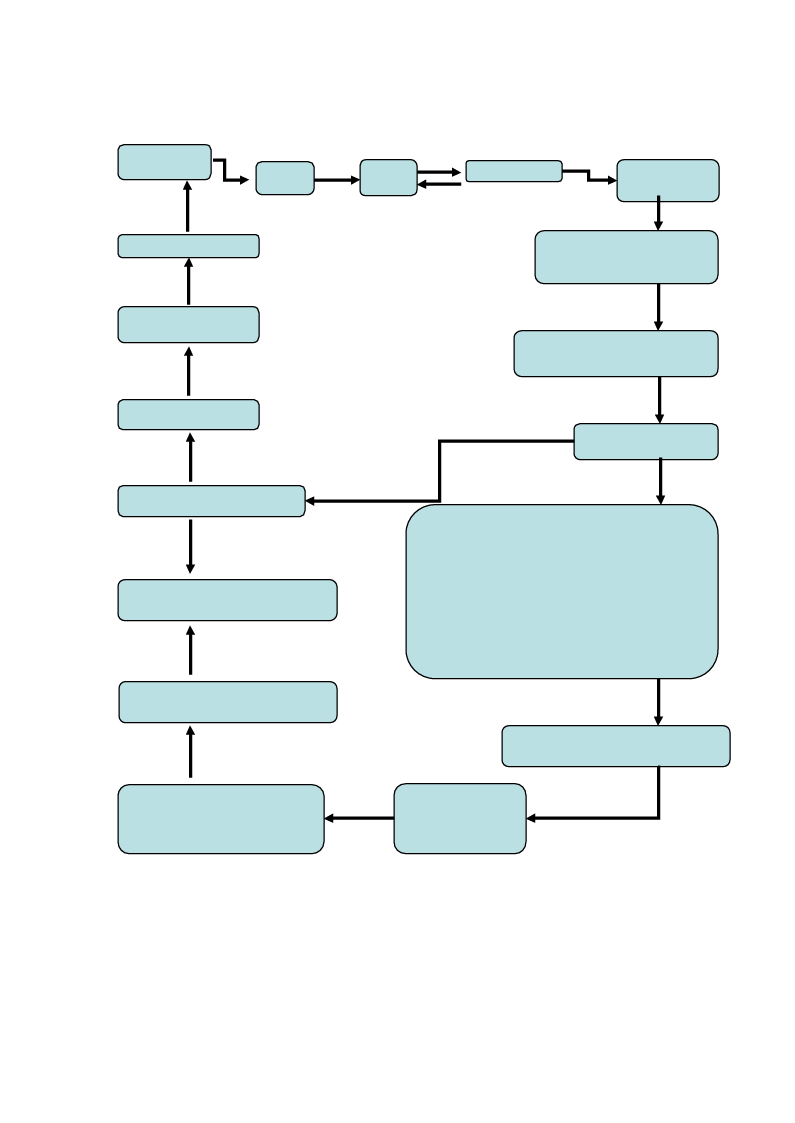
Países ricos
MDE
FMI, SFI, BM
Lucro
PRODUÇÃO
Extrativismo
exacerbado
Desrespeito à capacidade
natural de recomposição
Empréstimos
Investimentos
QUALIDADE DA VIDA
QUALIDADE DA
EXPERIÊNCIA HUMANA
QUALIDADE DA
EXPERIÊNCIA HUMANA
PRESSÃO SOBRE
RECURSOS NATURAIS
DEGRADAÇÃO
AMBIENTAL
• Desflorestamento, destruição habitats
• Perda biodiversidade
• Erosão, desertificação
• Assoreamento, inundações
• Secas, urbanização
• Lixo, esgotos,
• Poluição água, ar, sonora, eletromagnética
• Erosão cultural
Sinergismo
• Efeito Estufa
• Alterações climáticas
• Redução camada ozônio
Mudanças
ambientais
globais
Figura 02 – Modelo Sistêmico Vigente de Desenvolvimento e suas Consequências no Contexto Socioambiental
(Dias, 2000)
20

3.4. Evolução dos Conceitos de EA
A evolução dos conceitos de EA esteve diretamente relacionada à evolução do
conceito de meio ambiente e ao modo como este era percebido. O conceito de meio ambiente,
reduzido exclusivamente a seus aspectos naturais, não permitia apreciar as interdependências
nem a contribuição das ciências sociais e outras à compreensão e melhoria do ambiente
humano (Mcluhan,1996).
Para Stapp,1969 a EA era definida como um processo que deveria objetivar a
formação de cidadãos, cujos conhecimentos acerca do ambiente biofísico e seus problemas
associados pudessem alertá-los e habilitá- los a resolver seus problemas. A IUCN, 1970
definiu Educação Ambiental como um processo de reconhecimento de valores e clarificação
de conceitos, voltado para o desenvolvimento de habilidades e atitudes necessárias à
compreensão e apreciação das inter-relações entre homem, sua cultura e seu entorno biofísico.
Mellows (1972) apresentava a EA como um processo no qual deveria ocorrer em
desenvolvimento progressivo de um senso de preocupação com o meio ambiente, baseado em
um completo e sensível entendimento das relações do homem com o ambiente a sua volta. Na
Conferência de Tbilisi (1977), a EA foi definida como uma dimensão dada ao conteúdo e à
prática da educação, orientada para a resolução dos problemas concretos do meio ambiente,
através de um enfoque interdisciplinar e de uma participação ativa e responsável de cada
indivíduo e da coletividade.
O CONAMA- Conselho Nacional do Meio Ambiente (1996)- definiu a EA como
um processo de formação e informação, orientado para o desenvolvimento da consciência
crítica sobre as questões ambientais e de atividades que levem à participação das comunidades
na preservação do equilíbrio ambiental. Em 1988/1989 o Programa Nossa Natureza definiu a
EA como o conjunto de ações educativas voltadas para a compreensão da dinâmica dos
ecossistemas, considerados os efeitos da relação do homem com o meio, a determinação
social e a evolução histórica dessa relação (Alves, 2006).
Para Hammes, 2002 o desenvolvimento sustentável prevê a Educação Ambiental
como instrumento de melhoria da qualidade de vida, a partir da formação de cidadãos
conscientes de sua participação local no contexto de conservação ambiental global. Para a
efetiva consolidação desse processo, seu trabalho considera o trinômio desenvolvimento,
conservação ambiental e produção de alimentos essencial á existência humana. Reconhece a
necessidade da construção de uma metodologia específica sobre esse tema no Ensino
Fundamental e no Médio, já que os educadores não foram preparados para enfrentar esse
desafio.
No final dos anos 80, em uma publicação UNEP/UNESCO, Meadows (1989)
apresenta uma sequência de definições sobre EA, entre as quais se destacam:
ü a aprendizagem de como gerenciar e melhorar as relações entre a sociedade humana
e o ambiente, de modo integrado e sustentável;
ü a preparação de pessoas para sua vida, enquanto membros da biosfera;
ü significa aprender a empregar novas tecnologias, aumentar a produtividade, evitar
desastres ambientais, minorar os danos existentes, conhecer e utilizar novas
oportunidades e tomar decisões acertadas;
ü o aprendizado para compreender, apreciar, saber lidar e manter os sistemas
ambientais na sua totalidade;
21

ü significa aprender a ver o quadro global que cerca um dado problema, sua história,
seus valores, percepções, fatores econômicos e tecnológicos, e os processos naturais
ou artificiais que o causam e que sugerem ações para saná-lo.
Nos subsídios técnicos, elaborados pela Comissão Internacional para a preparação
da Rio-92 (CONUMAD, 1992), a EA se caracterizava por incorporar a dimensão
socioeconômica, política, cultural e histórica, não podendo basear-se em pautas rígidas e de
aplicação universal, devendo considerar as condições e o estágio de cada país, região e
comunidade, sob uma perspectiva holística. Assim sendo, a EA deve permitir a compreensão
da natureza complexa do ambiente e interpretar a interdependência entre os diversos
elementos que conformam o ambiente, com vistas a utilizar racionalmente os recursos do
meio (Lucena, 1992).
Para fazê-lo, a EA deve capacitar ao pleno exercício da cidadania, através da
formação de uma base conceitual abrangente, técnica e culturalmente capaz de permitir a
superação dos obstáculos à utilização sustentada do meio. O direito à informação e o acesso
às tecnologias capazes de viabilizar o desenvolvimento sustentável constituem, assim, um dos
pilares desse processo de formação de uma nova consciência em nível planetário, sem perder
a ótica local, regional e nacional. O desafio da EA, nesse particular, é o de criar as bases para
a compreensão holística da realidade, isto faz parte do Tratado de EA para Sociedades
Sustentáveis e Responsabilidade Global (1992) que reconhece a EA como um processo de
aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida. Em 1997, por
ocasião da Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e
Conscientização Pública para a Sustentabilidade (UNESCO, Tessalônica, Grécia), definiu-se,
como um meio de trazer mudanças em comportamentos e estilos de vida, para disseminar
conhecimentos e desenvolver habilidades na preparação do público, para suportar mudanças
rumo à sustentabilidade oriundas de outros setores da sociedade (Portal do MEC).
Para Minini (2000), a Educação Ambiental é um processo que consiste em propiciar
às pessoas uma compreensão crítica e global do ambiente, para elucidar valores e desenvolver
atitudes que lhes permitam adotar uma posição consciente e participativa, a respeito das
questões relacionadas com a conservação e adequada utilização dos recursos naturais, para a
melhoria da qualidade de vida e a eliminação da pobreza extrema e do consumismo
desenfreado. Essas definições se completam. Acredita-se que a Educação Ambiental seja um
processo por meio do qual as pessoas apreendam como funciona o ambiente, como dependem
dele, como os afetam e como promovem a sua sustentabilidade (Fig.. 03).
22
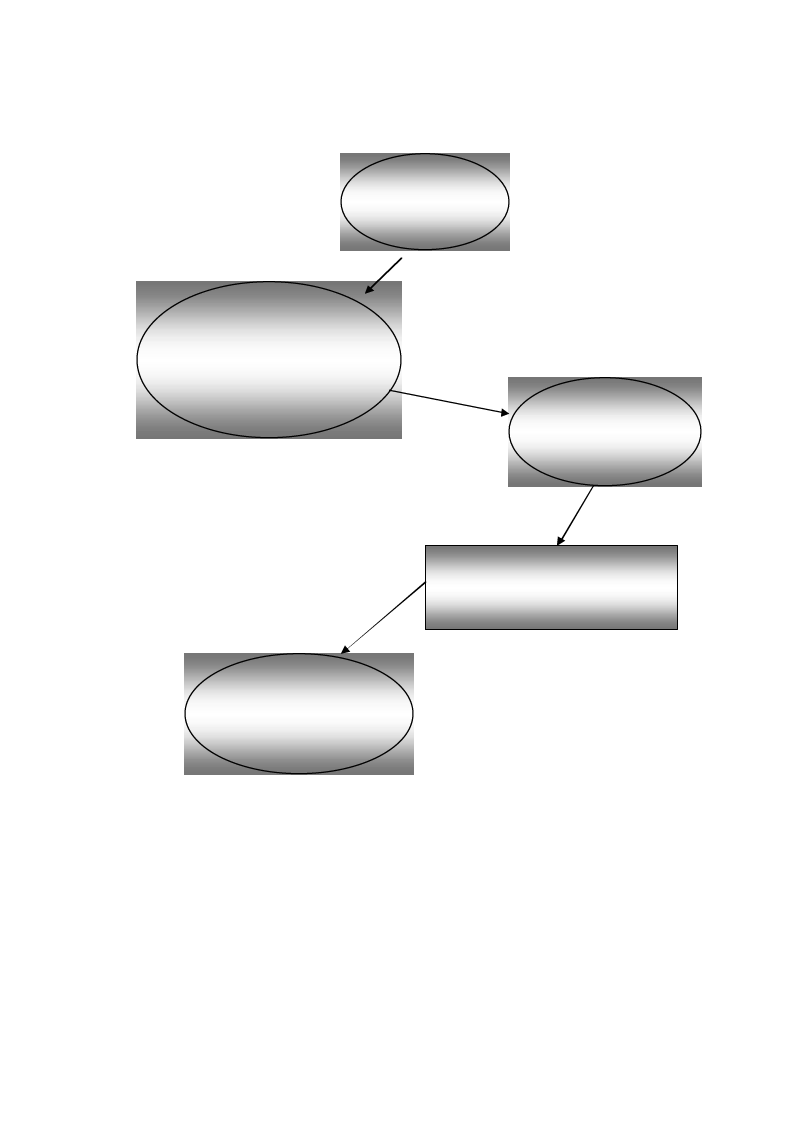
No fundo, o que a EA pretende é:
EA
Desenvolver
CONHECIMENTO
COMPREENSÃO
HABILIDADES
MOTIVAÇÃO
para adquirir
VALORES
MENTALIDADES
ATITUDES
Necessidade para lidar com
e encontrar
QUESTÕES/PROBLEMAS
AMBIENTAIS
SOLUÇÕES AMBIENTAIS
Fig. 03 – Processo de Funcionamento da Educação Ambiental (Dias, 2000)
23
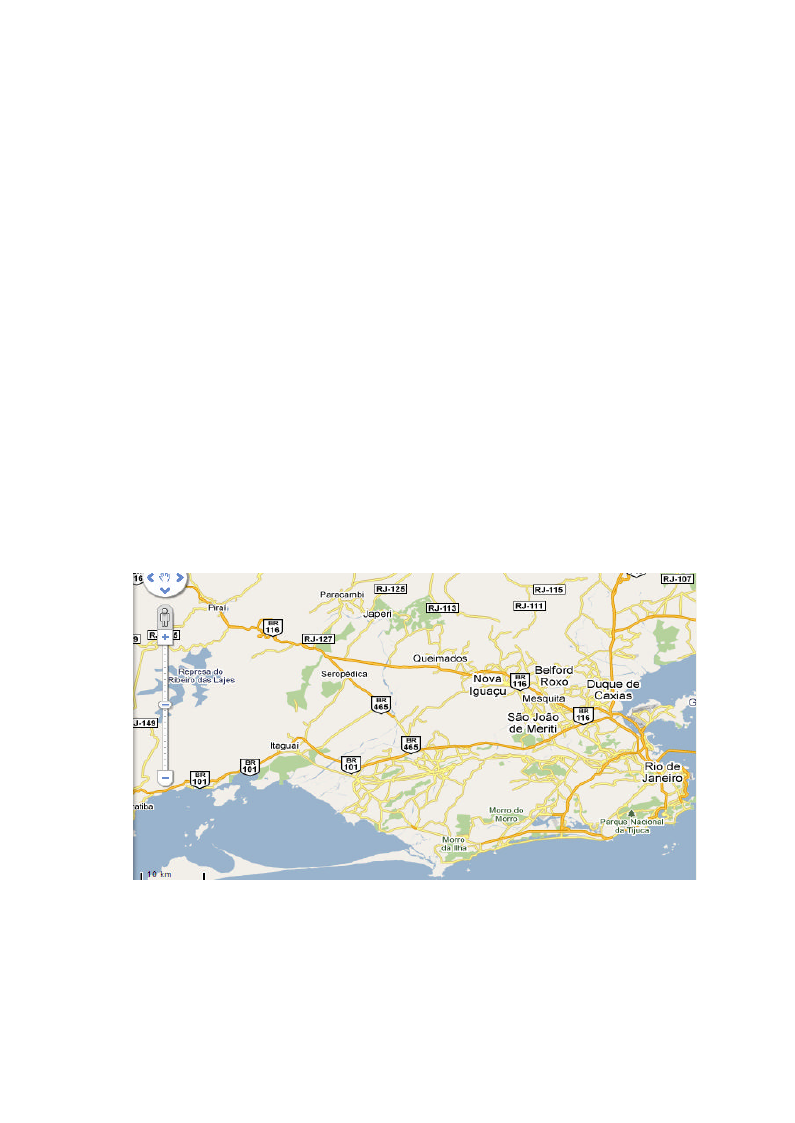
3.5 A área de estudo: Breve histórico do CTUR e sua inserção no Município de Seropédica
O CTUR é fruto da junção, em 1973, de duas instituições: o Colégio Técnico de
Economia Doméstica (CTED) e o Colégio Técnico Agrícola Ildefonso Simões Lopes. No
entanto, sua história começou com a implantação do Aprendizado Agrícola, em 1943.
O Aprendizado Agrícola foi criado pelo do Decreto- lei 5.408, de 14 de abril de
1943, que determinou sua instalação junto à futura sede da Escola Nacional de Agronomia,
que seria localizada no Km. 47 da Antiga Estrada Rio – São Paulo, hoje campus da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), no município de Seropédica, estado
do Rio de Janeiro. A UFRRJ só realmente se transferiria para esse local no ano de 1947.
Nessa ocasião, o Aprendizado Agrícola (AA) era subordinado à Superintendência do Ensino
Agrícola e Veterinário do Ministério da Agricultura. Inicialmente, ocupou as instalações do
prédio onde fica hoje o Instituto de Agronomia da UFRRJ. Um ano após sua criação, a
instituição recebeu seu nome, pelo Decreto Presidencial nº. 6.495, de 12 de maio de 1944,
passando a se chamar Aprendizado Agrícola Ildefonso Simões Lopes.
Alguns anos mais tarde, pelo Decreto 16.787, de 11 de outubro de 1944, que
aprovou o Regimento do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas (CNEPA),
vinculado ao Ministério da Agricultura, passou a funcionar em regime especial de
colaboração com a Universidade Rural. Com a entrada em vigor do Decreto Presidencial
22.506, de 22 de janeiro de 1947, o AA passou a se denominar Escola Agrícola Ildefonso
Simões Lopes, com o objetivo de ministrar os cursos de mestria e iniciação agrícolas.
Figura 04 - Localização Política do CTUR (Fonte Google Earth)
A partir de 1988, o CTUR veio a ocupar um antigo prédio de pós-graduação da
UFRRJ, localizado no campus, às margens da Rodovia BR 465, antiga Estrada Rio – São
Paulo, Km. 47, Seropédica – RJ, onde se encontra atualmente (Fig. 13). Essas instalações
foram ampliadas e outros prédios incorporados, de acordo com os interesses da comunidade,
para serem utilizados em atividades próprias de ensino. A área total do colégio é, atualmente,
24

de 60 hectares, onde se desenvolvem várias de suas atividades voltadas para os cursos que
oferece. Hoje, o CTUR permanece vinculado à UFRRJ e pertence à Rede Federal de
Educação Profissional Científica e Tecnológica, instituída pela Lei 11.892, de 29 de dezembro
de 2008.
Km 47 Rodovia BR 465
Seropédica – RJ
Figura 05 - Localização Geográfica do CTUR às Margens da BR 465 (Fonte Google Earth)
BR 465
Figura 06 – Detalhe da Distribuição Física dos Prédios do CTUR (Fonte Google Earth)
25

Devido ao seu crescimento e ampliação dos cursos, transformou-se, pelo Decreto
Presidencial 36.862, de 04 de fevereiro de 1955, em Escola Agrotécnica, mantendo o nome
Ildefonso Simões Lopes. A Escola Agrotécnica Ildefonso Simões Lopes teve seus laços com a
Universidade Rural bastante fortalecidos e, pelo Decreto presidencial 50.133, de 26 de janeiro
de 1961, manteve sua vinculação a essa instituição de ensino superior. Vale dizer que a
mencionada escola tinha a finalidade de ministrar o Curso Técnico Agrícola. Pouco depois,
em 1963, com a aprovação do estatuto da Universidade Rural do Brasil, pelo Decreto do
Conselho de Ministros nº. 1984, de 10 de janeiro de 1963, teve sua denominação modificada
para Colégio Técnico Agrícola Ildefonso Simões Lopes e constava como vinculado a essa
universidade.
Além do Colégio Técnico Agrícola Ildefonso Simões Lopes, também compunham a
Universidade Rural outras instituições de ensino médio: o Colégio Técnico em Economia
Doméstica (CTED) e o Colégio Universitário. O Colégio Universitário foi extinto em 1969, e
as duas instituições de educação profissional de nível médio se juntaram. Com a aprovação do
novo estatuto da UFRRJ, em 1972, após a Reforma Universitária instituída pela Lei nº.
5540/68, surgiu o Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CTUR).
O CTUR passou a ocupar o prédio do antigo Instituto de Meteorologia, pertencente à
EMBRAPA, que fora cedido ao CTED anteriormente. A instituição ficou localizada nesse
prédio no período de 1973 a 1987. Essa nova instituição englobou os dois cursos
profissionalizantes de nível médio que havia em cada um dos colégios: o Curso Técnico em
Agropecuária e o Curso Técnico em Economia Doméstica. Não havia qualquer curso
propedêutico em qualquer dos colégios de origem. O Ensino Médio passou a funcionar a
partir de 1988. Em 2001, o curso de Economia Doméstica foi substituído pelo Curso de
Hotelaria e o curso de Agropecuária passou a ser curso de Agropecuária Orgânica (Pamplona,
2008).
26

4 MATERIAL E MÉTODOS
4.1. Escolha do Público Alvo e da Área de Estudo.
Na escolha do público alvo optou-se pela abordagem junto aos alunos do Ensino
Médio de Agropecuária Orgânica e funcionários. A decisão de realizar a pesquisa com este
público deve-se ao fato de que os alunos são os principais responsáveis pelo processo de
aquisição do conhecimento e multiplicadores de opinião, levando os conhecimentos
adquiridos em relação as questões ambientais para as comunidades próximas da região,
principalmente para dentro de suas famílias, influenciando: regiões de plantio, áreas a serem
preservadas, áreas a serem irrigadas, uso de agrotóxico, criação de animais, conservação de
nascente, desmatamento, entre outros. São eles que optam ou não por adotar manejo
sustentável, seguir a legislação ambiental e responder pelas irregularidades que possam existir
em suas localidades.
Fig. 07 – Fachada do Prédio Principal do CTUR
Com relação à escolha dos funcionários do curso técnico em Agropecuária Orgânica,
ela foi motivada pelo fato de que estes profissionais provavelmente atuaram diretamente com
os alunos e, portanto, o principal e mais efetivo veículo de observação do conhecimento que é
transmitido pelo CTUR.
27

4.2 Metodologia
4.2.1 Abordagem motivacional e manifestação voluntária sobre os problemas ambientais
O presente trabalho iniciou-se com um estudo exploratório de alunos e funcionários,
através do qual se realizou um levantamento da percepção ambiental do CTUR (Colégio
Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), mediante manifestações livres dos
participantes da pesquisa. Dentro desta proposição de estudo, o termo "percepção ambiental"
foi usado no sentido amplo de uma tomada de consciência pelos entrevistados.
O início metodológico das atividades com os alunos começou com uma discussão
em classe envolvendo e estimulando cada estudante para contribuir informalmente. Para
motivação, foi utilizado um vídeo de curta duração denominado “História das Coisas”, que
trata de questões ambientais envolvendo todo o planeta e abordava, sobretudo, a
obsolescência produtiva e perceptiva. Isso estimulou os estudantes a discutir e expor
oralmente suas opiniões a respeito de problemas ambientais e, desta forma, os ajudar a
entender as questões ambientais que seriam discutidas futuramente, encorajando-os a
desenvolver as habilidades de expressão oral e autoconfiança ao falar em público, para suprir
as dificuldades em iniciar os processos de discussões que seriam realizados mais adiante.
Fig. 08 – Exibição do filme “A História das Coisas”
28

No segundo encontro realizou-se uma discussão em grupo, envolvendo toda a classe,
juntamente com a autora que coordenou a atividade e atuou como supervisora em uma visita
pelas instalações do colégio para observação de um problema ambiental específico - o lixo
comum. Os estudantes foram divididos em pequenos grupos e colocados em pauta, para
discussão, a questão do lixo escolar e os polêmicos assuntos conexos a esse tema. O propósito
foi estimular o desenvolvimento de relações mais positivas entre os alunos, bem como um
aumento da percepção deles para problemas ambientais e o seu envolvimento nas discussões
do tema.
Fig.09 – Avaliando o lixo do Campus Escolar
No terceiro encontro, foi realizado uma exposição de ideias que envolveu pequenos
grupos de estudantes, aos quais foi pedido para apresentarem soluções possíveis para o
problema do lixo que haviam detectado no encontro anterior, sem se preocupar com análises
críticas. Todas as sugestões foram consideradas estratégicas para encorajar e estimular ideias
voltadas à solução para o problema dado. Estabeleceu-se um tempo de 15 minutos para a
consecução da atividade com o escopo exclusivo de produzir as ideias e não para avaliá- las
(Elaboração de Conceitos). Aqui o objetivo foi o estímulo à criatividade e à liberdade. A
autora procurou evitar avaliações ou julgamentos a priori das sugestões, para obter ideias
originais.
29

Fig. 10 – Exposição de ideias
No quarto encontro deu-se continuidade aos trabalhos anteriores, envolvendo a
participação dos estudantes, aos quais foi dada a tarefa de sugerir soluções para o problema do
lixo no colégio. A classe, dividida em vários grupos, pôde abordar os diferentes aspectos de
um mesmo problema ou focalizar problemas diferentes, servindo para observar a capacidade
de organização dos grupos. Ocorreram inúmeras ideias e propostas de projetos para solução
dos problemas a cerca do problema do lixo ambiental verificado no Campus Escolar. As
atividades foram monitoradas, de modo a estimular a participação massiva de todos os
elementos do grupo, evitando-se que um ou outro membro não participasse da atividade.
30
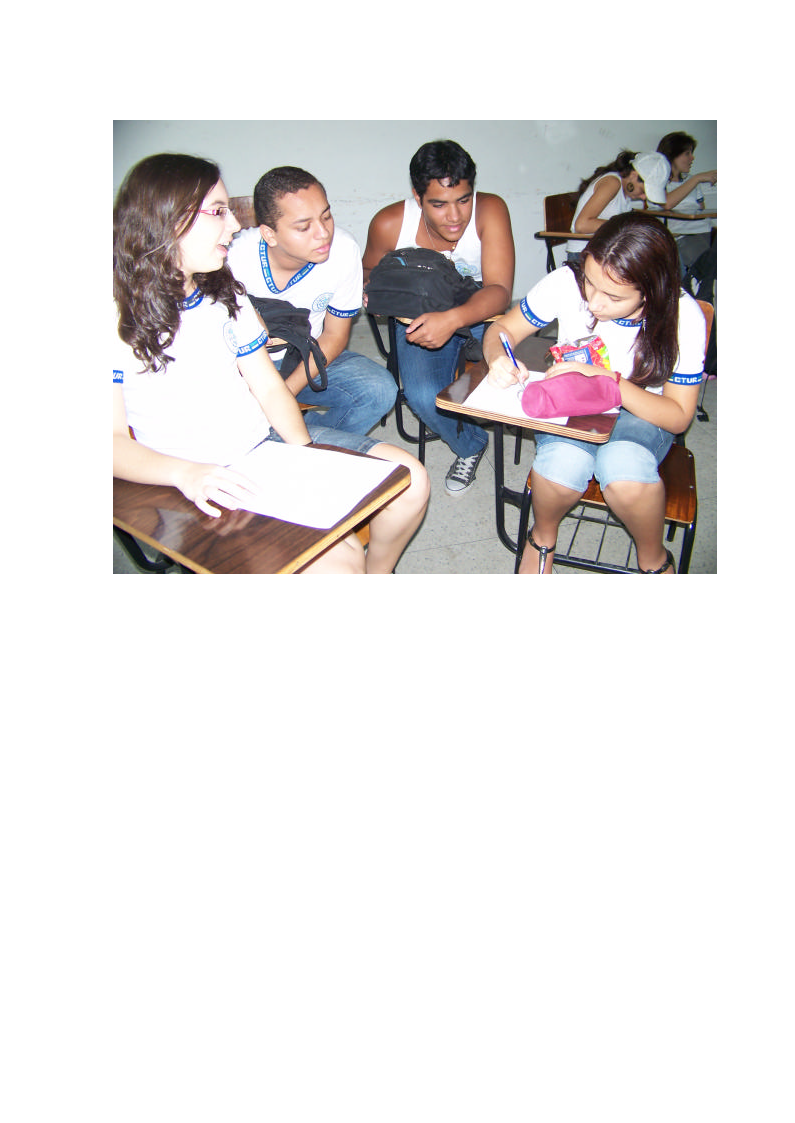
Fig. 11 – Avaliando a capacidade de trabalhar em grupo
No quinto encontro, continuando o trabalho em grupo, agora ainda menores para
aumentar a participação individual, foram apresentadas ideias e argumentos de pontos de vista
opostos aos demais colegas de classe e finalizou-se este trabalho com registro por escrito de
todos os aspectos discutidos,. A estratégia foi útil pois os assuntos controvertidos foram
discutidos, gerando, por conseguinte diferentes propostas para solucionar os diferentes
problemas observados. Este encontro serviu ainda como estratégia para estimular ou
aprimorar o desenvolvimento das habilidades de falar em público e ordenar a apresentação de
fatos e ideias. Isto foi usado para obter informações e/ou efetuar amostragem de opinião dos
alunos em relação ao lixo, além de ajudar a definir a extensão do problema dentro do colégio .
Para fechamento dessa atividade, cada grupo elaborou então um relatório no qual
resumiam a percepção dos estudantes a respeito dos problemas discutidos, bem como a
exposição de sugestões de potenciais soluções para os problemas percebidos.
31
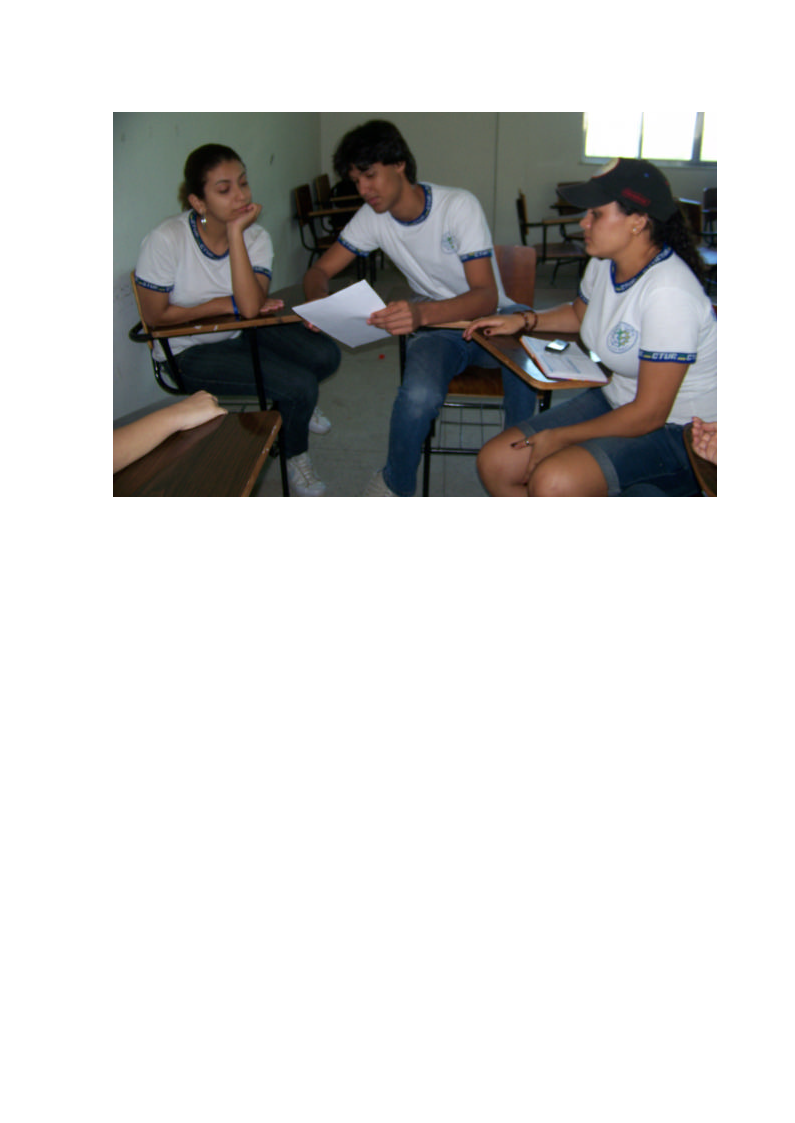
Fig. 12 – Apresentando e discutindo as propostas elaboradas
4.2.2 Sistematização da percepção dos alunos quanto às questões ambientais
No sexto encontro foi realizada a atividade complementar e mais importante de todo
essa pesquisa. Foi aplicado um questionário (adaptado de Carvalho Jr., 2004) semiestruturado
para todas as turmas do terceiro ano do Curso Técnico em Agropecuária Orgânica e para uma
parcela dos funcionários da instituição (Fig. 13 e 14). Neste trabalho haviam questões abertas,
nas quais o informante poderia discorrer livremente sobre o tema proposto, assim como
haviam questões com alternativas pré- formuladas, mediante as quais o informante
manifestava sua opinião a respeito de determinado assunto, verificando-se, ao final, a
frequência de certas ocorrências. O questionário foi um instrumento fundamental para colher
as informações e identificar a percepção ambiental dos entrevistados.
Responderam ao questionário, um total de 65 (sessenta e cinco) entrevistados assim
distribuídos: 42 (quarenta e dois) alunos, 25 (vinte e cinco) do sexo feminino e 17 (dezessete)
do sexo masculino, com idade média de 17 anos, do curso de Ensino Médio Técnico em
Agropecuária Orgânica e nove funcionários, seis do sexo feminino e três do sexo masculino,
de 33 a 65 anos de idade.
32
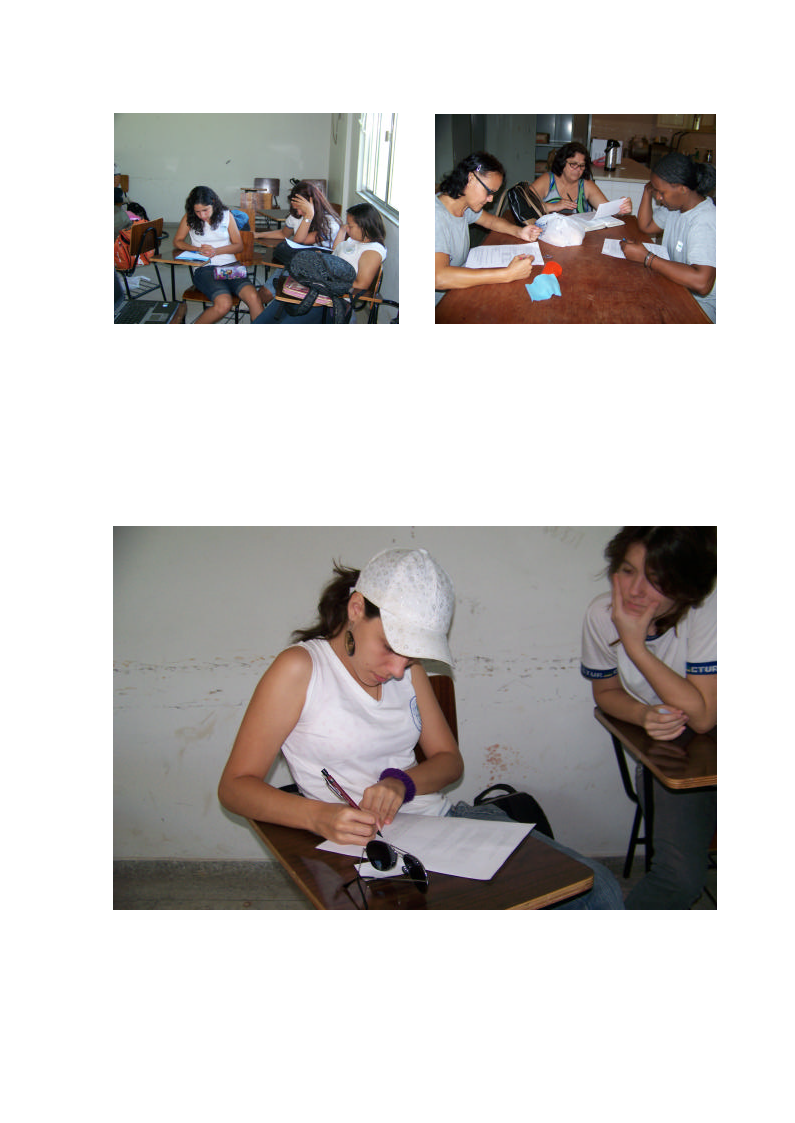
Fig. 13 - Preenchimento dos questionários por alunos e funcionários
Primeiramente, foram analisados os questionários em separados, para posteriormente
estabelecer comparações e verificar padrões. Com o objetivo de melhor visualizar os
resultados obtidos, a partir das entrevistas, decidiu-se separar as respostas em categorias que
permitisse o agrupamento de opiniões semelhantes. Sobre os dados extraídos dos
questionários respondidos aplicou-se então uma análise estatística de dispersão, permitindo a
obtenção de um diagnóstico quali-quantitativo.
Fig. 14 – Aplicação dos questionários para avaliação da percepção de problemas amb ientais
No sétimo e último encontro foi realizada uma visita ao “lixão” do Município de
Seropédica (Fig. 15), local onde o Colégio está inserido, para ampliar o horizonte da visão do
problema ambiental, tema do trabalho e realizadas observações interessantes do local, como o
destino não adequado do lixo, pessoas que moram em torno do lixão e vivem do dinheiro da
33

coleta do material. Também observou-se um problema gravíssimo que ocorre no local, que é a
combustão espontânea do lixo, provocando a produção de dioxinas. Foi possível perceber o
odor de lixo que se espalha pela região próxima e a negligência das autoridades municipais
em não implantar no local um aterro sanitário. Os estudantes treinaram e exercitaram a sua
capacidade de propor soluções para os problemas apresentados, em um contexto real.
Fig. 15 – Visita guiada ao Lixão de Seropédica – RJ
34

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 A Percepção Geral e Livre dos Alunos sobre a Questão Ambiental
Quando motivados a se expressarem livremente sobre as questões ambientais
mediante a apresentação de relatórios, os alunos manifestaram expressamente que a “má” a ou
“a falta de” Educação Ambiental no CTUR pode ser considerado como uma das principais
causas dos problemas observados in loco no campus do colégio. Comum também nos
relatórios foi a menção da necessidade de modificar esta situação através da implantação de
medidas para reciclagem do lixo, e que tais medidas deveriam ser incentivadas pela
instituição, especialmente mediante a implantação da Educação Ambiental.
Outro ponto ressaltado nas manifestações abertas é que as más práticas
comportamentais dos usuários do campus escolar contribuem para a poluição do colégio e
pode provocar um mal estar nas pessoas, prejudicando a saúde dos alunos devido à existência
de esgoto a céu aberto, lixeiras quebradas e falta de coleta seletiva, com consequente
desinteresse pela reciclagem de materiais. No relatório de manifestações voluntárias do grupo,
os alunos expressaram o incômodo que sentem pelo fato da coleta de lixo ocorrer somente
uma única vez por semana, resultando em acúmulo muito grande de lixo nas lixeiras. Os
alunos relataram também que a Prefeitura Universitária não dá os cuidados adequados a esse
lixo, que se acumula nas dependências do colégio, num depósito a céu aberto, em local muito
próximo de um posto de trabalho e da cantina, além de perceberem também muito lixo
espalhado pelo bosque do colégio.
Os alunos estão cientes de sua parte nesta questão pois admitiram que contribuem
para a poluição local, quando jogam lixo (plásticos, papel, metal) no bosque e que este
poderá, no futuro, contaminar o solo e torná- lo improdutivo. Ou seja, os alunos concluíram
que existe falta de educação por parte deles, o que resulta em um abundante lixo no pátio
escolar, e afirmam que é necessário a conscientização de todos, principalmente a mudança de
hábitos e organização de projetos para o destino do lixo e projetos para aplicação de práticas
de Educação Ambiental.
5.2 Avaliação Qualiquantitativa do Grau de Percepção sobre as Questões Ambientais
Os resultados do questionário foram descritos numa sequência em que,
primeiramente refletiram a posição dos alunos do sexo masculino, depois a das alunas e em
seguida a dos conjunto de ambos os sexos. A seguir, foram expressas as opiniões do conjunto
dos funcionários (ambos os sexos) e a opinião geral do conjunto dos entrevistados.
35
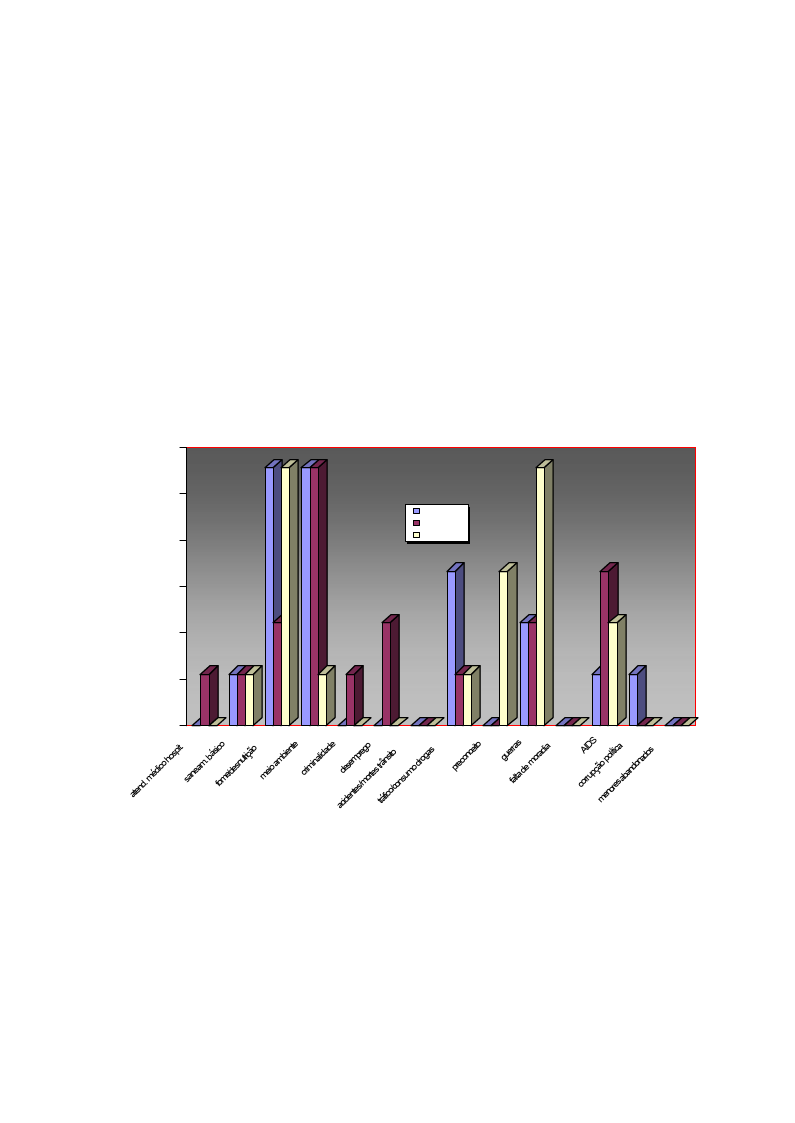
5.2.1 Importância Atribuída aos Problemas do Planeta Terra e do Brasil
A primeira questão apresentada aos entrevistados continha 14 problemas que
ocorrem em nosso Planeta e no Brasil. O entrevistado deveria elencar, por ordem de
importância, segundo sua percepção, os três principais problemas para os dois cenários, Terra
e Brasil. Em seguida, foi analisada a frequência relativa (%) de respostas, ou seja, o número
de vezes em que elas foram apontadas, independente da ordem de importância.
5.2.1.1 Diagnóstico da percepção dos alunos sobre o Planeta Terra
Pode-se depreender que, em relação ao Planeta Terra (Fig. 16), o meio ambiente e a
fome/desnutrição (28%) foram apontados pelos alunos como os problemas mais preocupantes,
seguidos do Tráfico e Consumo de drogas (17%) e da Guerra (11%).
30%
25%
20%
1a opção
2a opção
3a opção
15%
10%
5%
0%
atend.médicohospit. saneam.básifcoome/desnutrição meioambiente criminalidade adciedseenmtepsr/emgoortesttrrâánficsoito/consumodrogas
preconceito
guerfaraltsa de moradia
coArIrDuSpçãmoepnoolírteicsaabandonados
Figura 16 - Os principais problemas do Planeta Terra sob a ótica dos alunos
Mas analisando a frequência com que as respostas foram apontadas (Fig. 17),
verifica-se uma ampla preocupação com os problemas ambientais (83%). Fome e desnutrição
(45%) e a guerra (39%) aparecem em segundo e terceiro lugares, respectivamente.
36
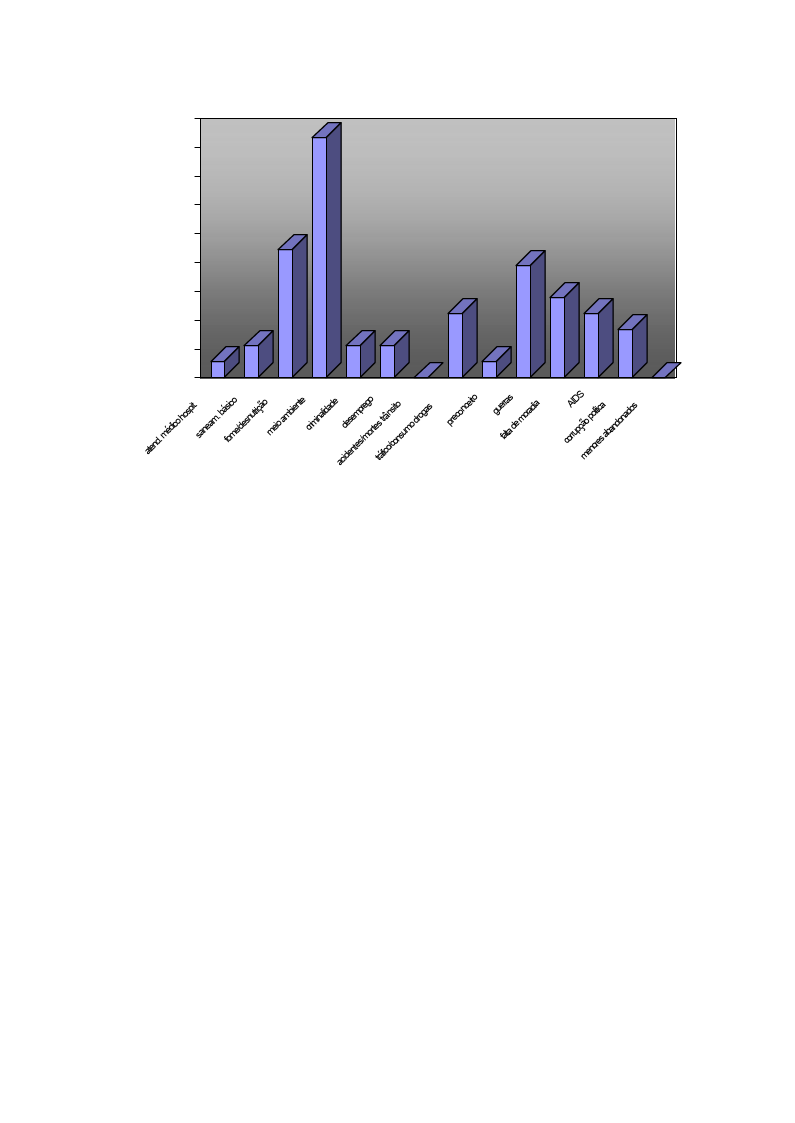
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
atend.médicohospit. saneam.báfsoicmoe/desnutrição meioambiente criminalidadeacdideesenmtepsr/emgoortetsrátfricâon/csoitonsumodrogas
preconceito
guefraraltasdemoradia
coArrIuDpSçãmoepnoolírteicsaabandonados
Figura 17- Frequência relativa dos problemas do Planeta Terra, apontados por alunos
5.2.1.2 Diagnóstico da percepção das aluna s sobre o Planeta Terra
O resultado observado na pesquisa sobre a prioridade de importância dos principais
problemas do Planeta Terra realizada com as alunas pode ser visto na Figura 18. Elas
apontaram a fome e a desnutrição (45%) como o problema primordial do nosso planeta, o que
é parecido com o observado nas entrevistas dadas pelos alunos. Entretanto, as questões
relativas ao meio ambiente, apontadas também pelos alunos como os mais preocupantes, são
consideradas pelas alunas apenas em segundo plano, na medida em que somente 18% delas
elegeram esse item como o mais relevante.
Há uma similaridade com os alunos sobre a importância atribuída à Guerra, na
medida em que as alunas entrevistadas exibiram uma mesma ordem de preocupação (10%)
com esse flagelo da humanidade. É interessante notar que as alunas não manifestaram a
mesma preocupação que os alunos quanto ao Tráfico e Consumo de Drogas, já que menos de
3% das alunas colocaram esse problema como de primeira importância. Isso talvez possa ser
atribuído à maior propensão dos homens serem vinculados aos entorpecentes,
comparativamente às mulheres.
37
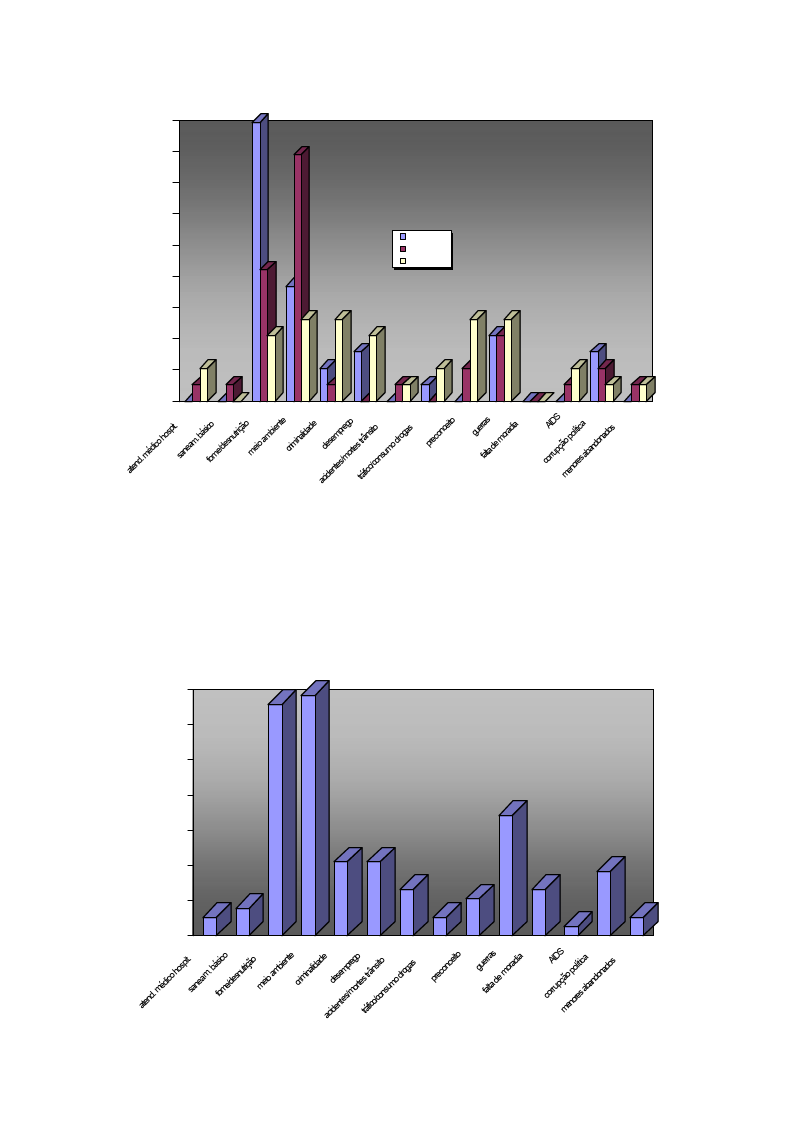
45%
40%
35%
30%
25%
20%
1a opção
2a opção
3a opção
15%
10%
5%
0%
atend.médicohospit. saneam.básicfoome/desnutrição meioambiente criminalidade acdiedseenmtepsr/emgoortestrtráâfincosi/tcoonsumodrogas
preconceito
guerfraaslta de moradia
coArIrDuSpçãmoepnoolírteicsaabandonados
Figura 18 - Os principais problemas do Planeta Terra sob a ótica das alunas.
A frequência das respostas apuradas entre as alunas (Fig. 19) sugere que, para o sexo
feminino, os problemas sociais não tem um distanciamento considerável dos problemas
ambientais. O problema apontado com maior frequênc ia pelas alunas foi o ambiental (68%),
mas fome e desnutrição foram citados com frequência muito próximas (66%). É interessante
que as guerras (34%) novamente são apontadas como importantes problemas de ordem
mundial.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
atend.médicohospit.saneam.báfsoicmoe/desnutrição meioambiente criminalidadeaciddeesnetmesp/mregoortestrátrfâicno/sciotonsumodrogas
preconceito
guefarrlatasdemoradia
coArrIuDpSçmãoenpoorelítsicaabandonados
Figura 19 - Frequência relativa dos problemas do Planeta Terra, apontados por alunas
38
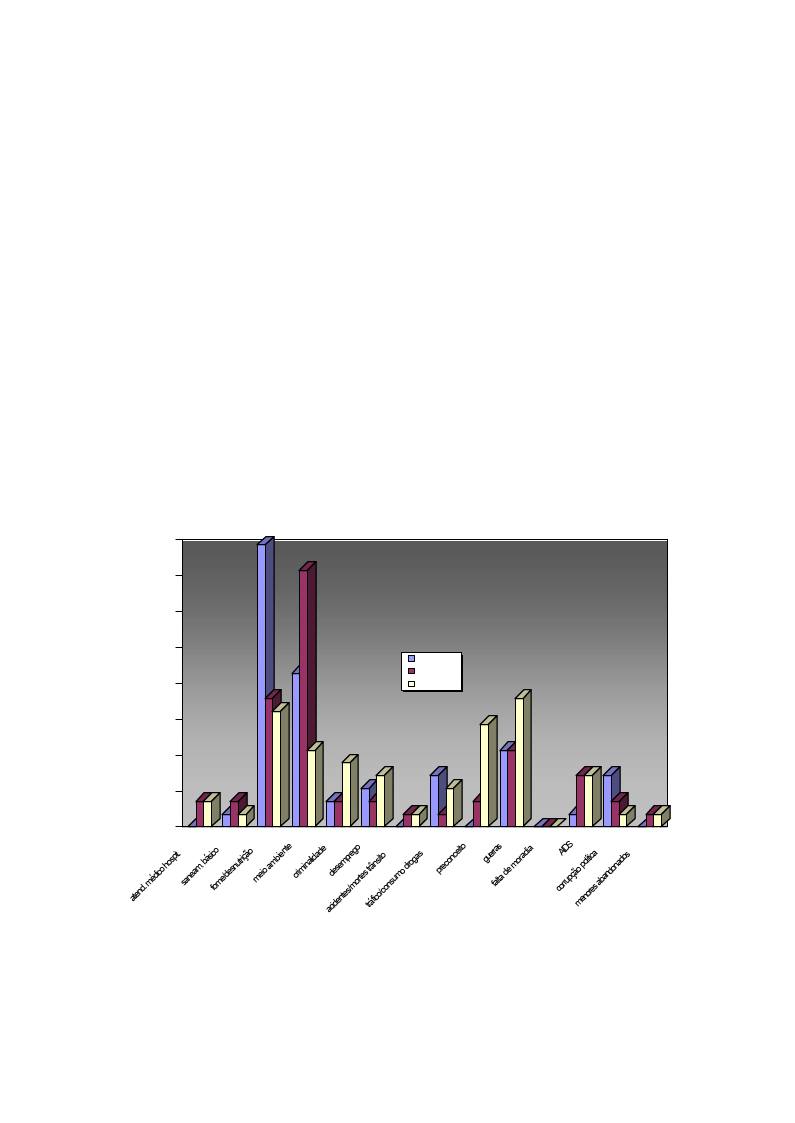
5.2.1.3 Diagnóstico da percepção de alunos e alunas sobre o Planeta Terra
Analisados em conjuntos (Fig. 20), alunos e alunas responderam que o principal
problema do Planeta é a fome (40%). Essa problema é frequentemente notado por indivíduos
que vivem mais proximamente das camadas mais pobres da população, ainda que não o
sintam na essência. Contudo, não é possível afirmar que o resultado aqui levantado seja
devido à condição social dos entrevistados e, dessa forma, estabelecer potenciais correlações
entre os fatos em razão de não ter sido considerado este aspecto nas entrevistas. Chama a
atenção, entretanto, o fato de que, quando confrontado com as questões mais próximas
(Brasil), essa preocupação não se verifica com tal intensidade, como será visto mais adiante,
embora a fome seja uma realidade no Brasil, mais até do que em muitos países ao redor do
mundo.
O segundo problema em ordem de importância apontado pelo conjunto de alunos e
alunas foi o meio ambie nte (21%), consideravelmente distante do primeiro problema,
caracterizando que as questões ambientais são, na visão desses jovens, de importância
secundária, quando confrontado com o crítico problema da fome e desnutrição. A guerra
(11%), apontado tanto por alunas quanto por alunos como um problema crítico mundial, surge
como terceiro problema em ordem de importância.
40%
35%
30%
25%
20%
1a opção
2a opção
3a opção
15%
10%
5%
0%
atend.médicohospit. saneam.básicfoome/desnutrição meioambiente criminalidade adciedseenmtepsr/emgoortesttrráâfnicsoit/oconsumodrogas
preconceito
guerras
falta
de
moradia
coArIrDuSpçãmo epnoolítriceas abandonados
Figura 20 - Os principais problemas do Planeta Terra sob a ótica dos alunos e das alunas
39
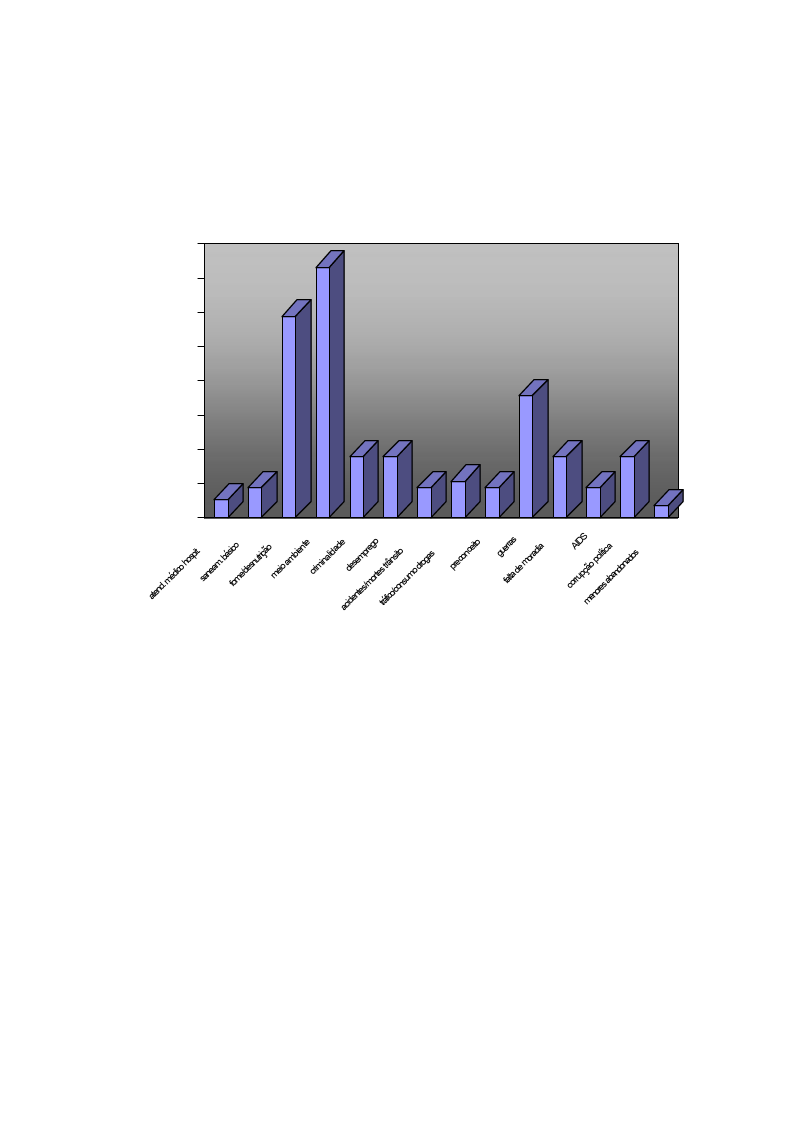
Pela distribuição de frequências (Fig. 21), observa-se a ratificação da questão
ambiental como o problema mais preocupante para o conjunto dos alunos. Embora não tenha
sido apontado pelos alunos como o problema mais importante a exemplo das alunas, os
problemas ambientais foram consideravelmente citados por ambos os sexos para ganhar o
status de problema mundial mais frequentemente lembrado (73%) pelos entrevistados, a
frente até de problemas graves como fome e desnutrição (59%) e as Guerras (36%).
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
atend.médicohospit. saneam.básifcoome/desnutrição meioambiente criminalidadeacdideesnetmesp/mregoortestrátrfiâcon/sciotonsumodrogas
preconceito
guefarraltasdemoradia
coArrIuDpSçmãoenpoorelísticaabandonados
Figura 21- Frequência relativa dos problemas do Planeta Terra, apontados por alunos e alunas
Problemas como criminalidade, desemprego, falta de moradia e corrupção política
são pouco lembrados quando o cenário é o internacional, resultado de certa forma esperado
uma vez que os estudantes de uma maneira ge ral acreditam que esses problemas estejam mais
circunspectos ao país onde vivem. Mesmo problemas como AIDS e preconceito que são de
abrangência mundial parece ser pouco sentido como de grande magnitude pelos entrevistados.
Corrobora para isso, talvez o fato de se tratarem de pessoas jovens, adolescentes em sua
maioria, naturalmente pouco afeito aos problemas que acometem o mundo em geral.
5.2.1.4 Diagnóstico da percepção de funcionários sobre o Planeta Terra
Os funcionários do CTUR (Fig. 22) também apontaram os problemas ambientais
(22%) como de primeira importância, mas essa posição é dividida com outros dois grandes
problemas, esses na esfera social, fome/desnutrição (22%) e atendimento médico hospitalar
(22%). A fome e a desnutrição são problemas que sensibilizam pessoas em geral,
independente do fator idade. Atendimento médico hospitalar, contudo, tende a preocupar mais
as pessoas de idade mais avançadas, tipicamente o perfil em que se enquadram os
40
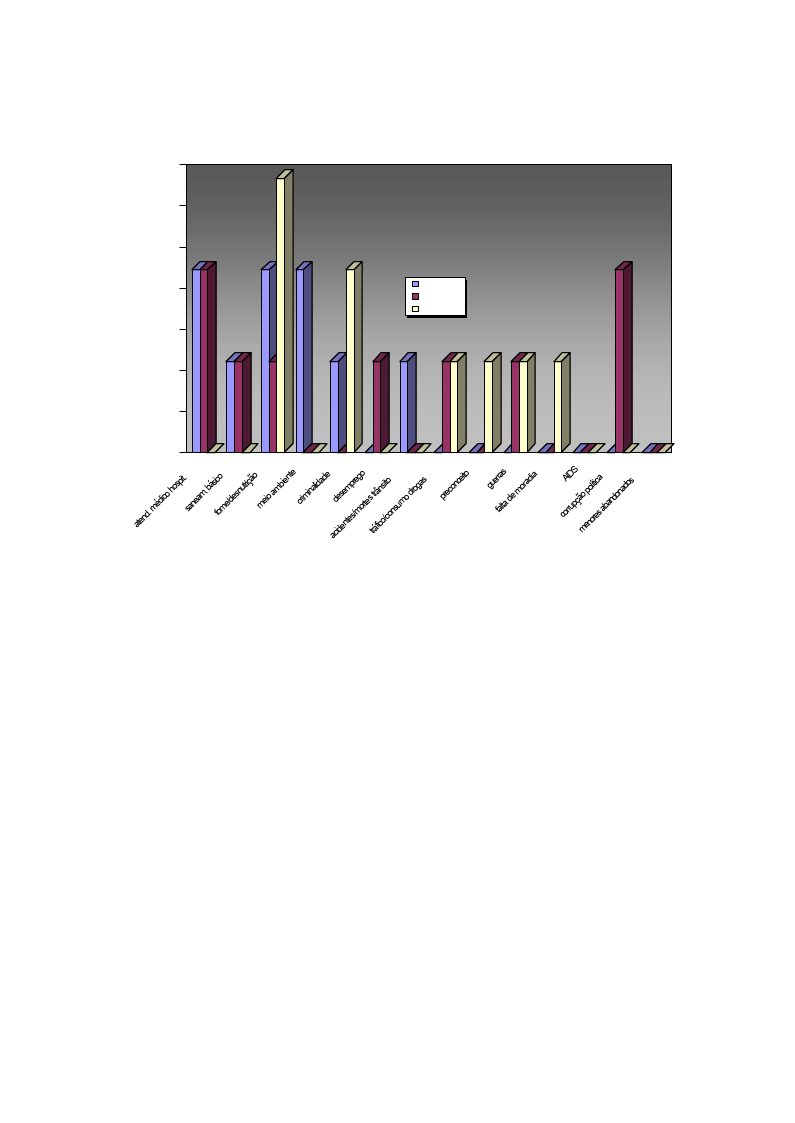
funcionários em questão, o que explica a similaridade de nível de preocupação com fatores
tanto de natureza ambiental e quanto social.
35%
30%
25%
20%
15%
1a opção
2a opção
3a opção
10%
5%
0%
atend.médicohospit.saneam.básicfoome/desnutrição meioambiente criminalidade adciedseenmtepsr/emgoortestrtárâficnos/itcoonsumodrogas
preconceito
guerras
falta
de
moradia
coArIrDuSpçãmoepnoolírteicsaabandonados
Figura 22 - Os principais problemas do Planeta Terra sob a ótica dos funcionários
Os problemas socia is são bem marcantes, sobretudo os que dizem respeito aos
problemas que preocupam mais de perto os adultos como moradia, acidente de trânsito e
saneamento básico. Corrobora ainda essa assertiva o fato de que enquanto entre alunos e
alunas, bem mais jovens, AIDS é citado por quase 9% dos entrevistados, entre os funcionários
a esse problema é dada importância mínima.
Quando se avalia o quadro de frequência (Fig. 23) entre os funcionários, pode-se
observar com mais clareza as preocupações deles com os problemas ambientais do Planeta
Terra, citado com mais frequência (55%) que qualquer outro problema pelos funcionários.
Mas, novamente, os problemas sociais como atendimento médico/hospitalar (44%),
fome/desnutrição (33%) e desemprego (33%) são consideravelmente citados. Problemas
importantes ao nível nacional como criminalidade, acidentes de trânsito, drogas, preconceito,
moradia e AIDS foram citados em níveis muito baixos pelos funcionários e a questão dos
menores abandonados sequer foi citado. É possível que esses sejam problemas sentidos mais
de perto quando se tratam de questões nacionais, mas aparentemente sejam mais inerentes ao
nosso país e não um problema de ordem mundial.
41
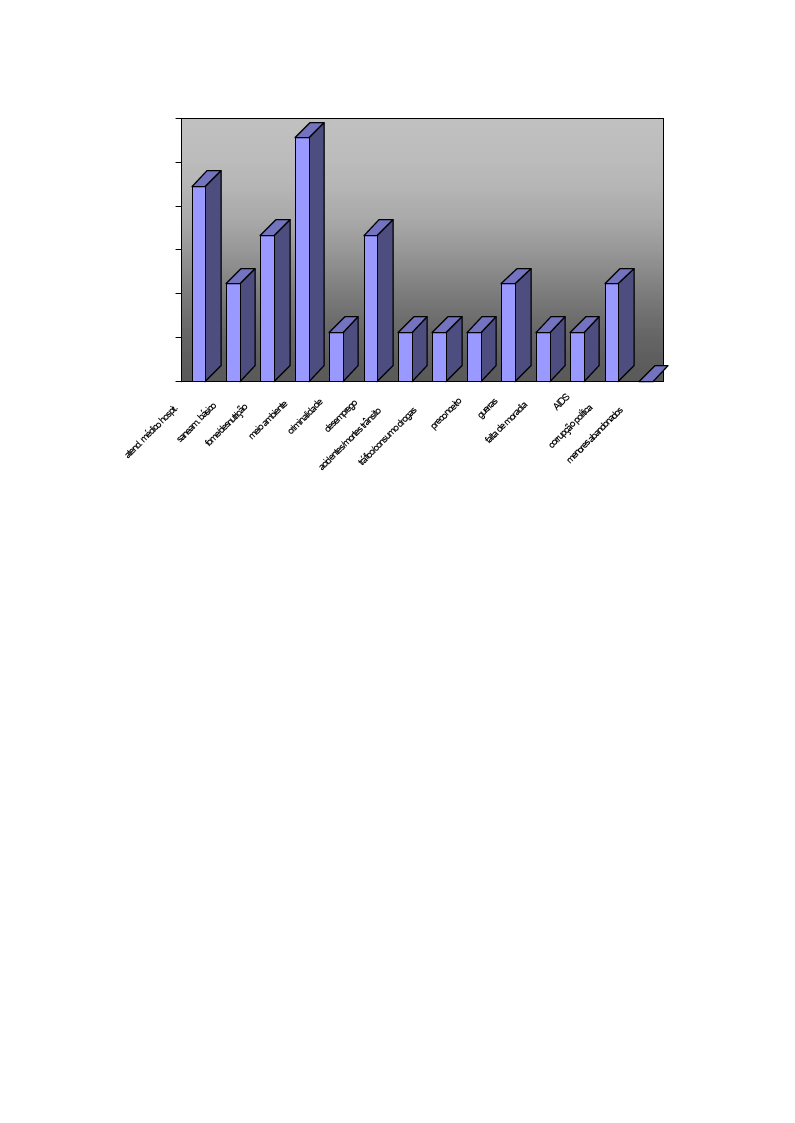
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
atend.médicohospit. saneam.básfoicmoe/desnutrição meioambiente criminalidadeaciddeesnetemsp/mreogortestrtárâficnos/ictoonsumodrogas
preconceito
guefraraltsa de moradia
coArruIDpSçãmoepnoolríeticsaabandonados
Figura 23- Frequência relativa dos problemas do Planeta Terra, apontados por funcionários
5.2.1.5 Diagnóstico de percepção geral (alunos e funcionários) sobre o Planeta Terra
Quando a primeira questão foi analisada considerando o conjunto dos entrevistados,
a percepção dos problemas ficou mais bem definido (Fig. 24). Verificou-se que alunos e
funcionários elegeram a fome/desnutrição como o principal problema mundial (37%) com
considerável margem sobre os problemas de meio ambiente (22%) e mais ainda sobre a
guerra (9%), em terceiro lugar. Juntos esses problemas representam quase 70% da escolha dos
entrevistados, o que coloca os demais problemas em pequena evidência.
Observando-se a frequência de respostas (Fig. 25), verifica uma tendência muito
similar à observada na questão anterior, com algumas pequenas variações. O Meio Ambiente
é, desta feita, o problema mundial mais frequentemente apontado pelos entrevistados (24%),
seguido de fome e desnutrição (19%) e da guerra (11%). Esse resultado parece ratificar a ideia
de que, de fato, os problemas ambientais são evidentes, atuais e preocupam a sociedade como
um todo.
42
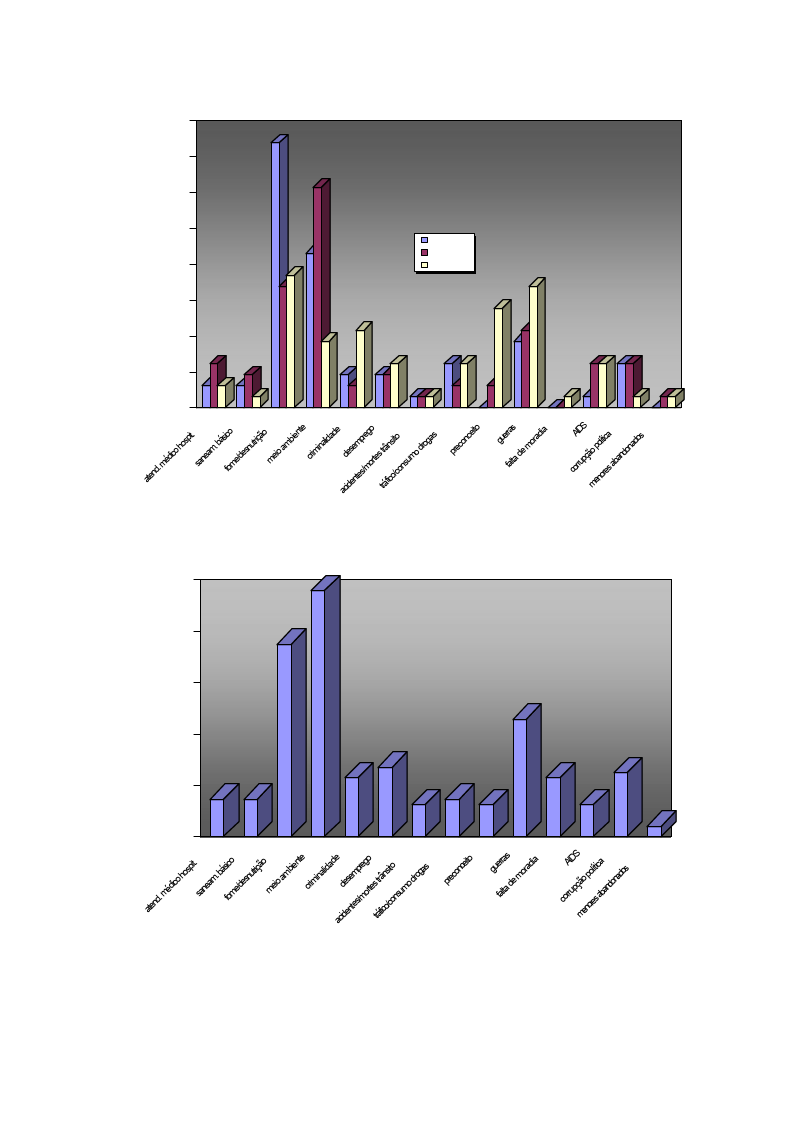
40%
35%
30%
25%
20%
1a opção
2a opção
3a opção
15%
10%
5%
0%
atend.médicohospit. saneam.básicfoome/desnutrição meioambiente criminalidade adciedseenmtepsr/emgoortesttrráâfnicsoit/oconsumodrogas
preconceito
guerras
falta de
moradia
coArIrDuSpçãmo epnoolítriceas abandonados
Fig. 24 - Importância atribuída em geral aos problemas do Planeta Terra
25%
20%
15%
10%
5%
0%
atend.médicohospit. saneam.básfiocome/desnutrição meioambiente criminalidadeacdideesnetmesp/mregoortestrátrâficnos/citoonsumodrogas
preconceito
guefarrlatasde moradia
coArrIuDpSçmãoenpoorelísticaabandonados
Figura 25 - Frequência de respostas atribuídas em geral aos problemas do Planeta Terra
43
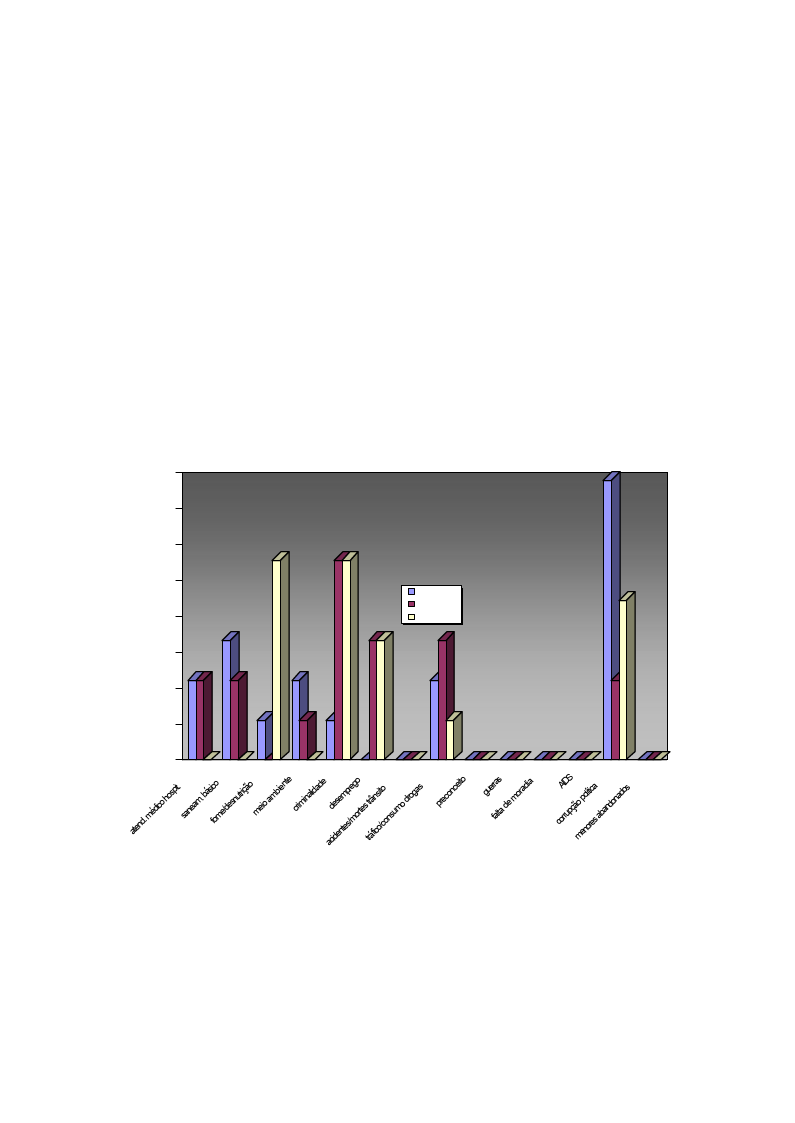
5.2.1.6 Diagnóstico da percepção dos alunos sobre os problemas do Brasil
Muito diferente do comportamento frente aos problemas mundiais, quando os alunos
apontaram a fome e os problemas ambientais como de capital importância, quando
confrontado com os problemas brasileiros (Fig. 26) esses estudantes colocaram a corrupção
política (39%) como o principal problema brasileiro. Chama a atenção a margem dilatada para
o segundo mais importante problema na opinião dos alunos, saneamento básico (17%), que
por sinal, é também um problema de natureza política, uma vez que a solução dele depende
fundamentalmente de ações de políticas públicas.
Os problemas do meio ambiente surgem apenas como terceiro item mais
preocupante para os entrevistados (11%), mesmo assim, empatado com outros dois
problemas, atendimento médico hospitalar e drogas. Outro aspecto também digno de ser
mencionado é o fato de que problemas sumamente importantes, realísticos e presentes no
cotidiano brasileiro como falta de moradia, preconceito, trânsito, AIDS e menores
abandonados, não terem sido apontados pelos alunos, nem sequer na terceira ordem de
importância.
40%
35%
30%
25%
20%
1a opção
2a opção
3a opção
15%
10%
5%
0%
atend.médicohospit. saneam.básicfoome/desnutrição meioambiente criminalidade adciedseenmtepsr/emgoortesttrráâfnicsoit/oconsumodrogas
preconceito
guerras
falta
de
moradia
coArIrDuSpçãmo epnoolítriceas abandonados
Figura 26 - Os principais problemas brasileiros sob a ótica dos alunos
Embora a corrupção política continue a ser, disparado (50%), o problema mais em
evidência quando se analisou a frequência das respostas (Fig. 27), o meio ambiente, dessa
vez, surge como o segundo problema mais referenciado pelos alunos (44%), juntamente com
o desemprego. Criminalidade (33%), saneamento básico (28%) e drogas (28%) são os
problemas apontados em sequência.
44
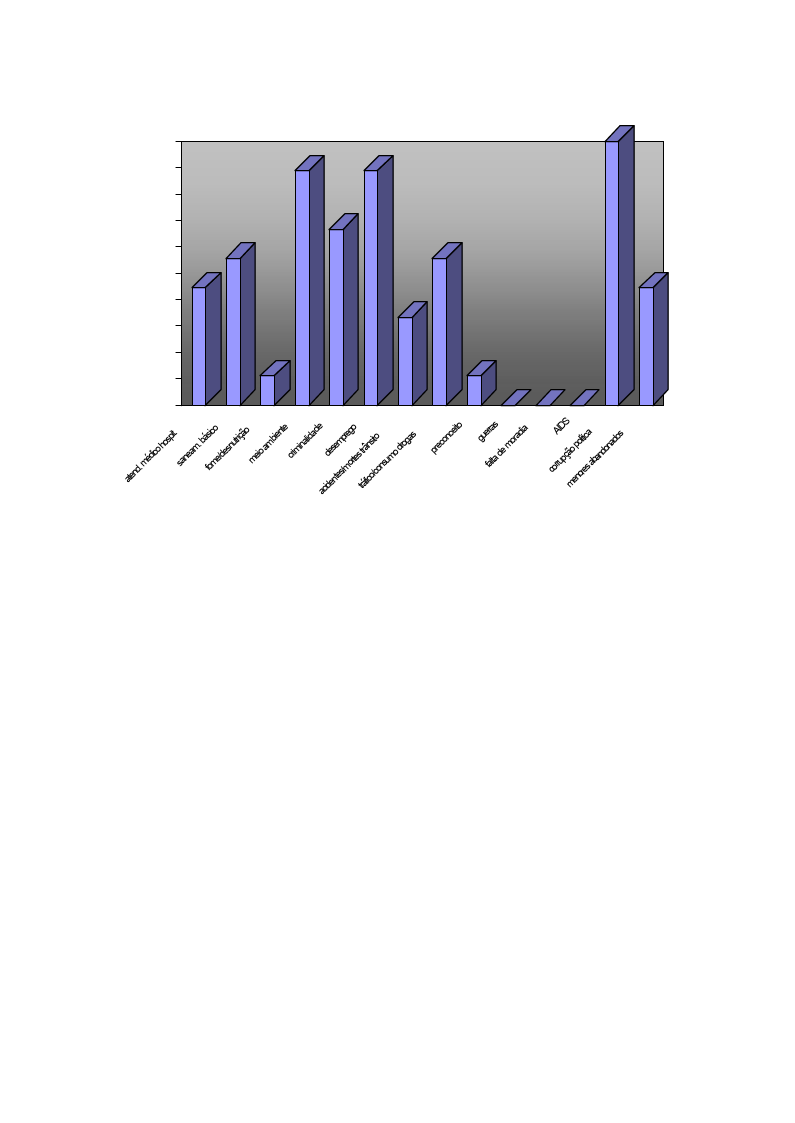
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
atend.médicohospit. saneam.báfsoicmoe/desnutrição meioambiente criminalidadeaciddeesnetemsp/mreogortestrtárâfincosi/tcoonsumodrogas
preconceito
guerras
falta de
moradia
coArruIDpSçãmoepnoolírteicsaabandonados
Figura 27- Frequência relativa de respostas atribuídas por alunos aos problemas brasileiros
5.2.1.7 Diagnóstico da percepção das alunas sobre os problemas do Brasil
Assim como ocorreu em relação aos alunos, corrupção política também foi apontada
pelas alunas (Fig. 28) como principal problema brasileiro (24%). O diferencial ficou por conta
do fato de que este problema não foi apontado isoladamente, mas juntamente com a
criminalidade, com o mesmo porcentual de importância. É possível aqui que a reconhecida
sensibilidade do sexo feminino para com a violência seja, em parte, responsável por elas
introduzirem esse problema na esfera dos mais importantes do Brasil. Ratifica essa assertiva o
resultado observado na frequência relativa, onde a criminalidade é o problema brasileiro mais
frequentemente apontado pelas alunas.
A exemplo dos alunos, o desemprego (16%) também é uma preocupação das alunas,
juntamente com atendimento médico hospitalar, com o mesmo porcentual de importância. A
presença do desemprego como um dos problemas mais importantes a serem relatados tanto
por alunas quanto por alunos de certa forma surpreende, na medida em que ainda estão
estudando e, em sua maioria, ainda não contribuindo com o contingente efetivo de
trabalhadores.
45
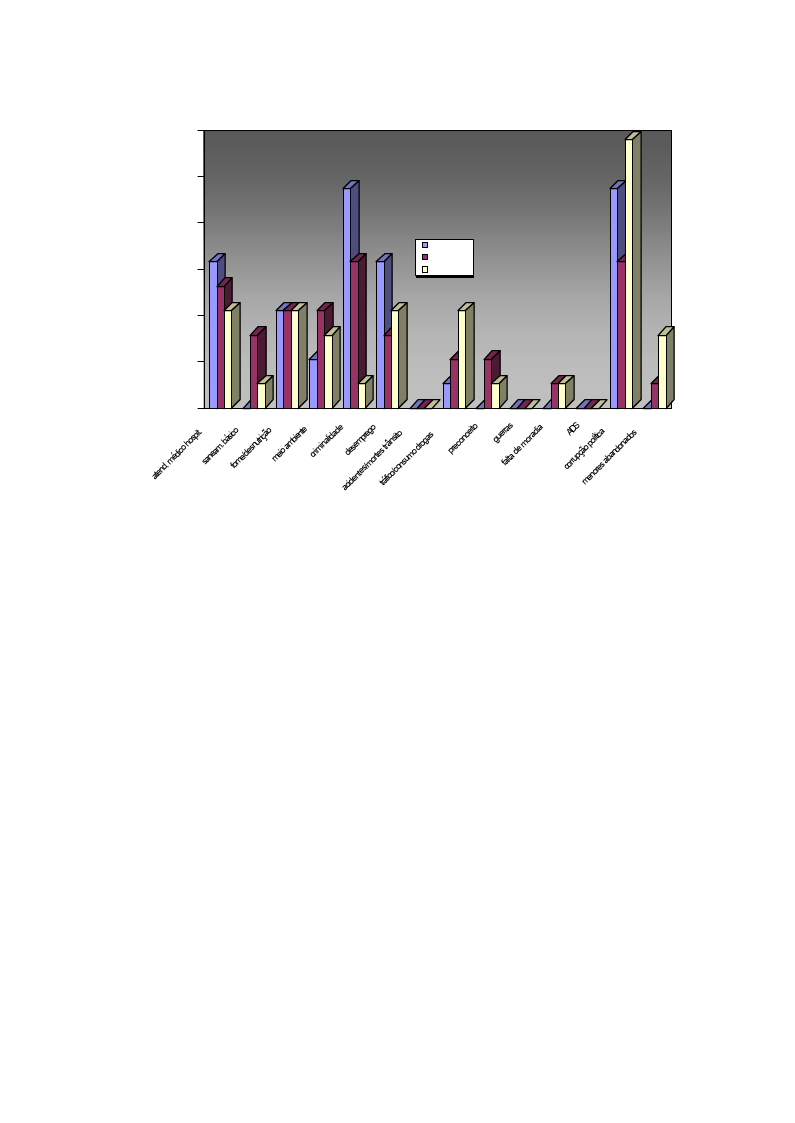
30%
25%
20%
15%
1a opção
2a opção
3a opção
10%
5%
0%
atend.médicohospit. saneam.básicfoome/desnutrição meioambiente criminalidadeadciedseenmtepsr/emgoortestrátrfâicnos/citoonsumodrogas
preconceito
guerras
falta
de
moradia
coArIDruSpçãmo epnoolítriceas abandonados
Figura 28- Os principais problemas brasileiros sob a ótica das alunas
Como observado anteriormente, quase a metade das alunas (Fig. 29) apontaram a
criminalidade como um dos problemas brasileiros mais frequente (47%). A corrupção política
é também frequente na percepção das alunas (40%), a frente de atendimento médico
hospitalar e menores abandonados (32%).
Nota-se que, no que diz respeito à frequência, os problemas de ordem ambiental
aparecem apenas na quinta posição (26%), juntamente com a preocupação com o desemprego.
É possível notar uma preocupação significativa das alunas com os problemas de cunho social,
o que é bastante plausível num país ainda em crescimento como o Brasil, com fortes
desequilíbrios sociais.
A idade e o sexo certamente contribuem para explicar parcialmente esse
comportamento. Contudo, a menor frequência de preocupação com os problemas do meio
ambiente no Brasil, quando comparado com o cenário internacional, parece sugerir que as
alunas veem os problemas ambientais como “coisas” de outro mundo, ou seja, distanciado de
suas realidades.
46
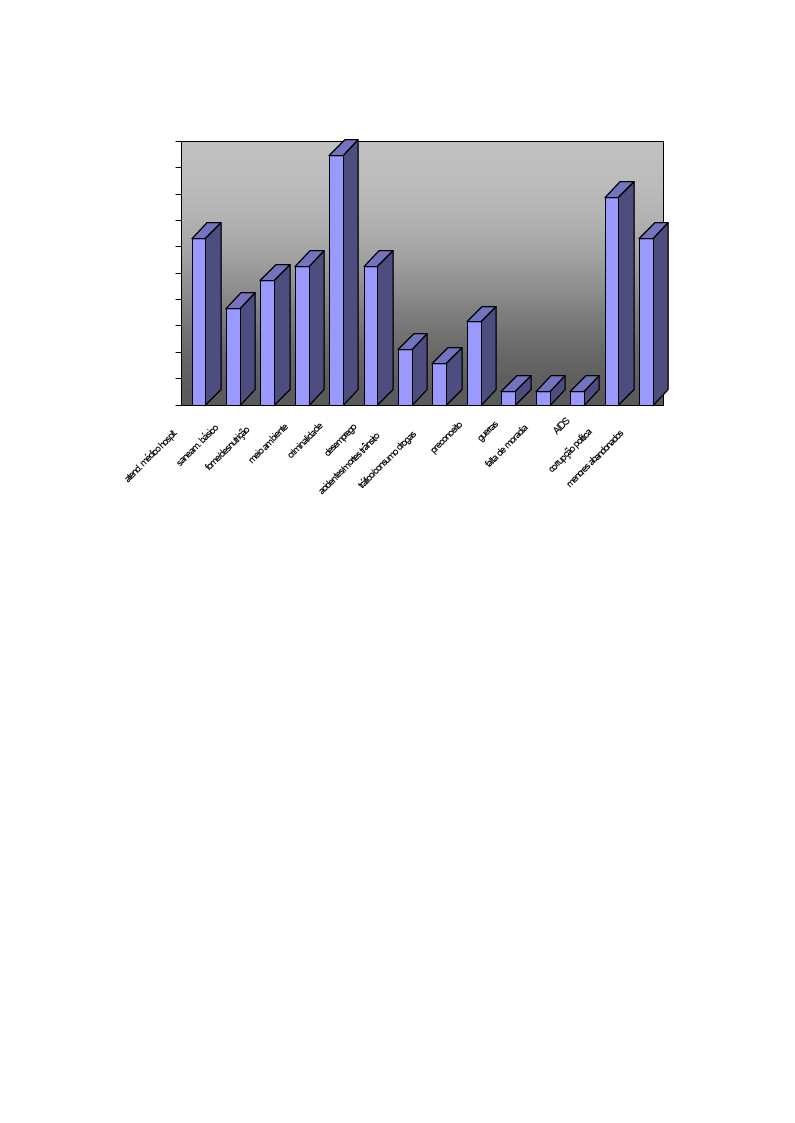
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
atend.médicohospit. saneam.báfsoicmoe/desnutrição meioambiente criminalidadeaciddeesnetemsp/mreogortestrtárâfincosi/tcoonsumodrogas
preconceito
guerras
falta de
moradia
coArruIDpSçãmoepnoolírteicsaabandonados
Figura 29 - Frequência relativa de respostas atribuídas por alunas aos problemas brasileiros
5.2.1.8 Diagnóstico da percepção de alunos e alunas sobre os problemas do Brasil
Na figura 30, pode-se depreender novamente que os problemas ambientais (5%)
parecem distantes da realidade dos alunos em geral, já que eles são tidos como de maior
importância somente por uma pequena parcela desse universo de estudantes, aparecendo atrás
de corrupção política (29%), criminalidade (24%), atendimento médico/hospitalar (16%) e
desemprego (16%) como os problemas mais cruciais do país.
Mesmo no estudo de frequência relativa (Fig. 31) é possível notar que a questão
ambiental não é prioritário para a maioria dos alunos e alunas, uma vez que é visto apenas
como o terceiro problema mais frequente do Brasil (32%), posição alcançada também pela
preocupação com desemprego.
47
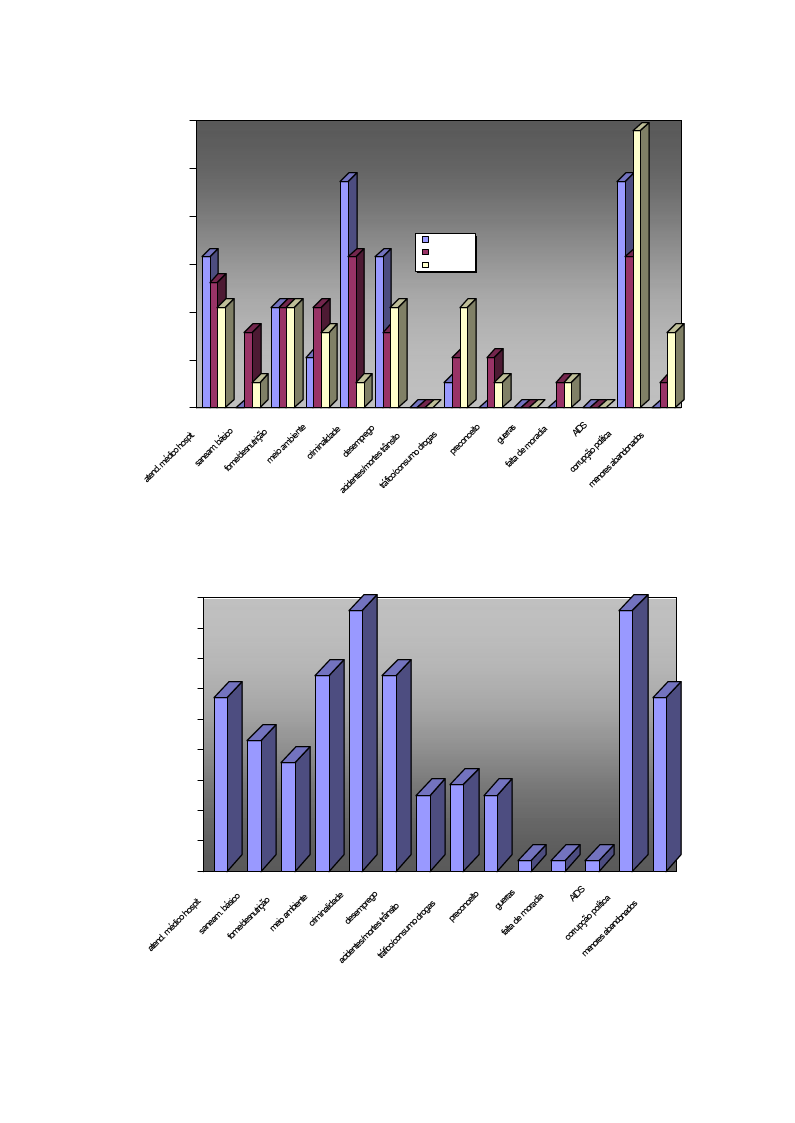
30%
25%
20%
15%
1a opção
2a opção
3a opção
10%
5%
0%
atend.médicohospit. saneam.básicfoome/desnutrição meioambiente criminalidade adciedseenmtepsr/emgoortesttrráâfnicsoit/oconsumodrogas
preconceito
guerras
falta de
moradia
coArIrDuSpçãmo epnoolítriceas abandonados
Figura 30- Os principais problemas brasileiros sob a ótica de alunos e alunas
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
atend.médicohospit.saneam.básfoicmoe/desnutrição meioambiente criminalidadeaciddeesnetems/pmreogrotestrtárâficnos/itcoonsumodrogas
preconceito
guefarrlatasde moradia
coArrIuDpSçmãoenpoorelítsicaabandonados
Figura 31 - Frequência relativa de respostas atribuídas por alunos e alunas aos problemas brasileiros
48
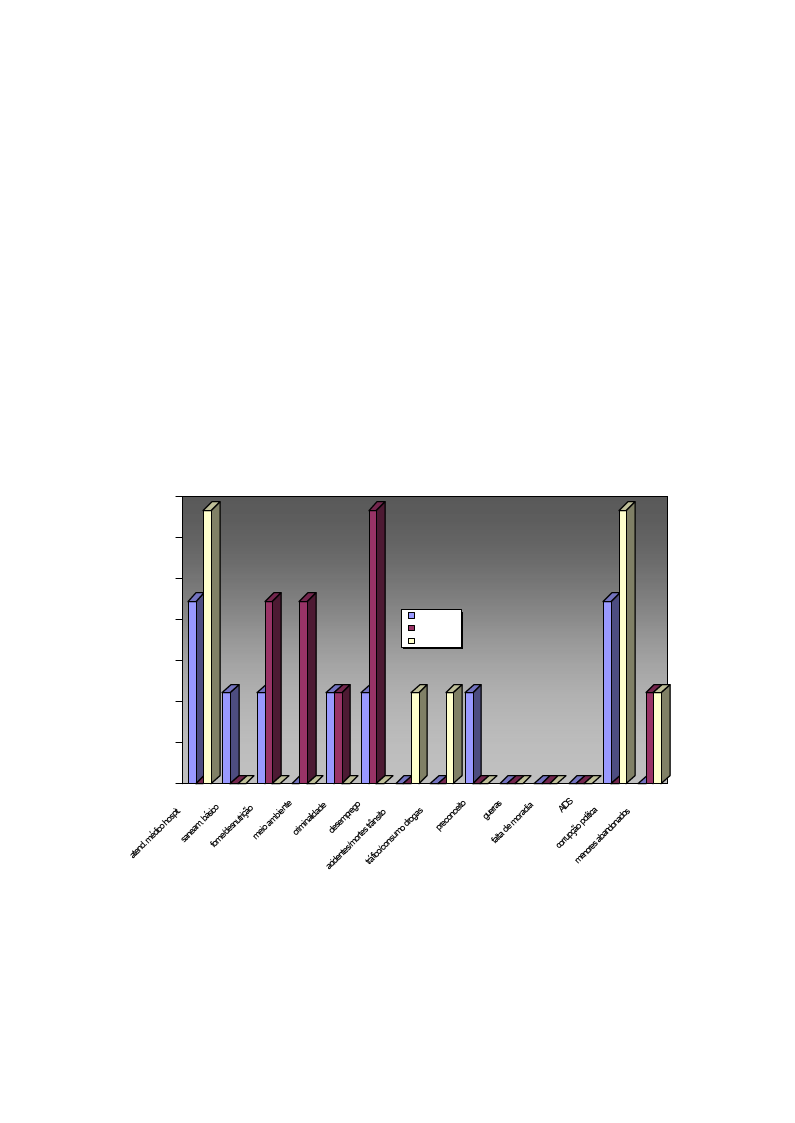
Provavelmente escapa à compreensão da maioria dos estudantes que a pobreza, ou
seja, a degradação da qualidade de vida dos homens, atinge grande parte da população
mundial. E, tanto quanto a dilapidação dos recursos naturais e as diversas formas de
poluição, esse problema é expressão de um modelo civilizatório, marcado por profundas
desigualdades entre as nações, o que repercute severamente na vida dos habitantes de países
como o nosso, incluído naquilo a que chamamos de Terceiro Mundo, como afirma Barreto
(1993).
5.2.1.9 Diagnóstico da percepção de funcionários sobre os problemas do Brasil
A importância atribuída pelo s funcionários aos principais problemas nacionais
podem ser visualizadas na Figura 32. Atendimento médico hospitalar e corrupção política
(33%) foram elencados como os problemas mais importantes do Brasil. A seguir foram
listados os problemas com meio ambiente e fome/desnutrição (22%), saneamento básico,
criminalidade, tráfico/consumo de drogas, acidente de trânsito, preconceito e menores
abandonados (11%). Problemas com trânsito, drogas, guerra, moradia, AIDS e menores
abandonados não estiveram entre as preocupações primordiais dos funcionários.
35%
30%
25%
20%
15%
1a opção
2a opção
3a opção
10%
5%
0%
atend.médicohospit. saneam.básicfoome/desnutrição meioambiente criminalidade adciedseenmtepsr/emgoortesttrráâfnicsoit/oconsumodrogas
preconceito
guerras
falta
de
moradia
coArIrDuSpçãmo epnoolítriceas abandonados
Figura 32 - Os principais problemas brasileiros sob a ótica dos funcionários
A frequência relativa com que os problemas são apontados (Fig. 33) se apresenta de
maneira distinta daquela em foram elencados por ordem de importância. As maiores
preocupações continua m sendo de natureza social, mas outros problemas foram identificados
como mais frequentes. Saneamento básico, desemprego e menor abandonado (44%) aparecem
como os problemas mais críticos do Brasil, questões que pessoas mais maduras normalmente
consideram mais relevantes. A seguir os funcionários citaram atendimento médico hospitalar
49
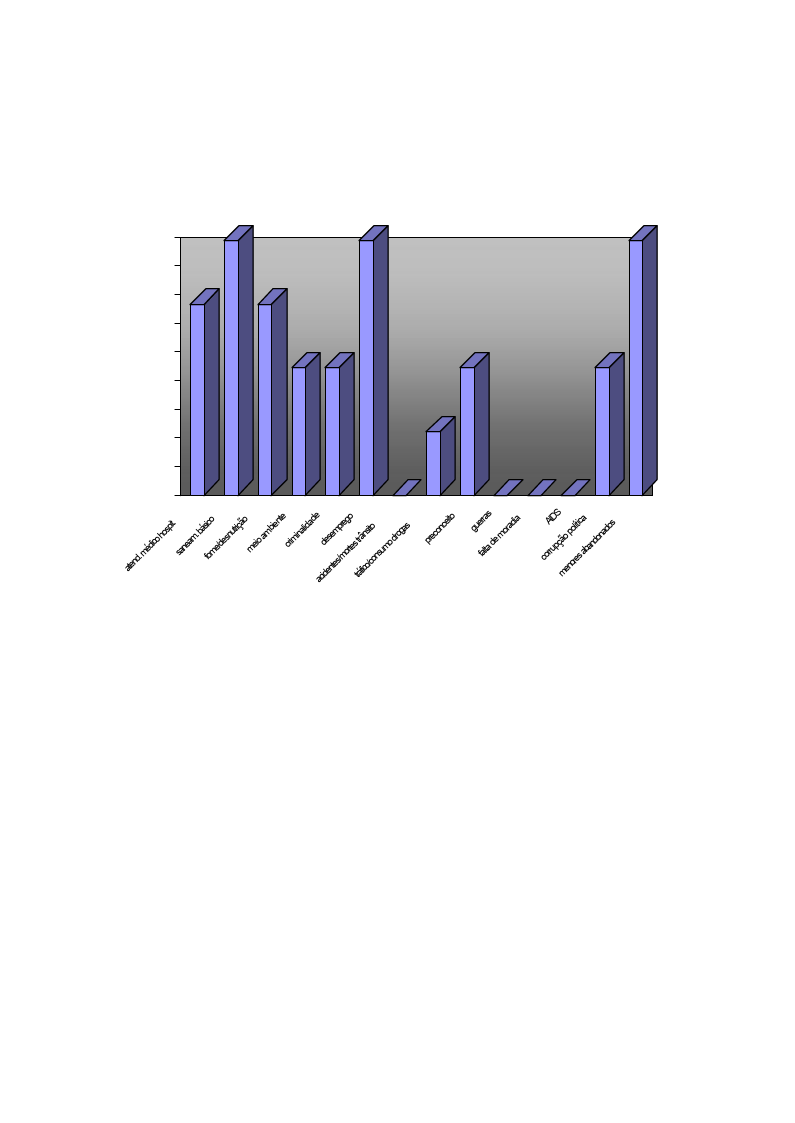
e a fome/desnutrição (33%), preocupações que também são típicas da maturidade dos
entrevistados. Questões relativas ao meio ambiente não foram apontadas como prioritárias
pela maior parte dos funcionários, estando no mesmo nível de preocupação que os problemas
com criminalidade, preconceito e corrupção política (22%).
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
atend.médicohospit. saneam.básfiocome/desnutrição meioambiente criminalidadeacdideesnetmesp/mreogrotestrtárâficnos/itcoonsumodrogas
preconceito
guefraraltasdemoradia
coArrIuDpSçmãoenpoorleítiscaabandonados
Figura 33 - Frequência relativa de respostas atribuídas por funcionários aos problemas brasileiros
5.2.1.10 Diagnóstico de percepção geral (alunos e funcionários) sobre os problemas do Brasil
Quando a área de abrangência ficou circunscrita ao Brasil, observaram-se
consideráveis mudanças de opiniões comparativamente ao que foi observado no cenário
mundial. Por ordem de importância (Fig. 34) os entrevistados apontaram corrupção política
como principal problema do país (28%), seguida de criminalidade (17%) e atendimento
médico hospitalar (15%). Percebeu-se uma preocupação com as questões ambientais somente
quando o cenário era o Planeta, mas isso não se confirma quando defrontados com a realidade
em que vivem. É provável que ao se defrontarem com problemas cotidianos, mais frequentes
e mais prementes que os problemas ambientais, outras questões sejam consideradas mais
relevantes em detrimento do meio ambiente.
Analisando-se agora a frequência das respostas (Fig. 35), a tendência se manteve a
mesma, com corrupção política e criminalidade (14%) sendo os problemas mais
frequentemente citados, reforçando a preocupação dos entrevistados com esses temas capitais.
Pequena mudança, entretanto, pôde ser sentida no terceiro item mais citado, aparecendo
desemprego (11%) superando os problemas com meio ambiente e menores abandonados
(10%), que foram apontados apenas como quarto itens mais citados.
50
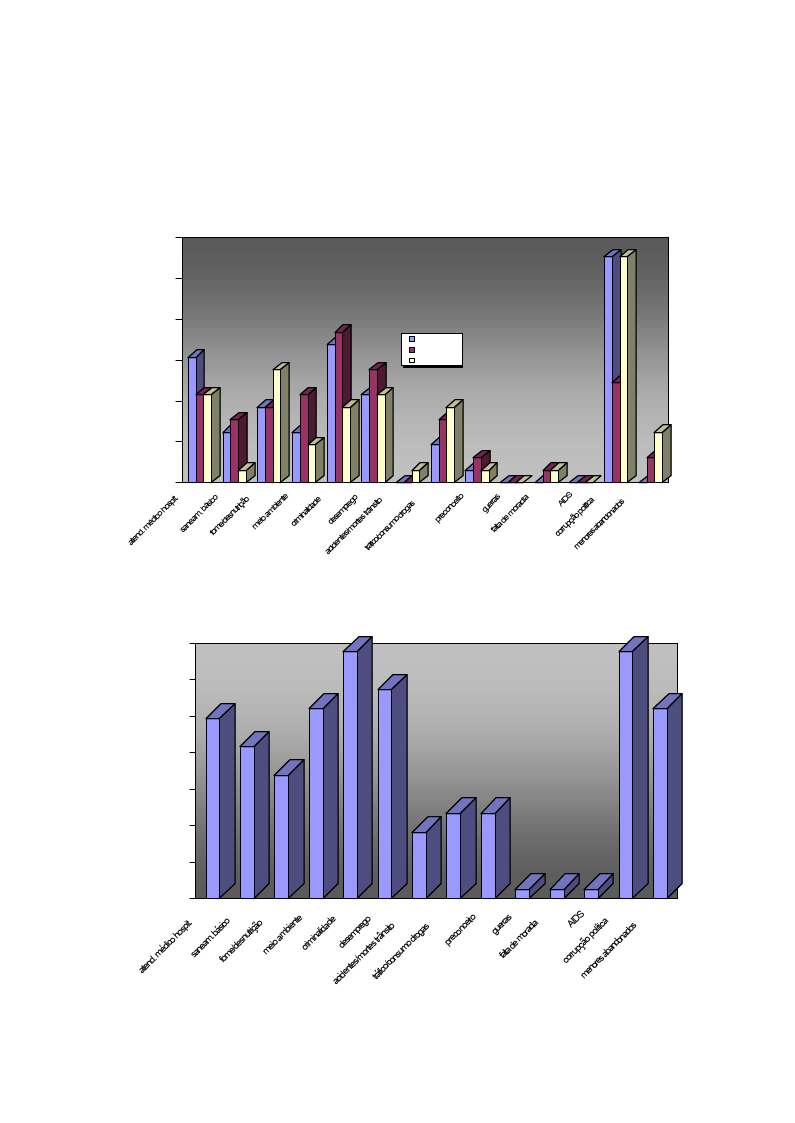
As diferenças na ordem de importância e na frequência com que os problemas foram
apontados entre o cenário mundial e o cenário nacional, parecem reforçar a ideia de que os
problemas imediatos e pertencentes a realidade do entrevistado exerce considerável efeito
sobre sua opinião. Ainda que possa ser sensível aos problemas que afetam o Planeta em geral,
as preocupações maiores e mais frequentes são pertinentes àquelas que guardam vínculo
direto com o cotidiano e que está mais presente a realidade de cada um.
30%
25%
20%
15%
1a opção
2a opção
3a opção
10%
5%
0%
atend.médicohospit. saneam.básicfoome/desnutrição meioambiente criminalidade acdiedseenmtepsr/emgoortestrtrâánficsoit/oconsumodrogas
preconceito
guerrfaaslta de moradia
coArIrDupSçãompeonlíoticreasabandonados
Figura 34 - Importância atribuída em geral aos problemas do Brasil
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
atend.médicohospit. saneam.básfiocome/desnutrição meioambiente criminalidadeaciddeesnetemsp/mregoortestrtárâficnos/citoonsumodrogas
preconceito
guefraraltasdemoradia
coArrIuDpSçmãoenpoorleítiscaabandonados
Figura 35 - Frequência relativa de respostas atribuídas em geral aos problemas brasileiros
51

Na visão dos entrevistados, problemas ambientais são problemas distantes. Muitos
urgentes, no âmbito planetário, entretanto, sem grande urgência no contexto nacional. A
noção de um problema ambiental grave, mas distante, preocupa-os bastante, a ponto de
indicar certa alienação com relação às realidades locais e imediatas. A máxima ambiental
refere-se a um pensamento global e a uma ação local e certamente se oporia àquela que
constata-se na pesquisa, que pode-se traduzir como “pense globalmente e não localmente”.
5.2.2 Importância Atribuída aos Problemas Ambientais
O propósito dessa questão foi avaliar o grau de interesse dos participantes do estudo
pelas questões ambientais (Fig. 36). Além de definir entre níveis de interesse que variavam de
nada interessado até muito interessado, os entrevistados foram estimulados a justificar, de
forma sucinta e aberta, a sua escolha. Após análise dos resultados, pôde-se constatar que o
porcentual do conjunto de partícipes que se mostraram interessados (55%) ou muito
interessados (36%) foi amplamente superior aos demais níveis. Apenas alguns dos
entrevistados se declararam mais ou menos (8%), pouco (0,00%) ou nada (2%) interessados.
De fato, apenas um indivíduo manifestou-se como nada interessado, justificando que se atinha
às questões ambientais apenas quando, por alguma razão, era obrigado a lidar com o assunto,
justificando ainda que sua posição frente a este problema era devido a um desinteresse
pessoal.
Instigados a se justificarem, quase a metade (43%) dos entrevistados que
responderam estar interessado ou muito interessado nas questões ambientais, manifestaram
preocupação em Preservar para futuro da humanidade como justificativa para suas respostas.
Considerável parcela (17%) manifestou ainda que sua preocupação residia na visível
Degradação ambiental por que passa o meio que os cerca. A necessidade de Sustentabilidade
(8%) também foi uma justificativa dada pelos que manifestaram interesse nas questões
ambientais. Em menor grau, outros argumentos como Preservação da fauna, Interesse
profissional e Interesse pessoal, também foram dados como justificativas pelos entrevistados,
perfazendo, no conjunto, um total de 28% das justificativas dadas.
Um importante aspecto a ser observado é que, quando apresentados especificamente
à questão ambiental, 60% dos entrevistados se disseram interessados ou muito interessados
nos mesmos, a despeito de, na questão anterior, terem revelado um interesse
significativamente menor nessas questões do que naquelas de natureza social. De novo, esse
comportamento parece ratificar a tese de que a preocupação com as questões ambientais só se
sobrepõem às sociais quando estas últimas não são manifestas ou não são sentidas mais
proximamente.
52
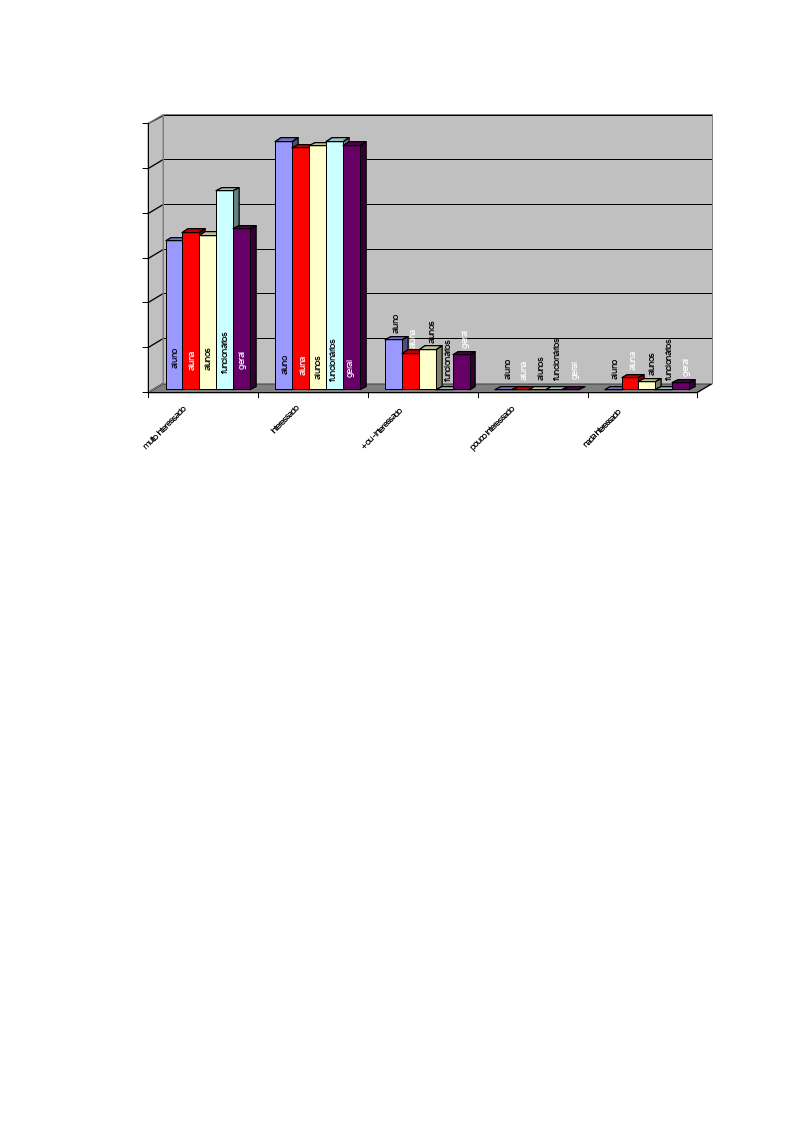
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
muito interessado
interessado
+ ou - interessado
pouco interessado
Figura 36 - Grau de interesse por questões ambientais
nada interessado
Outra consideração a ser feita sobre essa questão é que ao desmembrá- la e trazê- la
até o nível de classes (alunos e funcionários) e de sexo (aluno e aluna), notaram-se sensíveis
diferenças entre os segmentos. A totalidade (100%) dos funcionários se manifestou
interessado ou muito interessado nas questões ambientais, porcentual superior ao dos alunos
com mesmo comportamento (91%). Talvez o fato de se estar trabalhando com um número
bem maior de alunos comparativamente ao de funcionários e, portanto, com mais chances de
encontrar indivíduos com opiniões distintas, justifique essas diferenças. A mesma justificativa
talvez seja possível para o fato de que, no segmento alunos, tenha m sido encontrados 11% de
indivíduos que se disseram mais ou menos ou nada interessados nas questões ambientais.
A grande maioria dos entrevistados, reconhece a importância das questões
ambientais e se diz interessada pelas questões que envolvem o meio ambiente. Alegam, como
motivo de interesse, a necessidade de se preservar o planeta para as gerações futuras,
possivelmente embutindo uma noção de “recursos”, e sua conservação para um desfrute no
futuro. Não há dúvidas que o eixo dessa preocupação com a conservação é o próprio homem.
Poucas foram as justificativas que deram conta da necessidade de se considerar o valor
intrínseco da natureza. Essa posição dos entrevistados, entretanto, não se reafirmou quando
foi explicitamente sondada. A maior parte dos entrevistados disseram que a natureza deveria
ser preservada pelo seu valor intrínseco e não para servir ao homem, necessariamente.
5.2.3 As Relações Intrínsecas entre Preservação e Uso da Natureza e suas Implicações sobre a
Harmonia entre Desenvolvimento e Sustentabilidade
Um dilema que constantemente permeia as discussões sobre os problemas
ambientais é o aparente embate entre as necessidades de preservar e de usar os recursos
naturais, dentro de um conceito de sustentabilidade. Esse problema foi apresentado para os
53
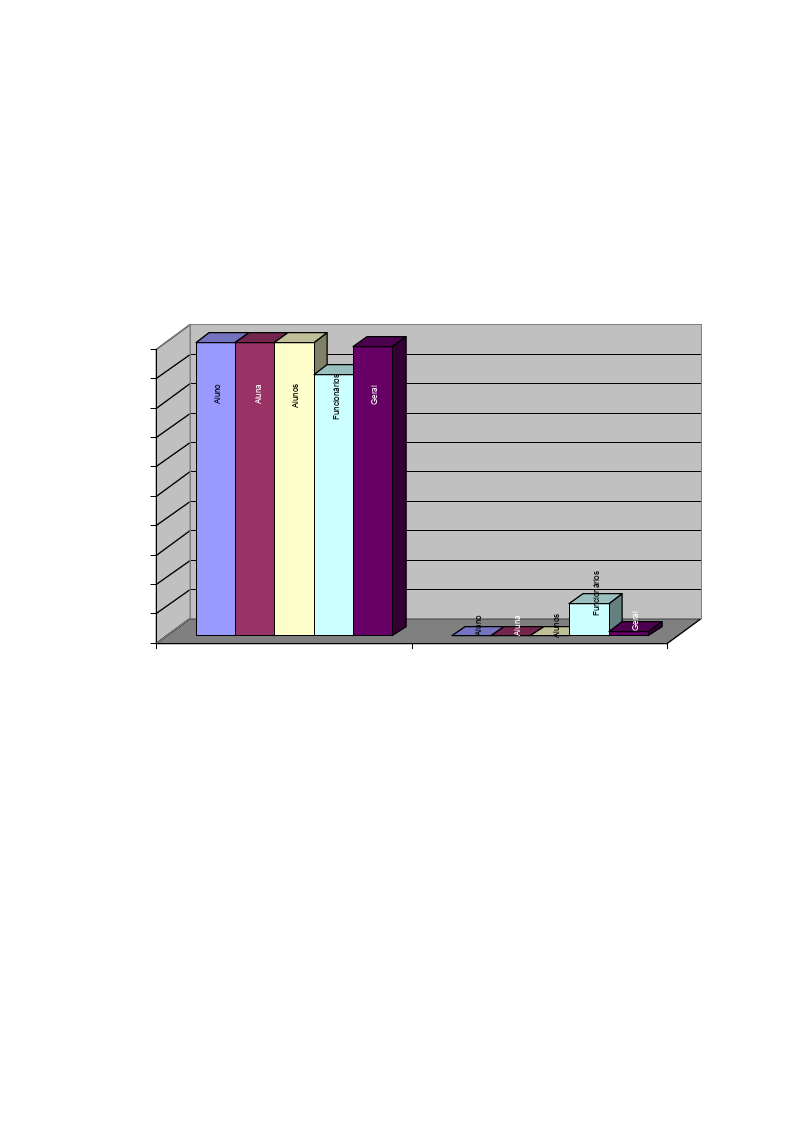
entrevistados subdivididos em duas questões, a primeira abordando o valor de uso da natureza
pelo ser humano e a segunda, a dicotomia entre o grau de desenvolvimento e a
sustentabilidade do meio ambiente.
Ao serem indagados se a natureza deveria ser preservada pelo seu próprio valor,
estando acima dos interesses do homem ou se ela poderia ser usada sem restrições, na medida
em que ela supostamente existe para servir o homem (Fig. 37), praticamente a totalidade dos
entrevistados (98%) responderam que a preservação da natureza deveria estar acima dos
interesses humanos. Só não houve unanimidade em razão de uma minoria de pouco mais de
11% de funcionários, que optaram pelo uso da natureza sem restrições.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Preservar acima dos interesses humanos
Uso da natureza sem restrições
Figura 37 – O embate entre as necessidades de preservar e de usar os recursos naturais
A outra abordagem da questão foi a aparentemente irreconciliável relação entre
desenvolvimento e sustentabilidade (Fig. 38). Aos entrevistados foi questionado se seria
possível ou não manter o atual estilo de desenvolvimento humano. O que se viu
fundamentalmente foi uma ratificação de posição assumida na questão anterior. A maioria dos
entrevistados (59%) afirmaram não ser possível manter o atual estilo de desenvolvimento
humano. É digno de menção o fato de que todas as classes analisadas, com exceção dos
alunos do sexo masculino (50%), se mostraram céticas quanto a possibilidade de manutenção
do estilo atual de desenvolvimento humano, mas deve ser destacada a categoria de alunas
(65%) que foram mais enfáticas em assumir essa posição.
54
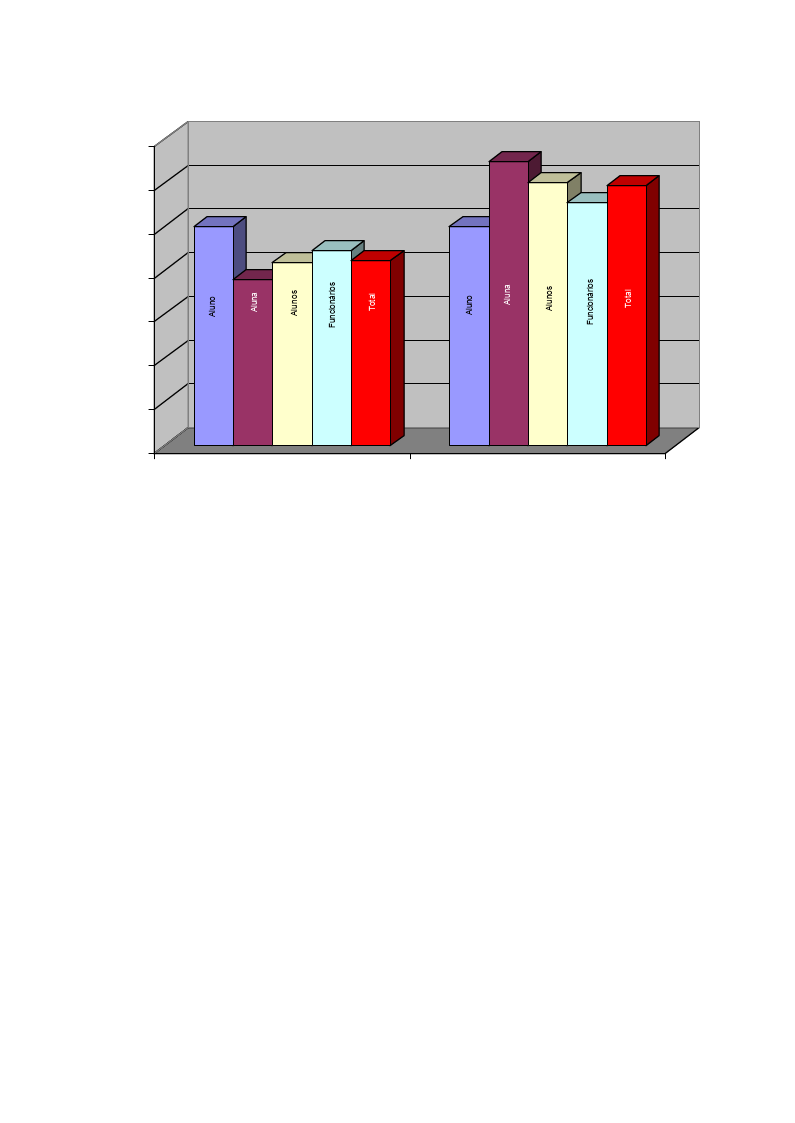
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
É possível manter o atual estilo de desenvolvimento humano
Não é possível manter o atual estilo de desenvolvimento humano
Figura 38 – A difícil relação entre nível de desenvolvimento e sustentabilidade
5.2.4 Fatores Chave para Compreender a Questão Ambiental
Para entender as Questões Ambientais, alguns aspectos são considerados itens
chaves, tendo sido apresentados aos alunos, 15 desses itens (relação homem/mulher, lixo
nuclear/chuva ácida, o sentido da existência humana, a violência urbana, conduta ética
pessoal, a poluição do ar, das águas e do solo, os sonhos e as fantasias de cada um, falta de
convívio familiar, extinção de espécies, desmatamento e desertificação, angústias, delícias e
desejos do indivíduo, criatividade e sensibilidade, destruição do patrimônio sociocultural e
efeito estufa e destruição da camada de ozônio estratosférico). Na percepção de muitas
pessoas, entretanto, existem diferenças quanto à importância com que cada um pode
contribuir para esse entendimento. Assim, diversos itens foram apresentados aos entrevistados
para que eles elencassem, por ordem decrescente, os mais importantes, sob sua ótica, para
melhor compreender os problemas ambientais. Com vistas à melhor compreensão, os
resultados foram segmentados por classe e sexo.
5.2.4.1 Fatores chave para compreender a questão ambiental sob a ótica dos alunos
Os alunos elegeram a poluição do ar, das águas e do solo (28%) como o fator mais
importante para compreender os problemas ambientais. Desmatamento e desertificação foi o
segundo item (22%) a figurar como mais importante, seguido de efeito estufa e destruição da
camada de ozônio (17%), lixo nuclear/chuva ácida e conduta ética pessoal (11%) e o sentido
55
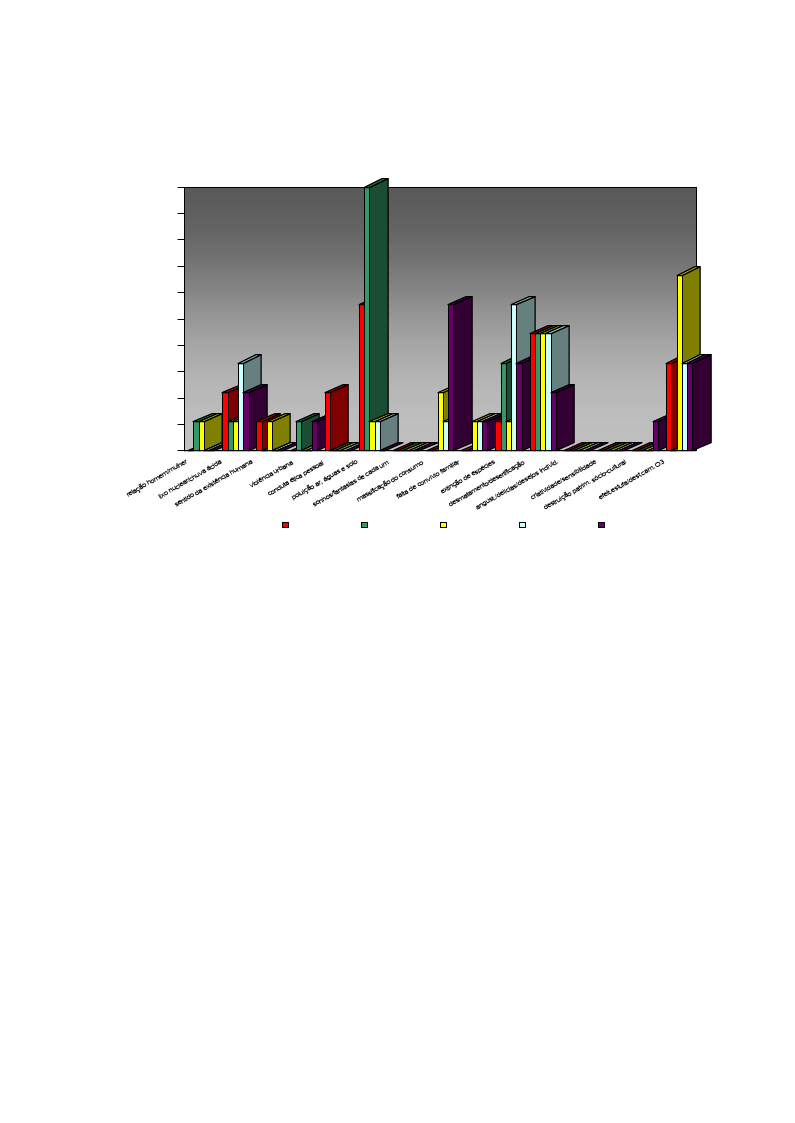
da existência humana, empatado com extinção de espécies (6%). Os demais itens são citados
como mais importantes em porcentagens menores ou então aparecem listados em
porcentagens maiores apenas como opção secundária, terciária ou menos.
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
relação homelixmo/mnuusclehleneatrird/cohduavaexáicsitdêancia humanaviolêncciaounrdbuatanaéptiocaluipçeãsossaooran,lháogsu/faasnteassioalsomdeascsaidficaauçmãodofacoltansduemcoonvívio feaxmtidnileçiaãsrmo daetamesaepnnégtcoúi/edsste./sdeerltíifciciaasç/ãdoesejcorsiaitnivddideivasidtdr.uei/çsãeonspibaitlridima.dseóceiofe-ict.ueltsuturafal /dest.cam.O3
1a opção
2a opção
3a opção
4a opção
5a opção
Figura 39 – Os fatores chave, segundo os alunos, para entender a Questão Ambiental
5.2.4.2 Fatores chave para compreender a questão ambiental sob a ótica das alunas
É considerável a diferença observada entre alunos e alunas quanto a importância
atribuída por cada aos fatores chave para entender os problemas ambientais (Fig. 40).
Notadamente as alunas elegeram a conduta ética pessoal (27%) como o fator mais crítico para
esse entendimento e, diferentemente de seus congêneres do sexo masculino, atribuíram à
poluição do ar, das águas e do solo (19%) somente o segundo posto.
Em princípio, poderia se pensar que a questão ética teria pouca aderência com o
meio ambiente ou que isso não seria um aspecto propriamente integrante do quadro de
elementos chave para entendimento das questões ambientais, o que pareceria estranho ao
leitor o resultado aqui obtido na pesquisa com as alunas. Entretanto, parece ser uma verdade
incontestável afirmar que a conduta ética constitui a base sobre a qual relações sociais
humanas civilizadas deveriam se apoiar. Nessa perspectiva, um dos sinais de maturidade de
uma sociedade poderia ser o nível de conduta ética de seus cidadãos, independentemente da
função que estes exerçam, conforme observa m Parentoni e Coutinho (2004). Esses autores
consideram também evidente afirmar que violações dos preceitos de conduta ética são tão
comuns que se torna indispensável discutir a necessidade da aplicação de princípios éticos em
quaisquer ramos de atividades humanas – exigível, portanto, na educação e também nas
questões ambientais.
Outras sensíveis diferenças nas respostas dadas pelas alunas quando comparadas
com aquelas dadas pelos alunos podem ser notadas quanto à grande importância atribuídas
56
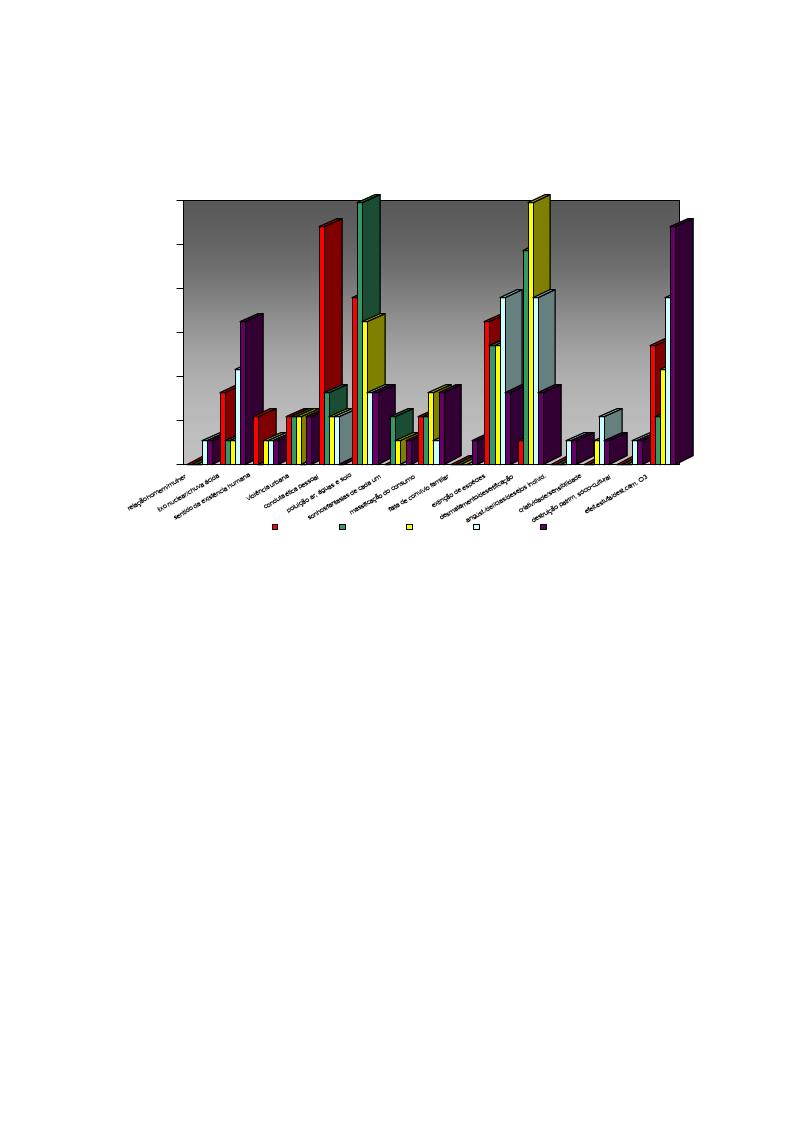
por aquelas ao item extinção de espécies (16%), por sua vez pouco citado por alunos e o
oposto, quando pouca importância atribuíram ao desmatamento e desertificação (3%), item
consideravelmente mais importante na visão dos alunos. São distinções que parecem ratificar
diferenças de percepção entre os dois sexos.
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
relaçãohomleixmo/nmuusclelheneatrrid/cohduavaeáxicsitdêancia humanaviolêncciaonudrbuatanaéptioclauipçeãsossaooran,lháogsu/faasnteassiaoslomdeascsaidficaauçmão dofaclotansduemcoonvívio faemxtidinliaeçrsãmo adteamesaepnnégtocú/iedsste./sdeerltíicficiaasç/ãdoesecjorisatinivddideivasiddtre.u/içsãeonspibaitlridimad. seóceiofe-cit.ueltsuturafal /dest.cam. O3
1a opção
2a opção
3a opção
4a opção
5a opção
Figura 40 - Os fatores chave, segundo as alunas, para entender a Questão Ambiental
5.2.4.3 Fatores chave para compreender a questão ambiental sob a ótica de alunos e alunas
Em conjunto, as diferenças entre alunos e alunas quanto aos itens que são mais
críticos para entendimento das questões ambientais desaparecem (Fig. 41). Conduta ética
pessoal e a poluição do ar, das águas e do solo (22%) dividem a posição de item mais
importante para esse entendimento, seguidos de efeito estufa e destruição da camada de
ozônio (15%) e extinção de espécies (13%).
A poluição ambiental é um clássico conhecido problema ambiental, não só por
estudantes mas por quase todos os indivíduos minimamente inteligentes; mesmo porque é um
aspecto que afeta muito proximamente os seres humanos e uma realidade constante e presente
na vida de quase todos os seres. Mas a relação entre efeito estufa, destruição da camada de
ozônio e extinção de espécies só mais recentemente ganhou espaço midiático. Seguramente
são fenômenos que exige m algum grau de conhecimento ou informação para serem alçados à
condição de importantes problemas ambientais. Mas essa relação já está bem estabelecida,
pois o empobrecimento da diversidade biológica talvez seja um dos aspectos mais dramáticos
dentre alterações sofridas pelo meio ambiente, posto que é totalmente irreversível. A
International Union for Conservation of Nature (UICN), importante organização internacional
de conservação da natureza, estima que, em todo o mundo, de uma a duas espécies de plantas
são extintas por dia, enquanto as de animais varia de 50 a 250 por dia, sendo a destruição de
habitats responsável mais de um terço desse processo de extinção.
57
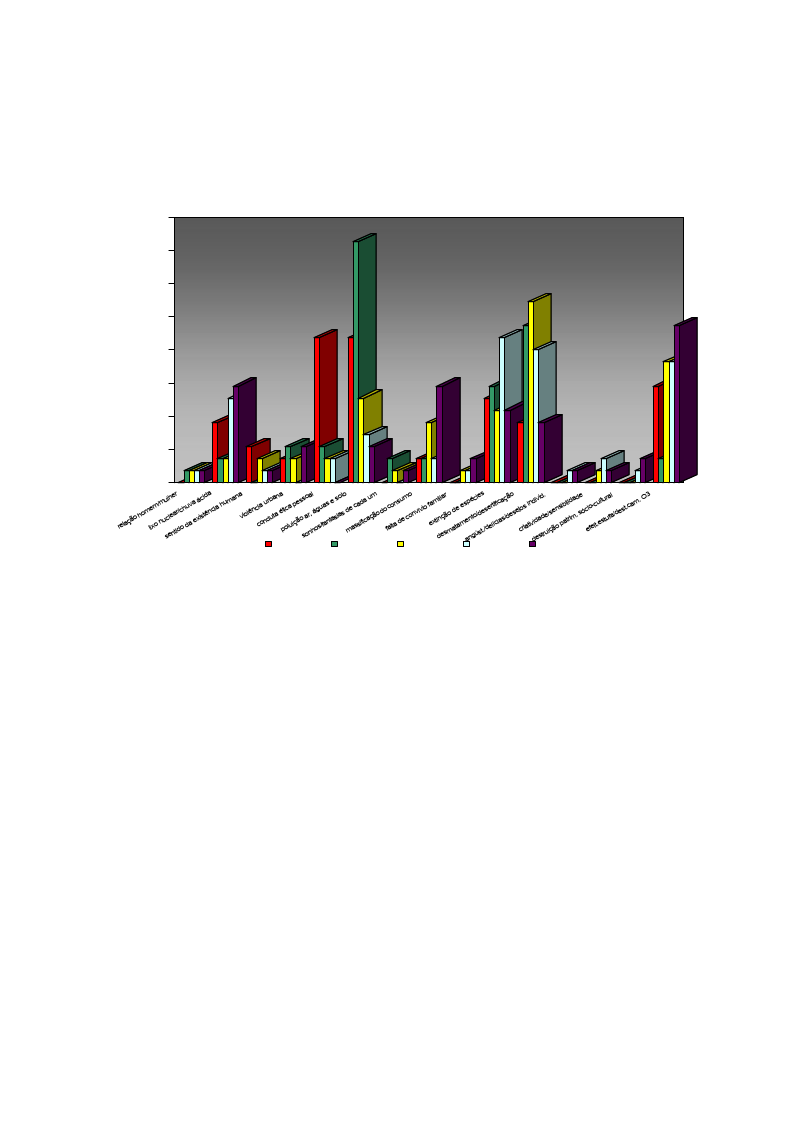
O que torna importante discutir esses resultados é o fato de que, conquanto a relação
intrínseca entre estes últimos elementos só recentemente tenha sido estabelecida e que os
alunos do CTUR não tenham EA como cadeira de formação, o fato já é suficientemente
notabilizado para ser referenciado pelos alunos e alunas de uma escola pública como
importantes aspectos da Questão ambiental.
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
relação homleixmo/nmuusclehleneatrird/cohduavaexáicsitdêancia humanaviolêncciaonudrbu1atanaaéptiocolaupipçeãçsoãssaooorna,hláogsu/faasnteassia2osloadmeaocsaspdifiçacauãçmãoodofacoltansduem3cooanvoívipo fçeaxmãtidniolieçasãrmo adteameseapnn4égtocúai/edsset.o/sdeeprltíicçfiicaãasç/odãeosejcorsiaitnivddidiev5asiddtar.eu/içsoãeonpspçibaãitlridimoad. seóceiofe-cit.ueltsuturafal /dest.cam. O3
Figura 41- Os fatores chave, segundo alunos e alunas, para entender a Questão Ambiental
5.2.4.4 Fatores chave para compreender a questão ambiental sob a ótica dos funcionários
Os resultados da pesquisa realizada com os funcionários podem ser vistos na figura
42. Nota-se que a poluição ambiental e o desmatamento/desertificação foram apontados pelos
funcionários como os mais importantes itens envolvidos na questão ambiental (22%). Por
serem questões mais sensíveis e visíveis dentro os itens apresentados, a obviedade do
problema tende a ser mais vinculada ao problema ambiental e deixa em segundo plano outros
aspectos menos conhecidos pela população em geral e, por esta razão, considerados menos
relevantes.
58
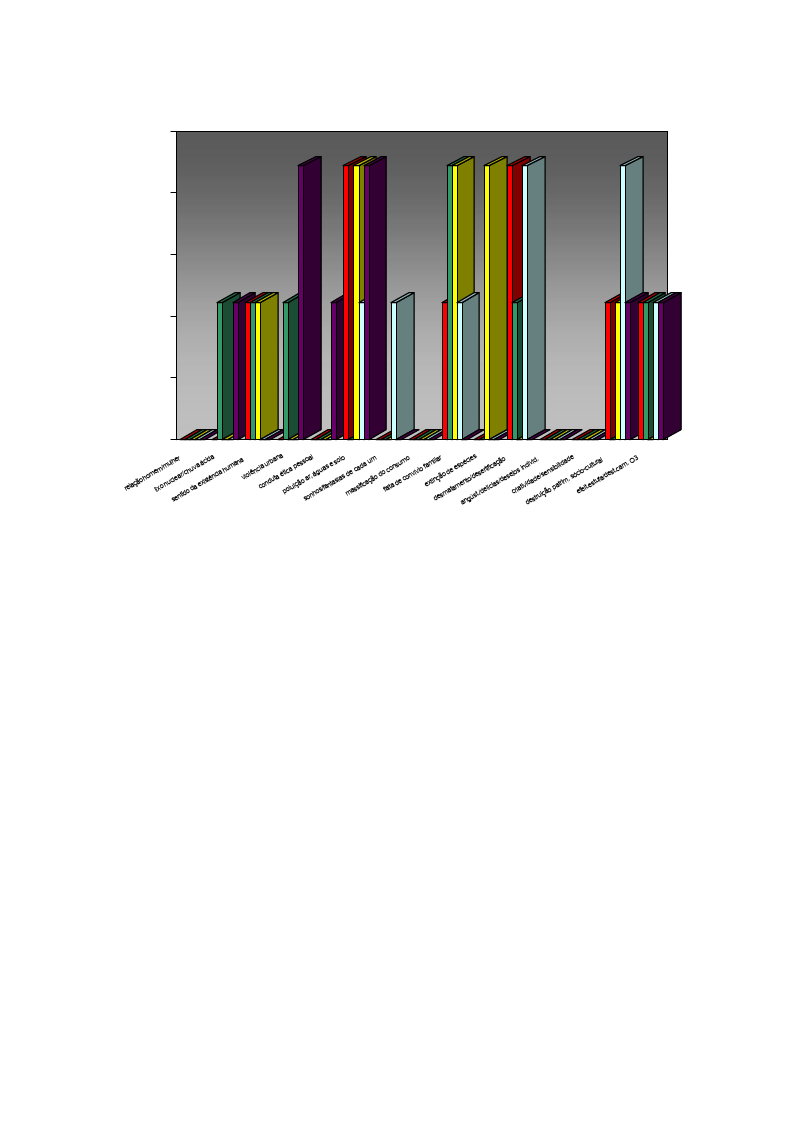
25%
20%
15%
10%
5%
0%
relaçãohomelimxo/mnuuclhsleeeanr tri/dcohudvaaeáxcisitdêancia humanaviolêncciaoundrbuatanaépticoalupiçeãsossaooran,lháogsu/afasnetassoialos mdeascsaidficaauçãmo dofacltoandsuemcoonvívio feaxmtinidliaçeãrsomdaetaemsepanéntcgoieú/dsset.s/deertliífciciaaçsã/doesecjorisatiinvddidievasiddtr.eu/isçeãnospibailtirdimad. esóceifoe-ict.uelstuturafal/dest.cam. O3
Figura 42 - Os fatores chave, segundo os funcionários, para entender a Questão Ambiental
5.2.4.5 Fatores chave para compreender a questão ambiental sob a ótica geral dos
entrevistados
Para resumir, de maneira geral, o ponto de vista do conjunto dos entrevistados,
considerou-se não só a importância atribuída a cada item apresentado por ordem decrescente
(Fig. 43), como também a frequência com que os itens foram citados por eles (Fig. 44). A
poluição do ar, da água e do solo (22%) como item principal a ser vinculado com a questão
ambiental era, de certa forma, resultado esperado, uma vez que, como observado
anteriormente, trata-se de uma questão muito vinculada ao cotidiano dos indivíduos e
profusamente propalado pela mídia.
Surpreende um pouco o fato da conduta ética pessoal (19%) ser apontada como o
segundo item mais importante, enquanto outros itens de maior exposição em periódicos
diários, semanários e mídias televisivas como efeito estufa e destruição da camada de ozônio
estratosférico (14%), extinção de espécies e desmatamento e desertificação (11%), serem
apontados como de importância menor. Possivelmente a posição das alunas, indicando ética
pessoal como fator mais importante para entendimento das questões ambientais tenha
contribuído para esse comportamento.
59
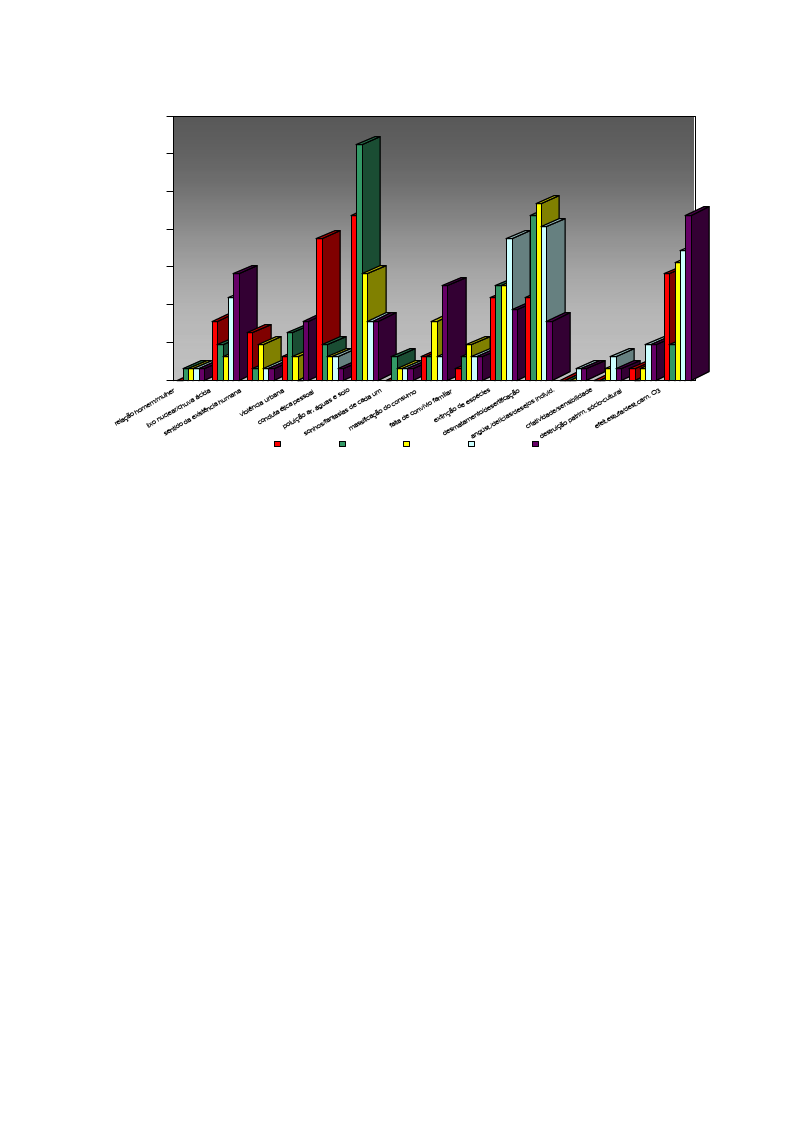
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
relação homelixmo/mnuucslhleeenartrid/cohduavaexáicstidêancia humanaviolêncciaonudrbuatanaépticoalupiçeãsossoaoarn,lháogsu/faasnteassioalsomdeascsaidficaauçãmo dofacoltansduemcoonvívio feaxmtindiliaçeãrsmo daetamesaepnnétgocúi/edsset.s/deertliífciciaasç/ãdoesecjorisatinivddideivasiddtr.eu/içsãeonspibaitlridima.dseóceiofe-cit.ueltsuturafal /dest.cam. O3
1a opção
2a opção
3a opção
4a opção
5a opção
Figura 43 - Os fatores chave, segundo a ótica geral dos entrevistados, para entender a Questão Ambiental
Analisando-se o número de vezes com que os fatores foram apontados pelos
entrevistados em geral (Fig. 44), nitidamente o fator mais frequentemente citado foi poluição
do ar, da água e dos solos (26%). Desmatamento e desertificação (21%) também foi
consideravelmente lembrado pelos entrevistados, seguido de destruição da camada de ozônio,
efeito estufa e extinção de espécies (13%). O resultado, quando se desconsidera efeitos de
perfil de classe social ou renda ou de grau de instrução é mais consistente com o que se
esperava, na medida em que esses são os fatores mais comumente discutidos em diversos
eventos, meios de divulgação e de debates sobre as questões ambientais. Conduta ética, nesse
caso, aparece apenas como quinto item mais frequentemente citado.
Um fator lembrado com muito baixa frequência nesse estudo foi a massificação do
consumo, tido por alguns autores como de considerável influência sobre padrão de consumo
das sociedades. De acordo com Mota (2002), o padrão de consumo aumenta a pressão sobre
os bens e serviços ambientais. Níveis de renda mais altos podem dar margem a padrões de
consumo ambientalmente mais limpos, o que induz uma trajetória tecnológica de menor
intensidade de degradação do consumo. Quando a taxa de declínio desta intensidade excede a
taxa de crescimento da renda, a degradação total decresce, apesar do crescimento do
consumo. Barros et al. (1996) lembram que, se por um lado a pressão de degradação dos ricos
é mais alta devido a seus níveis de consumo mais altos, eles tendem, por outro lado, a
consumir uma parcela menor de sua renda, reduzindo, consequentemente, sua pressão de
degradação.
Dentro de um mesmo país pode-se esperar que as mudanças na intensidade de
degradação sejam mais dependentes da distribuição de renda e da propensão marginal ao
consumo do que de fatores tecnológicos. Mas, pelo resultado obtido, aparentemente os
entrevistados não se colocaram na posição de consumidores e protagonistas de potenciais
mudanças ambientais.
60
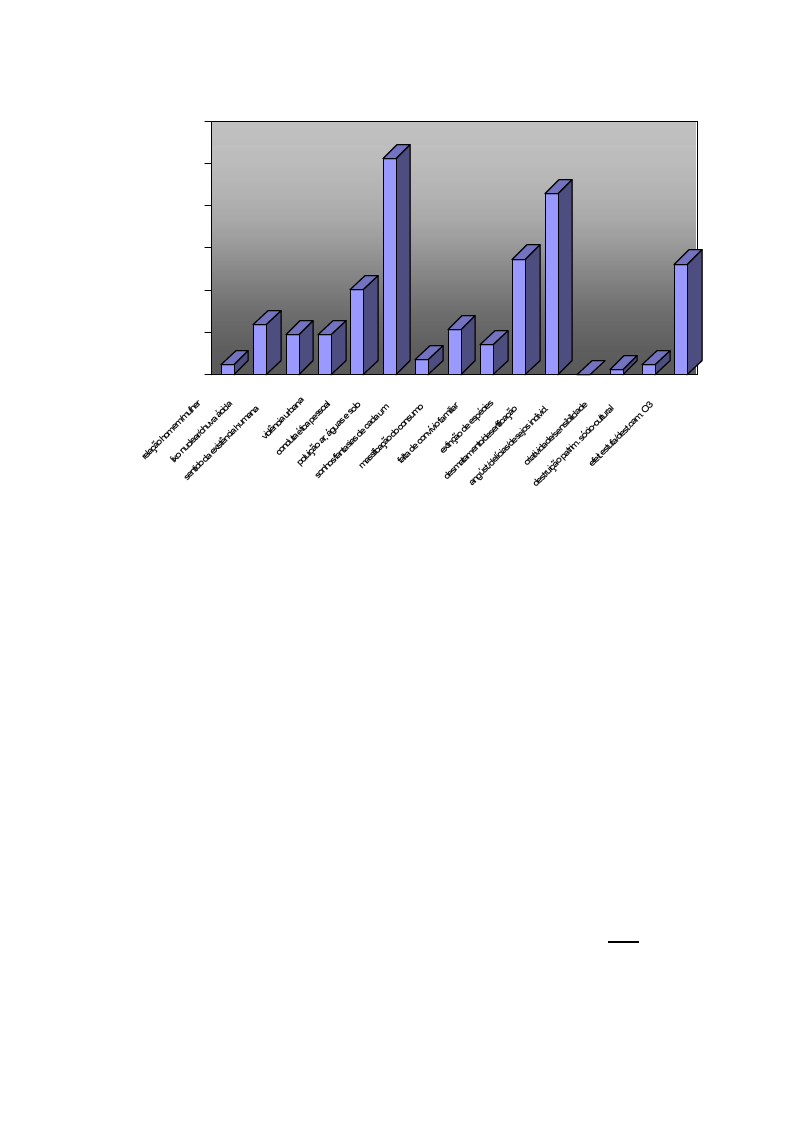
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
relaçãohomleixmon/musucellhenetaidrro/chduaveaxáisctêidnaciahumana violênccioanudrubtaanépatoiclauiçpãeosssoaonra,hálogsu/faanstaessiaoslodmecaassdifaicauçmãodocfaolntasudmecoonvíviofaemxdtienilisaçmãroadtaemeaesnnpgtéoúc/sdiete./sdseerltíicficiaasç/ãdoesejocsriiantddiveividsidatr.dueiç/ãseonpsaibtriilmida.dseócioe-fceuit.letusrtaulfa/dest.cam.O3
Figura 44 – Frequência relativa geral dos fatores chave para entender as questões ambientais
5.2.5 Elementos Subsidiários para a Educação Ambiental
A próxima etapa do estudo foi avaliar, do ponto de vista qualitativo dos
entrevistados, quais deveriam ser as principais bases para o desenvolvimento da Educação
Ambiental. Aos entrevistados foram dadas quatro propostas básicas, as quais eles deveriam
atribuir um mérito qualitativo, variando de fraca à muito boa. A primeira proposta era a de
que a EA deveria se basear num projeto político de transformação pessoal, assentado em
princípios ecológicos e no ideal de uma sociedade comunitária e não-opressiva. A segunda
proposta, sugeria uma EA baseada no estudo de múltiplos aspectos da relação entre os
homens e o meio ambiente e as ciências agrárias, enquanto a terceira proposta sugeria como
base o estudo do funcionamento dos sistemas, como as florestas, os mangues, os oceanos,
etc... estando ligada ao campo da biologia e se valendo dos elementos de várias ciências,
como física, química, geografia, artes, matemática, etc. Por último, sugeriu-se a proposta de
uma EA baseada na percepção da destruição ambiental e na ação voltada para a luta em favor
da conservação dos recursos naturais.
A figura 45 ilustra a avaliação que os entrevistados atribuíram à ideia de conduzir a
Educação Ambiental mediante projeto político de transformação pessoal, assentado em
princípios ecológicos e no ideal de uma sociedade comunitária e não-opressiva. A tendência
foi muito semelhante entre as categorias participantes do estudo, sendo Bom o conceito
predominante atribuído por todos os segmentos participantes do estudo. Cerca de 6% dos
alunos classificaram a proposta como fraca, 22% como regular, 50% como boa e 22% como
muito boa. Já entre as alunas, 19% a classificaram como regular, 57% como boa e 24% como
muito boa.
61
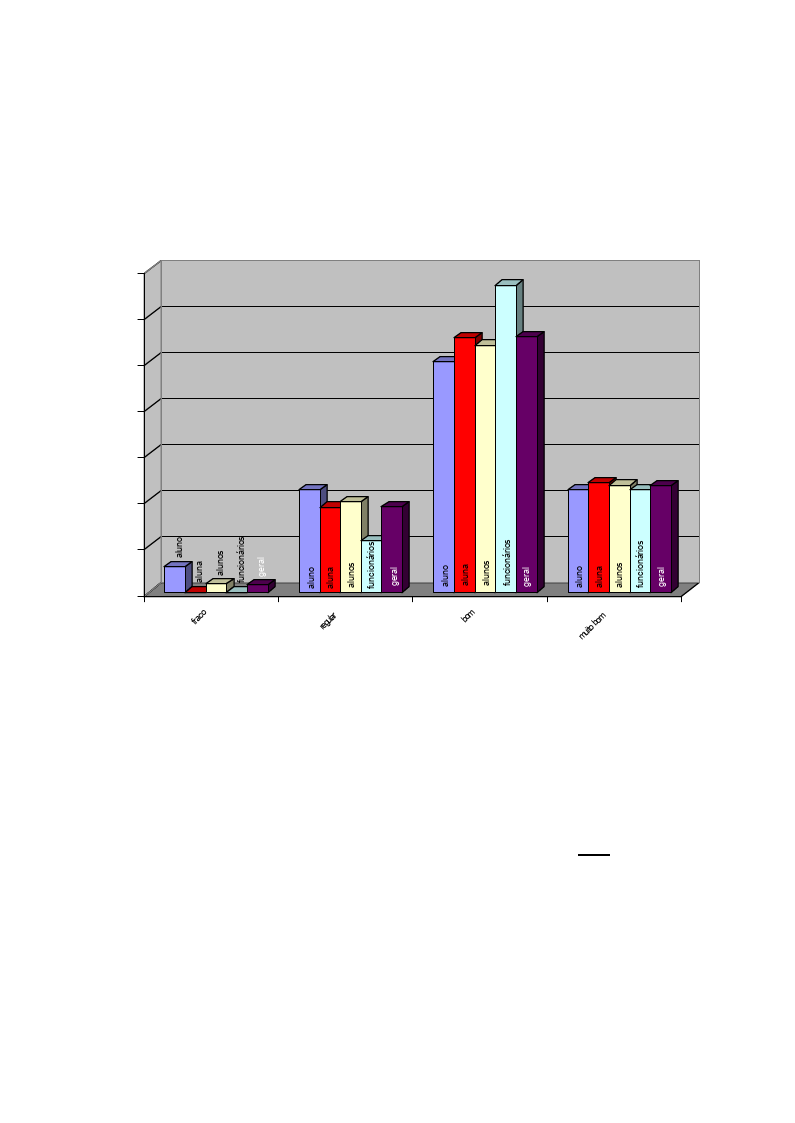
Analisado em conjunto, apenas 2% dos alunos e alunas entrevistados consideraram a
proposta fraca, sendo 20% o porcentual dos que consideraram a proposta regular, 55% como
boa e 24% os que consideraram a proposta muito boa. Entre os funcionários, 11% viram a
proposta como regular, 70% como boa e 22% como muito boa. No geral, 2% dos
entrevistados consideraram a proposta fraca, obviamente seguindo a tendência dos diferentes
segmentos, 19% a consideraram regular, 56% a julgaram boa e 23% elegeram a proposta
como muito boa.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
fraco
regular
bom
muito bom
Figura 45 – Subsídios para a EA : Projeto Político de transformação pessoal, assentado em princípios ecológicos
e no ideal de uma sociedade comunitária e não-opressiva
Na figura 46 tem-se uma ideia de como os entrevistados avaliaram a proposta de
conduzir a Educação Ambiental baseada no estudo de múltiplos aspectos da relação entre os
homens e o meio ambiente e as ciências agrárias. A totalidade dos entrevistados consideraram
a proposta de regular a muito boa, o que por si já é um diferencial em relação à proposta
anterior, visto que naquela ocorreram manifestações em favor de atribuir um conceito fraco
àquela ideia. O conceito predominante para essa ideia foi também o de Bom, em porcentuais
similares aos obtidos pela proposta anterior, mas o conceito regular foi atribuído à proposta
num porcentual mais baixo por quase todas as categorias, com exceção dos funcionários.
Exatos 17% dos alunos consideraram a proposta regular, quase o mesmo porcentual atribuída
pelas alunas (16%) e pelo conjunto de alunos e alunas (16%). O destaque ficou por conta dos
funcionários, já que 44,44% deles consideraram a proposta apenas regular.
Consideraram a proposta como boa 61% dos alunos, 43% das alunas, 49% do total
de alunos e alunas, 60% dos funcionários e 50% de todos os entrevistados. Observa-se que
100% dos funcionários consideraram a proposta variando de regular a boa. O porcentual de
alunos que julgaram essa proposta muito boa foi semelhante à proposta anterior (22%), mas
62
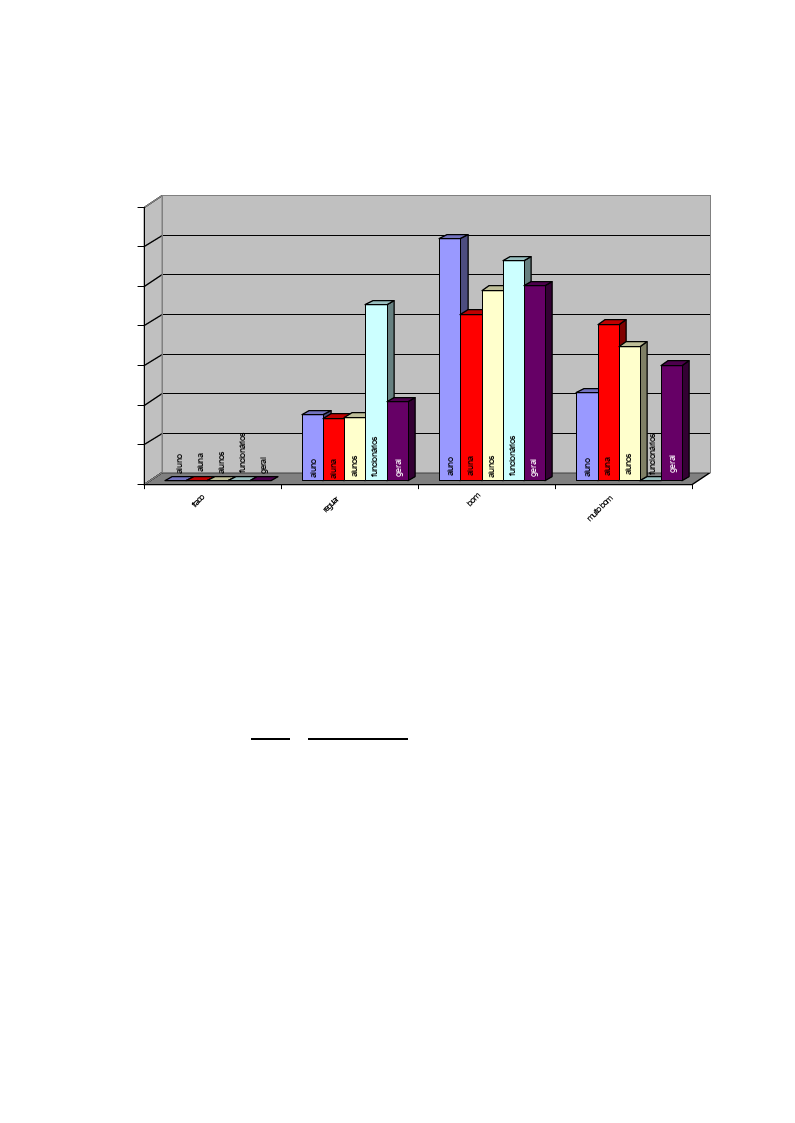
exceto pelos funcionários que não atribuíram este conceito para a proposta, em todos os
demais casos analisados, os porcentuais de entrevistados que atribuíram conceito muito bom
(41% das alunas, 35% de alunos e alunas, 27% do total) para essa proposta foi melhor do que
para a proposta anterior.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
fraco
regular
bom
muito bom
Figura 46 - Subsídios para a EA : Estudo d e múltiplos aspectos da relação entre os homens e o meio ambiente e
as ciências agrárias
Na terceira proposta, a ideia era que a EA tivesse como base o estudo do
funcionamento dos sistemas (florestas, mangues, oceanos, etc.) estando ligada ao campo da
biologia e se valendo dos elementos da física, da química, da geografia, das artes e da
matemática (Fig. 47). Os funcionários se dividiram igualmente entre os conceitos regular,
bom e muito bom, com porcentuais iguais (33%). Mas a maior parte dos alunos e das alunas
atribuíram conceitos BOM e MUITO BOM para essa proposição. Somente 6% dos alunos
atribuíram conceito fraco e 17% conceito regular para essa proposta, enquanto os demais se
dividiram igualmente entre bom e muito bom (39%). Embora com porcentuais ligeiramente
diferentes, a tendência foi a mesma para as alunas, que atribuíram porcentuais de 8%, 14%,
38% e 41%, respectivamente, para os conceitos fraco, regular, bom e muito bom.
O comportamento muito similar entre alunos e alunas resultou em comportamento
também bastante parecido quando se avaliou o conjunto dos alunos e alunas, com porcentuais
respectivos de 5%, 11%, 25% e 58% para os conceitos fraco, regular, bom e muito bom. No
conjunto geral de todos os entrevistados, o porcentual dos que atribuíram conceito fraco foi de
6%, o de conceito regular 17%, o de conceito bom 37%, enquanto 39% dos entrevistados
atribuíram conceito muito bom para a proposta.
63
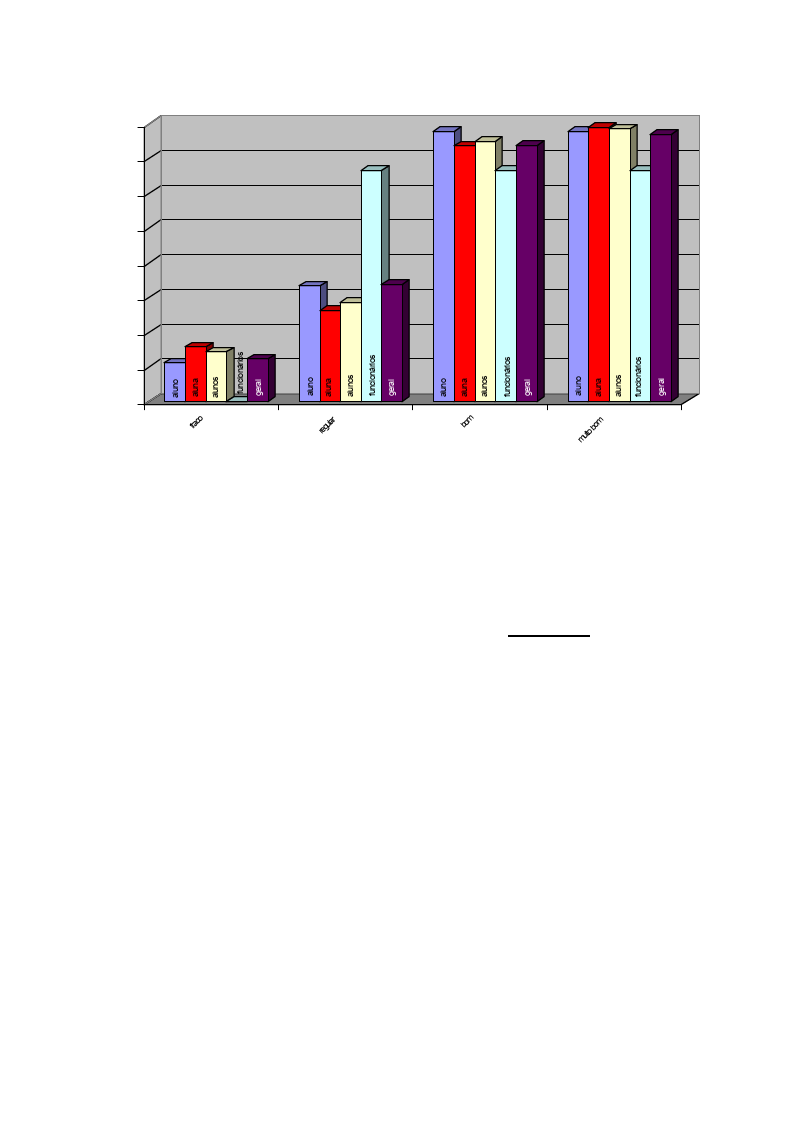
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
fraco
regular
bom
muito bom
Figura 47 - Subsídios para a EA: Estudo do funcionamento dos sistemas (florestas, mangues, oceanos, etc.)
estando ligada ao campo da biologia e se valendo dos elementos da física, da química, da geografia,
das artes e da matemática
A quarta e última proposta de subsídios para condução da EA tinha como
fundamento a percepção da destruição ambiental e da ação voltada para a luta em favor da
conservação dos recursos naturais (Fig. 48). Essa foi a proposta mais bem valorizada pelos
entrevistados, com porcentuais mais elevados de conceito Muito Bom do que os demais
conceitos. Com exceção dos funcionários, que atribuíram conceito bom (56%) em porcentual
mais elevado do que o de conceito muito bom (44%), todas as demais categorias analisadas
atribuíram o mais alto conceito para essa proposta. Os porcentuais de alunos que atribuíram
conceito fraco, regular, bom e muito bom foram, respectivamente de 0,00%, 22%, 28% e
50%. Entre alunas, esses porcentuais foram de, respectivamente, 8%, 5%, 24% e 62%.
Analisando o conjunto dos entrevistados em geral, na mesma sequência respectiva, os
porcentuais foram de 5%, 9%, 30% e 56%.
A grande aceitação da proposta de conduzir a EA em função da percepção da
destruição ambiental e da conservação dos recursos ambientais, possivelmente é reflexo da
maior facilidade de compreender estes conceitos no cerne da ideia, comparativamente ao que
está no núcleo das propostas anteriores. A degradação do meio ambiente e a necessidade de
minimizar esse flagelo mediante a conservação dos recursos ambientais são conceitos
simples, o que torna a proposta mais atraente para os entrevistados. O mais importante,
todavia, é o que se pode depreender do perfil comportamental dessa amostra populacional: o
ser humano tem se conscientizado de que o modelo vigente de crescimento está afetando o
planeta muito mais do que o minimamente aceitável. Ele tem observado que a destruição da
natureza, base da vida, através da contaminação e degradação dos ecossistemas cresce em um
ritmo acelerado, motivo pelo qual as pessoas estão se sensibilizando sobre a necessidade de
reduzir o impacto ambiental para a obtenção de um desenvolvimento ecologicamente
equilibrado em curto prazo para todo o planeta.
64
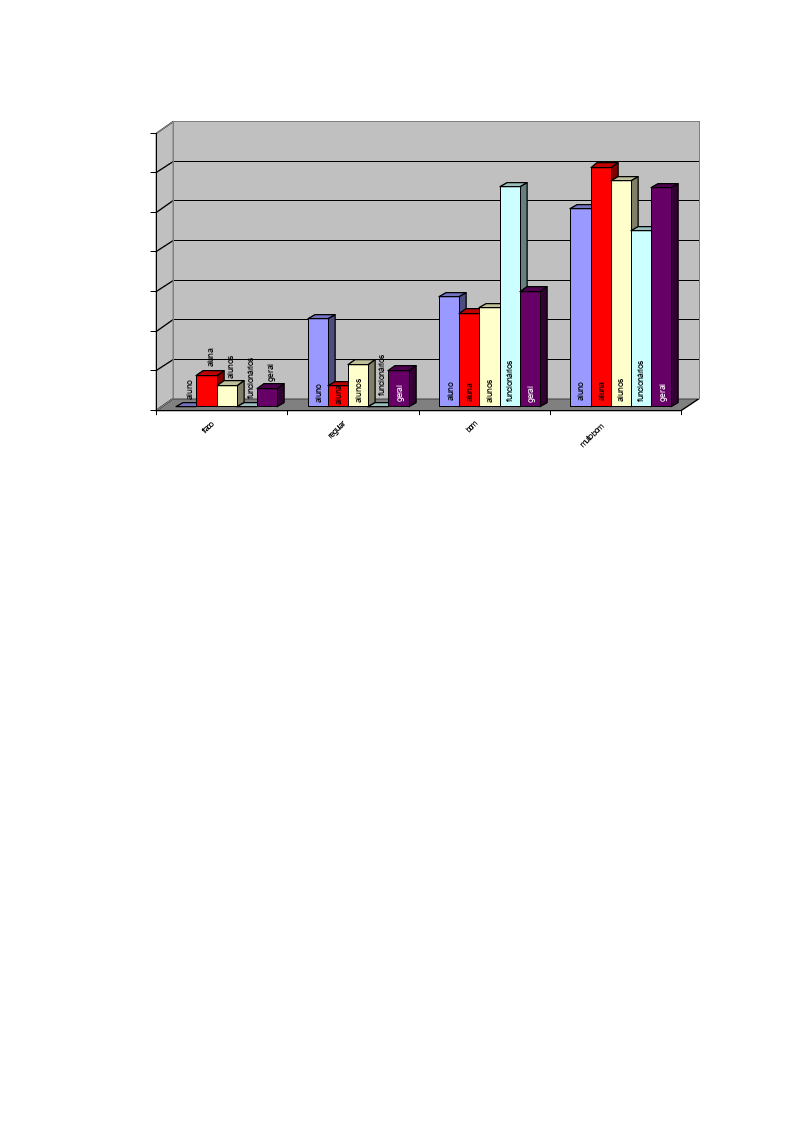
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
fraco
regular
bom
muito bom
Figura 48 - Subsídios para a EA : Percepção da destruição ambiental da ação voltada para a luta em favor da
conservação dos recursos naturais.
5.2.6 Proble mas Ambientais : Os Acoimados na Percepção de Testemunhas Oculares
Uma das questões mais relevantes a serem ponderadas quando da discussão dos
problemas ambientais diz respeito à definição da origem primordial dos problemas. Nesse
contexto, os entrevistados foram instados a definir, na visão de cada um, qual era a origem
geográfica e socioeconômica do problema, se rural ou urbana, se rica ou pobre.
Primeiramente os resultados foram analisados em conjunto, considerando a frequência com
que as quatro opções foram citadas pelo conjunto dos entrevistados (Fig. 49) comparadas dois
a dois, ou seja, área rural versus área urbana e área rica versus área pobre.
Pode-se depreender que a maioria do conjunto dos entrevistados (43%) atribuiu a
origem dos problemas ambientais às áreas urbanas, sendo menor (20%) a parcela daqueles
que consideram que a origem dos problemas ambientais está no meio rural. Uma parcela
intermediária (36%) dos entrevistados, entretanto, acredita que ambas as áreas, rural e urbana,
comungam da responsabilidade.
Desdobrando a opinião geral em classes, percebe-se que a maioria dos alunos tem
uma opinião diferente do senso geral, considerando que o problema tem origem indistinta
(56%), superando ligeiramente os que acham que os problemas são de origem urbana (39%) e
consideravelmente os que acham que o problema é origem rural (6%).
As alunas foram a classe que mais contribuíram para o padrão de respostas
observado no geral pois, diferentemente dos alunos, a maioria (46%) também considerou que
as áreas urbanas são as principais responsáveis pelos problemas ambientais, porcentual maior
do que das alunas que consideram que os problemas são originadas por ambas (32%),
enquanto a minoria (22%) a origem dos problemas ao meio rural.
65
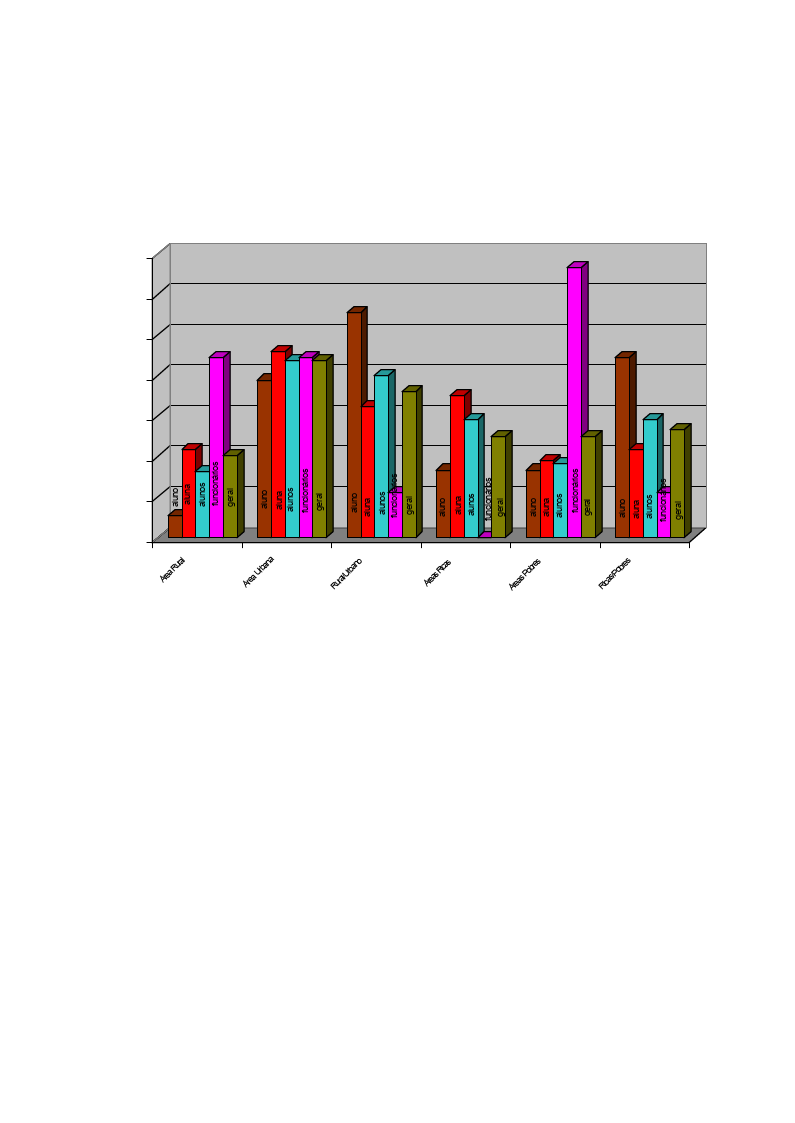
Em razão de terem opiniões um tanto quanto distintas, ao considerar o conjunto dos
alunos e das alunas essas diferenças se compensam mutuamente. O resultado é que 44% dos
alunos e das alunas consideram as áreas urbanas como sendo as responsáveis pelos problemas
ambientais, 40% consideram que ambas as áreas são responsáveis e apenas 16%
responsabilizam as áreas rurais como sendo as originárias dos problemas ambientais.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Área Rural
Área Urbana
Rural/Urbano
Áreas Ricas
Áreas Pobres
Ricas/Pobres
Figura 49 – Origem dos problemas ambientais : frequência relativa
Entre os funcionários o resultado é totalmente distinto das demais classes, embora se
mostrassem divididos, com porcentual (44%) semelhante entre os que acham que o problema
é de origem rural e os que consideram que os problemas ambientais tem origem urbana.
Apenas um pequeno porcentual (11%) dos funcionários considera a ambiguidade da origem
desses problemas.
O resultado observado nesse item é ilustrativo da dificuldade de muitos indivíduos
estabelecer um vínculo apropriado entre o problema e o evento causal. Como observa
Guimarães (2000b), ao se remeter às realidades rurais, talvez se possa pensar que, pela maior
presença de elementos naturais nesse meio, os problemas ambientais são aqueles distantes,
como o desmatamento da Amazônia, ou os globais, como o buraco na camada de ozônio ou
efeito estufa. Mas ao se aproximar dessas realidades locais, percebe-se que ocorrem também
vários problemas socioambientais, como agrotóxico, erosão, desmatamento, contaminação
das águas, concentração de terras, pobreza etc. No entanto, esses problemas localizados,
mesmo em pequenas comunidades, acontecem em todo o mundo. Os problemas ambientais
locais e globais se inter-relacionam, não são aspectos isolados de cada realidade.
Voltando à figura 49, adicionalmente os entrevistados poderiam opinar, de acordo
com sua percepção, se além da origem geográfica, haveriam também influências de natureza
socioeconômica. Estudantes e servidores foram instados a responder se os problemas
ambientais têm origem na áreas ricas, nas áreas pobres ou se não há essa distinção de natureza
socioeconômica no que diz respeito a geração de tais problemas.
66

O resultado para o conjunto dos entrevistados mostra bastante equilíbrio entre as
respostas, com valores porcentuais muito próximos entre os que acreditam que os problemas
ambientais são originariamente das áreas ricas (25%), pobres (25%) ou de ambas (27%). Note
que o somatório dos valores não é igual a 100% porque a resposta era voluntária, podendo ser
omitida, se o entrevistado entendesse que elas não se aplicavam.
A maioria dos alunos considerou que ricos e pobres (44%) são indistintamente
causadores de problemas ambientais, sendo bem menor o porcentual de alunos que
responderam que os problemas se originam de áreas ricas (17%), valor idêntico aos que
consideram que a origem é de área pobre. As alunas tiveram posição distinta dos alunos, pois
consideraram que são nas áreas ricas que têm origem os problemas ambientais (35%),
enquanto porcentuais próximos consideraram que os problemas são originários de áreas
pobres (19%) ou ricas (22%). No conjunto, alunos e alunas consideraram as regiões ricas
como importante fonte dos problemas (29%), ainda que o porcentual dos que consideraram
que áreas ricas e pobres são ambas responsáveis pelos problemas ambientais tenha sido o
mesmo. Um porcentual consideravelmente mais baixo (18%) consideraram as regiões pobres
como aquelas onde os problemas ambientais têm origem.
A resposta mais contundente foi dada pelos funcionários, que elegeram as áreas
pobres (67%) como as grandes responsáveis pelos problemas ambientais. Não houve quem
responsabilizasse exclusivamente as áreas ricas, embora alguns dos funcionários (11%)
tenham apontado que tanto as áreas ricas quanto as pobres podem ser responsabilizadas pelos
problemas.
Esse comportamento dos entrevistados dá uma ideia dos diferentes níveis de
percepção de uma das classes envolvidas na pesquisa. Percebe-se claramente que os alunos
tem posição oposta à dos funcionários, pois os primeiros creem que os problemas são de
origem múltipla enquanto os últimos parecem acreditar que o problema é fundamentalmente
de regiões pobres. Embora não tenha sido avaliado o nível socioeconômico dos funcionários
na pesquisa, não é difícil inferir que se tratavam de pessoas de renda e de nível de domínio
conexo relativamente mais baixos do que a da classe dos alunos, o que provavelmente exerceu
influência nessa percepção. Também entre os alunos percebeu-se diferenças quanto ao sexo,
já que as alunas atribuíram principalmente às regiões mais ricas a origem dos problemas
ambientais, enquanto os alunos consideraram que o problema é ambíguo.
Essa é uma discussão relativamente recente e tem permeado vários debates em
Conferências Mundiais sobre o Meio Ambiente. O modelo econômico vigente nos países
ditos capitalistas geram o estabelecimento de classes sociais que podem ser divididas
singelamente por dois parâmetros: nível de acúmulo ou consumo de bens ou de riquezas e
nível de cultura ou de conhecimento. Essas duas características tendem a guardar correlação
alta e positiva entre elas, o que equivale dizer que indivíduos de classes sociais com maior
potencial de consumo e acúmulo de bens, via de regra, são representadas por indivíduos com
maior grau de conhecimento e de cultura. Não se trata aqui de uma generalização excludente
de exceções, mas de uma tendência geral e óbvia, predominante nas sociedades
contemporâneas pós industrialização. Conforme observa Gioda (2010), o processo industrial
gerou uma classe com maior poder aquisitivo, cultura e conhecimento que utiliza, via de
regra, mais recursos e acumula economias e conhecimento, e outra que vive em estado mais
precário e que por isso mesmo, utiliza desordenadamente as reservas naturais, causando a
degradação de áreas agricultáveis e de recursos hídricos e, assim, aumentando a pobreza. Mas,
de acordo com Neiva (2001), o modelo econômico atual baseado na concentração ou na
exclusão de renda faz com que ambas as classes tenham igualmente potenciais impactos sobre
o meio ambiente. A pobreza pelo fato de só sobreviver pelo uso predatório dos recursos
naturais e os ricos pelos padrões de consumo insustentáveis.
67
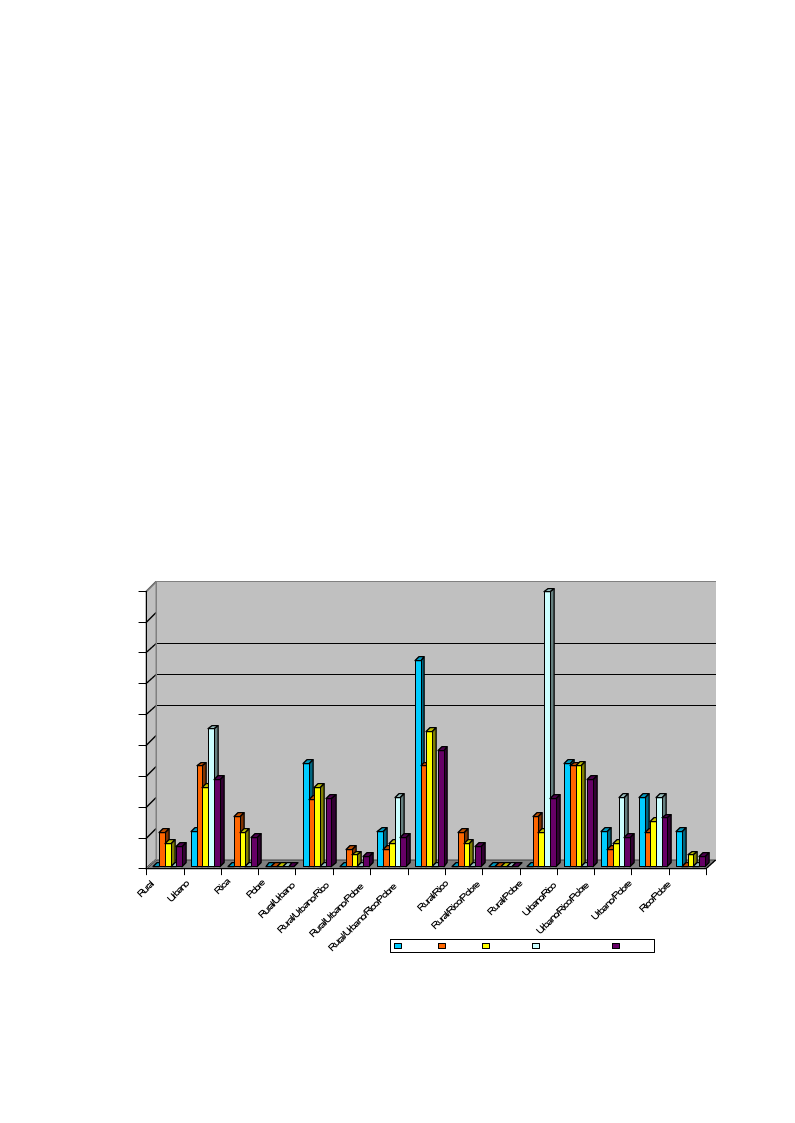
De fato, a partir de dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) é possível estimar que o mundo está consumindo 40% além da capacidade de
reposição da biosfera (energia, alimentos, recursos naturais), com incrementos nesse déficit da
ordem de 2,5% ao ano (Cozetti, 2001). Estima-se que 85% de produção e do consumo no
mundo estão localizados nos países industrializados que tem apenas 19% da população (Vitor,
2002). Os EUA têm 5% da população mundial e consomem 40% dos recursos disponíveis. Se
os seis bilhões da população mundial usufruíssem o mesmo padrão de vida dos 270 milhões
de americanos, seriam necessários os recursos de seis planetas equivalentes à Terra (Gioda,
2010).
Quando se analisou a frequência com que os problemas ambientais eram citados
pelos entrevistados, ficaram evidentes as diferenças entre classes e sexo, o que motivou a
autora e investigar cada resposta dos participantes da pesquisa de maneira independente, ou
seja, analisando-se as respostas da forma como elas foram apresentadas, permitindo uma
análise mais a miúde. O resultado (Fig. 50) evidencia, mais claramente, a percepção dos
entrevistados. Nele pode-se depreender, por exemplo, que a maioria dos alunos (33%)
considera que os problemas ambientais são originários de todas as áreas, sejam elas rurais ou
urbanas, pobres ou ricas, opinião que não encontrou eco entre as alunas, na medida em que a
parcela que acompanhou a posição dos alunos, ou seja, que considerou que as origens são
multifacetadas, foi semelhante às parcelas que atribuíram o problema às regiões
exclusivamente urbana ou às regiões urbana e rica (17%). A posição dos alunos e alunas em
favor da origem multifacetada, entretanto, ficou mais clara quando se consideraram as
respostas em conjunto (22%). Mais evidente ainda foi a posição dos funcionários, claramente
em favor da ideia de que a origem dos problemas é definitivamente rural e pobre (44%).
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Rural
Urbano
Rica
PobreRural/UrRbaunraol/UrbanoR/Ruriacol/URrbuarnaol//UProbbarneo/Rico/Pobre
RuralR/Ruicroal/Rico/Pobre
Aluno Aluna
Rural/Pobre UrbanUo/rRbaicnoo/Rico/Pobre Urbano/Pobre
Rico/Pobre
Alunos Funcionários Geral
Figura 50 - Origem dos problemas ambientais : valores absolutos
68

5.2.7 Problemas Ambientais: A quem pertence o Passivo?
Se na questão anterior o escopo era determinar a origem dos problemas segundo a
percepção dos entrevistados, na sequência objetivou-se determinar que áreas seriam,
efetivamente, mais prejudicadas pelos problemas ambientais (Fig. 51). De novo, as
comparações foram primordialmente feitas duas a duas, entre áreas geográficas e depois entre
áreas socioeconômicas.
A maioria absoluta (52%) dos entrevistados apontou ambas as áreas geográficas
como sendo prejudicadas pelos problemas ambientais, resultado influenciado principalmente
pelas tendências semelhantes manifestadas por alunos (63%), alunas (62%) e pelo conjunto de
alunos (58,18%). Mas a maioria dos funcionários (56%) respondeu que as áreas urbanas são
as mais afetadas, seguidas das áreas rurais (33%).
Em relação à condição socioeconômica, a tendência geral foi apontar as áreas pobres
como as mais atingidas (47%), embora um porcentual significativo (41%) dos entrevistados
tenha sugerido que ambas as áreas são afetadas. O aspecto relevante a ser mencionado aqui é
que as áreas pobres são quase desconsideradas (5%) como destino dos problemas ambientais.
De novo a maioria absoluta dos alunos parece acreditar que não há uma área
socioeconômica definida mais afetada pelos problemas ambientais (53%), mas 37% sugeriram
que as áreas mais pobres sofrem com esses problemas. É interessante notar que, embora a
maior parte dos alunos tenha afirmado que tanto áreas pobres quanto ricas sejam responsáveis
por causar problemas ambientais, nenhum deles parece crer que as áreas ricas possam ser as
únicas afetadas pelos problemas ambientais.
O comportamento das alunas parece a imagem inversa do comportamento dos seus
congêneres do sexo masculino, pois a maioria absoluta (53%) apontou as áreas pobres como
as mais afetadas pelos problemas ambientais. Mas um porcentual expressivo (47%) das alunas
vê áreas ricas e pobres sendo afetadas igualmente. Além disso, diferentemente dos alunos, ao
menos 9% delas consideraram as únicas áreas socioeconômicas afetadas pelos problemas
ambientais são as pobres.
A maioria absoluta e expressiva dos funcionários (67%) acredita que somente as
áreas pobres são afetadas pelos problemas ambientais; sendo pequeno (11%) o porcentual dos
que acreditam que ambas as áreas são afetadas. Nenhum funcionário apontou a área rica como
sendo a única exclusividade afetada pelos problemas ambientais.
Há poucas referências literárias para subsidiar os achados deste trabalho no que
tange a questão socioeconômica. Mas é inegável a força do capital na indicação de prioridades
dos assuntos em pauta em quase todos os níveis e segmentos da sociedade organizada. Após a
derrocada do comunismo como regime político vigente em boa parte das nações, o
capitalismo e o liberalismo se tornaram preponderantes e principais sustentáculos, não só das
iniciativas privadas, como também dos governos em todas as esferas. Assim, preço e custo,
características fundamentais do capitalismo, passaram a ser indicadores também de políticas
públicas, questões ambientais inclusas.
É importante essa abordagem econômica em questões ambientais porque, talvez a
maioria das decisões que impactam o meio ambiente, quer favoráveis ou detrimentais, levam
primordialmente em conta aspectos de custo e de preço. Em geral, o preço de qualquer
recurso torna-se maior na medida em que ele escasseia. Em condições normais de economia,
os capitalistas consideram que o mercado se ajusta automaticamente, buscando meios de
reduzir os custos (Tebb, 2009). Vistos sob essa lógica capitalista, os recursos seriam tidos
69
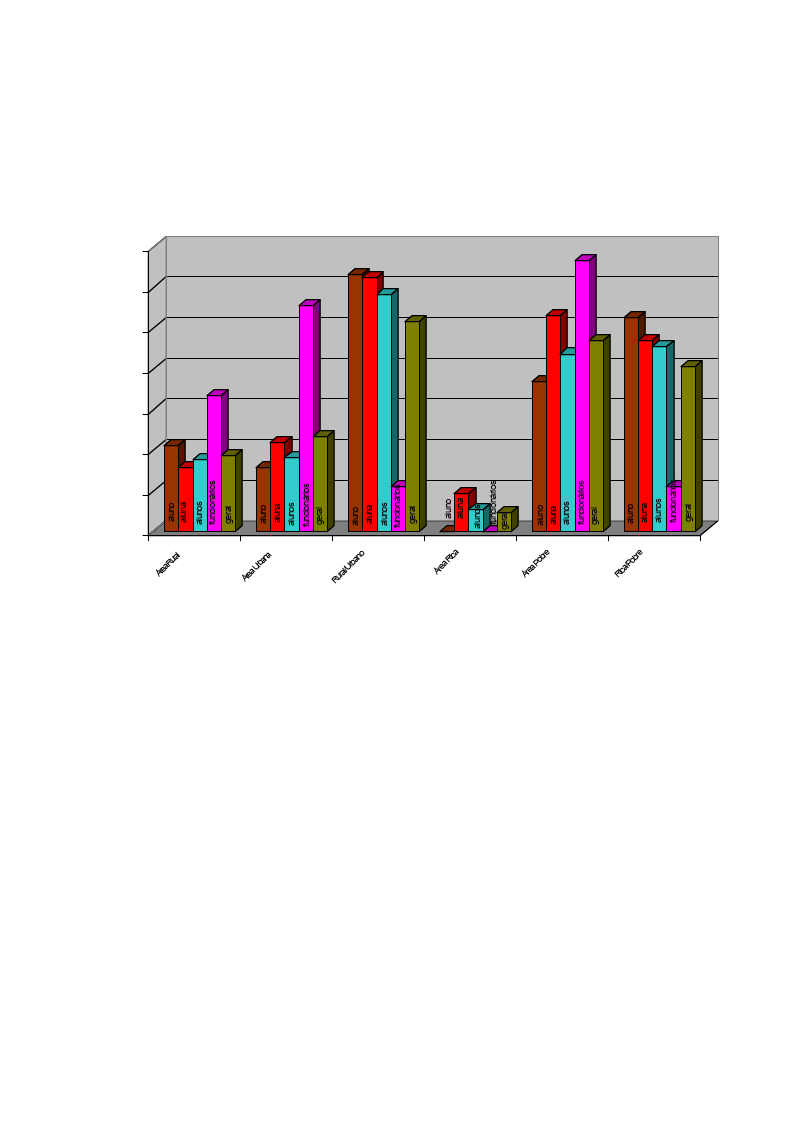
como praticamente infinitos. Um exemplo típico pode ser dado com os custos de determinada
fonte de energia. Na medida em que eles se elevam, o mercado buscará meios de minimizá-
los e, ao mesmo tempo, fontes alternativas até então tidas como “caras” passam agora a ser
viáveis para serem integradas à matriz energética, reduzindo a pressão sobre a demanda pela
fonte original, o que acaba por reduzir o preço da mesma e inverter a tendência da situação
vigente (IPCC, 2007).
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Área Rural
Área Urbana
Rural/Urbano
Área Rica
Área Pobre
Figura 51 – O alvo dos problemas ambientais : frequência relativa
Rica/Pobre
Entretanto, há muito se tem argumentado que os preços não refletem
verdadeiramente o custo total das coisas (Teeb, 2009), sem contar que, frequentemente, sobre
os mais pobres recaem os maiores custos. Essa assertiva pode ser melhor ilustrada com uma
situação que é realística e atual: a sobre-pesca numa dada região pode significar que após
certo espaço de tempo o peixe será cada vez mais difícil de ser capturado e, por conseguinte,
mais caro. Dessa forma, enquanto empresas comerciais, dotadas de tecnologia e
infraestrutura, são capazes de pescar em outras regiões e até tirar vantagem dessa elevação
dos preços, os pescadores locais, descapitalizados e incapacitados de fazer o mesmo por falta
de estrutura, ficarão fora do mercado, tornando-se ainda mais pobres.
Como observa Minc (1993), a poluição não é democrática, pois embora ela atinja a
todos com a chuva ácida, com o efeito estufa, com o buraco na camada de ozônio, ela agride
mais nocivamente a quem se intoxica diariamente nos locais de trabalho, perdendo
semanalmente parte dos tímpanos, dos pulmões e do sistema nervoso, sob a ação contínua da
poluição sonora, industrial, respirando CO e SO2, fenóis e NO, sob o impacto da poluição
térmica dos altos fornos. É o caso, também das famílias que vivem em torno de grandes
empresas poluidoras, como a REDUC ou a CSN, cujos filhos já nascem com uma expectativa
estatística de vida de 5 a 10 anos inferiores às crianças que não respiram metais, particulados,
SO2 e benzeno. Ou ainda dos agricultores que se contaminam diariamente com agrotóxicos,
muitos dos quais proibidos nos países de origem das multinacionais, por serem conhecidos
seus efeitos cancerígenos ou mutagênicos, mas aqui comercializados em larga escala.
70
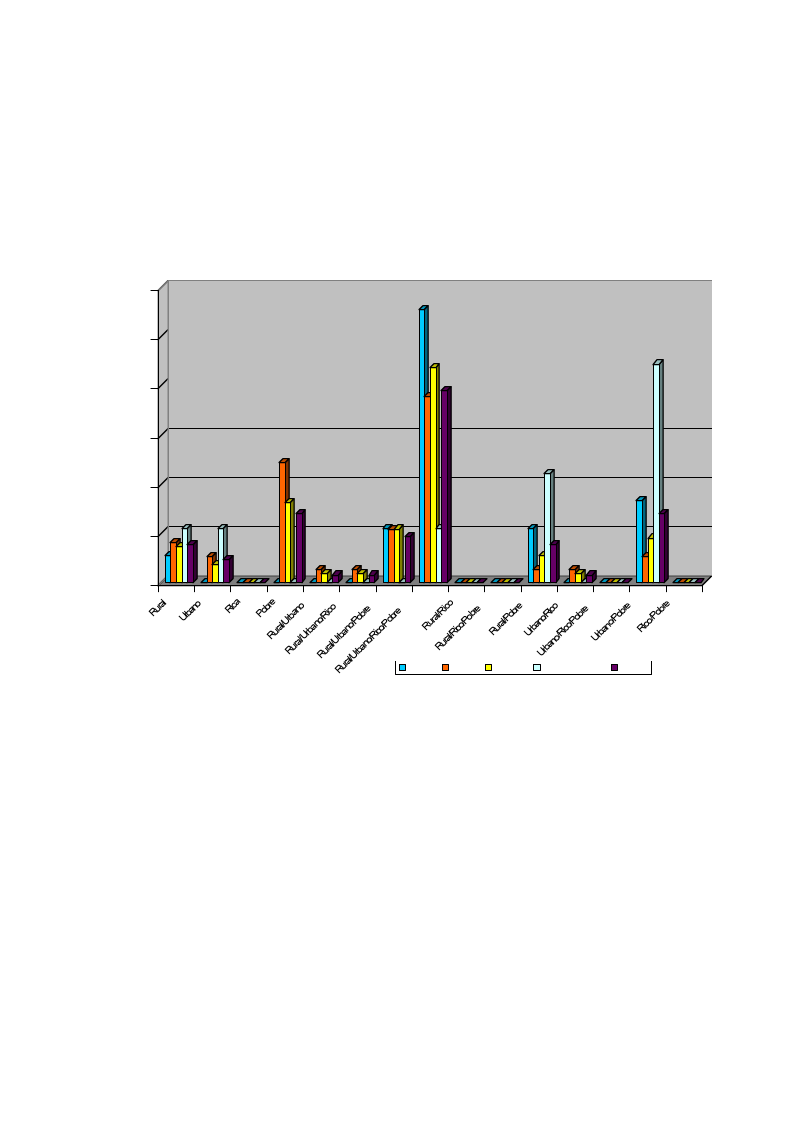
A figura 52 é aposto ao tema em voga, desincumbido, todavia, da necessidade de
pareamento geográfico ou socioeconômico. No geral, a tendência foi a mesma registrada
quanto a origem dos problemas. A maioria (39%) dos entrevistados considera que todas as
áreas, rurais, urbanas, pobres e ricas são igualmente afetadas pelos problemas sociais. Essa
tendência foi praticamente a mesma para todos os segmentos, com exceção dos funcionários,
que consideraram as áreas urbanas e pobres como as mais afetadas pelos problemas
ambientais.
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Rural
Urbano
Rica
PobrReural/URrbuarnaol/UrbanoR/Ruricaol/URrbuarnaol/U/Prboabnreo/Rico/Pobre
RuraRl/Ruircaol/Rico/Pobre
Aluno Aluna
Rural/Pobre UrbanUor/bRaicnoo/Rico/Pobre Urbano/Pobre
Rico/Pobre
Alunos Funcionários Geral
Figura 52 – O alvo dos problemas ambientais : valores absolutos
Esta questão conduz ao entendimento que a população pobre é a mais agredida pelo
ambiente, percebendo assim a expansão das relações capitalistas de produção, que tem
assegurado historicamente a mercantilização de todos os “bens” necessários à manutenção da
vida no planeta. Os centros de poder e decisão estão principalmente (mas não
necessariamente) no Primeiro Mundo, em edificações exuberantes, nos mais valorizados e
sofisticados bairros dos grandes centros urbanos (Carvalho, 2004)
Um exemplo esclarecedor nesta investigação foi a questão do lixo. As ausências de
coleta seletiva e de aterros sanitário s aparecem, quase sempre, associadas à pobreza, sem que
seja efetivamente percebido o fato de que a insuficiência de investimentos públicos com
determinados equipamentos urbanos impõe uma progressiva poluição ambiental, com grande
impacto sobre a saúde da população. Existe ainda um raciocínio de que a ausência de aterros
faz com que as populações pobres agridam o ambiente. Perde-se de vista o fato de que a
ausência de tal infraestrutura, em si mesma, já constitui agressão às populações e ao ambiente,
como afirma Barreto (1993).
71

Atribuindo pesos diferentes às questões sociais e ambientais, tais raciocínios acabam
por aceitar o primado dualista proposto, quando sugerem iniciativas mais urgentes para os
problemas relativos à pobreza em detrimento dos problemas ambientais passíveis de solução
mais a longo prazo. Como observado por Barreto (1993), certamente o ar de “novidade” que
têm assumido as questões ambientais, no contexto das preocupações mundiais, tem
concorrido para a formação de uma consciência que identifica as ameaças ambientais como
problemas recém-surgidos contra os velhos problemas da fome, miséria, desemprego,
violência que penalizam há muito a humanidade. Daí, exigir mais urgência para os problemas
“mais antigos”, que ferem a consciência humana há mais tempo
5.2.8 Práticas humanas que se opõem à idéia de um mundo ecologicamente equilibrado
Por causa das discussões sobre o meio ambiente, muitas pessoas estão sendo levadas
a questionar o seu modo de vida. O tipo de trabalho que realizam, os padrões de consumo, a
forma como se divertem ou de lazer, a saúde de que goza m, os seus relacionamentos
interpessoais, a forma como enxerga m o mundo, enfim, todas as atividades ou práticas
humanas que, de uma forma ou de outra, podem se opor à idéia de um mundo ecologicamente
equilibrado. Os entrevistados foram instados a escolher, por ordem de importância, num
elenco de 18 opções, quais eram as cinco mais importantes ações humanas com maior
potencial de risco ao equilíbrio ecológico.
5.2.8.1 A percepção dos alunos sobre as práticas humanas e o equilíbrio ecológico
Os alunos respoderam (Fig. 53) que não reciclar o lixo e utilizar agrotóxico em
lavoura (22%) seriam as práticas mais importantes a afetar o equilíbrio ecológico. Embora
tenham sido colocados em igualdade porcentual como item mais importante dessa questão,
pode-se atribuir à reciclagem do lixo um maior destaque na percepção dos alunos, pelo fato de
que foi a segunda escolha de 44% desses estudantes.
Reciclar é aproveitar novamente materiais que vão para o lixo e na natureza isso
acontece naturalmente - a reciclagem é um processo natural pois todo lixo produzido pelos
seres vivos é naturalmente reciclado. De fato, os humanos são os únicos seres vivos que não
seguem as leis da natureza, o que, além de representar um grande desperdício de materiais,
orgânicos e inorgânicos, acaba por afetar consideravelmente o equilíbrio ecológico.
Um estudo realizado em 2007 pelo Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento (SNIS) e pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais (ABRELPE), revelou como o Brasil tem lidado com seu lixo (Palácios, 2009). Pelos
resultados verificou-se que 99% dos municípios pesquisados possuem serviço de coleta
regular. A quantidade de lixo coletado diariamente girava em torno de 0,71 kg por cada
habitante nas menores (com até 30 mil habitantes) e 1,17 kg nas cidades com mais de três
milhões de moradores. O Distrito Federal foi a região com a maior média per capta de
resíduos coletados, com 1,96 kg/hab./dia, seguido pelo estado da Paraíba (com 1,56
kg/hab./dia) e por Alagoas (com 1,47 kg/hab./dia). O estado de São Paulo ficou abaixo da
média nacional (de 0,97 kg/hab./dia.), com um índice de 0,90 kg/hab./dia.
72
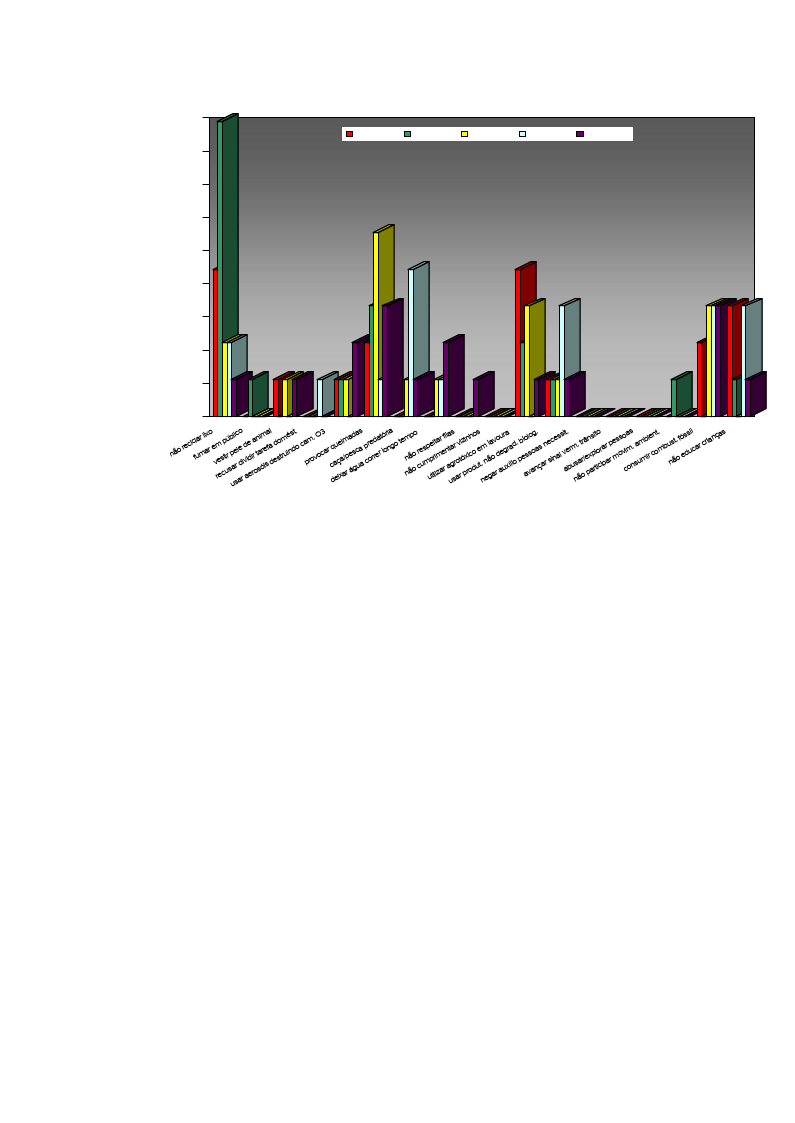
45%
40%
1a opção 2a opção 3a opção 4a opção 5a opção
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
não recicfluamr liaxroevmreescptuiúrsbpualeisrclaeodrivdaiedeirarontsaiómreisafaldedsotmruéinsdt.o capmro.vOoc3arcqdaueçeixaiam/praeádsgacuasapcroerdreartólorniago temnnããpooocreusmpupetriiltiimazarerfinlaatuagssrraovrtiózpxinriochdoouset.mnneãglaoavrodaueurgaxraílido.pbeiaosvlsoaogna.çsanrescineaslsviate.brumns.ãatorr/âepnxasprilttooicriaprapremsosvociamosn.saummbiirecnot.mbunsãt.ofóesdsuilcar crianças
Figura 53 - Práticas humanas que se opõem à ideia de um mundo ecologicamente equilibrado na visão do aluno
A coleta seletiva é praticada em 57% dos municípios da amostra. Nesses locais, a
triagem de materiais reciclá veis recupera uma média de 3,1 kg/habitante urbano/ano. Esse
valor implica um montante aproximado de 50 milhões de toneladas/ano de resíduos
domiciliares e públicos (RDO+RPU) considerado “potencialmente” coletado em 2007.
Seriam recuperadas em torno de 2.400 toneladas de resíduos recicláveis por dia (2% do total
de RDO coletado). A incidência dos diversos materiais no total recuperado foi de papel e
papelão (51%), plásticos (27%), metais (12%), vidros (6%) e outros materiais 4%. O
município com o maior índice de recuperação de recicláveis foi Maripá de Minas, que
recupera 47% do seu lixo, seguido por São Luís, no Maranhão, com 20% de recuperação, e
Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, com 20%. A cidade de São Paulo registrou um índice de
0,6% de recuperação e o Rio de Janeiro marcou 0,1%.
A falta de educação infantil para uma relação saudável das crianças com o meio
ambiente foi considerado por 17% dos estudantes como o item mais importante a impactar o
equilíbrio ecológico, porcentual mais elevado do que o obtido por outras atividades mais
tradicionais e tido como de mais forte potencial impactante sobre o meio ambiente, como as
queimadas e o consumo de combustíveis fósseis (11%). Esse comportamento parece
demonstrar a preocupação dos entrevistados com o futuro. Como disse Gaarder (1995):
"O futuro não é algo que simplesmente acontece por si mesmo. Estamos
criando o amanhã neste mesmo momento. Hoje em dia muitas pessoas
sentem-se como meros espectadores dos fatos globais. Mas devemos
aprender que todos nós somos atores e que estamos modelando nosso
futuro agora mesmo".
A opinião de Sá Freire (2010) é que as escolas, através da educação ambiental, as
associações de moradores oferecendo sua competência para mobilização da comunidade e, o
apoio financeiro ou a capacidade de arrecadação das organizações não governamentais, muito
73

poderão contribuir para se multiplicar os processos que diminuem, e muitas vezes até
conseguem eliminar, os danos causados pelo lixo humano à natureza. Tanto a família como a
escola tem a responsabilidade de participar da construção destes valores básicos da
consciência cidadã da criança, para que ela no futuro tenha hábitos éticos, sadios e
responsáveis quanto à preservação e desenvolvimento sustentável da Terra. O melhor
caminho a trilhar por nossa geração é fazer do lar um exemplo e da escola um centro de
mudança de valores, hábitos e atitudes através da educação ambiental como conceito
transversal aos diálogos familiares e a todas as disciplinas escolares.
É interessante notar a relevância que o item uso de agrotóxico em lavouras teve para
os alunos, a frente inclusive de outros temas mais populares e de mais espaço midiático.
Possivelmente, esse tema deve ascender a cabeça de estudantes em razão dessas substâncias
serem usadas com muita frequência no controle de pragas e doenças, tratando-se, portanto, de
itens componentes da realidade dessa classe de entrevistados. Embora bem vinculada à
realidade desses alunos, a preocupação com agrotóxicos é genuína e pertinente, pois a
agricultura químico- industrial e o uso de agrotóxicos tem provocado conseqüências drásticas
ao meio ambiente como contaminação de alimentos, poluição de rios, erosão de solos e
desertificação, intoxicação e morte de animais e extinção de várias espécies de animais.
A utilização de agrotóxicos constitui uma das características fundamentais do padrão
tecnológico introduzido na agricultura brasileira dos anos sessenta, através do processo
conhecido como a “Modernização Conservadora” (Carraro, 1997). A agricultura industrial,
rotulada de moderna e avançada, fundamentada na economia e nos imediatos resultados à
proteção das plantas cultivadas contra a ação das pragas, patógenos e ervas daninhas
invasoras, tem falhado constantemente. Os retornos esperados não foram alcançados, pois em
relação à agricultura, a Natureza deve ser vista como um processo biológico, ditado pela
natureza e não como mero processo físico e químico. Para a Agricultura Industrial, o objetivo
é meramente a produtividade, deixando de lado o equilíbrio ecológico, a estabilidade dos
sistemas agrícolas, a conservação dos recursos naturais (água, solo e ar) e a qualidade dos
alimentos.
O consumo de agrotóxicos gera um círculo vicioso: quanto mais se usa, maiores são
os desequilíbrios provocados e maior a necessidade de uso, em doses mais intensas, de
formulações cada vez mais tóxicas. Inicialmente, esse tipo de agricultura se desenvolveu em
países temperados e, posteriormente, se expandiu para os países tropicais, não levando em
conta as características ecológicas, sociais e econômicas. A legislação federal que trata dos
pesticidas é de 1934 (Decreto no 24.114, de 12/04/1934), época em que não eram conhecidos
ainda o BHC, DDT e outros clorados, nem os fosforados e carbamatos. Desde então, com
poucas exceções (Leis 7.802/89 e 9.974/00), a tecnocracia tem legislado através de portarias
de emergência com objetivos específicos.
As organizações ambientalistas dos próprios países exportadores ou produtores tem
reagido fortemente contra seus governos pelo livre comércio dos produtos letais, que acabam
retornando à sua origem através dos produtos primários importados. A Federação de
Assistência Social Educacional (FASE), Projeto Tecnologias Alternativas, confrontou a lista
da ONU com a Portaria 10, DISAD de 12 de março de 1985, que estabelece o emprego de
cada produto, e o resultado foi alarmante. Quando um agrotóxico é registrado para qualquer
uso, por mais restrito que seja, no Brasil este produto entra no mercado e na prática é vendido
livremente, para qualquer finalidade. Este descontrole apenas começa a ser ame nizado em
alguns poucos Estados onde existe, por iniciativa local, um empenho sério para controlar a
venda destes venenos mediante a exigência de receituário agronômico (Francisco,2002).
74
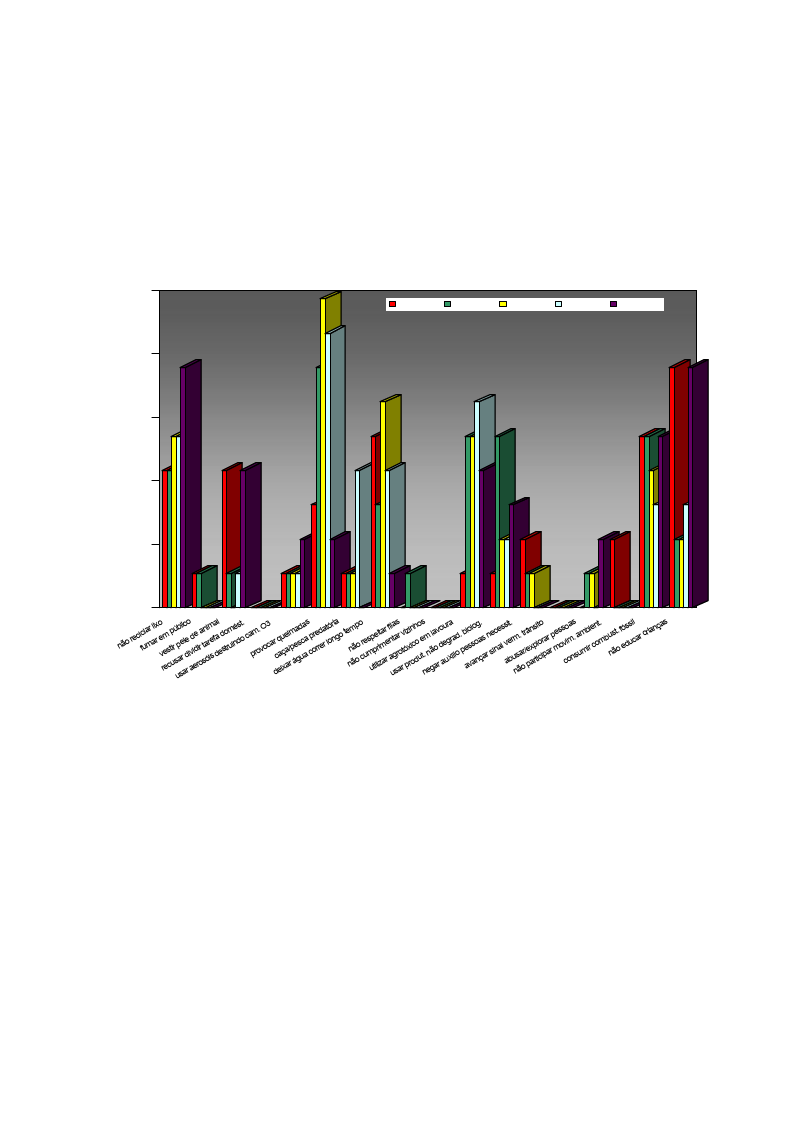
5.2.8.2 A percepção das alunas sobre as práticas humanas e o equilíbrio ecológico
A exemplo dos seus congêneres do sexo masculino, as alunas também atribuíram
considerável importância a não educação infantil como de potencial impacto sobre o
equilíbrio ecológico (Fig. 54). A diferença é que a maioria delas, esse item foi considerado o
mais importante de todos (19%), enquanto a questão do consumo de combustível fóssil foi
eleito por um número menor de alunas (14%), o mesmo porcentual de alunas que
consideraram o fato de deixar a água correndo longo tempo como o mais importante.
25%
1a opção 2a opção 3a opção 4a opção 5a opção
20%
15%
10%
5%
0%
não recicfulamralixroevrmeescptuirúsupbaselriaclderoiavdieedriorastnaóirmiesfadaledsotrmuinédsot. capmro.vOo3cardcqeauiçxeaai/rmpáeagsducaaascporerrdeartlóorniago tennmããopoocreusmuppteilriizitmaarerfnailuatgassrarorvtóipzxriniochdoouestn.mengãlaaovrdoaeuugrxaríaliod.pbeaiosvlsaoongaç.sarnseicneasl svaiebt.rumnsãa.otrr/âepnxapsrtilitocoirpaarrpmesosvcoiomans.saummbiriecnotm. bunsãto. feódssuicl ar crianças
Figura 54 - Práticas humanas que se opõem à ideia de um mundo ecologicamente equilibrado na visão da aluna
Outros porcentuais relevantes de respostas das alunas observados na pesquisa foram
não reciclar lixo e vestir-se com pele de animal (12%), provocar queimadas (8%), negar-se a
auxiliar pessoas em dificuldades e não participar de movimentos ambientalistas (5%), fumar
em público, utilizar aerossóis que destoem a camada de ozônio, caçar ou pescar de forma
predatória, utilizar agrotóxicos nas lavouras e utilizar produtos não degradáveis
biologicamente (3%).
5.2.8.3 A percepção de alunos e alunas sobre as práticas humanas e o equilíbrio ecológico
Em conjunto, de novo a questão da educação infantil é colocado em evidência por
alunos e alunas (18%), o que era esperado frente ao posicionamento que cada uma dessas
categorias já havia manifestado na análise em separado. Não reciclar o lixo foi a escolha de
75
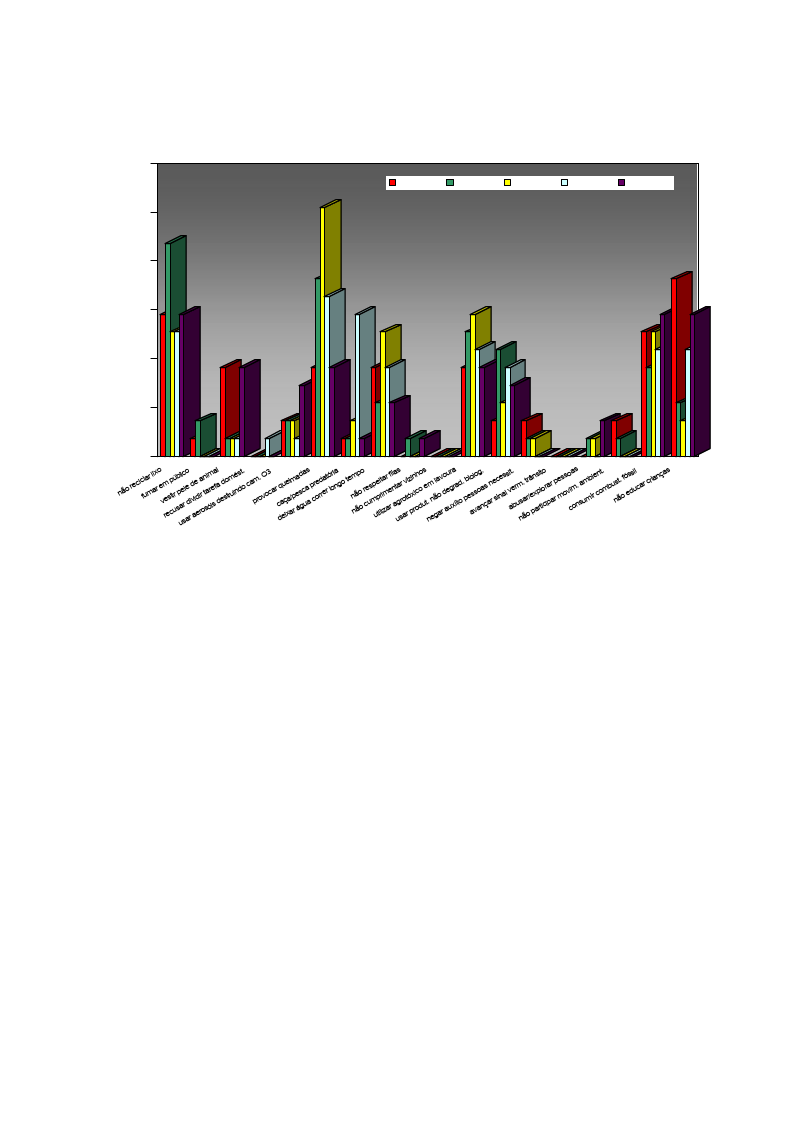
15% de todos os alunos e alunas participantes e o consumo de combustível fóssil foi
escolhido por 13% deles.
30%
1a opção 2a opção 3a opção 4a opção 5a opção
25%
20%
15%
10%
5%
0%
não recicfulamr laixroevmreescptiuúrsbpualeicsrloeadridvaeideirarontsaimóreisafaldedsotrmuiénsdto. capmro. Ovo3carcdqaeuçiexaiam/preaásdgcauasapcroerdreartólorinago tenmnããpooorceusmpueptiirltiiazmraefrinlaatugassrroavtriózpxinriochdoousetn.mneãglaoavrdoaeuugrxaríalido.pbeioaslvsoaogna.çsanrescineaslsviate.brumns.ãatorr/âepnxasprilttoiocriaprapr emsosvociamosn.saummbiirecnot.mbunsãt.ofóesdsuilcar crianças
Figura 55 - Práticas humanas que se opõem à ideia de um mundo ecologicamente equilibrado na visão de alunos
e alunas
Um porcentual de 9% dos alunos e das alunas elegeram deixar a água correr por
longos períodos, provocar queimadas, utilizar agrotóxicos nas lavouras, vestir-se com pele de
animal como sendo itens mais importantes a impactar o equilíbrio ecológico. O porcentual e a
posição desses itens em conjunto é um tanto diferente quando se analisou a resposta dada por
esses mesmos alunos e alunas em separado.
5.2.8.4 A percepção dos funcionários sobre as práticas humanas e o equilíbrio ecológico
O resultado para funcionários pode ser visualizado na figura 56. A maioria absoluta
e muito mais expressiva que as demais categorias pesquisadas apontou que não educar as
crianças para uma relação harmônica com o meio ambiente seria o fator mais impactante no
equilíbrio ecológico (44%). Adultos, com família constituída e com filhos normalmente tende
a colocar a questão da educação dos filhos como sendo prioritária.
Pesquisa realizada pelo IBOPE, promovida pela Fundação SM e pelo Programa
Todos Pela Ed ucação em mais de dois mil domicílios em todo o Brasil com adultos, revelou
que a Educação é a terceira área considerada mais problemática no País. O ensino fica lado a
lado de questões como drogas e empregos, e atrás somente de saúde e segurança pública na
preocupação dos eleitores (IBOPE, 2010). Ainda na pesquisa, detectou-se que a preocupação
com a educação vem crescendo entre os brasileiros, já que em 2006 o tema ocupava apenas o
76
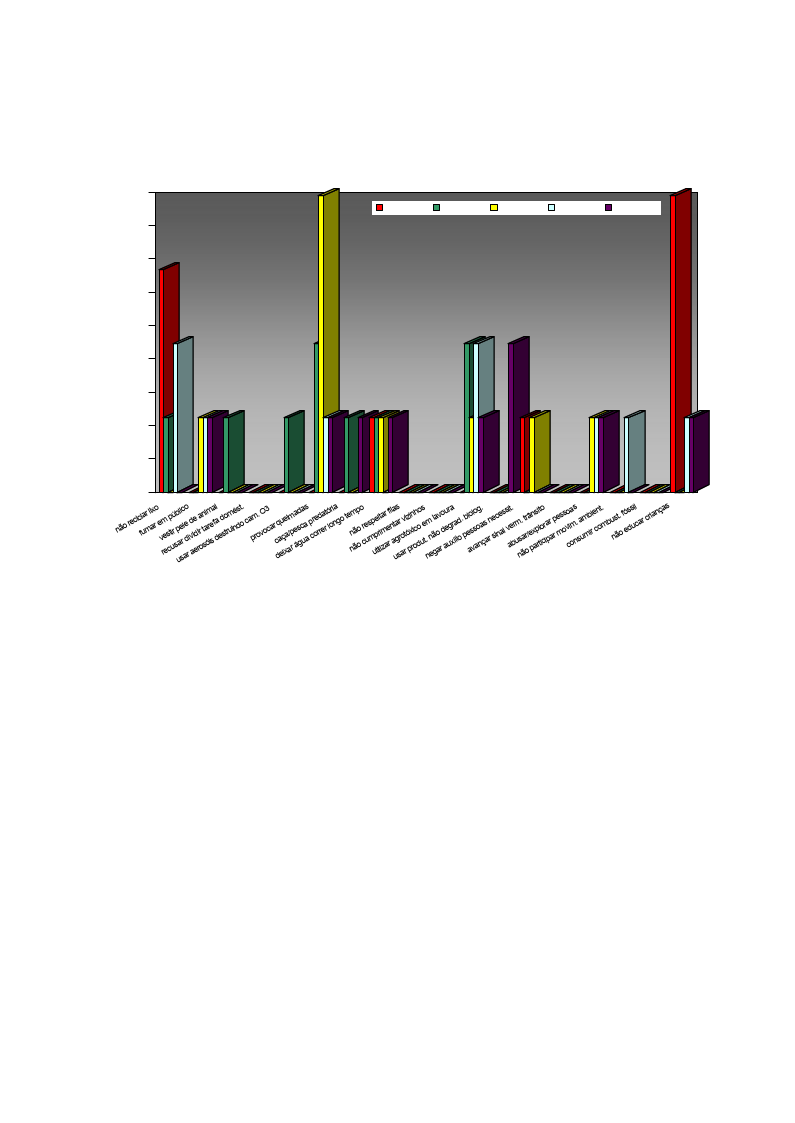
sétimo lugar entre os anseios da população, sugerindo que a sociedade brasileira está mais
atenta para a importância da Educação.
45%
40%
1a opção 2a opção 3a opção 4a opção 5a opção
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
não recicfluamr liaxroevmreescptuiúrsbpualeisrclaeodridvaieedriarontsaiómriesafadl edsotrmuinédsot. capmro. vOo3carcdqaeuçiexaiam/preaásdgcauasapcroerdreartólorinago tennmããpooocreusmpupetriiltiimazarerfinlaatuagssrraovrtiózpxinriochdoouset.mnneãlgaoavrodaueurgaxraílido.pbeiaosvlsoaogna.çsanr esicneaslsvaite.brumns.ãatorr/âepnxaspritltooicriaprapremsosvociaomsn.saummbiriecnotm. bunsãt.ofóesdsuilcar crianças
Figura 56 - Práticas humanas que se opõem à ideia de um mundo ecologicamente equilibrado na visão dos
Funcionários.
5.2.8.5 A percepção geral sobre as práticas humanas e o equilíbrio ecológico
No geral, 22% dos entrevistados apontaram a não educação das crianças para uma
relação saudável com o meio ambiente como o item de mais impacto sobre o equilíbrio
ecológico. Essa foi a tendência geral até agora observada nessa pesquisa e é um resultado
sintomático, pois ratifica duas importantes assertivas. A primeira é que a sociedade, de uma
maneira geral, parece se preocupar com os fatores que afetam o futuro do equilíbrio ecológico
no Planeta e com as formas de mitigar o impacto desses fatores sobre esse equilíbrio. A
segunda é que a sociedade entende que um dos caminhos para esse processo, passa
necessariamente pela educação das crianças.
77
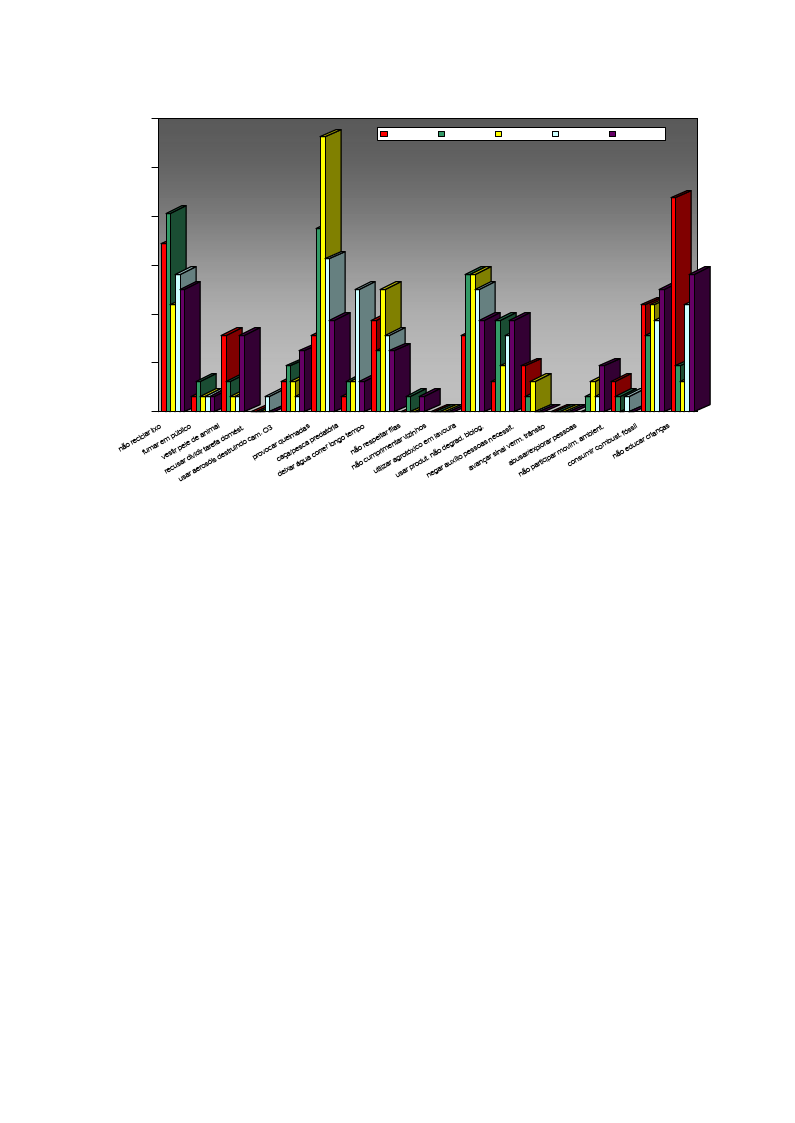
30%
25%
1a opção 2a opção 3a opção 4a opção 5a opção
20%
15%
10%
5%
0%
não recicfluamr liaxor evmreescptiurúsbpualesirclaeodridvaiedeirarontsaiómreisafadl deostmruéinsdt.o capmro.vOo3carcdqaeuçiexaiam/preaásdgcauasapcroerdreartólorinago tenmnããpooorceusmpueptiirltiiamzraefrinlaatugassrroavtriózpixnriochdoousetn.mneãglaoavrdoaeuugrxaríalido.pbeiaosvlsoaogna.çsanrescineaslsviate.brmuns.aãtrro/âepnxasprilttooicraiprapremssoovcaimosn.saummbiriecnot.mbunsãt.ofóesdsuilcar crianças
Figura 57 - Práticas humanas que se opõem à ideia de um mundo ecologicamente equilibrado na visão geral
Quando tudo vai bem em uma comunidade, a educação é encarada como um meio
de formar as novas gerações dentro dos mesmos princ ípios e valores que os mais velhos
receberam e assumiram como os seus. Toda sociedade possui mecanismos educacionais, pois
os seres humanos não nascem com comportamentos programados. Tudo que uma criança vem
a ser como adulto, seu modo de sentir, de pensar, de agir, são coisas aprendidas no convívio
social. Porém, quando os valores e princípios de uma sociedade se encontram em crise, isto é,
quando se passa por um momento histórico de profundas transformações, a educação se torna
também um ponto critico (Mourão & Correa, 2008).
Outro importante aspecto a afetar o equilíbrio ecológico na opinião de 17% dos
entrevistados é não reciclar o lixo. Consumir combustível fóssil não renovável e poluente foi
indicado como mais importante por 11% dos entrevistados, enquanto 9% elegeram não deixar
a água correr por longos períodos. Vestir-se com pele de animal, provocar queimadas e
utilizar agrotóxicos nas la vouras foram citados como de maior impacto sobre o equilíbrio
ecológico por 8% dos entrevistados.
A figura 58 resume as observações dos entrevistados em termos de frequência com
que os itens foram citados. Os resultados são consideravelmente diferentes qua ndo se
considera o número de vezes em que os itens são referenciados independente da ordem. Por
essa análise, provocar queimadas é o item mais citado (21%) na pesquisa, seguido de não
reciclar o lixo (20%) e utilizar agrotóxico em lavouras (15%) como fatores que podem ter
maior impacto no equilíbrio ecológico.
78
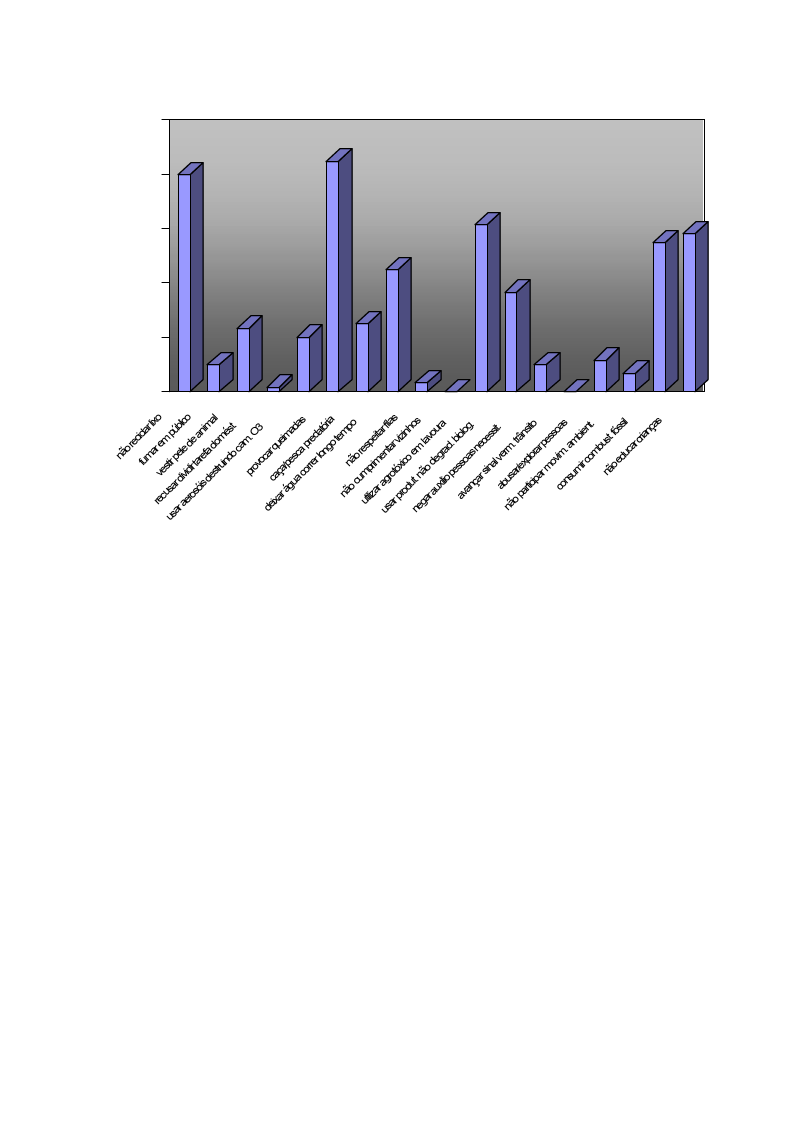
25%
20%
15%
10%
5%
0%
nãorecicfulamrlaixrroeveecmusutsiprsaúparberdlliaiceveoiddroierstaaórniesimfdaeadslotrmuinédsot. camp.rOov3ocdaercqiaxuaçearim/ápgeausdacaascoprrreedralotónrgiaotemnãnpoãoocuremustpiplizreiamitraearungfsitlraaaosrrtóvpxizriocindohuoetn.smengãlaaovrdoaeuugrxarílaiodp.ebsioaslvooagan.sçnaercseinsaslitv.aebrnumãs.aotrr/âpenaxpsrtiiltcooirpaarrpmesosvoicmaosn.asmumbiirecnot.mbunsãt.ofóesdsiulcarcrianças
Figura 58 - Frequência relativa geral das práticas humanas que se opõem à ideia de um mundo ecologicamente
equilibrado
Não educar as crianças para uma relação saudável com o meio ambiente, que em
termos absoluto foi o item mais importante para os entrevistados, aparece apenas com 15%.
Não deixa de ser um fato surpreendente essa posição alcançada pela educação como fator
crítico para a harmonização com o meio ambiente na percepção geral. De fato, segundo Dias
(1992), dentre outros objetivos, os trabalhos relacionados à EA na escola deveriam ter, como
objetivos, a sensibilização e a conscientização; buscar uma mudança comportamental; formar
um cidadão mais atuante e sensibilizar o professor, principal agente promotor da EA. O
consumo de combustível fóssil (14%) e deixar a água correr por longo tempo (11%), foram
itens que também alcançaram expressiva importância para o conjunto dos entrevistados, mas
quando a análise se deteve na frequência, esses itens foram menos referenciados na pesquisa e
tiveram também baixa frequência de citação pelos entrevistados.
5.2.9 As iniciativa s de uma relação mais equilibrada e menos egoísta com o meio ambiente
Observando um mundo que se deteriora, engendrando fenômenos de desequilíbrio
ecológico, onde desfilam acidentes nucleares, acidentes com plataformas de extração de
petróleo, doenças virais incuráveis e toda sorte de desastres de natureza ambiental, ameaçando
a continuação da vida na Terra, percebe-se a necessidade de transformações. Mas como
sobrepujar os interesses do poder econômico-político, se as grandes decisões que poderiam
evitar os maiores desastres ambientais são tomadas, via de regra, pelos detentores desse
poder?
79
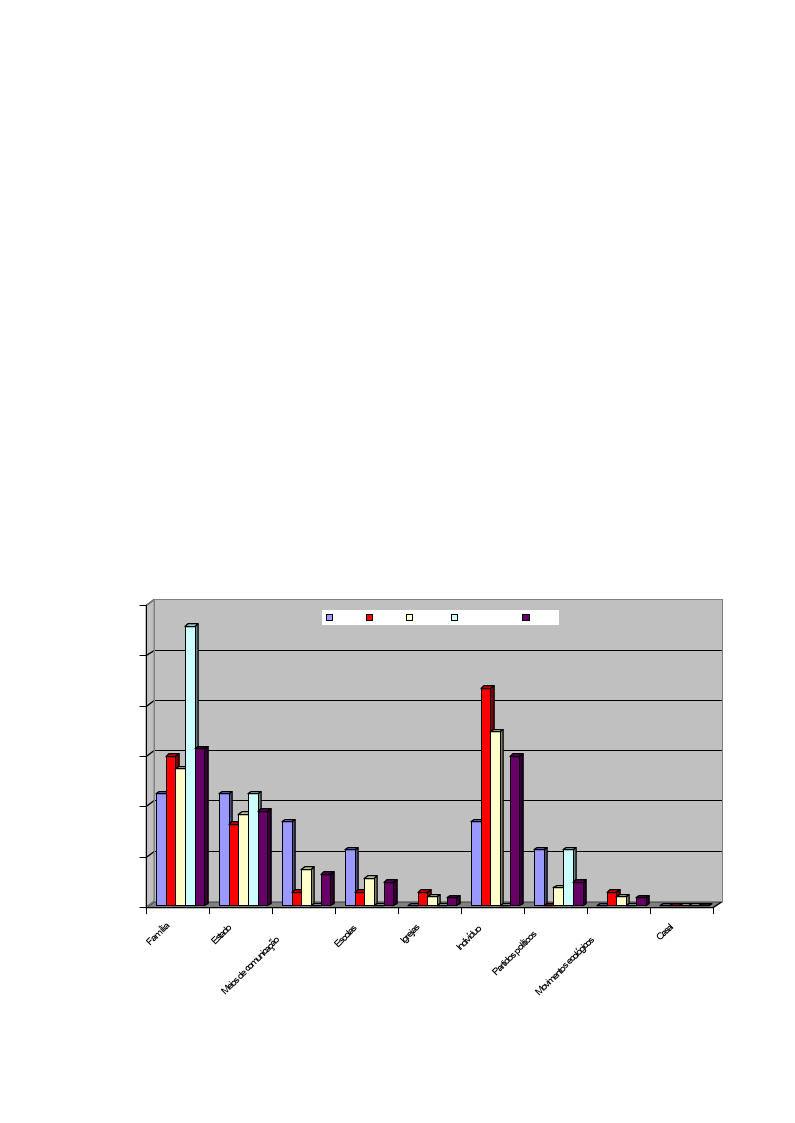
Fazendo uma reflexão sobre o equilíbrio entre as forças e leis que regem a natureza e
as contradições e singularidades da sociedade industrial, Miotto (2007) sugeriu analisar essa
última sob a perspectiva da lei da entropia e do conceito de Ecologia. Com foco nas inter-
relações de matéria e energia entre os organismos e seu ambiente e os princípios que
governam tais inter-relações, aquela autora sugere que o modelo de desenvolvimento atual,
centrado no lucro imediato, não respeita o tempo de processamento dos grandes ciclos
biogeoquímicos. Os resultados podem ser escassez de recursos e degradação do meio
ambiente. Além disso, esse modelo desenvolvimentista atua dentro de uma lógica linear e
privilegia formas de produção com melhores performances em detrimento de outras,
reduzindo a diversidade específica do meio, degradando-o. O estabelecimento de indústrias e
de outras atividades produtivas tem ignorado os limites ecológicos e a adaptação do meio
ambiente a essas atividades, com o consequente agravamento dos problemas ambientais.
Essa constatação norteou a inserção de um componente da pesquisa como parte do
questionário, que permitisse aos partícipes da pesquisa escolher, dentre uma lista contendo
nove itens pré-estabelecidos (família, Estado, meios de comunicação, escolas, igrejas,
indivíduo, partidos políticos, movimentos ecológicos e o casal), qual deveria ser a principal
entidade a iniciar uma relação mais equilibrada e menos egoísta com o meio ambiente.
O resultado pode ser visualizado na figura 59. Nela percebe-se que os alunos ficaram
divididos entre a família e o Estado (22%) como fo nte primordial da iniciativa. Ou talvez, a
melhor interpretação dessa percepção seja a de que, para os alunos, a família e o Estado
deveriam se responsabilizar igualmente pela iniciativa. Conforme observa Herckert (2005), a
família e a escola devem ser os iniciadores da educação para preservar o ambiente natural; a
criança, desde cedo, deve aprender a cuidar da natureza e no seio familiar e na escola é que se
deve iniciar a conscientização do cuidado com o meio amb iente natural. É fundamental esta
educação ambiental pois responsabilizará o educado para o resto de sua vida.
60%
aluno aluna alunos funcionários geral
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Família
EstaMdoeios de comunicação
Escolas
Igrejas
Indivíduo
Partidospolíticos Movimentosecológicos
Casal
Figura 59 – A fonte da iniciativa de uma relação equilibrada com o meio ambiente
80

Por outro lado, os alunos parecem estar sintonizados com a ne cessidade de
engajamento do aparato político, especialmente do poder executivo, em ações públicas
coordenadas, com vistas ao estabelecimento de relações equilibradas entre a sociedade e o
meio ambiente que a cerca. Nesse contexto, Cristóvan Buarque, ex Ministro da Educação, e
Marina Silva, ex Ministra do Meio Ambiente, ambos do Governo Lula , propuseram, em 2003,
o ProNEA – Programa Nacional de Educação Ambiental, no sentido de promover a articulação
das ações educativas voltadas às atividades de proteção, recuperação e melhoria socioambiental, e
de potencializar a função da educação para as mudanças culturais e sociais , como planejamento
estratégico do governo federal (DEA/MMA-COEA/MEC, 2003). Para que a atuação do poder
público no campo da educação ambienta l possa ocorrer de modo articulado tanto entre as
iniciativas existentes no âmbito educativo, como entre as ações voltadas à proteção, recuperação e
melhoria socioambiental, e assim propiciar um efeito multiplicador com potencial de repercussão
na sociedade, faz-se necessário a formulação e implementação de políticas públicas de educação
ambiental que integrem essa perspectiva.
Um porcentual expressivo dos alunos considerou que a iniciativa deveria partir do
próprio indivíduo (17%), número semelhante àqueles que sugeriram uma iniciativa oriunda
dos meios de comunicação. Na sequência, um porcentual bem inferior de alunos sugeriu a
Escola e os Partidos Políticos (11%) como fonte inicial do processo.
Há diferenças consideráveis entre a opinião feminina e a masculina estudantis sobre
essa questão. As alunas foram mais incisivas em apontar a entidade responsável por iniciar a
relação de equilíbrio com o meio ambiente. A maioria sugeriu o indivíduo (43%) e só em
seguida aparecem a família (30%) e o Estado (22%) como as entidades que deveriam ser as
inicializadoras do processo, resultados consideravelmente discrepantes dos verificados com os
alunos.
Tendo em vista que a única diferença mensuráve l entre alunos e alunas participantes
da pesquisa era de natureza sexual, as singularidades de opiniões quanto ao papel do
indivíduo no estabelecimento de relações mais harmônicas aqui observadas só poderiam ser
atribuídas ao gênero sexual dos opinantes. É possível que essa diferença comportamental
possa ser fundamentado em estudos diferenciais antropológicos. Em épocas muito antigas,
cada sexo tinha uma papel muito definido que ajudava a assegurar a sobrevivência da espécie.
Os homens da caverna caçavam enquanto as mulheres da caverna recolhiam comida perto de
casa e cuidavam da prole. As áreas do cérebro podem ter sido desenvolvidas para permitir que
cada gênero sexual realizasse adequadamente suas tarefas como, por exemplo, o
desenvolvimento de habilidades navegacionais pelos homens mais capacitados para o papel
de caçador, não só para localizar e perseguir a presa, como para encontrar o caminho de volta
à proteção da caverna, enquanto que o desenvolvimento pelas mulheres da visão periférica e
de preferências por marcos espaciais pode ter capacitando-as para cumprir suas tarefas de
coletoras de alimento perto de casa. A vantagem das mulheres relativa às habilidades verbais
também pode fazer sentido em termos evolutivos, pois enquanto os homens desenvolviam
força corporal para competir com outros homens, as mulheres desenvolveram a linguagem
para conseguir vantagens sociais, através da argumentação e da persuasão, o que poderia ser
benéfico para a melhora de relações interpessoais (Geary, 1995).
Um dado interessante e talvez digno de ser mencionado é o fato de a escola ter sido
considerada somente por 3% das alunas como célula iniciadora do processo de equilíbrio
entre o ser humano e o meio ambiente, contra 11% dos alunos. Papel fundamental de a escola
criar condições para que, no ensino formal, a EA seja um processo contínuo e permanente,
através de ações interdisciplinares globalizantes e da instrumentação dos professores; procurar
a integração entre escola e comunidade, objetivando a proteção ambiental em harmonia com o
desenvolvimento sustentado.
81

Analisado em conjunto, alunos e alunas elegeram o indivíduo como entidade
responsável por iniciar um processo de relação harmônica com o meio ambiente (35%),
seguido de família (27%) e do estado (18%). Aos meios de comunicação (7%), no conjunto,
foi atribuído mais porcentual do que às escolas (5%).
A grande importância atribuída pela maioria absoluta dos funcionários à família
como elemento inicializador do processo de construção da harmonia entre a sociedade e o
meio ambiente (56%), resume a importância que os mesmos dão a essa estrutura. É
compreensível porque tratam-se de pessoas responsáveis por administrar ou coadministrar a
própria família a qual deram início, enquanto os alunos são membros, mas não os gestores.
Isso certamente contribui para as diferenças comportamentais observadas entre as duas
categorias de participante da pesquisa.
Os funcionários só indicaram mais duas fontes que poderiam ser responsáveis por
iniciar uma relação mais equilibrada e menos egoísta com o meio ambiente; o Estado (22%) e
os partidos políticos (11%). As demais fontes, segundo o ponto de vista dos mesmos, não são
elegíveis.
Numa análise geral dos dados, percebeu-se que a família foi a fonte preponderante
escolhida pelo conjunto dos entrevistados (31%), mas apenas ligeiramente superior ao
porcentual dos que elegeram o indivíduo (30%), esse último prejudicado pelo fato de não ter
sido indicado por qualquer funcionário. No geral, 19% dos entrevistados escolheram o Estado,
6% os meios de comunicação, 5% as escolas e os partidos políticos e 2% citaram a Igreja e os
movimentos ecológicos como responsável por esse dar início a construção de uma relação
equilibrada e menos egoísta com o meio ambiente.
5.2.10 A busca pela informação sobre as questões ambientais
A última questão da pesquisa teve o propósito de verificar de que maneira os
entrevistados conseguiam se manter informados a respeito do meio ambiente. Foram
disponibilizados 21 meios de se obter essas informações (noticiários de TV, pais ou parentes,
Governo federal, Governo estadual ou Municipal, Escola, amigos e/ou outras pessoas, jornais
e diários, revistas semanais, programas de entrevistas e debates na TV, empresas privadas ou
estatais, grupos ambientais, documentários e informativos na TV, Grupos de estudo,
experiência profissional, sindicatos ou agremiações, cinema, exposições ou performances
artísticas, grupos religiosos, palestras ou cursos, livros e internet). Os entrevistados foram
estimulados a escolher ao menos cinco e listá- las em ordem de importância.
5.2.10.1 As fontes de informações dos alunos
Os alunos (Fig. 60) depreendem informações a cerca do meio ambiente
principalmente pela internet (39%). Em princípio, esse é um resultado aparentemente óbvio,
na medida em que desde seu surgimento em 1969, a internet se tornou uma das principais
ferramentas de comunicação e de fonte de informações, por seu dinamismo, riqueza e
atualização quase em tempo real. No Brasil, com a liberação de um backbone pela
EMBRATEL para fins comerciais em 1995, ela simplesmente se popularizou de tal forma que
82
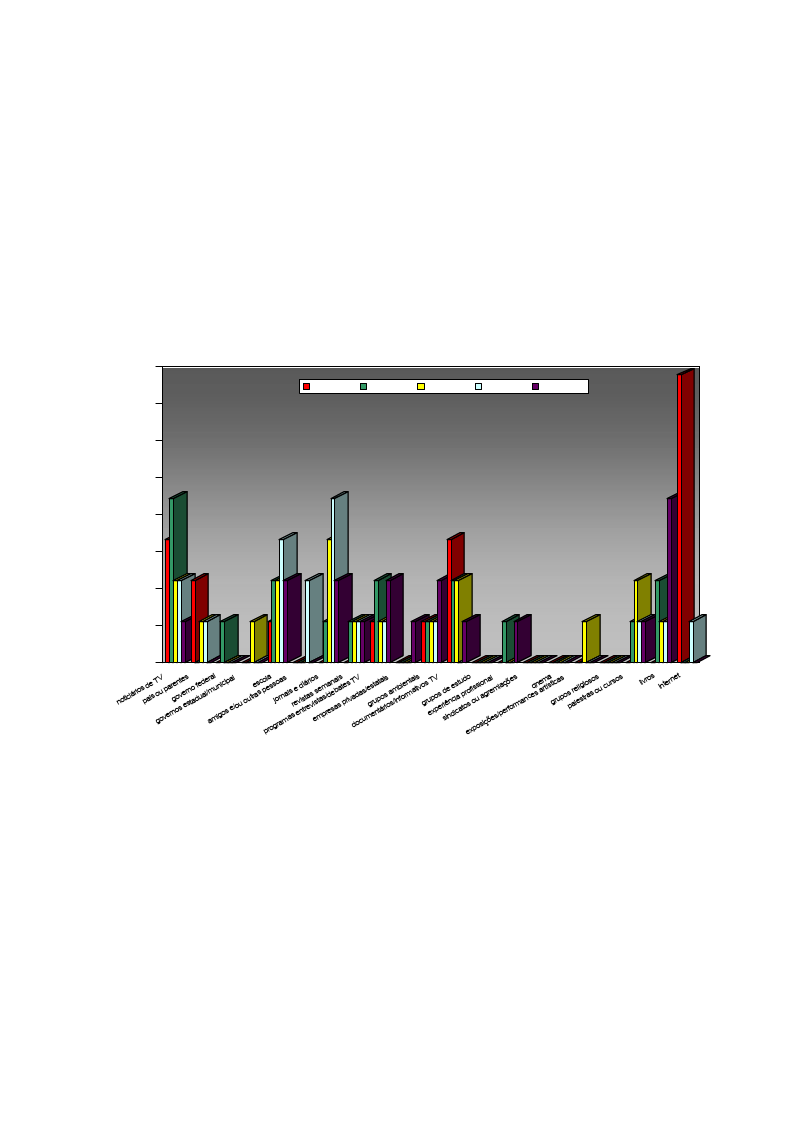
o número de usuários chegou a 67,5 milhões, segundo pesquisa do Ibope/Nielsen (Ibope,
2010) em dezembro de 2009. Em setembro eram 66,3 milhões; ou seja, em apenas três meses
surgiu 1,2 milhão de novos brasileiros e brasileiras com mais de 16 anos na internet. O Brasil
é o 5º país com o maior número de conexões à Internet. Nas áreas urbanas, 44% da população
está conectada à internet; 97% das empresas e 24% dos domicílios brasileiros estão
conectados à internet; 27,5 milhões acessam regularmente a Internet de casa, número que sobe
para 36,4 milhões se considerados também os acesso do trabalho. Cerca de 38% das pessoas
acessam à web diariamente; 10% de quatro a seis vezes por semana; 21% de duas a três vezes
por semana; 18% uma vez por semana. Somando, 87% dos internautas brasileiros entram na
internet semanalmente. Além disso, o tempo médio de navegação no Brasil, é o maior dentre
de todos os países pesquisados e desde que esta métrica foi criada, o Brasil sempre obteve
excelentes marcas, estando constantemente na liderança mundial. Em julho de 2009, o tempo
foi de 48 horas e 26 minutos, considerando apenas a navegação em sites.
40%
35%
1a opção 2a opção 3a opção 4a opção 5a opção
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
noticiáriospdaeisTogVuovpearrngeoonsvteeesrsntoadfeudael/amramul ingiocispael/ou outreasscpopelarossgjooraranmsaaissreeevdnistiártaerisvoeisssmteampsr/adenseaabsiastpersivTadVdoacus/megserutnapttáaorissioasm/inbfoiernmtaaitsivogsrueTpxVopserdsiêienndecisicatauptdoreoosxfoipsusoisoainçgõareelms/ipaeçrõfoersmancecsineamrtíasgticruapsosparelelisgtiroassoosu cursos
Figura 60 - Principais fontes de informação dos alunos sobre o meio ambiente
livros internet
Os noticiários e os documentários e informativos (17%) veiculados pela TV vieram
a seguir como fonte de informações. Pais e parentes (11%), seguidos de escola, programas de
entrevista e debates na TV e grupos ambientais foram outras fontes citadas em menor
porcentual (6%). O que merece destaque neste caso é o baixo porcentual de alunos que
apontaram a escola apenas como a quint a fonte das informações obtidas sobre o meio
ambiente. É um dado revelador de que pouco tem sido feito nas escolas para conscientização
dos alunos sobre a questão ambiental no mundo e, especialmente, no Brasil.
Como observado por Ruy (2004), a escola deve se apresentar como o melhor
ambiente para implementar a consciência de preservação ambiental. Entretanto, não raro a
escola tem atuado como mantenedora e reprodutora de uma cultura que é predatória ao
ambiente. De acordo com Andrade (2000), as reflexões que dão início à implementação da
Educação Ambiental devem contemplar aspectos que não apenas possam gerar alternativas
para a superação desse quadro, mas que o invertam, de modo a produzir consequências
83

benéficas, favorecendo a paulatina compreensão global da fundamental importância de todas
as formas de vida coexistentes em nosso planeta, do meio em que estão inseridas, e o
desenvolvimento do respeito mútuo entre todos os diferentes membros de nossa espécie.
Esse processo de sensibilização da comunidade escolar, segundo Ruy (2004) pode
fomentar iniciativas que transcendam o ambiente escolar, atingindo tanto o bairro no qual a
escola está inserida, como comunidades mais afastadas nas quais residam alunos, professores
e funcionários, potenciais multiplicadores de informações e atividades relacionadas à
Educação Ambiental implementada na escola. Mas implementar a Educação Ambiental nas
escolas tem se mostrado uma tarefa exaustiva. Existem grandes dificuldades nas atividades de
sensibilização e formação, na implantação de atividades e projetos e, principalmente, na
manutenção e continuidade dos já existentes.
Segundo Andrade (2000) fatores como o tamanho da escola, número de alunos e de
professores, predisposição destes professores em passar por um processo de treinamento,
vontade da diretoria de realmente implementar um projeto ambiental que vá alterar a rotina na
escola, etc., além de fatores resultantes da integração dos acima citados e ainda outros, podem
servir como obstáculos à implementação da Educação Ambiental.
Os alunos e as alunas avaliados são estudantes do 3º ano do Ensino Médio,
especialmente privilegiados, por estarem entre poucos que podem aspirar a um lugar na
continuidade dos estudos superior. São indivíduos preparando-se para uma nova etapa na
vida, na qual poderão optar por carreiras profissionais nas mais variadas instituições e áreas
de ensino superior do país e que farão uso das instruções obtidas no decorrer desse ciclo e dos
conteúdos programáticos nos exames de seleção. Por tudo isso, avaliar estes indivíduos
significa avaliar o próprio sistema educacional, bem como investigar, efetivamente, quais as
noções de Educação Ambiental que foram sugeridas na escola.
5.2.10.2 As fontes de informações das alunas
O aspecto mais importante na pesquisa com a alunas (Fig. 60) foi o fato de a maioria
ter colocado a escola como fonte primordial de conhecimentos dos problemas ambientais
(27,03%), em consonância com as sugestões de estudiosos do assunto já referenciados
(Andrade, 2000, Dias, 2002 e Ruy, 2004).
As alunas consideraram os noticiários da TV (24%) como a segunda fonte mais
importante de informações e, diferentemente do que foi observado com os alunos, a internet
foi considerado como principal fonte de informações por apenas 22% das alunas. Esse
resultado provavelmente tem respaldo nas diferenças comportamentais entre homens e
mulheres no que diz respeito ao tempo e a finalidade de uso da internet por cada um dos
gêneros sexuais.
A pesquisa Ibope/Nielsen (Ibope, 2010) revela que homens passam um tempo
expressivo na internet com jogos na web ou com atividades que estimulam a competição,
enquanto um dos principais atrativos para as mulheres é a busca por relacionamentos e o
acesso para checar e- mails. Outro dado importante para entender os comportamentos e que
70% dos homens dizem que não saberiam como se divertir sem a internet e 56% das mulheres
acham que a vida seria inviável se elas não pudessem usar a web para se manter em contato
com a família. Isso explica porque 63% dos usuários do Facebook são do sexo feminino e
20% das usuárias colocam na rede social fotos ao lado de amigos, mas só 9% dos homens
84
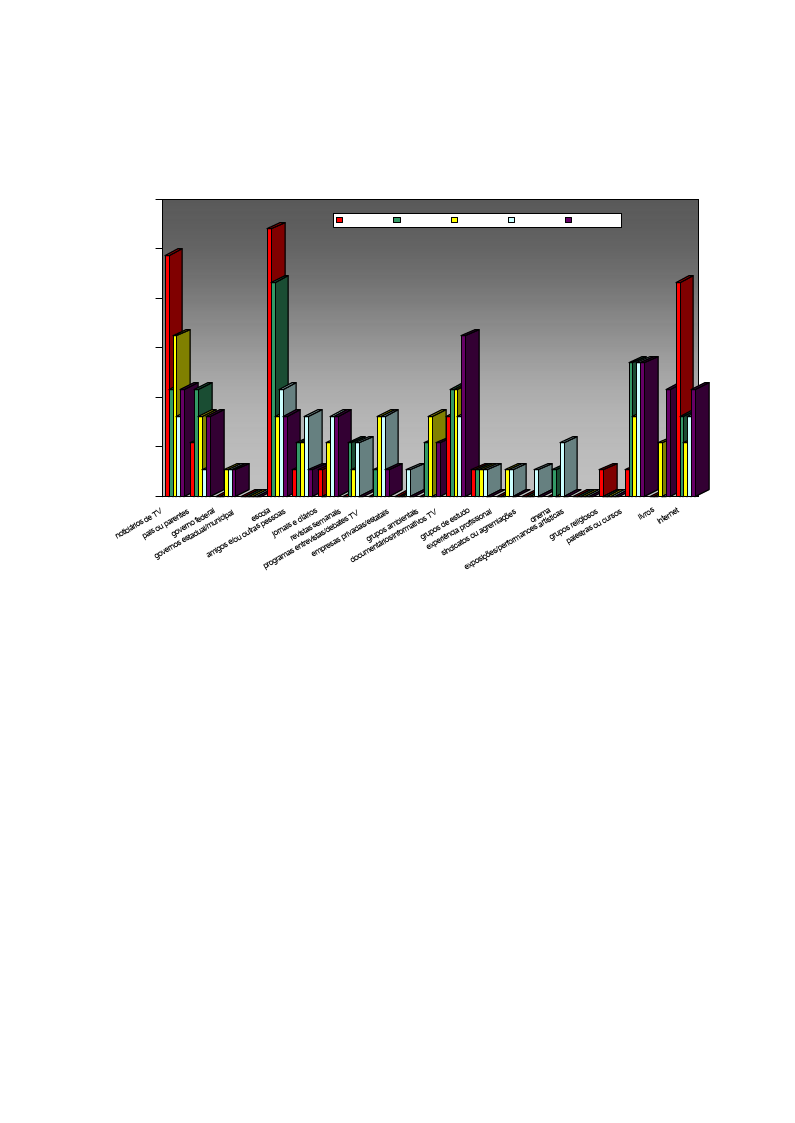
fazem isso. Rossi (2004) identificou várias diferenças básicas entre homens e mulheres no uso
e percepção de valor da Internet, dentre elas, o fato de que as mulheres valorizam mais as
possibilidades de comunicação interpessoal, enquanto que homens valorizam mais aspectos
ligados à busca e disponibilidade de informações.
30%
1a opção 2a opção 3a opção 4a opção 5a opção
25%
20%
15%
10%
5%
0%
noticiáriospdaeisTgoVouvpearnrgeoonsvteeesrsntaodfeudael/amramul ingiocispael/ou outreasscpopelarsosgjoorraanmsaiassreeevdnisitátraerisvoeisssmetamps/radenesabaiasstepsrivTdaVodcausm/geersuntaptátoarsiisoasm/inbfoiermntaaitsivogsrueTpxVopserdsiêienndecisicatauptdoreoosxfoipsusoisoaingçõareelms/ipaeçõrfoesrmancecisneamrtíasgticruapsosparelelisgtiroassoosu cursos
Figura 61 - Principais fontes de informação das alunas sobre o meio ambiente
livros internet
Outras fontes de alguma importância utilizadas pelas alunas são os documentários e
informativos na TV (8%) e pais ou parentes (5%). As demais fontes ou não foram
consideradas pelas alunas ou citadas com porcentuais pouco expressivos.
5. 2.10.3 As fontes de informações do conjunto de alunos e alunas
No conjunto, o grande número de alunos que extraem da internet as informações
sobre o meio ambiente influenciou no fato dessa ter sido essa a fonte mais referenciada
(27%). Noticiários de TV (22%) ficou à frente da escola (20%), de novo por forte influência
dos alunos. Documentários e informativos da TV (11%) e as informações obtidas de pais e
parentes são outras fontes com porcentuais de alguma expressão, sendo as demais pouco
citadas como referencias.
É possível que o fato dos jovens estarem cada vez mais conectados, seja na escola ou
em casa, para fazer pesquisa ou simplesmente para lazer, faça da internet uma fonte mais fácil
e até mais agradável para o acesso às informações. Isso não poderia ser razão para justificar,
entretanto, a pequena contribuição que a escola tem dado como componente da base de
informação sobre o meio ambiente. Desde que Rachel Carson publicou “Primavera
Silenciosa” (1962) e alertou o mundo para a relação entre qualidade de vida e os recursos
ambientais, inúmeros movimentos no sentido de criar um programa mundial de Educação
85
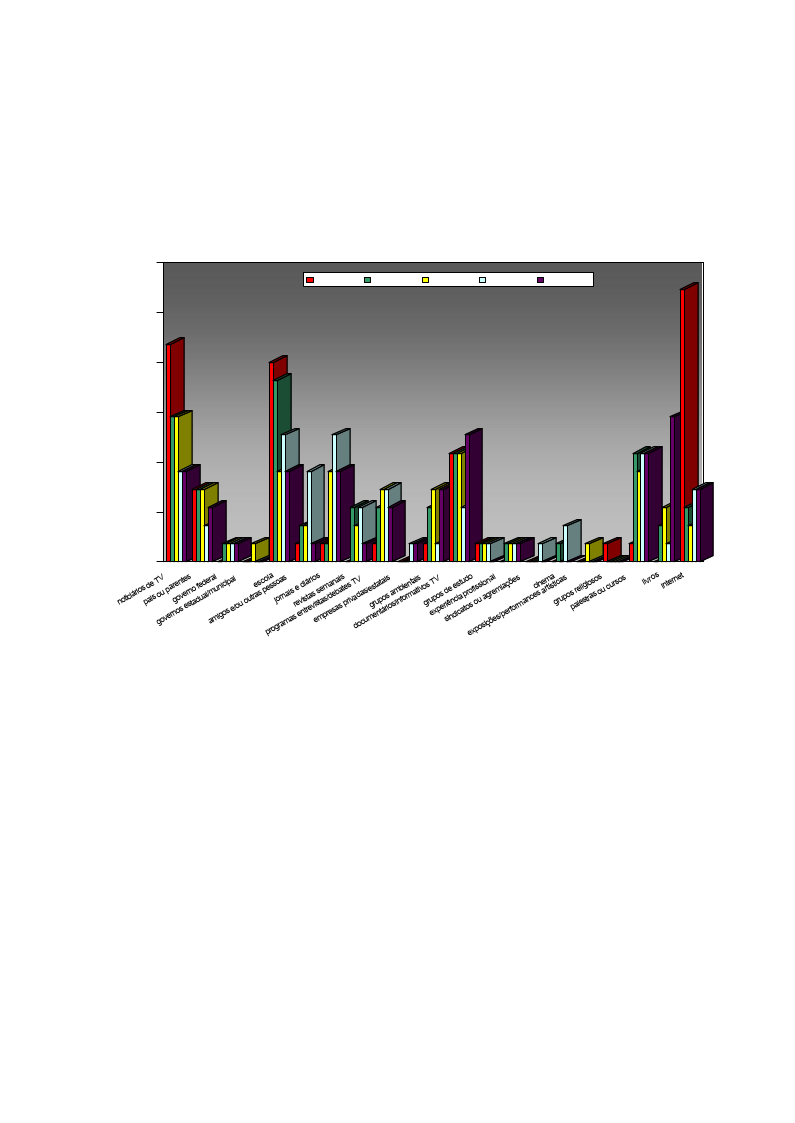
Ambiental ocorreram e se concordou que ela deveria ser responsável por modificar
comportamentos nos campos cognitivos e afetivos (Dias, 1992) e as escolas deveriam se
sobressair como espaços privilegiados na implementação de atividades que propiciem essa
reflexão, com atividades de sala de aula e atividades de campo, com ações orientadas em
projetos e em processos de participação que levem à autoconfiança, à atitudes positivas e ao
comprometimento pessoal com a proteção ambiental implementados de modo interdisciplinar.
30%
25%
1a opção 2a opção 3a opção 4a opção 5a opção
20%
15%
10%
5%
0%
noticiáriospdaeisTgoVouvpearngreoonsvteeerssntoadfeudael/amramul ingiocispael/ou outreasscpopelarsosgjooraransmaiassreeevdnisitártearivsoeisssmteapmsr/edasenabasaistpersivTadVdoacsu/megsertuanpttaáoirssioasm/inbfoiernmtaaitsivogsrueTpxVopserdsiêienndecisciatauptdoreoosxfiopsuosisoaiçngõareelms/ipaeçrõfoersmancecsineamrtísatgicrausposparelelisgtiroassoosu cursos
livros internet
Figura 62 - Principais fontes de informação de alunos e alunas sobre o meio ambiente
5. 2.10.4 As fontes de informações usuais dos funcionários
Os funcionários apontaram basicamente três fontes de informações sobre os
problemas ambientais, sendo que a maioria absoluta (78%) apontou os noticiários da TV
como sendo a principal delas e só depois a escola e a internet (11%). As demais fontes de
informação não foram citados como de primeira importância ou só foram citados em posições
intermediárias. Não é surpresa a TV ser apontada como fonte principal das informações para
os funcionários, visto serem as pessoas de mais idade, o perfil de usuário menos expressivo na
internet e justamente o perfil típico de quem ainda tem na TV um dos principais meios de
lazer e de entretenimento. Pesquisa de perfil de telespectadores realizada pelo Ibope
(Ibope/Media WorkStation, 2010) demonstra que, em média, 73% dos telespectadores tem
mais de 25 anos de idade.
Além da idade, é possível que aspectos socioeconômicos possam ter influenciado no
resultado, ainda que não haja subsídios numéricos na pesquisa para consubstanciar essa
assertiva. Essa inferência, entretanto, pode ser feita com base no perfil salarial dos
entrevistados participantes da pesquisa, na medida em que, de acordo com o Critério de
86
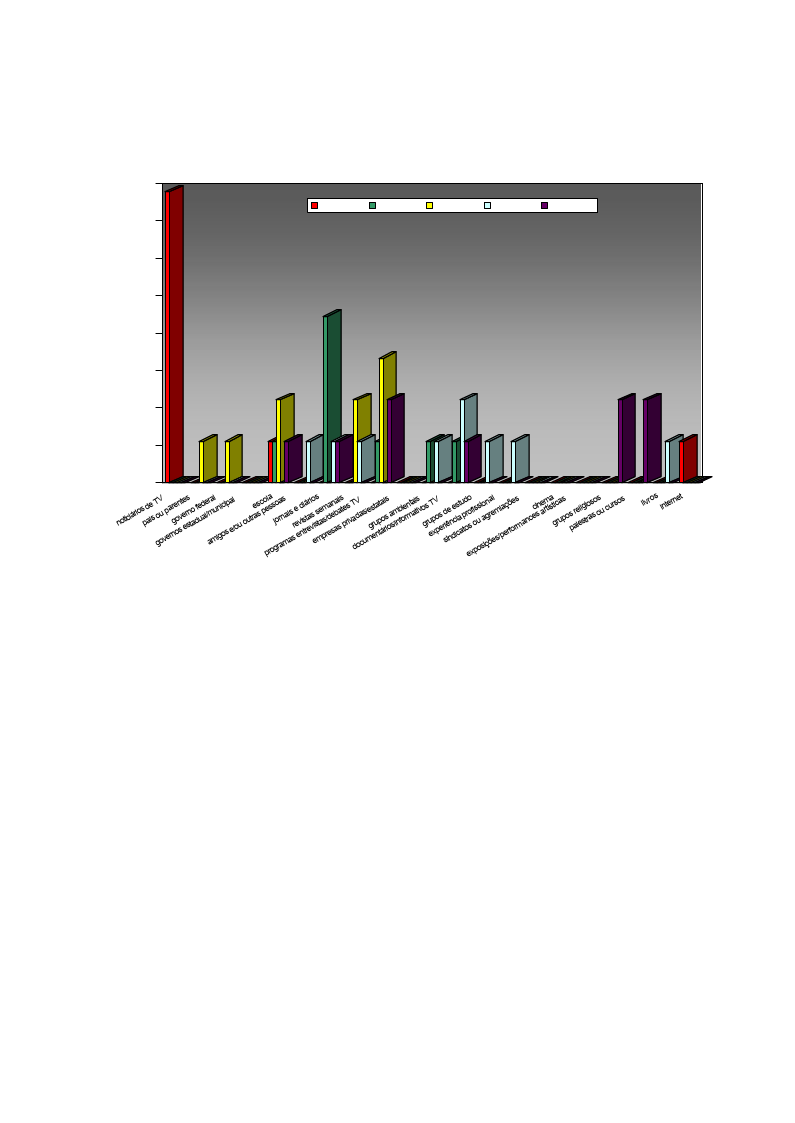
Classificação Econômica Brasil (ANEP, 2000), os funcionários do CTUR poderiam estar
situados entre as classes C e D. Nesse contexto, de acordo com o Ibope, eles compreenderiam
68% dos telespectadores que assistem os telejornais diários.
80%
70%
1a opção 2a opção 3a opção 4a opção 5a opção
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
noticiáriospdaeisTgoVouvpearngreoonsvteeerssntoadfeudael/amramul ingiocispael/ou outreasscpopelarsosgjooraransmaiassreeevdnisitártearivsoeisssmteapmsr/edasenabasaistpersivTadVdoacsu/megsertuanpttaáoirssioasm/inbfoiernmtaaitsivogsrueTpxVopserdsiêienndecisciatauptdoreoosxfiopsuosisoaiçngõareelms/ipaeçrõfoersmancecsineamrtísatgicrausposparelelisgtiroassoosu cursos
livros internet
Figura 63 - Principais fontes de informação dos funcionários sobre o meio ambiente
5. 2.10.5 As fontes de informações dos entrevistados em geral
O resultado considerando o universo dos entrevistados pode ser visualizado na
figura 63. No geral 29% dos entrevistados disseram obter as informações pertinentes aos
problemas ambientais de noticiários transmitidos pela televisão, enquanto 25% as obtém pela
internet. Embora o número de computadores já seja maior que o número de aparelhos de TV
no Brasil, nem todos os cidadãos brasileiros acessam a internet, cujo acesso em casa está
estimado em 38% da população, como já observado anteriormente. A facilidade com que
acessam a programação televisiva, especialmente as redes de televisão aberta ainda, de certa
forma, contribui para o resultado visto aqui nesta pesquisa.
A escola, na média, foi apontada por 19% dos entrevistados como sendo a fonte de
informações a respeito das questões ambientais. Documentários e informativos da TV (9%) e
as informações advindas de pais e parentes (6%) alcançaram algum porcentual digno de
menção. As demais fontes foram consideradas secundárias pela maioria dos entrevistados.
Mesmo com as alunas sugerindo a escola como fonte primordial de informações para as
questões ambientais, o baixo porcentual observado entre os alunos e funcionários em apontar
essa fonte, contribuiu para a escola não figurar entre as principais fontes de informações para
esse propósito.
87
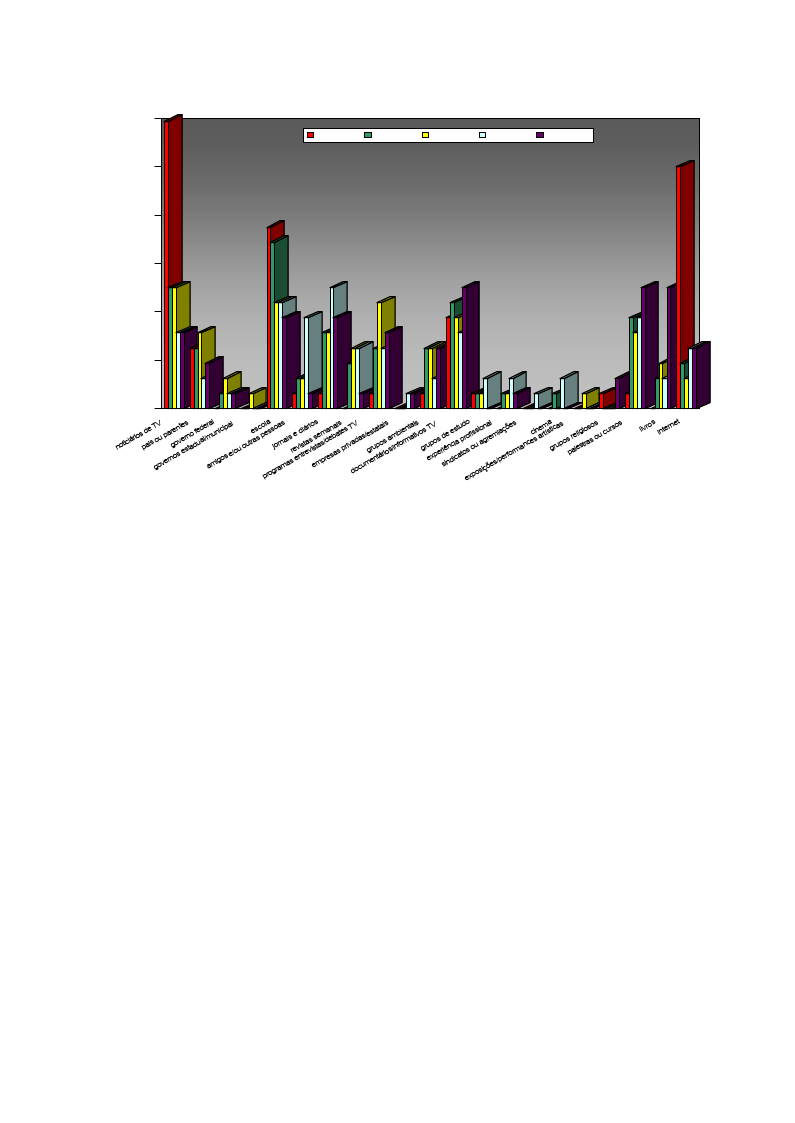
30%
25%
1a opção 2a opção 3a opção 4a opção 5a opção
20%
15%
10%
5%
0%
noticiáriospdaeisTgoVouvpearnrgeoonsvteeerssntaodfeudael/mraamul nigicoispael/ou outreasscpopelarsosgjooraarnmsaaissreeevndistirátearvsioiesssmteamsp/rdaeensbaaasistepsrivTdaVodcausm/egesrutnapttáoarsiisoasm/inbfoiermntaatisivogsrueTpxVopserdsiêienndecisicatauptdoreoosxfoipsusoisoainçgõareelms/ipaeçrõfoersmancecsinaermtísagticruapsospraeleligsitorassosou cursos
livros internet
Figura 64 - Principais fontes de informação dos entrevistados em geralsobre o meio ambiente
Uma boa maneira de observar a importância atribuída pelos entrevistados a cada
fonte de informação disponível para obter informações a cerca dos problemas ambientais é
avaliar a frequência com que cada uma dessas fontes foi citada pelos entrevistados,
independente da ordem de importância (Fig. 64). Percebe-se aqui a ratificação da televisão
(19%) como o meio mais frequentemente usado pelos entrevistados para se informarem sobre
os problemas ambientais. Mas em termos de frequência, a escola ficou bem próxima desse
valor (18%), minimizando parcialmente o baixo desempenho em análises anteriores.
De qualquer forma, a força da televisão aparece novamente quando se verifica que
os documentários e informativos por ela exibidos são a terceira fonte mais citada pelos
entrevistados (13%). Se a essas fontes, forem adicionados os 9% da frequência obtida por
quem usa os programas de entrevistas e de debates na TV, no geral a televisão, na percepção
dos entrevistados estaria contribuindo com mais de 40% de toda fonte de informação sobre as
questões ambientais. A internet (12%) foi só a quarta fonte mais citada, seguida de palestras e
cursos (11%) e as informações obtidas em jornais diários (10%).
88
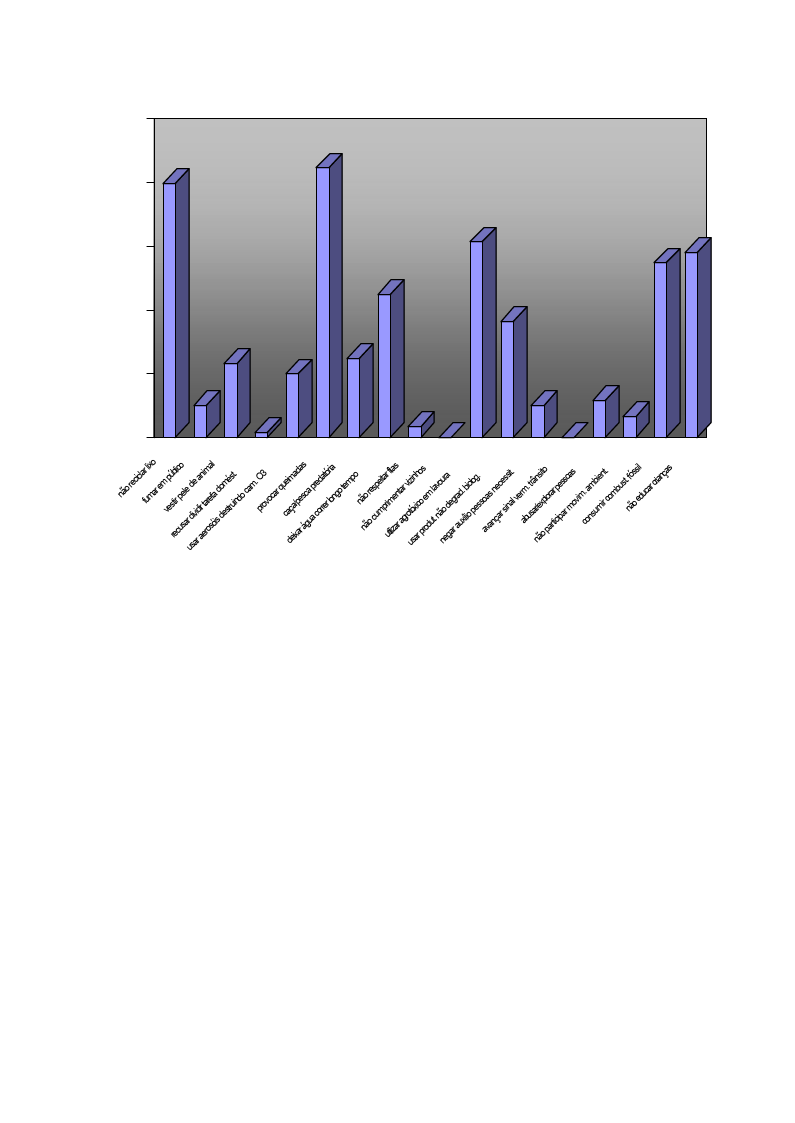
25%
20%
15%
10%
5%
0%
não reciclafrulmixoar emvpeúsrbteirliccpuoesaleruddseiavirdaairnetimaroreasflóaisdodmesétrsut.indo cam. Opr3ovocar quceaidmçeaaix/pdaearssácgauaprceodraretórrloiango tempo nãnoãorecsupmeitparruimftiilliazeasnrtaagr rvoiuztósinxahicroopsreomdulta.vnoãnuoeradgeagrraaudx. íblioiolpoge.ssoaavsannçeacressinsiat.l veramb.utsrâannr/eãsxiotpoploararrticpiepsasromasovimc.oanmsbuimenirt.combust.nfóãosseilducar crianças
Figura 65 – Frequência relativa das fontes de informação dos entrevistados em geral sobre o meio ambiente
É prescindível discutir a importância da mídia, dada a sua óbvia influência sobre os
entrevistados e sobre toda população. Entretanto, essa influência torna-se, no caso dos
entrevistados, determinante e quase exclusiva, pois, para os entrevistados, o cine ma, as artes,
os livros e até a própria experiência profissional pouco informam sobre questões ambientais.
As informações também não vêm dos Governos (Municipal, Estatual ou Federal), de
sindicatos ou agremiações. Isso demonstra a falta de política, oficial ou não governamental,
de esclarecimentos sobre as relações entre o homem e o meio ambiente.
Diante desta constatação, seria oportuno acreditar que para facilitar a transformação
da cultura e auxiliar na formação do indivíduo seria necessário reestruturar nosso sistema de
informação e educação, para que novos conhecimentos possam ser apresentados e discutidos
de forma apropriada, como sugerem Fritjof Capra e a futuróloga Hazel Henderson. Para que a
nova consciência ecológica passe a fazer parte de nossa consciência coletiva, ela terá que ser
transmitida, em última instância, através dos meios de comunicação de massa. Em vez de se
concentrarem em apresentações, sensacionalistas de acontecimentos aberrantes, violentos e
destrutivos, repórteres e editores terão que analisar os padrões sociais e culturais complexos
que formam o contexto desses acontecimentos, assim como noticiar as atividades pacíficas,
construtivas e integrativas que ocorrem em nossa cultura (Capra, 1982).
Seria, talvez, o caso de se pensar em uma confusão entre origem e abrangência dos
problemas ambientais? A ideia de que os problemas ambientais atingem a todos decerto
procede, principalmente se considerarmos a perspectiva espaço/tempo, não o fazem da mesma
maneira, de forma indiscriminada ou democrática.
89

6 CONCLUSÕES
Pelos resultados observados e nas condições em que o trabalho foi realizado, faz-se
necessário extrair algumas conclusões e emitir algumas considerações.
• Os argumentos, de certa forma, se limitam ao conhecimento dominante comum, mais
sensibilizado pelos temas difundidos na mídia e da vida cotidiana e pouco influenciado
pela escola, a despeito de ser uma escola de agricultura orgânica;
• Cabe à Educação Ambiental a tarefa de trabalhar no sentido de desarmar essas estruturas
de pensamento que percebem a relação homem/natureza dentro de uma mecânica binária
na lógica formal e racionalista, o que torna imperativo a inclusão da EA no Projeto
Pedagógico, transversal ao ensino aprendizagem da agricultura orgânica;
• Esta pesquisa serviu-se de uma população especial que pode ser considerada, em tese,
representativa da elite discente do país. Portanto, não se tratam de conclusões
generalizadas sobre o conjunto da população brasileira. Se essa premissa é verdadeira, a
constatação é de que a situação é deveras preocupante, pois a grande maioria dos
brasileiros seguramente encontra-se em condições instrucionais menos privilegiadas do
que os componentes da amostra participante dessa pesquisa, sustentando o argumento de
que os resultados obtidos são, provavelmente representativos e espelham a realidade
brasileira, o que subsidiaria a premência na implementação da Educação Ambiental na
grade curricular das escolas de todo o país;
• A análise dos resultados obtidos na pesquisa de campo, consubstanc iada num referencial
teórico conexo com o tema em discussão, permitiu uma interpretação e um diagnóstico
mais preciso e pormenorizado do quadro da Educação Ambiental nos seus mais variados
aspectos no âmbito do CTUR. Como resultado, pôde-se identificar equívocos e falhas,
decorrente principalmente de uma abordagem superficial da Educação Ambiental na
instituição;
• À guisa de considerações finais e consubstanciada nos resultados da pesquisa, a autora
tomou a iniciativa de incorporar a esse trabalho um conjunto de sugestões, de caráter
epistemológico, para auxiliar no Projeto Político Pedagógico da instituição e na
implementação efetiva da Educação Ambiental, entendendo que a tarefa do professor é,
não só complementar essa sugestão, como também encontrar respostas às provocações
que o tema evoca e, dessa forma, propor formas alternativas de pensamento e de atuação;
• Os conhecimentos adquiridos a partir da análise de gênero podem ser aproveitados para o
desenvolvimento de práticas de sala de aula sobre as diferenças temáticas elencadas nos
diversos questionamentos.
90
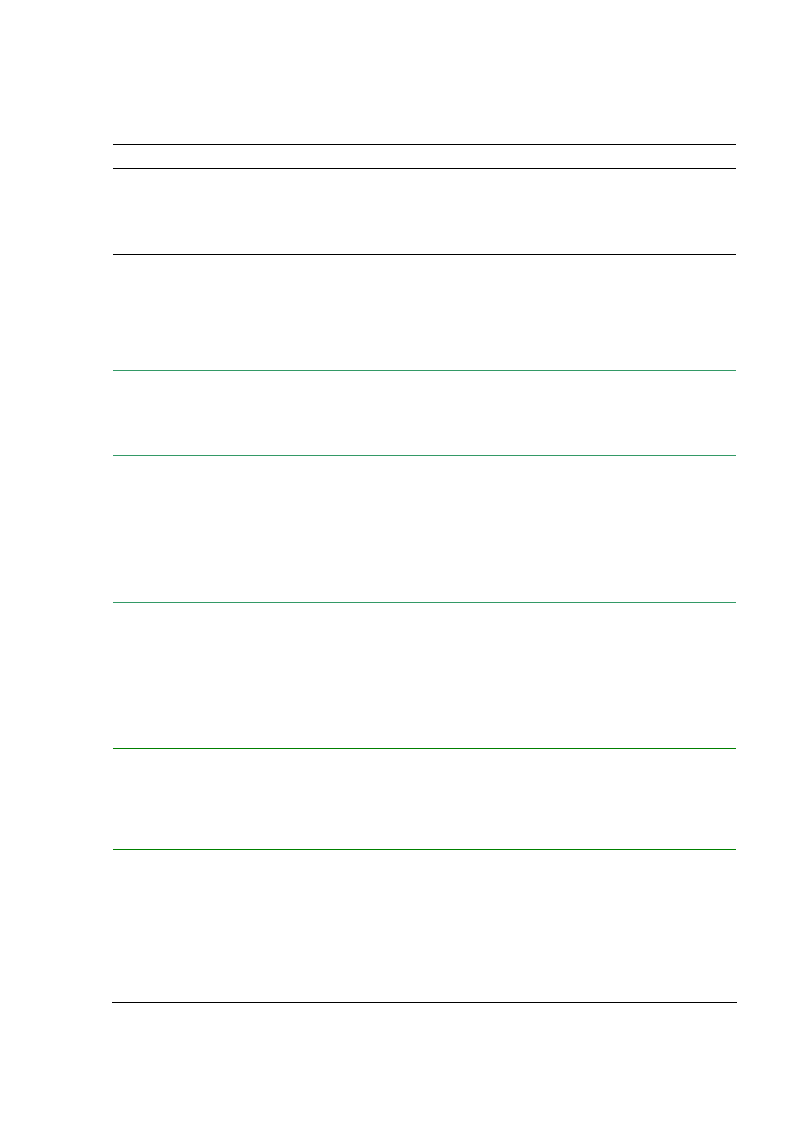
Quadro 2. Definição de estratégias propostas para o Plano de Ensino a ser implementado
Estratégia Definida
Ocasiões para uso
Vantagens/desvantagens
Exploração do ambiente local
(environmental trial): Prevê a
uitilização/exploração dos recursos
locais próximos para estudos,
observações, etc.
Compreenção do metabolismo local,
ou seja, da interpretação complexa
dos processos ambientais à sua
volta.
Agradabilidade na execução;
grande participação das pessoas
envolvidas; vivência em situações
concretas. Requer planejamento
minucioso.
Discussão em classe: Esta atividade
envolve toda a classe e cada estudante
contribui informalmente (grande
grupo).
É utilizada para permitir que os
estudantes exponham suas opiniões
oralmente a respeito de um dado
problema.
As discussões em classe ajudam o
estudante a entender as questões.
Encoraja -o a desenvolver as
habilidades de expressão oral e
autoconfiança ao falar em público.
Dificuldades em iniciar o processo
de discussão.
Discussão em grupo: Envolve toda a
classe com o professor atuando como
supervisor (pequenos grupos).
Quando assuntos polêmicos estão
sendo tratados.
Pode resultar no desenvolvimento
de relações mais positivas entre
alunos e professores. Permite que
alguns alunos evitem o
envolvimento.
Brainstorming (ou mutirão de idéias):
Atividades que envolvem pequenos
grupos (5-10 estudantes) aos quais se
pede para apresentar soluções
possíveis para um dado problema,
sem se preocupar com análises
críticas. Todas as sugestões são
anotadas. O tempo limite é de 10-15
minutos.
Deve ser usado como um recurso
para encorajar e estimular idéias
voltadas às solução de um dado
problema. O tempo deve ser
utilizado para produzir as idéias e
não para avaliá-las (Elaboração de
Conceitos).
Estímulos à criatividade,
liberdade. Dificuldades em evitar
avaliações ou julgamentos
prematuros das sugestões, e em
obter idéias originais.
Trabalho de grupo: Envolve a
participação de grupos de 4-8
membros, que se tornam responsáveis
pela execução de uma tarefa.
É adequada quando se necessita
executar várias tarefas ao mesmo
tempo. A classe, com vários grupos,
com vários grupos, pode abordar os
diferentes aspectos de um mesmo
problema ou focalizar problemas
diferentes.
Permite que os alunos se
responsabilizem por uma tarefa
por longos períodos (2 a 5
semanas) e exercitem a capacidade
de organização. É uma fonte de
geração de projetos. As atividades
precisam ser monitoradas de modo
que o trabalho não envolva apenas
alguns membros do grupo.
Debate: Requer a participação de dois
grupos (3-4 menbros), para apresentar
idéias e argumentos de pontos de
vista opostos aos demias colegas de
classe (que podem formar um grupo
de avaliação).
Estratégias útil quando assuntos
controvertidos estão sendo
discutidos, existam propostas
diferentes de soluções. O tópico
escolhido para debate deve ser de
interesse vital para todos.
Permite o desenvolvimento das
habilidades de falar em público e
ordenar a apresentação de fatos e
idéias. Requer muito tempo de
preparação.
Questionários: Desenvolvimento de
um conjunto de questões ordenadas a
ser submetido a um dado público. As
respostas, analisadas, dão uma
variedade de indicativos.
É usado para obter informações e/ou
efetuar amostragem de opinião das
pessoas em relação a uma dada
questão. Pode ajudar a definir a
extensão de um problema.
Aplicado de forma adequada, o
questioário produz excelentes
dados, dos quais podem ser
extraídas conclusões ou indicações
de atividades. É necessário muito
tempo e experiência para produzir
um conjunto ordenado de questões
que cubram as informações que
estão sendo procuradas.
91
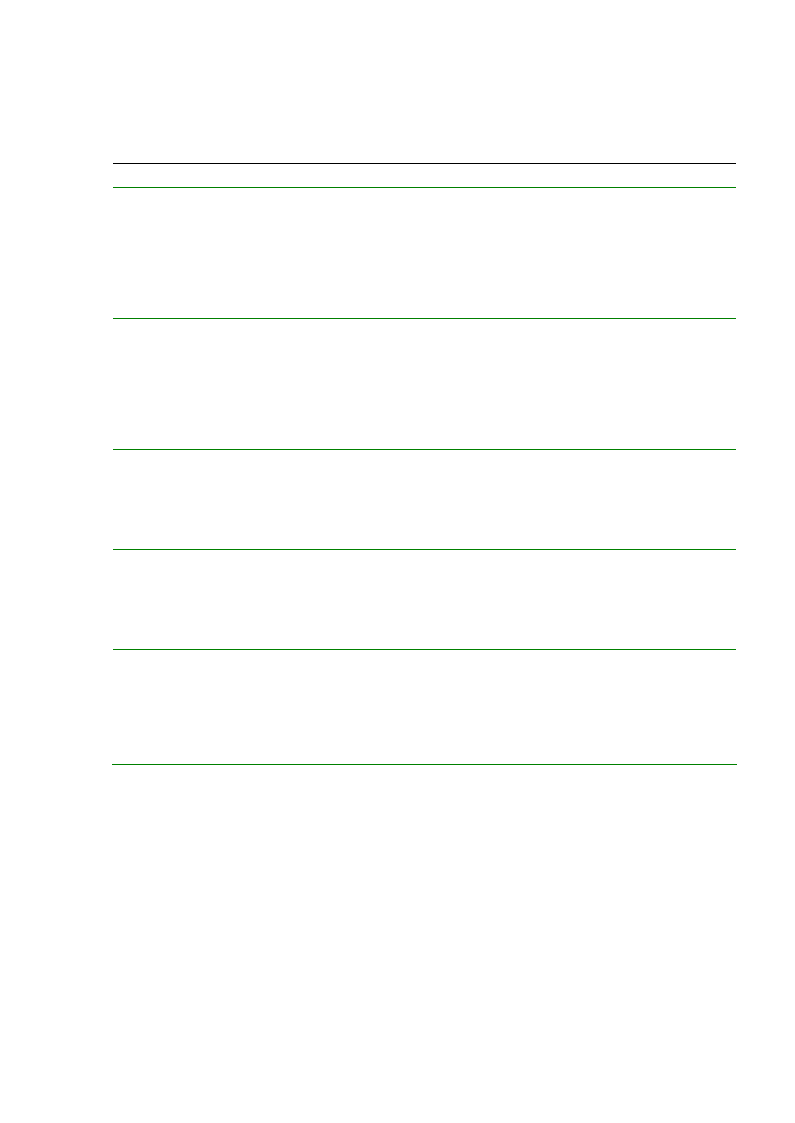
Quadro 2. Definição de estratégias propostas para o Plano de Ensino a ser implementado (continuação)
Estratégia Definida
Ocasiões para uso
Vantagens/desvantagens
Reflexão: Pode ser
considerada o oposto do multirão de
idéias (brainstorming), porém,
também destinada à produção de
sugestão de idéias. É dado tempo
aos estudantes para que sentem em
lugar e pensem acerca de um
problema específico.
Usado para encorajar o
desenvolvimento de idéias em
resposta a um problema. O tempo de
reflexão recomendado é de 10 a 15
minutos.
Envolvimento de todos.
Não pode ser avaliado diretamente.
Requer grande experiência prática
em um largo conjunto de
informações.
Imitação da mídia. Esta
estratégia estimula os estudantes
(individual ou em grupo) a produzir
sua própria versão dos jornais, dos
programas de rádio e TV, e filmes.
Através desta estratégia
dos estudantes podem obter
informações de sua escolha e levá-
las a outroa grupos. A depender das
circunstâncias e do assunto a ser
abordaddo, os produtos podem ser
distribuídos na escola, aos pais e à
comunidade.
Pode ser uma forma de
aprendizagem e ação social. Para
ser efetivo, o que é produzido deve
ser razoavelmente comparável rm
qualidade à mídia existente, se for
para uma circulação maior.
Projetos: Os alunos, sob
supervisão, planejam, executam,
avaliam e redirecionam um projeto
sob um tema específico.
Realização de tarefas
com objetivos a serem alcançados a
longo prazo, com maior
envolvimento da comunidade.
As pessoas concebem e
executam o próprio trabalho, o
professor apenas sugere. Às vezes
o professor mesmo vendo falhas,
deve permitir que eles mesmos as
verifiquem.
Solução de problema:
Esta estratégia está ligada a muitas
outras; considera que ensinar é
apresentar problemas e aprender é
resolvê-los.
Busca de soluções para
problrmas identificados.
O estudante treina e
exercita a sua capacidade de
resolver problemas apresentados,
em um contexto real. O orientador
deve conhecer a fundo a questão
abordada.
Jogos de simulação (role
playing): Os participantes
operacionalizam, através de jogos,
as diversas situações de um dado
tema, sempre ligados a sua
realidade. Existem centenas de
jogos recomendados.
Identificação, análise e
discussão das consequências de um
dado problema da comunidade ou
mesmo de aspectos positivos
relevantes.
Facilita o envolvimento
do aluno com sua relidade, pois
conhece as consequências dos
resultados obtidos. Dificuldade na
apresentação de alternativas de
soluções factíveis.
92
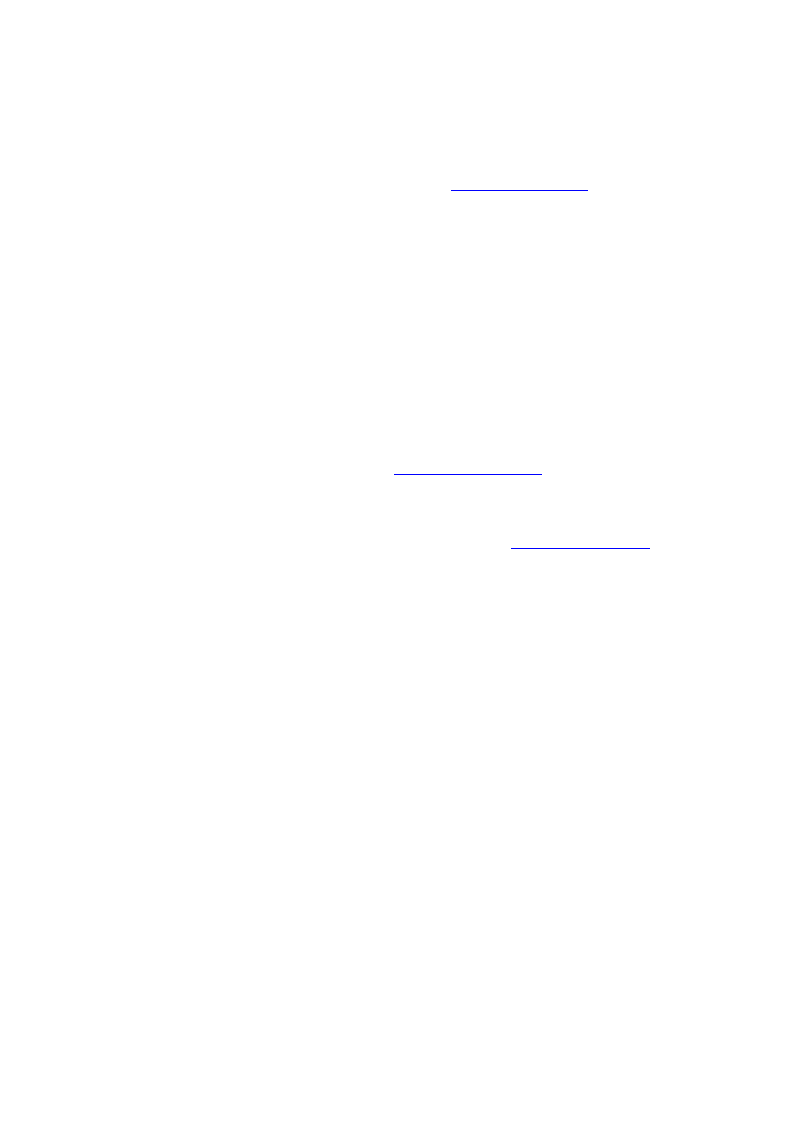
7. LITERATURA CONSULTADA
ADAMS, B. G. O que é Educação Ambiental? 2006 www.apoema.com.br (acessado em 05
de maio de 2010).
AICHER, C. , DIESEL, V. Políticas Ambientais na Europa: Leitura a partir da perspectiva
do “Advocacy Coalition Framework ”. Revista Extensão Rural, DEAER/CPGExR – CCR –
UFSM, Ano XI, Jan – Dez de 2004.
ALVES, L. S. A Educação Ambiental e a Pós Graduação, um olhar sobre a produção
discente. Rio de Janeiro. PUC, 2006. 297 p. (Dissertação de Mestrado)
ANDRADE, D. F. Implementação da Educação Ambiental em escolas: uma reflexão. In:
Fundação Universidade Federal do Rio Grande. Revista Eletrônica do Mestrado em
Educação Ambiental, v. 4.out/nov./dez 2000.
ANEP – Associação Nacional de Empresas de Pesquisa. Critério de Classificação Econômica
Brasil. São Paulo: ANEP, 2000, 4p. URL: http://www.anep.org.br (Acessado em 25 de julho
de 2010).
BARRETO, C. L. G., Padrões de Produção e Consumo. Mudanças dos Padrões de Produção e
Consumo A Engenharia e a Agenda 21. Ponta Grossa, 2009 http://eventos.uepg.br (acessado
em 29 de Abril de 2010).
BARRETO, M. P. (in :CEDES). Educação, Desenvolvimento e Meio Ambiente. Campinas:
Papirus, 1993.
BARROS, R. P. de, Mendonça, R. S. P., Duarte, R. P. N. Bem-estar, pobreza e desigualdade
de renda: uma avaliação histórica e das disparidades regionais — 1995. Brasília: PNUD,
Background paper for the Brazil Human Development Report — 1996.
CAPRA, F. As Conexões Ocultas. São Paulo: Editora Cultrix, 2005.
CARRARO, G. Agrotóxico e meio ambiente: Uma Proposta de ensino de ciências e de
química. UFRGS: Porto Alegre, 1997, 95p.
CARSON, R. Primavera Silenciosa. Gaia Editora. 2010, 328 p.
CARTA DE BELGRADO-Uma Estrutura Global para a Educação Ambiental 1975.
Documento extraído de Educação ambiental e desenvolvimento: documentos oficiais,
Secretaria do Meio Ambiente, Coordenadoria de Educação Ambiental, São Paulo, 1994, Série
Documentos, ISSN 0103-264X.
CARVALHO, I. C. M. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo :
Editora Cortez 2004.
CARVALHO J. A. F. Ecologia profunda ou ambientalismo superficial? O conceito de
ecologia e a questão ambiental junto aos estudantes. São Paulo: Arte e Ciência, 2004. 142 p.
93
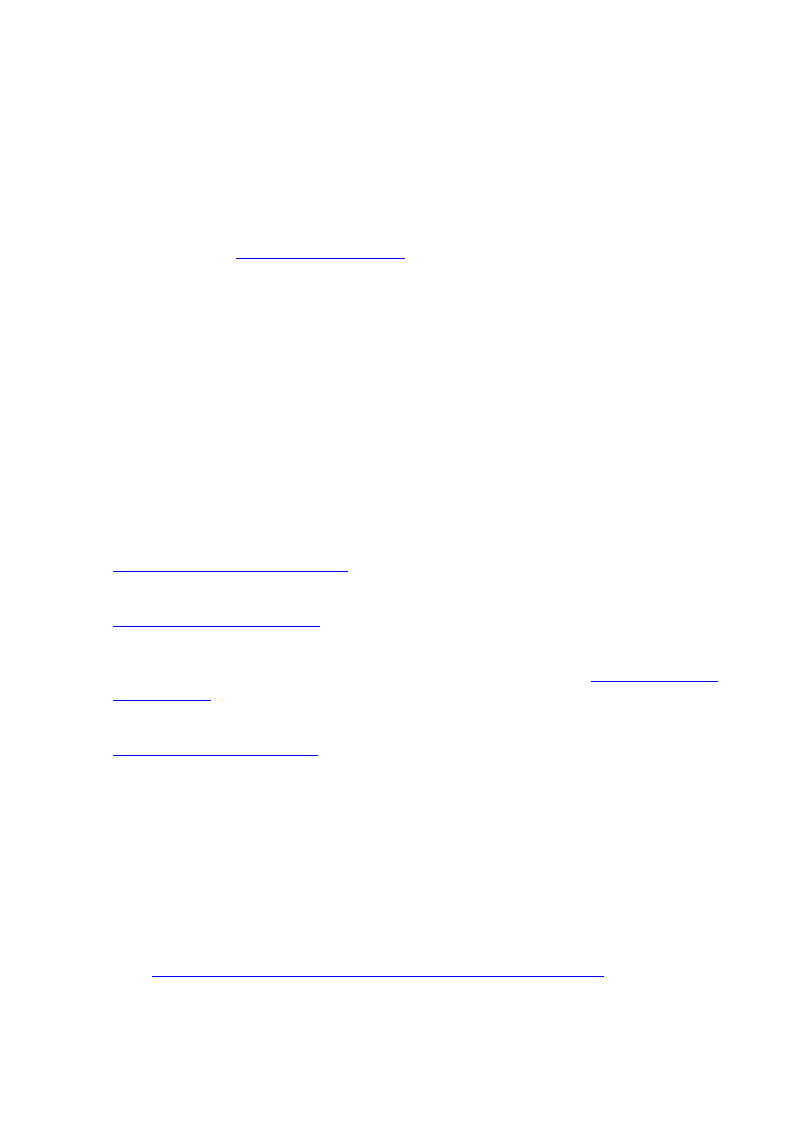
CAUTELA, A. Jornal “A Capital”, Crónica do Planeta Terra, 1979
COMISSÃO Internacional para a Preparação da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento. “Educação Ambiental no Brasil”. Subsídios Técnicos para a
Elaboração do Relatório Nacional do Brasil para a Elaboração do Relatório Nacional do
Brasil para a CNUMAD, 1991.
CONAMA. MMA www.mma.gov.br/conama (acessado em 12 de maio de 2010).
CONNET, v.13 “Moscow 87: UNESCO/UNEP International Congress on Environmental
Education and Training”, 1987.
COZETTI, N. Lixo - marca incomoda de modernidade. Revista Ecologia e Desenvolvimento,
n.96, 2001.
DEA/MMA-COEA/MEC. ProNEA-Programa Nacional de Educação Ambiental: Documento
em Consulta Nacional. Brasília: MMA/MEC, 2003, 32p.
DIAS, G. F. Educação Ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 1992, 551p.
_________ A educação ambiental no Brasil é fractal. In Texto sobre capacitação de
professores em Educação Ambiental, Brasília, 2000. 80 p.
EDR- Edições Demócrito Rocha. Fundação Demócrito Rocha. Ceará 1989.
www.edicoesdemocritorocha.com.br
FATÁ, R. M. Acontecimentos Importantes para a Melhoria do Meio Ambiente.2003
http://www.camaradecultura.org
FARIAS, T. Q. Aspectos gerais da política nacional do meio ambiente – comentários sobre a
Lei nº 6.938/81. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, 2006, 35p. http://www.ambito-
juridico.com.br (acessado em 11 de maio de 2010).
FELDMANN, F. Desenvolvimento Sustentável: aspectos coorporativos e ambiente.2002
http://www.bioclimatico.com.br (acessado em 12 de maio de 2010)
FRANCISCO, R.H.P. Fim de doze Poluentes Orgânicos. Revista Eletrônica de Ciências. no
05. São Carlos, Março de 2010. (acessado em 09 de maio de 2010)
GAARDER, J. O Mundo de Sofia: Romance da História da Filosofia. São Paulo: Cia das
Letras, 1995, 555p.
GEARY, D. C. Sex differences in brain and cognition. In: Male, Female: the Evolution of
Human Sex Differences. American Psychological Association Books, 1995.
GIODA, A. Problemas ambientais: Temos consciência da influência dos mesmos em nossa
vida? http://www.terrabrasil.org.br/noticias/materias/pnt_problemasamb.htm (2010).
94
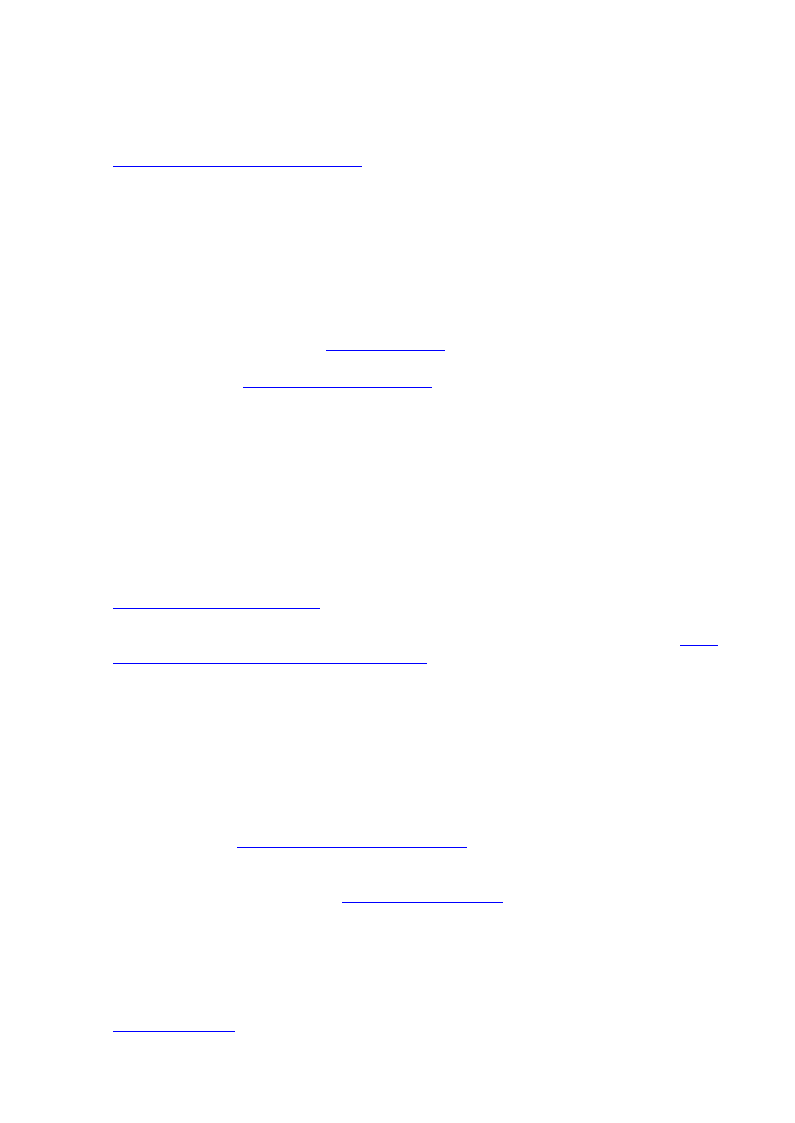
GODOY, A. M. G. A Conferência de Estocolmo- Evolução Histórica 2. Jornal Eletrônico.
Economia e Meio Ambiente. Maringá. Setembro de 2007.
http://www.amaliagodoy.blogspot.com
GOLDEMBRG, J. e BARBOSA, L. M. - Secretário de Estado do Meio Ambiente do Estado
de São Paulo; Revista Ambiente Gestão A legislação ambiental no Brasil e em São
Paulo,1988.
GOLDIM, J. R. Bioética: Origens e Complexidade. Porto Alegr e: UFRGS, 2006, Rev.
HCPA, 2006;26(2):86-92.
GONÇALVES, J.M.S.S. Educação, Meio Ambiente e Direitos Humanos nas Conferências da
ONU. UFPI. GT’s 05 e 06 2008. http://www.ufpi.br (acessado em 4 de maio de 2010).
GOOGLE EARTH. earth.google.com/intl/pt-BR/ (acessado em 10 de maio de 2010).
GUIMARÃES, M. Educação Ambiental: no consenso um embate? Campinas: Papirus, 2000a.
___________. Educação Ambiental - Temas em Meio Ambiente. D. Caxias: Ed. Unigranrio,
2000b.
HAMMES, V. S. Proposta Metodológica de Macro educação. Educação Ambiental Vol.2 .
Brasília: Editora Técnica 2002.159 p.
HENDERSON, H. The Politics of Money. The Vermont Commons. 2006.
http://www.hazelhenderson.com (acessado em 4 de maio de 2010).
HERCKERT, W. Educação Ambiental. Gestão Ambiental: Rio de Janeiro, 2005. http://
www.gestaoambiental.com.br/articles.php?id=56 (Acessado em 24 de julho de 2010).
IBAMA/MEC. Educação Ambiental: Projeto de Divulgação de Informações sobre Educação
Ambiental, Brasília. 1991, 20 p.
IBDF/FBCN, Plano de Manejo do Parque Nacional de Brasília. Brasília, 1979, 72 p.
IBOPE. A Educação na agenda do próximo governo. Fundação SM, 2010, 44p.
IBOPE/MEDIA WORKSTATION - Rede Globo/Novela II - Grande São Paulo (Período:
Mai/09 a Abr./10). http://www.almanaqueibope.com.br (Acessado em 25 de julho de 2010).
IBOPE/NIELSEN. Resumo da Audiência de Internet Domiciliar no Brasil e Perfil do
Internauta Brasileiro, 2010. URL:http://www.ibope.com.br (Acessado em 25 de julho de
2010).
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. The Physical Science Basis.
Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change [Solomon, S.; Qin, D.; Manning, M.; Chen, Z.; Marquis, M.;
Averyt, K. B.; Tignor, M. and Miller, H. L. (eds.). Cambridge University Press. URL:
http://www.ipcc.ch (acessado em: 23 de julho de 2010).
95
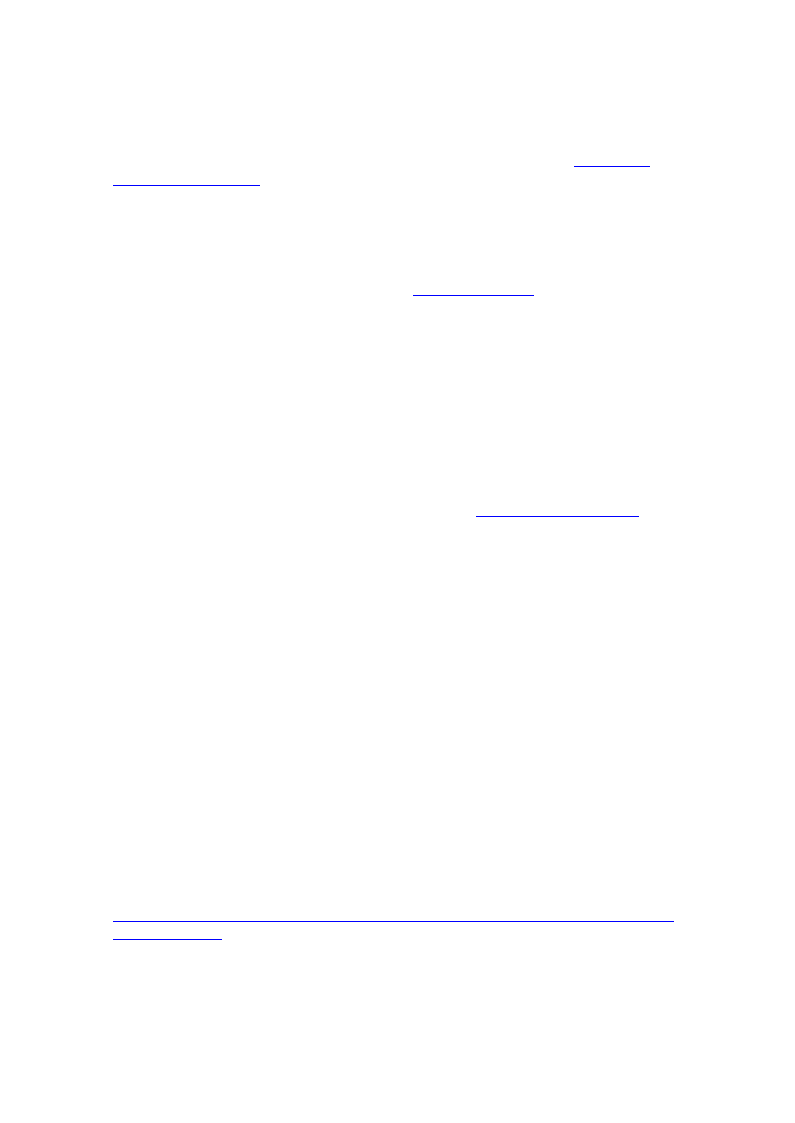
KENNEDY, P. Preparando para o Século XXI. Rio de Janeiro, Editora Campus. 1993, 470 p.
LACROIX, M. Necessidades desnecessárias. 2009. Revista Eletrônica. http://www.
aprendizagemvivencial. (acessado em 29 de abril de 2010).
LEIS, H. R., A Modernidade Insustentável. A crítica do ambientalismo à sociedade
contemporânea. Petrópolis. Editora Vozes 1999. 31 p.
LUCENA, P. Salvação da Humanidade. Agenda 21 das Nações Unidas e seus
Desdobramentos Locais. Rio de Janeiro, 1992 http://www.ufpa.br (acessado em 13 de maio
de 2010)
McLUHAN, M. O Meio de Comunicação como Extensões do Homem. São Paulo, Editora
Cultrix, 1996. 407 p.
MEADOWS, D. H. Harvesting One Hundredfold: Key Concepts and Case Studies in
Environmental Education, UNEP, Nairobi, 1989.
MEC- Minter. Ecologia – uma proposta para o ensino do 20 grau. Brasília, 1977, 66 p.
MELO, R.S. Visões de Natureza x Vertentes Ideológicas do Ambientalíssimo: Contribuição
ao Debate Sobre Sustentabilidade no Brasil. UFS, 2007 http://www.anppas.org.br (acessado
em 11 de maio de 2010).
MELLOWES, C. Environmental Education and the Search for Obecjtives. Environmental
Education : The Present and the Future Trends. Portsmouth, n0 6. 1972
MINC, C. A Consciência Ecológica no Brasil. Cedes Campinas: Papirus,1993
MININI, N. A formação dos professores em Educação Ambiental. In Textos sobre
capacitação em Educação Ambiental. Oficina Panorama da Educação Ambiental, MEC-SEF-
DPEF-Coordenação de Educação Ambiental, Brasília, 2000, p. 15-22.
MINISTÉRIO do Interior/ Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA. Guimarães , M.E.
(Coord.) , Educação Ambiental, Brasília, 1977.
MIOTTO, L. B. Meio ambiente: intervenção e equilíbrio. Metrocamp Pesquisa, v. 1, n. 1, p.
1-17, jan./jun. 2007.
MOTTA, R. S. Padrão de consumo, distribuição de renda e o meio ambiente no Brasil. Texto
para Discussão Nº 856. IPEA: Rio de Janeiro, 2002.
MOURÃO, L. , Correa, R. O que é educação ambiental e ecologia humana. 2008, IDA, URL:
http://www.ida.org.br/artigos/47-educacaoambiental/88-o-que-e-educacao-ambiental-e-
ecologia- humana (Acessado em 24 de julho de 2010)
NEIVA, A, MOREIRA, M., COZETTI, N., MEIRELLES, S., NORONHA, S., Mineiro, P.
Agenda 21, o futuro que o brasileiro quer. Revista Ecologia e Desenvolvimento, n.93, 2001.
96
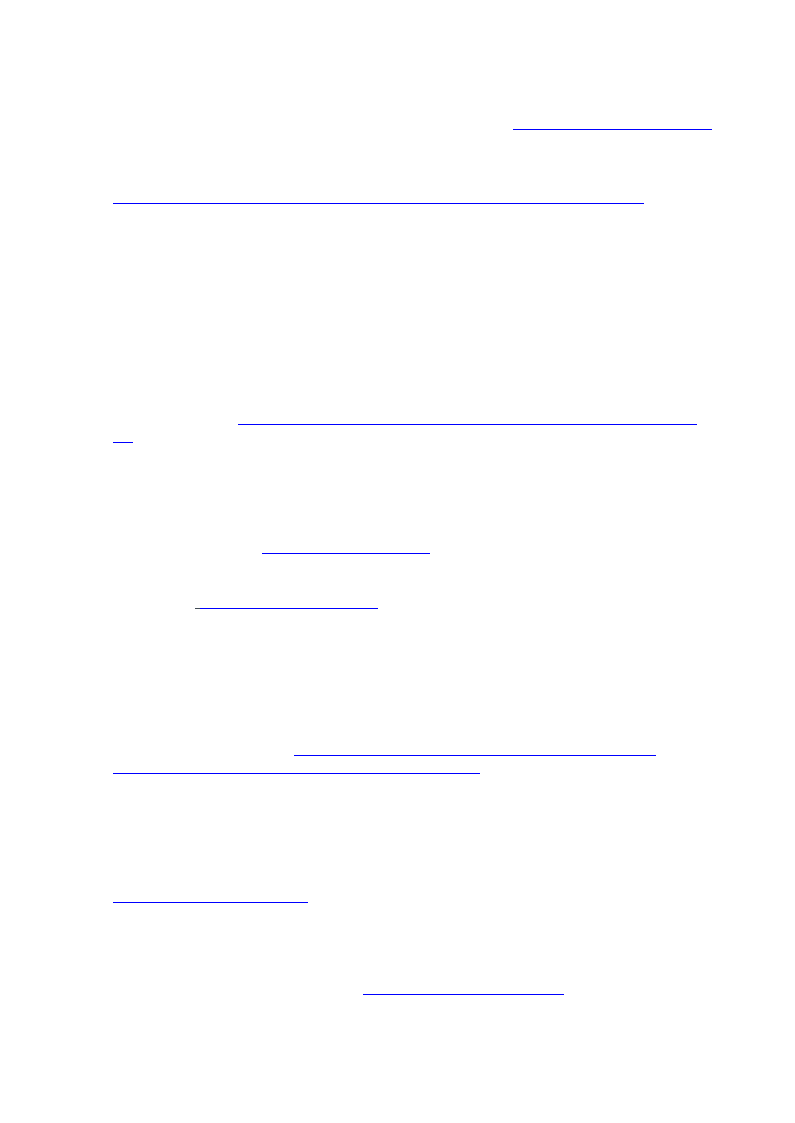
NEVES, J. G. A Educação Ambiental e a Questão Conceitual http:/www.revistaea.org/artigo .
No 15 ,2005. (acessado em 26 de abril de 2010).
PALÁCIOS, M. P. Estudos apontam a situação do lixo no Brasil. Rumo Sustentável. URL:
http://www.rumosustentavel.com.br/estudos-apontam-a-situacao-do-lixo- no-brasil/ (acessado
em: 24 de julho de 2010)
PAMPLONA, R. M. Breve Histórico do CTUR. Seropédica 2008.
PARENTONI, R. , Coutinho, F. A. O meio ambiente como bem comum. Diversa, no 4, 2004,
UFMG, Belo Horizonte.
PEREIRA, Carlos A. C. Direito Ambiental e Constituição: A Educação Ambiental como
Parâmetro para Implantação do Desenvolvimento Sustentável. Curitiba: Universidade
Federal do Paraná, 2006, 110 pg. (Dissertação de Mestrado).
PORTAL do MEC http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/historia.
pdf (acessado em 05 de fevereiro, 10,11 e 12 de março, 24 e 25 de abril, 10 de maio)
PORTER, G. & E, BROWN, J. W. Global Environmental Politics. Série Dilemmas in World
Politics. Westview Press Inc., Colorado, 1991.
PROCAM-USP. Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da Universidade de São
Paulo. São Paulo 1989 http://www.usp.br/procam (acessado em 12 de maio de 2010)
RAMÃO, F. S. A Geografia-História da degradação ambiental do Capitalismo: Ritmos e
intensidades. http://www.webartigos.com (acessado em 09 de Maio de 2010).
RUY, R. A. V. A educação ambiental na escola. Revista Eletrônica de Ciências, UNESP: São
Carlos, n.26, maio 2004.
RUY, R.A. Viveiro. A Educação Ambiental na Escola, Unesp- Rio Claro/SP, 2004.
SÁ FREIRE, P. Educação ambiental na educação infantil: redução, reutilização e
reciclagem. CENED, URL: http://www.cenedcursos.com.br/educacao-ambiental- na-
educacao-infantil- reducao-reutilizacao-e-reciclagem.html (Acessado em: 24 de julho de 2010)
SANTOS, A. Didática sob a ótica do pensamento Complexo. Editora Sulina, 2003.
SANTOS, R. L. O Projeto Grande Carajás – PGC e Algumas Consequências Regionais.
Revista Caminhos da Integração Sul-americana Nº21, Rio de Janeiro, 2010.
http://www.tempopresente.org (acessado em 26 de abril de 2010).
SCHNEIDER, H. Diferenças entre Homens e Mulheres no Uso e na Percepção de Valor da
Internet. Porto Alegre: UFRGS, 2005, 113p. (Dissertação de Mestrado)
SOUSA, J. M. Futuro Comprometido. http://futureatrisk.blogspot.com. 2005 (acessado em 27
de abril de 2010).
97
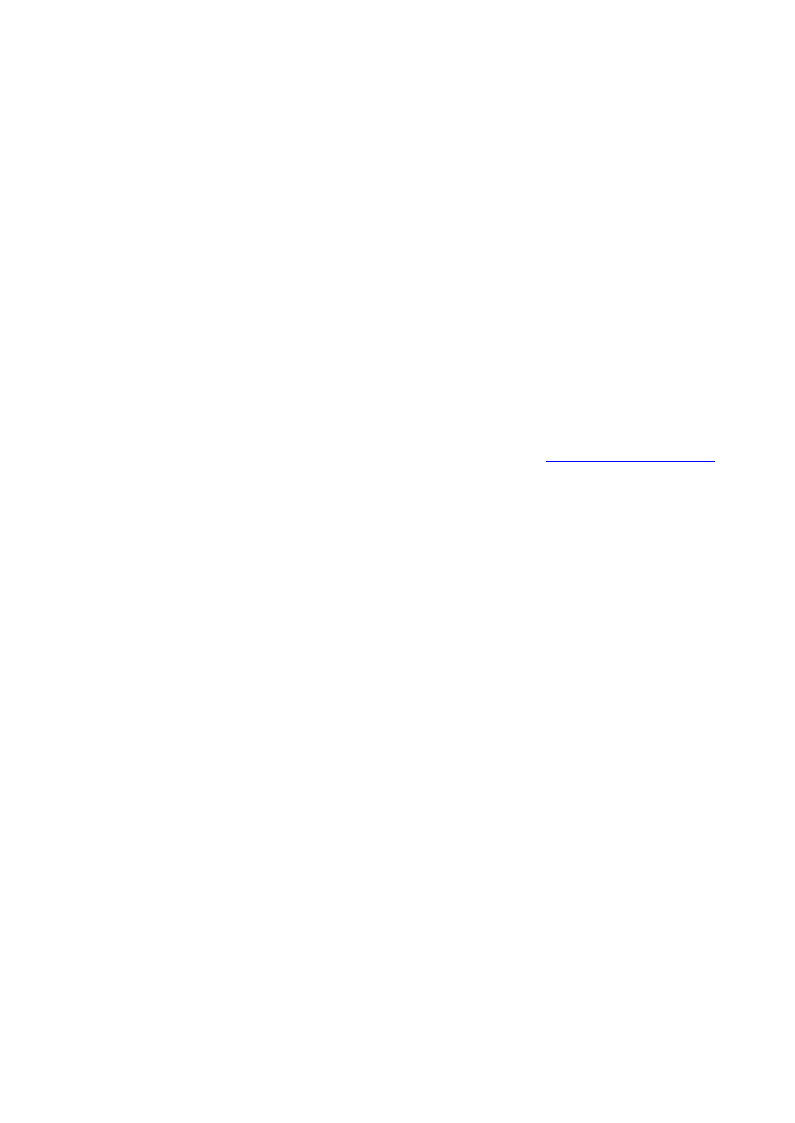
STAP, W. B. et al. The Concept of Environmental Education. The Journal of Environmental
Education, v.1 no 1, 1989.
TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy
Makers. Responding to the Value of Nature 2009. Welzel+Hardt: Wesseling, 2009, 47p.
UNESCO. Declaration of Thessaloniki. Conference on Environmental Education. Greece,
1997
UNESCO/UNEP. Intergovernmental Conference on Environmental Education. Final Report,
Tbilisi, 1997.
UNESCO/UNEP. The International Workshop on Environmental Education, Belgrade,
Yugoslavia”. Final Report, Belgrade, Yugoslavia, 1975.
_____________. La Educación Ambiental. Las grandes orientaciones de la Conferencia de
Tiblisi. Paris, 1980, 107 p.
UNILIVRE. Universidade Livre do Meio Ambiente. Curitiba, 1991 http://www.unilivre.org.br
(acessado em 12 de maio de 2010).
VIOLA, E. As Dimensões do Processo de Globalização e a Política Ambiental. XIX Encontro
Anpocs, GT Ecologia e Sociedade, Caxambu, 95GT0421, 2-22, 1995.
VITOR, C. A questão ambiental deve estar no centro de tudo. Revista Ecologia e
Desenvolvimento, n.100, 2002.
98
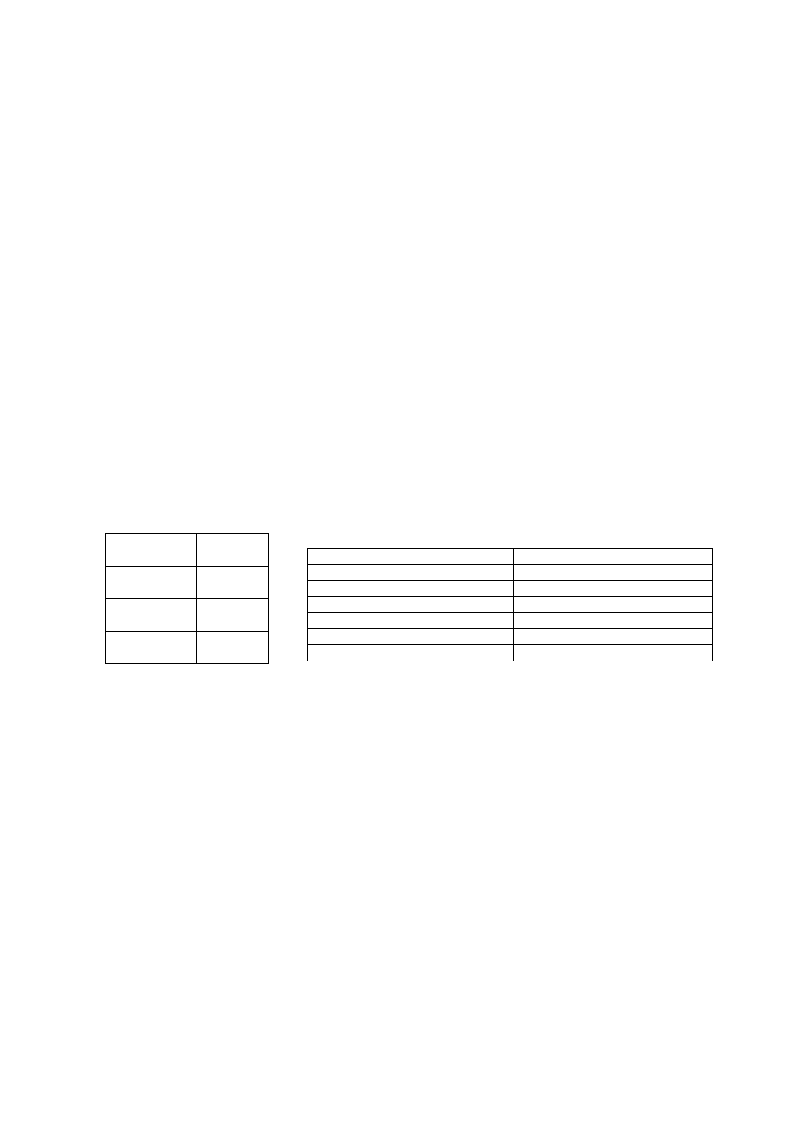
Anexo A – Questionário
ANEXOS
Questionário Preliminar
Prezado CTURiano,
Este questionário faz parte de um diagnóstico preliminar sobre a questão ambiental e
é parte do trabalho de pesquisa de Silvia H. L. Bezerra, aluna do curso de Pós-graduação em
Educação Agrícola da UFRRJ. Sua participação é voluntária e por isso esperamos que as
respostas espelhem sinceramente seu ponto de vista, razão pela qual basta a sua identificação
como estudante ou funcionário. Sua participação é fundamental para este trabalho e desde já
agradeço sua colaboração. Muito obrigada!
• Identificação: ( ) estudante ( ) funcionário
• Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
• Idade: ...............
01) Selecione entre os itens abaixo, três problemas fundamentais da realidade brasileira. Você
pode repeti- los nas duas colunas, caso entenda que um determinado problema do planeta seja
também um importante problema do Brasil e vice versa. Preencha os espaços de cima para
baixo, de acordo com a ordem de sua preferência.
Planeta
Terra
Brasil
A) atendimento médico hospitalar
B) saneamento básico
C) fome / desnutrição
D) meio ambiente
E) criminalidade
F) desemprego
G) acidentes / mortes no trânsito
H) tráfico e consumo de drogas
I) preconceito
J) guerras
K) falta de moradia
L) AIDS
M) corrupção política
N) menores abandonados
02) Qual é o seu grau de interesse pelas questões ambientais?
A ( ) muito interessado
B ( ) interessado
C ( ) mais ou menos interessado
D ( ) pouco interessado
E ( ) nada interessado
- Se você respondeu A, B ou C, indique abaixo um motivo que justifique o seu interesse.
- Se você respondeu C, D ou E, indique abaixo um motivo que justifique o seu desinteresse.
03) Cada item abaixo compara duas abordagens diferentes sobre o meio ambiente. Escolha
em cada par aquela que mais se aproxime do seu ponto de vista. Escolha uma alternativa A e
uma B.
A 1. ( ) A natureza deve ser preservada pelo seu próprio valor, estando acima dos interesses do homem.
2. ( ) A natureza deve ser usada sem restrições, pois ela existe para servir o homem.
B 1. ( ) È possível manter nosso atual estilo de desenvolvimento.
2. ( ) Não é possível manter nosso atual estilo de desenvolvimento
99
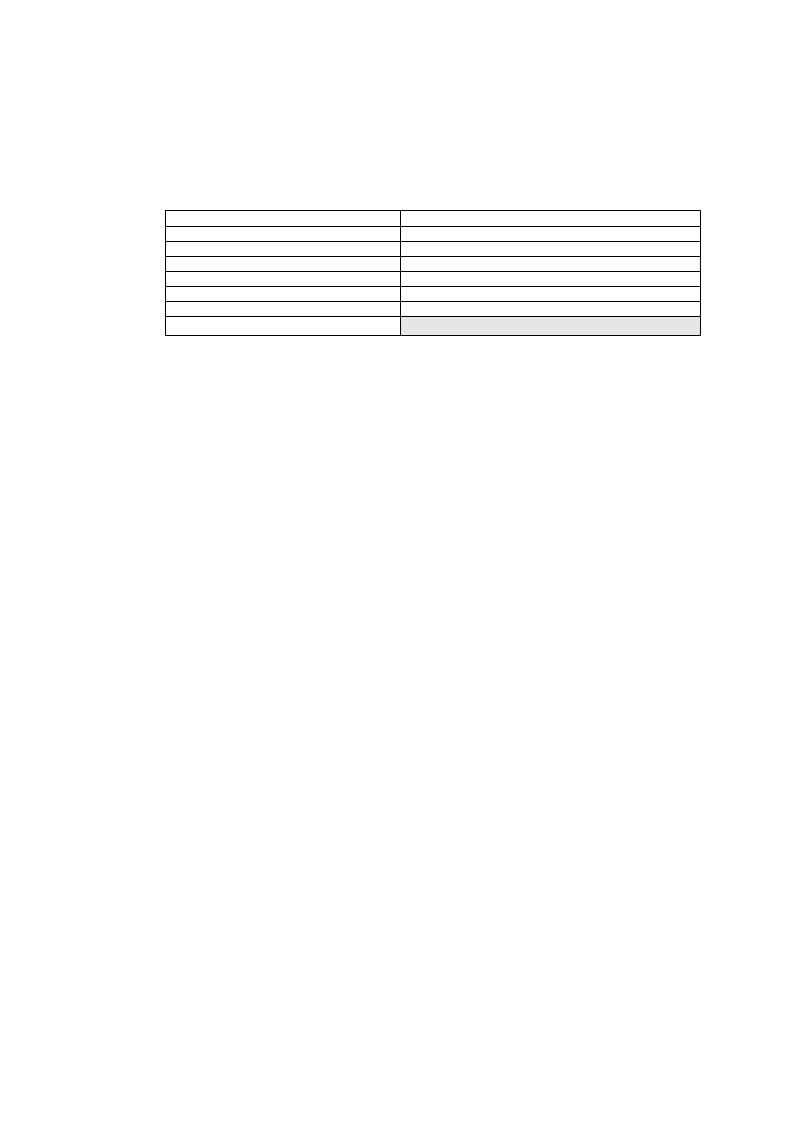
04) Eleja, anotando o número dos itens escolhidos dentro dos espaços A, B, C, D e E, os
cinco itens que, na sua opinião, são mais importantes para o entendimento da Questão
Ambiental. Expresse suas afinidades de forma que sua primeira opção ocupe o espaço A, e
assim sucessivamente, até que sua quinta opção ocupe o espaço E.
A( )
B( )
C( )
D( )
E( )
1) relação homem / mulher
2) lixo nuclear / chuva ácida
3) o sentido da existência humana
4) a violência urbana
5) conduta ética pessoal
6) a poluição do ar, das águas e do solo
7) os sonhos e as fantasias de cada um
8) massificação do consumo
9) falta de convívio familiar
10) extinção de espécies
11) desmatamento e desertificação
12) angústias, delícias e desejos do indivíduo
13) criatividade e sensibilidade
14) destruição do patrimônio sociocultural
15) efeito estufa e destruição da camada de ozônio estratosférico
05) Use os conceitos abaixo ( F, R, B e M) para avaliar cada pensamento, de acordo com seu
ponto de vista.
( F ) Fraco ( R ) Regular ( B ) Bom ( M ) Muito Bom
A Educação Ambiental deve basear-se...
( ) ... num projeto político de transformação pessoal, assentado em princípios ecológicos e no
ideal de uma sociedade comunitária e não-opressiva.
( ) ... no estudo de múltiplos aspectos da relação entre os homens e o meio ambiente e as
ciências agrárias.
( ) ... na percepção da destruição ambiental da ação voltada para a luta em favor da
conservação dos recursos naturais.
( ) ... no estudo do funcionamento dos sistemas, como as florestas, os mangues, os oceanos,
etc... estando ligada ao campo da biologia e se valendo dos elementos de várias ciências, a
física, química, geografia, artes, matemática.
06) Assinale com X todos os itens que desejar.
Os Problemas ambientais têm origem principalmente:
( ) nas áreas rurais
( ) nas áreas urbanas
( ) nas áreas ricas
( ) nas áreas pobres
07) Assinale com um X todos os itens que desejar.
Os problemas ambientais atingem, principalmente:
( ) as áreas rurais
( ) as áreas urbanas
( ) as áreas ricas
( ) as áreas pobres
100
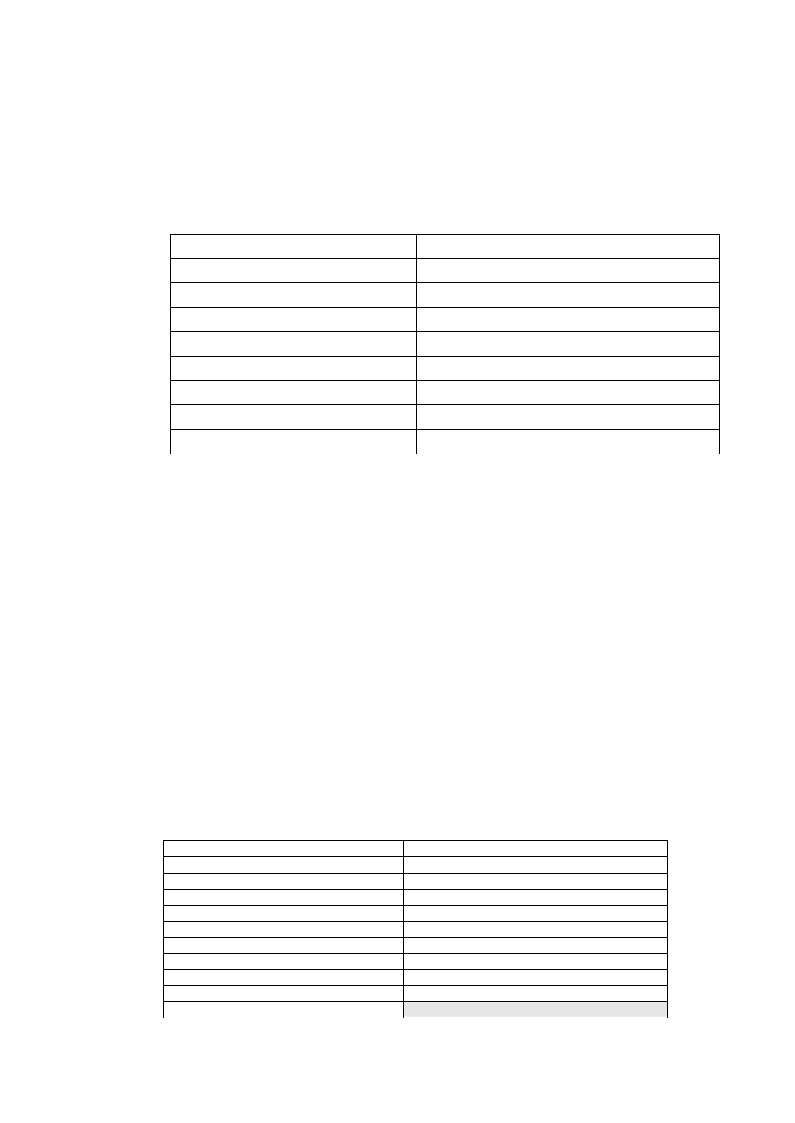
08) Por causa da ecologia muitas pessoas estão sendo levadas a questionar o seu trabalho, o
seu consumo, o seu lazer, a sua saúde, os seus relacionamentos e a sua visão de mundo. Quais
as práticas humanas que se opõem à ideia de um mundo ecologicamente equilibrado? Escolha
5 itens dentre todos os dispostos abaixo e preencha os espaços de A a E, de forma que sua
primeira opção ocupe o espaço A, e assim sucessivamente, até que sua quinta opção ocupe o
espaço E.
A()
B()
C()
D()
E()
1) não reciclar o lixo
2) fumar em público
3) vestir-se com pele de animal
4) recusar-se a dividir tarefas domésticas
5) utilizar aerossóis que destoem a camada de ozônio
6) provocar queimadas
7) caçar ou pescar de forma predatória
8) deixar a água correr por longos períodos
9) não respeitar filas
10) não cumprimentar vizinhos
11) utilizar agrotóxicos nas lavouras
12) utilizar produtos não degradáveis biologicamente
13) negar-se a auxiliar pessoas em dificuldades
14) avançar o sinal vermelho no trânsito
15) abusar ou explorar pessoas
16) não participar de movimentos ambientalistas
17) consumir combustível fóssil não renovável e poluente
18) não educar as crianças para uma relação saudável com o meio ambiente
09) Observando um mundo que se deteriora, engendrando fenômenos de desequilíbrio
ecológico, onde desfilam acidentes nucleares e doenças virais incuráveis ameaçando a
continuação da vida na Terra, percebemos a necessidade de grandes transformações. De onde
deve partir a iniciativa de uma relação mais equilibrada e menos egoísta com o meio
ambiente?
Escolha abaixo o item que mais se ajusta à sua preferência:
( ) da família
( ) do Estado
( ) dos meios de comunicação
( ) das escolas
( ) das igrejas
( ) do indivíduo
( ) dos partidos políticos
( ) dos movimentos ecológicos
( ) do casal
10) Quando se trata do meio ambiente, quais as suas principais fontes de informação sobre
esse assunto? Coloque na ordem de importância as cinco fontes que mais lhe influenciaram:
A. ( )
B. ( )
C. ( )
D. ( )
E. ( )
1) noticiários de TV
2) pais ou parentes
3) Governo Federal
4) Governo Estadual ou Municipal
5) Escola
6) amigos e/ou outras pessoas
7) jornais e diários
8) revistas semanais
9) programas de entrevistas e debates na TV
10) empresas privadas ou estatais
11) grupos ambientais
12) documentários e informativos na TV
13) Grupos de estudo
14) experiência profissional
15) sindicatos ou agremiações
16) cinema
17) exposições ou performances artísticas
18) grupos religiosos
19) palestras ou cursos
20) livros
21) Internet
101
