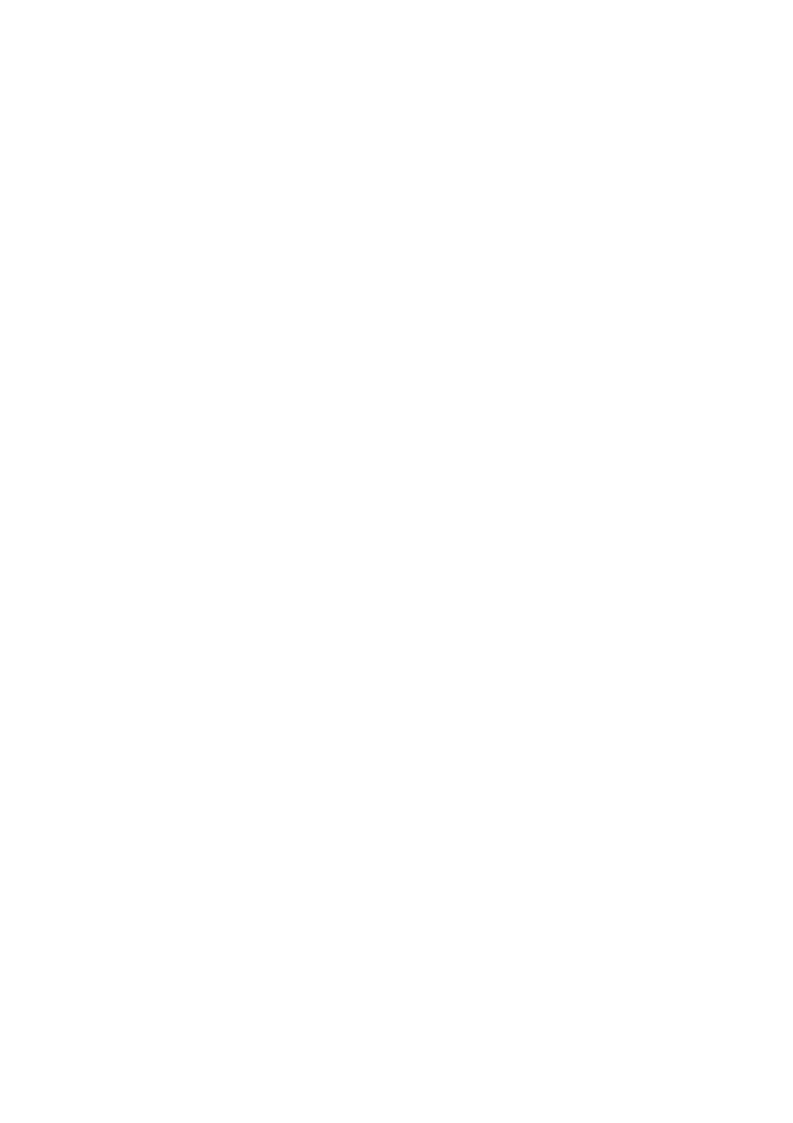
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR / INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, CONTEXTOS
CONTEMPORÂNEOS E DEMANDAS POPULARES
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
A CORPOREIDADE NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA
Roberta Jardim Coube
2012

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR / INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, CONTEXTOS
CONTEMPORÂNEOS E DEMANDAS POPULARES
A CORPOREIDADE NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA
Roberta Jardim Coube
Sob a Orientação do Professor
Aloisio Jorge de Jesus Monteiro
Dissertação submetida como requisito parcial
necessário à obtenção do título de Mestre em
Educação, no Programa de Pós-Graduação em
Educação, Contextos Contemporâneos e
Demandas Populares, da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro.
SEROPÉDICA
Março de 2012
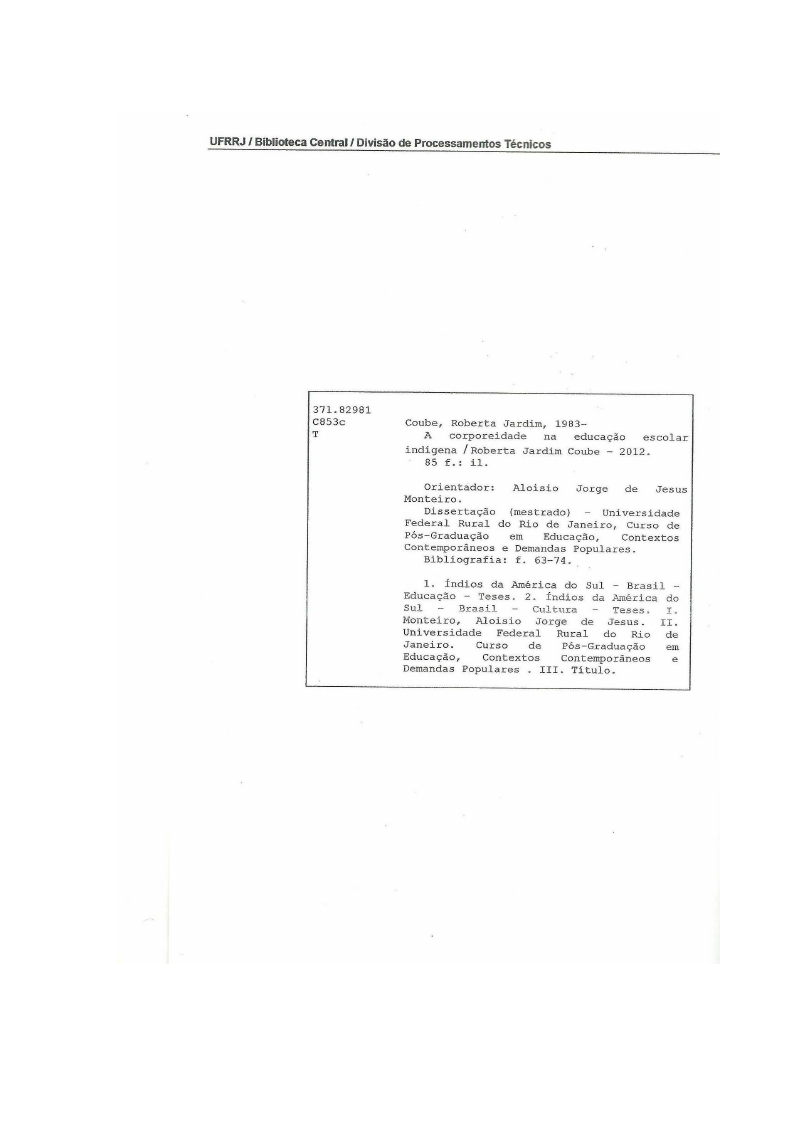
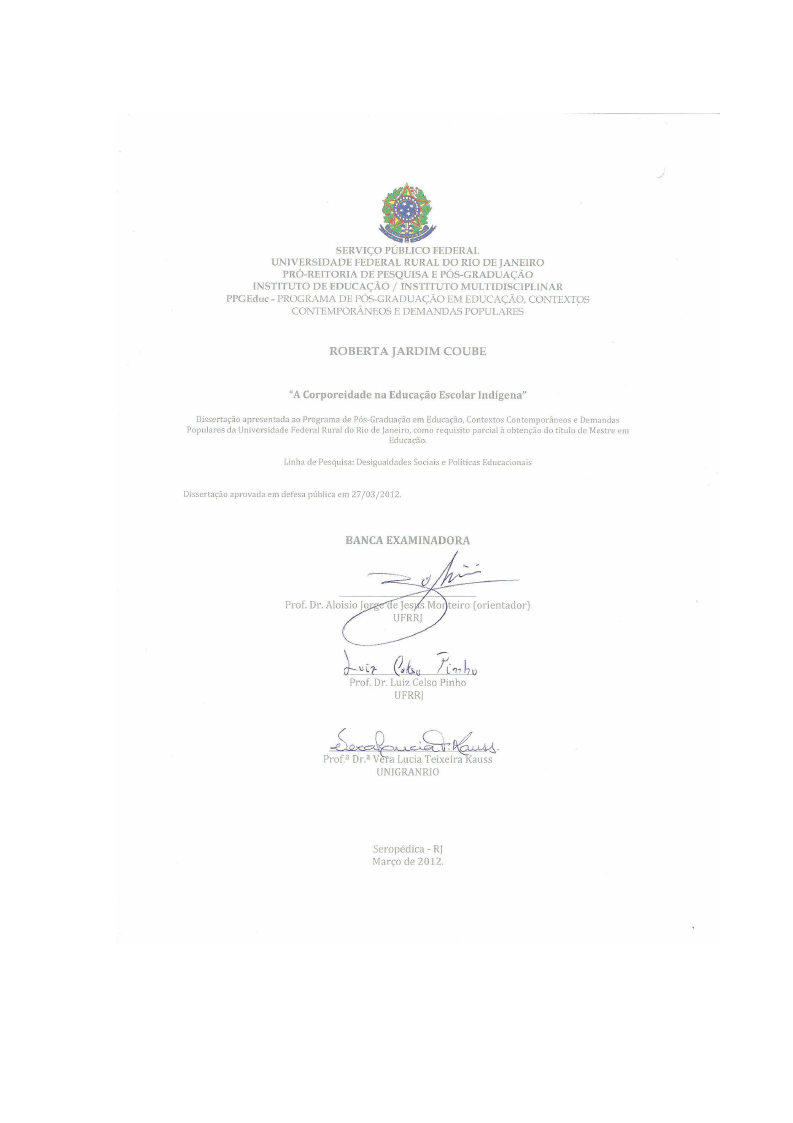

Dedicatória
Aos povos de todo o mundo que foram/são silenciados
ao longo da história, índios e não-índios; aos meus pais,
Francisco José Coube (in memoriam) e Marli Jardim
Coube, que sempre acreditaram no poder do saber; à
simplicidade e musicalidade da vida e aos poetas por nos
aproximar da sensibilidade.

Agradecimentos
Aos que se propõem a pensar a educação (toda ela) plena de sensibilidade e respeitosa do
corpo pensante.
Aos meus pais Marli Jardim Coube e Francisco José Coube (in memoriam), minha eterna
gratidão.
À Renata Coube pela exortação de sempre, pelos nossos pactos. As palavras “sempre” e
“nunca” que dizemos refletem a exatidão de nosso sentimento, certamente além desta vida.
Às minhas queridas Ana Paula Coube e Maria Angélica Coube, eu as amo muito e esses
últimos dias (difíceis) de nossas vidas só aumentaram os nossos laços. Que todas nós,
incluindo a Renata, sejamos presenteadas com sabedoria, iluminação e concentração!
Ao professor Dr. Aloisio Jorge de Jesus Monteiro pela orientação e ensinamentos válidos para
a vida inteira e por ter acreditado em mim. Da pesquisa científica à musicalidade da vida...
Ainda tenho muito a aprender com ele!
Ao professor Dr. Luiz Celso Pinho, pela significativa presença em minha formação
acadêmica. Pela ajuda na formatação do texto; pela exortação “pé no chão” nos momentos de
aflição e nervosismo; pelo acolhimento via e-mail e pessoalmente, em sua sala no ICHS, no
Laboratório de Investigações Histórico-Filosóficos (LAIMF). Serei eternamente grata por
tudo o que aprendi (inclusive pelas muitas lacunas as quais preciso sanar). Espero
verdadeiramente poder retribuir à comunidade acadêmica com a mesma precisão, coerência,
justeza, atenção... Que um dia eu possa apresentar sua sagacidade e capacidade de enxergar
no escuro, tal como a coruja – não à toa símbolo da Filosofia. Muito, muito obrigada!
Às integrantes do Núcleo de Estudos e Tradições Indígenas e Negritudes (NETIN),
coordenado pelo professor Dr. Aloisio Monteiro, Mariane Del Carmen (io ti voglio molto
bene, ragazza!), Andrea Sales, Joliene Leal, Laísa e Rosinere Evaristo.
À professora Dra. Amparo Villa Cupolillo – por quem nutro bastante carinho, pela leitura
super atenta do texto, pelas valiosas críticas e pelas aulas de Didática da Educação Física,
onde discutimos importantes questões referentes à corporeidade e demais questionamentos da
cultura corporal de movimento e de formação de professores. Muito obrigada!
À professora Dra. Izabel Missagia de Matos, por ter apresentado à Antropologia e à
Etnografia e pelos diálogos acerca das epistemologias indígenas. Muito obrigada, Bel! Ainda
são diversos os meus desconhecimentos e lacunas, mas depois das tuas aulas, sugestões de
leituras e críticas, abriram-se novas possibilidades de aprender os conhecimentos sobre os
ameríndios.
Ao professor Dr. José Ribamar Bessa Freire, pelas indicações de leitura, pelas críticas e por
mostrar o que estava diante de meus olhos, mas sozinha não foi possível enxergar. Espero ter
feito bom proveito de suas apreciações.
À professora Dra. Vera Lucia Teixeira Kauss, pela leitura sensível às marcas subjetivas da
autora e por auxiliar na perspectiva literária do texto, além de ter atendido prontamente o
nosso convite, em tempos de adversidades.

Às pesquisadoras e amigas do Laboratório de Estudos do Corpo e Movimento
(LECOM/UFRRJ), em especial às professoras Valéria Nascimento (dentre muitas qualidades
me cativou por meio da dança como expressão da vida, necessária à educação e pelas aulas
que reforçaram a minha escolha pela Educação Física), Luciana Dias (amiga sempre alerta e
nas horas difíceis e nos momentos de felicidade), Luciene (figura ímpar do “quarteto
fantástico”) e Thalita Malafaia (nossa bailarina clássica). Por ideias, textos, viagens,
angústias, sorrisos e planos compartilhados. Valeu mesmo!
Às amigas inesquecíveis com as quais aprendo sempre, verdadeiras irmãs ruralinas: Amita
Domiciano, Amanda Moreira, Camila Batista, Bruna Rodrigues, Ellizandra, Fernanda
Ribeiro, Kamilla Ventura, Karina Soares, Vivianne Ferreira, Saty Quintiliano, Thèrésse
Holmström (Tesse).
À Samantha Ueda (Sam), pessoa linda que conheci há pouco tempo, mas que foi importante
nesses últimos momentos de escrita da vida.
Ao amigo Felipe Lameu por, entre muitas coisas, compartilhar o desejo de uma Educação
Física reflexiva e sensível.
Ao professor e amigo José Ricardo da Silva Ramos, por me iniciar no tema da corporeidade,
pela parceria acadêmica desde 2003, pela aprendizagem fora e dentro da “quadra de aula”, nas
aulas de Prática de Ensino da Educação Física, e pelos ensinamentos na área das linguagens.
Ao Marlon Magno Abreu de Carvalho, ser humano incrível que conheci nos tempos de UFF,
pelos encontros e desencontros da vida, pelos vários livros presenteados, pelos chopes
regados à Literatura... Por agora o silêncio diz mais do que poderia falar.
Aos funcionários, colegas professores e, principalmente, aos (meus) alunos do Ciep Brizolão
152 Garrincha Alegria do Povo, com os quais aprendi ainda mais a importância das relações
humanas fluidas.
Aos amigos verdadeiros que encontrei ao longo da vida, porque nada somos sem um amigo.
“Um bicho igual a mim, simples e humano/Sabendo se mover e comover/E a disfarçar com o
meu próprio engano./O amigo: um ser que a vida não explica/Que só se vai ao ver outro
nascer/E o espelho de minha alma multiplica...” (Vinicius de Moraes).
Aos meus professores da Educação Básica, por mostrar que é possível seguir adiante, que a
vida é mais do que aquilo que vemos, e por influenciar na escolha pela docência. Em especial
Erli (Literatura), Gerson (Educação Física), Vera Eunice, Ecilda e Ismeraci (História),
Julemes (Língua Portuguesa), Pedro Menezes (Geografia) e Josélia (com quem aprendi a ler).
Ao Henrique Pacheco, pelos momentos musicais, pelas viagens e por incitar a necessidade de
aprimorar os conhecimentos sobre as nossas raízes e sobre o sentido da história. Que as
nossas diferenças sirvam de aprendizagem e fortaleçam nossa capacidade de crítica e de
entendimento do outro.
Aos professores doutores, os quais aceitaram fazer parte da banca de qualificação e de defesa
da dissertação: Aloisio Jorge de Jesus Monteiro, Amparo Villa Cupolillo, Izabel Missagia de
Matos, Luiz Celso Pinho, José Ribamar Bessa Freire e Vera Lucia Teixeira Kauss.
Ao Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas
Populares (PPGEduc), da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), pelo
espaço favorável às discussões e reflexões, viabilizado pelos professores doutores.
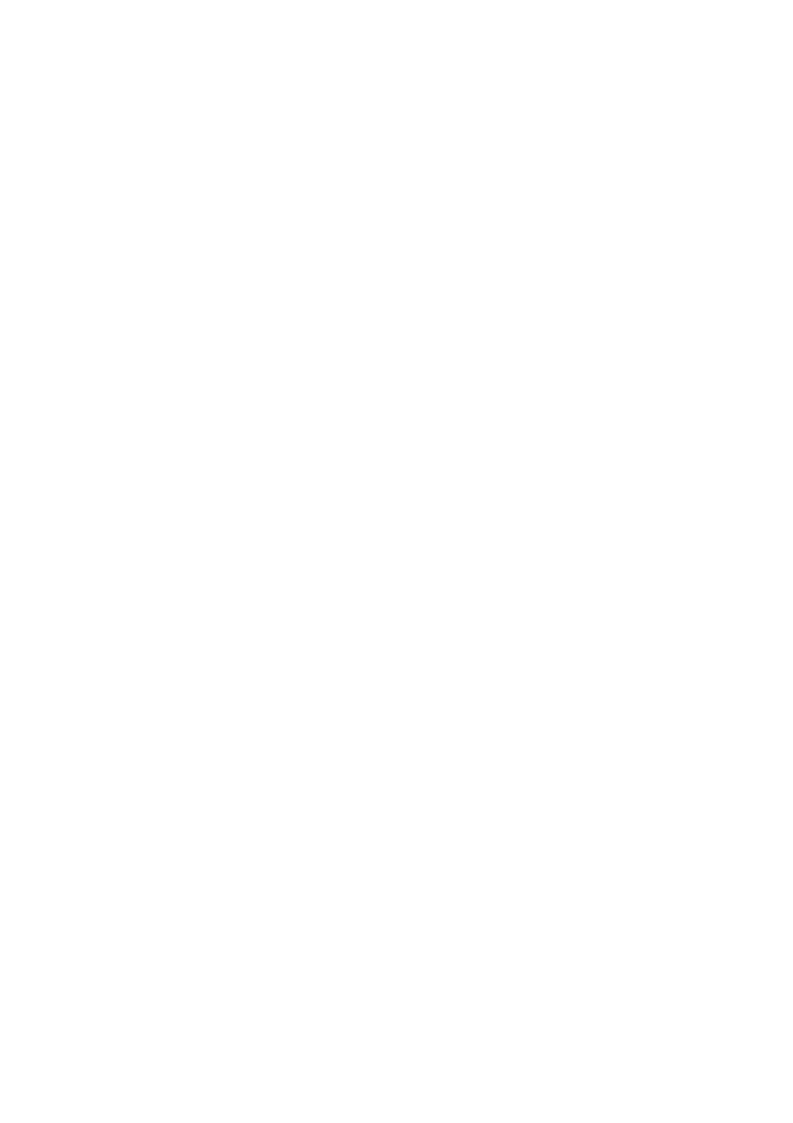
Aos recursos bibliográficos e editoriais do Laboratório de Investigações Histórico-Filosóficos
(LAIMF).
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio à
pesquisa.
A todas as pessoas, co-autoras, deste texto. Pois o processo de escrita é solitário e também
construído coletivamente. Aos vários “outros”, muito obrigada!

Antes de qualquer coisa, a existência é corporal.
(David Le Breton)
A doutrina prevista por Nóbrega em seu plano, e mais tarde “aperfeiçoada” por
Vieira, definia a função das Aldeias como a de corrigir o corpo do Brasil (Neves,
1978: 131), através de censuras, restrições e penalidades destinadas a produzirem
uma outra percepção corporal nos ameríndios, reprimindo a “bestialidade” inerente
a sua cultura, purificando a carne e ao mesmo tempo, preparando-a para o trabalho,
encarado sob uma perspectiva ascética [...] a relação do indígena com o seu próprio
corpo e com a natureza causava estranhamento e repúdio aos ocidentais, sobretudo
por três comportamentos ou práticas corporais: a nudez, que é a falta de qualquer
sentimento de pudor entre os nativos em relação à exposição de seus corpos; o
canibalismo, que significa a inexistência de qualquer interdição quanto à ingestão do
corpo do Outro e o incesto, que é o desconhecimento de qualquer restrição ao “uso”
do corpo (Neves, 1978: 56). Assim, o processo de conversão pressupunha uma etapa
corpórea, na qual deveriam ser extirpadas todas estas práticas corporais, ora
identificadas com o mundo animal, ora atribuídas à esfera demoníaca.
(Monique Brust)
Desde o dia em que ao mundo chegamos caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas
para ver, mais que a imaginação. Muito mais para o tempo permitir. São tantos
caminhos para se seguir e lugares para se descobrir. E o sol a girar sob o azul deste
céu nos mantém neste rio a fluir. É o ciclo sem fim que nos guiará. A dor e a emoção
com a fé e o amor. Até encontrar o nosso caminho neste ciclo sem fim.
(Edu Lobo, canção Ciclo sem fim)
Os rios estão morrendo, as florestas estão desaparecendo, o ar está ficando escuro e
o meu corpo está ficando cansado de viver...
(Depoimento de uma líder Macuxi. In: RCNEI,1998).
O corpo humano é um elemento central nas visões de mundo dos índios brasileiros;
preparar e educar o corpo é muito importante nas suas culturas.
(RCNEI, 1998)
Nosso corpo somos nós. É nossa única realidade perceptível. Não se opõe à nossa
inteligência, sentimentos, alma. Ele os inclui e dá-lhes abrigo. Por isso tomar
consciência do próprio corpo é ter acesso ao ser inteiro... pois corpo e espírito,
psíquico e físico, e até força e fraqueza, representam não a dualidade do ser, mas sua
unidade.
(BERTHERAT, 1977)

Resumo
COUBE, Roberta Jardim. A corporeidade na educação escolar indígena. 2012. 112p
Dissertação (Mestrado em Educação). Instituto Multidisciplinar / Instituto de Educação,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2012.
Busca-se discutir algumas concepções de corpo presentes nas sociedades indígenas
(Tupinambá, Wajãpi e povos do Xingu), especialmente no processo de educação escolar.
Assim, retoma-se a educação jesuítica do Brasil colonial (séculos XVI e XVII) e analisa o
Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI, 1998), sobretudo a
cultura corporal dos povos indígenas do Brasil. A pesquisa caracteriza-se historiográfica,
procurando tomar a história do ponto de vista dos dominados. O trabalho dialoga com
Dermeval Saviani (2010), notadamente com a premissa de que “o presente se enraíza no
passado e se projeta no futuro”, sendo imprescindível para a compreensão radical do presente
o estudo de sua gênese, o entendimento de suas raízes. Nesse sentido, o cerne da pesquisa
vem a ser a corporeidade presente na educação escolar indígena, tomando especialmente as
sociedades Tupinambá (Brasil colônia), Wajãpi e povos Xinguanos (Brasil contemporâneo),
suas concepções de corpo, suas cosmologias e a defesa contemporânea dos povos indígenas
por uma educação e uma Educação Física intercultural e diferenciada. O esforço de superar os
limites dos paradigmas tradicionais da historiografia e o interesse pelo tripé
corpo/educação/cultura procura abordar o corpo “compreendido na trama social de sentidos”,
muito mais do que um atributo da pessoa, “o lugar e o tempo indistinguível da identidade”,
um “vetor semântico” (David Le Breton, 2007). Partimos da Filosofia da História para
adentrarmos nos campos da Antropologia da Educação e da Sociologia da Corporeidade.
Buscaremos entender o fenômeno corpóreo como resultante de aspectos sociais, culturais e
simbólicos do ser humano. Na escola indígena o corpo equipara-se à grande razão, de
Nietzsche, pois nela os sentidos devem ser ouvidos e experimentados.
Palavras-chave: educação escolar indígena, corporeidade, culturas ameríndias.
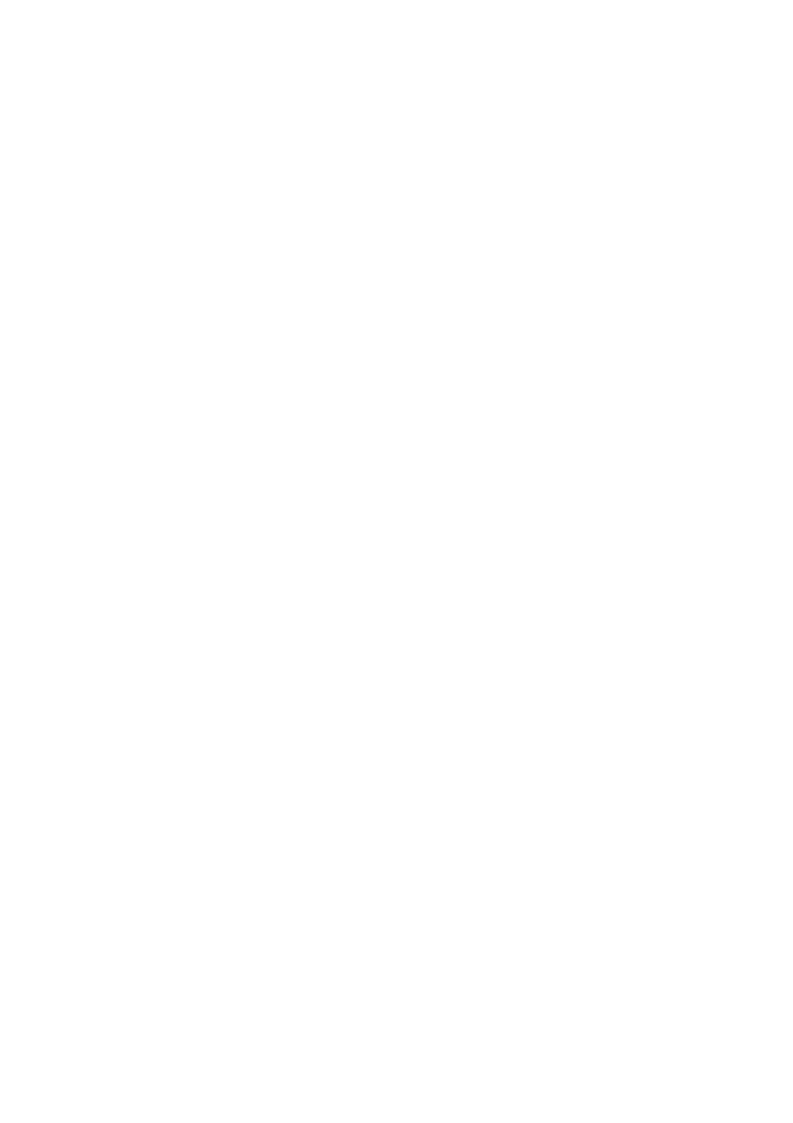
Abstract
COUBE, Roberta Jardim. The corporeity in indian school education. 2012. 112p.
Dissertation (Master Science in Education) Instituto Multidisciplinar / Instituto de Educação,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2012.
This study discusses some conceptions of body found in indigenous societies (Tupinambá,
Wajãpi and peoples of the Xingu), especially in the process of school physical education.
Thus, returns to Jesuit education in colonial Brazil (XVI and XVII centuries) and analyzes the
National Curriculum Reference for Indigenous Schools (RCNEI, 1998), mainly the body
culture of the indigenous peoples of Brazil. This research is characterized historiography,
seeking to take the story from the perspective of the dominated. Working dialogue with
Dermeval Saviani (2010), especially with the premise that "the present is rooted in the past
and projects into the future," is indispensable for the understanding of this radical study of its
genesis, to understand their roots. In this sense, the core of the research becomes the
corporeity in indigenous school education, especially in societies Tupinambá (Brazil colony),
and Wajãpi and Xinguanos peoples (contemporary Brazil), their conceptions of the body,
their cosmologies and contemporary defense of indigenous peoples by an education and a
physical education intercultural and differentiated. The effort to overcome the limits of the
traditional paradigms of historiography and interest in the tripod body / education / culture
seeks to address the body "understood in the social plot of meanings," more than one attribute
of the person, "the place and time indistinguishable from the identity" a "semantic
vector"(David Le Breton, 2007). We adopt the philosophy of history to move forward in the
fields of Anthropology of Education and Sociology of corporeity. We will seek to understand
the bodily phenomenon as resulting from social, cultural and symbolic of the human being.
We will seek to understand the bodily phenomenon as resulting from social, cultural and
symbolic of the human being. Indigenous school in the body parallels the major reason for
Nietzsche, because it senses must be heard and experienced.
Keywords: Indian School Education, corporeity, Amerindian cultures

Lista de abreviaturas e siglas
Sou professor contra a ordem capitalista vigente que inventou esta
aberração: a miséria na fartura .
(Paulo Freire)
CNE
FUNAI
IPHAN
ISAN
LDBEN
MEEF
PCN
PIX
PNE
RCNEI
Conselho Nacional de Educação;
Fundação Nacional de Amparo ao Índio;
Instituto do Patrimônio Histórico Nacional;
Instituto Socioambiental;
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
Movimento Nacional de Estudantes de Educação Física;
Parâmetros Curriculares Nacionais;
Parque Indígena do Xingu;
Plano Nacional de Educação;
Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas.

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO
01
Capítulo 1: Por que a questão do corpo na pesquisa em educação?
07
Capítulo 2. Concepções de corpo na sociedade indígena (Tupinambá, Wajãpi e Xingu) 17
a) Pintura corporal
18
b) O corpo como comunicação
21
c) O corpo como identidade
24
d) O corpo como linguagem na educação informal
27
Capítulo 3. O corpo na educação escolar indígena: potencialidades hoje
34
a) Antecedentes: A educação jesuítica no Brasil colonial
34
b) O Referencial Curricular Nacional para as escolas indígenas (RCNE) e o corpo
41
c) A Educação Física escolar indígena: diferenciada e intercultural
48
CONSIDERAÇÕES FINAIS
60
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
63
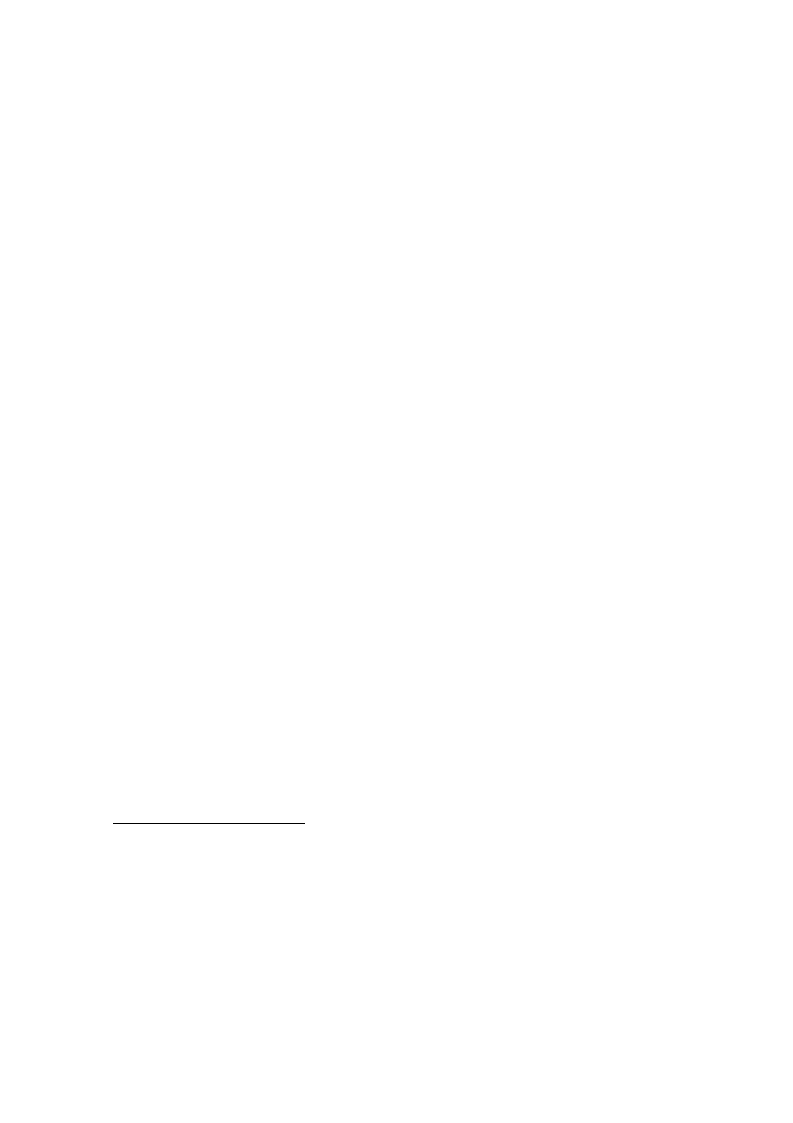
APRESENTAÇÃO
Para os Kamaiurá, quando o índio morre, sua alma vai para uma aldeia celeste,
réplica da aldeia terrena. Mas lá a vida é diferente: as almas andam sempre
enfeitadas, não trabalham, só dançam e jogam bola; não se come peixe ou beiju,
mas grilo e batata. Assim, quando alguém morre, deve-se enterrá-lo enfeitado para
que sua alma assim permaneça. Acompanham o corpo flechas, se for homem, e fuso,
se for mulher – pois as almas precisam se defender dos ataques dos passarinhos
que, em encontros periódicos, tentam arrancar-lhes pedaços para levar ao gavião.
Alma sem defesa é morta e acaba de uma vez (Almanaque Socioambiental Parque
Indígena do Xingu 50 Anos, p. 91).
O texto que se segue constitui-se pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-
Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares (PPGEduc), da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), pertencente à linha de pesquisa
Desigualdades Sociais e Políticas Educacionais1, sob a orientação do professor doutor Aloisio
Jorge de Jesus Monteiro. Possui como questão central a corporeidade presente na educação
escolar indígena, tomando especialmente as sociedades indígenas Tupinambá (Brasil colônia),
Wajãpi e povos Xinguanos (Brasil contemporâneo), suas concepções de corpo, as
cosmologias que apresentam. Assim, busca-se discutir algumas concepções de corpo2
presentes nessas sociedades ameríndias, tomando o processo de educação escolar. Destarte,
retoma-se a educação jesuítica do Brasil colonial (séculos XVI e XVII) e analisa o
Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI, 1998), sobretudo a
cultura corporal dos povos indígenas do Brasil – fato que coloca em relevo a defesa dos povos
indígenas por uma educação e uma Educação Física intercultural e diferenciada. Ou ainda a
recusa da Educação Física na escola indígena, dependendo da especificidade da etnia e de
como a mesma deseja a ocorrência na aldeia de suas manifestações corpóreas.
A pesquisa caracteriza-se historiográfica, procurando tomar a história do ponto de
vista dos dominados. Dialoga com Dermeval Saviani3, notadamente com a premissa de que “o
presente se enraíza no passado e se projeta no futuro”, sendo imprescindível para a
compreensão radical do presente o estudo de sua gênese, o entendimento de suas raízes. O
esforço de superar os limites dos paradigmas tradicionais da historiografia e o interesse pelo
tripé corpo/educação/cultura procura abordar o corpo “compreendido na trama social de
sentidos”, muito mais do que um atributo da pessoa, “o lugar e o tempo indistinguível da
identidade”, um “vetor semântico” (David Le Breton, 2007). Partimos da Filosofia da História
para adentrarmos nos campos da Antropologia da Educação e da Sociologia da Corporeidade.
Buscaremos entender o fenômeno corpóreo como resultante de aspectos sociais, culturais e
simbólicos do ser humano. Na escola indígena o corpo equipara-se à grande razão, de
Nietzsche, visto que nessa instituição os sentidos devem ser ouvidos e experimentados.
1 Após o ingresso no PPGEduc, uma terceira linha de pesquisa passou a constituir as áreas, intitulada Educação e
Diversidades Étnico-raciais. Para esta linha convergem estudos, pesquisas e temáticas localizadas nos campos da
Educação e das Relações Étnico-raciais tensionadas pelas relações com o Estado, com os Movimentos Sociais
Negros e Indígenas, com as Desigualdades Étnicas, Culturais, de Classe, de Raça e de Gênero, com a educação
sendo percebida como uma das múltiplas dimensões da realidade social impactada pela ação entre estrutura e
atores sociais em uma perspectiva histórica mais ampla. Afro-Brasileiros, cidadania, indígenas, identidades
diaspóricas, políticas de ações afirmativas, educação quilombola e religiosidade afro-indígena constituem-se
como eixos analíticos relevantes dessa linha de pesquisa.
2 Os termos corpo, corporeidade e corporalidade serão, em grande parte deste estudo, utilizados como sinônimos.
3 DERMEVAL, Saviani. História das ideias pedagógicas no Brasil. 3. ed. Campinas, SP: Autores Associados,
2010. Utilizamos o capítulo em que Saviani aborda as idéias pedagógicas no Brasil entre 1549 e 1759, período
em que intitula monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional; trabalhando as questões da relação
entre colonização e educação; a pedagogia brasílica, em que analisa a educação jesuítica desse momento; e a
institucionalização da pedagogia jesuítica, também chamada Ratio Studiorum (1599-1759).

“Instrumentos e brinquedos são os sentidos e o espírito; atrás deles acha-se, ainda, o ser
próprio. O ser próprio procura também com os olhos dos sentidos, escuta também com os
ouvidos do espírito” (NIETZSCHE, 2010, p. 60).
O estudo parte do princípio de que toda educação é “educação do corpo”,
considerando o mesmo “como a totalidade/centralidade da pessoa, onde se inscreve a cultura
e se consolidada a integração a um grupo social específico por meio da educação”, tal como
defende Beleni Salete Grando (2009) em sua tese de doutoramento “Corpo e educação:
Relações Interculturais nas práticas corporais Bororo em Meruri/ MT”. Daí a relevância do
tripé corpo/educação/cultura no território complexo dos Estudos Culturais, sobretudo na
tentativa de (re)pensar a cultura em contextos distintos Consideramos que “as relações entre
os fenômenos deixam marcas no corpo da linguagem” (BOSI, 1992, p. 11), sendo por vezes
necessário tomar as palavras, seus significados e sentidos, suas raízes etimológicas e
conceitos a partir dos quais convidamos nosso interlocutor ao debate e reflexão a respeito do
corpo na trama da história, tomando como ponto de partida o surgimento da educação formal
no Brasil, na metade do século XVI, contexto em que se dá o “monopólio da vertente
religiosa da pedagogia tradicional” (SAVIANI, 2010, p. 14), período que vai de 1549, ano de
chegada ao Brasil dos primeiros jesuítas chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, até o ano
de 1759.
Um dos subtemas em que se enquadra a presente proposta vem a ser a dinâmica da
reprodução dos marcos colonizadores na atualidade, visto que ao fazermos uma retrospectiva
na história (lida a contrapelos), intentamos compreender alguns fenômenos contemporâneos
(nos quais as diferenças entre os povos são transformadas de maneira equivocada em juízos
de valor). O movimento de colonização, pelo qual passaram países/territórios periféricos,
ultrapassou os fatores econômicos e religiosos, acabando por “criar” formas hegemônicas de
conhecimento, padrões exclusivos de cultura e, consequentemente olhares preconceitusos a
respeito das culturas que fogem a esses padrões estabelecidos.
Por meio desta pesquisa, buscamos refutar a visão hegemônica de índio (genérico) e as
tradições eurocêntricas que nela se respaldam, defendendo uma educação de fato intercultural
e dialógica capaz de internalizar o conceito/premissa “identificação”, proposto por Hall, que
possibilita a um não-índio se unir à luta dos povos indígenas, os identificando como legítimo
outro.
As linhas que se seguem procuram esboçar algumas questões importantes à discussão
da questão do corpo, da corporeidade, na educação encarada como o que constitui o ser
humano – que se pretende íntegro, porque inteiro – produtor das “qualidades do corpo na
interação com os outros e na imersão no campo simbólico” (LE BRETON, 2007, p. 18-19).
Apropriamo-nos do tripé corpo/educação/cultura presente na tese de Grando, tendo em
vista que esta se caracteriza por “discutir como se constitui a identidade a partir das práticas
corporais” (2009, p. 19), questão que auxilia na compreensão da educação do corpo e vai
além do engrama motor (memória motora), mas por ele também passa deixando marcas.
Retomando Marcel Mauss, Grando trabalha o corpo entendido como “o lugar do aprendizado
social” (ib., p. 26) e afirma serem a educação e a instrução configuradas, nas sociedades
indígenas, como “parte de um mesmo processo de formação de cada pessoa” (ib., p. 32).
Segundo ela:
A “educação do corpo”, no sentido de educação da pessoa, visível nas sociedades
indígenas, mas não facilmente identificada pela sociedade moderna, ocorre no
cotidiano das relações sociais. Essa educação marca muito mais profundamente a
criança do que as outras formas de educação. Nas sociedades indígenas essa
educação, “invisível aos olhos” de um observador desatento, ocorre ainda antes do
nascimento da criança e continua por toda a vida e varia de sociedade para sociedade
(GRANDO, 2009, p.33).

Outro aspecto deste estudo reside na abordagem qualitativa. Daí entendermos a
colonização como um processo dialético envolvendo vencedores e dominados. Por essa razão,
percorremos o caminho da Filosofia da História, traçado por Walter Benjamin, na qual é
possível reconstruir a história na contramão, escovada a contrapelo, procurando dar voz
àqueles que foram emudecidos.
O passado traz consigo um índice misterioso, que o impele à redenção. Pois
não somos tocados por um sopro do ar que foi respirado antes? Não existem,
nas vozes que escutamos, ecos de vozes que emudeceram? Não têm as
mulheres que cortejamos irmãs que elas não chegaram a conhecer? Se assim
é, existe um encontro secreto, marcado entre as gerações precedentes e a
nossa. Alguém na terra está à nossa espera. Nesse caso, como a cada
geração, foi-nos concedida uma frágil força messiânica para a qual o passado
dirige um apelo. Esse apelo não pode ser rejeitado impunemente. O
materialista histórico sabe disso (BENJAMIN, 1994, p. 223).
Encontramos em Benjamin o respaldo teórico que entrelaça cultura, memória e
narrações, permitindo pensar não somente a importância da tradição de uma sociedade, mas
também a capacidade de criação contida nestes elementos. Ele considera a história a partir de
um ponto de vista diferente do habitual, enveredando para a importância de pensarmos a
cultural plural, estabelecida por meio de uma rede complexa das diferenças e das relações
sociais dinâmicas.
Nesse sentido, a educação vem a ser entendida como o território mais motivado da
cultura, na medida em que tudo o que existe disponível e criado em determinada cultura como
conhecimento desenvolve-se a partir de processos interpessoais e de mediação adquiridos por
meio da experiência pessoal com o mundo e/ou com o outro. Daí surgirem,
concomitantemente, a educação e as formas sociais de condução e controle da aventura de
ensinar-e-aprender, como bem explica Carlos Rodrigues Brandão:
Tudo o que se sabe aos poucos se adquire por viver muitas e diferentes situações de
trocas entre pessoas, com o corpo, com a consciência, com o corpo-e-a-consciência.
As pessoas convivem umas com as outras e o saber flui, pelos atos de quem sabe-e-
faz, para quem não-sabe-e-aprende (1981, p. 7).
Brandão afirma que a ocorrência de situações pedagógicas se faz presente em todos os
grupos humanos, sendo por meio das trocas sociais – capazes de socializar crianças e
adolescentes – que são engendradas diversos tipos de treinamento, como, por exemplo, o
“direto de habilidades corporais, por meio da prática direta dos atos que conduzem o corpo ao
hábito” (ib., p. 9).
Sobre a educação proposta pela Companhia de Jesus, utilizamos algumas fontes
primárias e secundárias da questão indígena, demarcadas a partir do século XVI e pesquisadas
em grande parte no acervo da Fundação Biblioteca Nacional, tais como as obras de Serafim
Leite e de alguns padres (como José de Anchieta e Manuel da Nóbrega), suas descrições e
apontamentos sobre a corporeidade indígena, além de registros de viajantes, sobretudo os de
Jean de Léry (1534-1611), pastor calvinista francês, sobre a terra e os índios, seus costumes e
vidas nas aldeias e os conflitos com os colonizadores (materiais contidos em cartas,
correspondências, mapas e notas antropológicas a respeito das visões e impressões sobre a
participação dos franceses na conquista do Brasil, disponíveis no livro História de uma
viagem feita à terra do Brasil, também chamada América, 2009). Desse vasto material

procuramos apontar as concepções de corporeidade contidas no discurso do europeu a
respeito dos indígenas brasileiros.
Assim sendo, com o fim de ratificar essas concepções de corporeidade ameríndia,
tratadas inclusive nas cartas endereçadas à metrópole, a pesquisa também utiliza fontes
iconográficas retratadas pelos artistas europeus que, a partir do século XVI, viajavam para a
colônia, em diversas expedições com o intuito de documentar o que nela encontravam. São
xilogravuras, calcogravuras, aquarelas, entre outras técnicas, que representam os “primeiros
registros do Brasil sob influência da cultura europeia”, uma produção que “pode ser
considerada como parte da História da Arte Brasileira, sendo uma fonte ainda inesgotada e
merecedora de investigação”, como declaram Raisa Ariane Bonani e Joedy Luciana Barros
Marins Bamonte (2010), no texto “O desenho de artistas europeus no Brasil: século XVI”.
Ainda, segundo as autoras,
Estas ilustrações, ao serem analisadas, possibilitam a compreensão do estilo do
desenho inicialmente implantado no Brasil, que mesmo não sendo renascentista
ainda apresenta certas características do período, como por exemplo, a influência na
proporção, mimeses e a presença de figuras ilusórias que representam deuses
baseados na cultura da mitologia grega. Também é muito interessante a visão
européia expressa nestas produções, destacando-se as representações dos indígenas
em tribos canibais e animais representados como monstros, demonstrando o receio
que os europeus possuíam em relação ao Novo Mundo descoberto (BONANI,
BAMONTE; 2010, p. 1).
As representações corpóreas dos indígenas construídas pelos artistas viajantes, ainda
que talvez ausente de fidedignidade ao observado (porque são caracterizações e descrições
construídas a partir única e exclusivamente do olhar do colonizador), podem revelar
significativas concepções e olhares acerca dos inúmeros povos indígenas que aqui habitavam.
Evidentemente não são as visões desses viajantes os únicos documentos possíveis de análise.
Há uma infinidade de fontes a serem exploradas, incluindo as fontes iconográficas.
Nesse sentido, procuramos pensar o conceito de cultura como “força que age e que
também é resultante de ações”, compreendendo que as pessoas compartilham símbolos, sendo
a construção do outro – alteridade afirmada – fruto de processos de negociações de sentidos
“em que cultura e identidade cultural estão em contínua efervescência, como espaços inscritos
e como história de atores sociais dentro de uma temporalidade” (MACEDO, 2006, p. 25).
Nossa intenção foi começar a trilhar o campo dos saberes fronteiriços entre a
Antropologia e a Educação, construindo simultaneamente o entendimento do fenômeno da
corporeidade, por Freitas conceituado “unidade expressiva da existência”, que Cupolillo
sugere ser “uma importante dimensão humana de expressão e tessitura de conhecimentos
desconhecidos e/ou desconsiderados pela escola” (2007, p 19), visto que
O corpo é, portanto, a presença física marcante de qualquer ser vivo. Apesar de
muitas vezes desqualificado, não é possível ignorá-lo. Através dele marcamos nossa
presença no mundo, tornando nossa realidade concreta e aparente (CUPOLILLO,
2007, p. 34).
Questionando a dicotomia corpo/mente, a autora tece relevantes considerações para
este estudo, principalmente por perceber no corpo as suas dimensões sócio-antropológicas,
históricas e simbólicas, às quais são capazes de lhe atribuir diferentes significados e inserções
no mundo.
Encontramos na pesquisa etnográfica alguns procedimentos que são, de certa forma,
relevantes para o trabalho em questão, pois esta

visa compreender, na sua cotidianidade, os processos do dia-a-dia em suas diversas
modalidades. Trata-se de um mergulho no microssocial, olhado com uma lente de
aumento. Aplica métodos e técnicas compatíveis com a abordagem qualitativa.
Utiliza-se do método etnográfico, descritivo por excelência (SEVERINO, 2007, p.
119).
A esta forma de pensar/fazer pesquisa somamos a modalidade intitulada etnopesquisa
crítica, que “nasce da inspiração e da tradição etnográfica, mas se diferencia quando exercita
uma hermenêutica de natureza sociofenomenológica e crítica, produzindo conhecimento
indexado, um conceito caro à teorização etnometodológica, sua inspiração teórica fundante”
(MACEDO, 2006, p. 9).
Sobre o modo de fazer/pensar a pesquisa não esboçamos qualquer novidade. Mas
partimos de colocações já discutidas por autores como Boaventura de Sousa Santos, para o
qual “em ciência, nada é dado, tudo se constrói”. Ou seja, a ciência é elaborada por homens e
mulheres, fato que demonstra sua transitividade e inacabamento. Ela corresponde a uma
atividade eminentemente humana, por isso passível de conter erros, podendo ser revista,
aprimorada.
Para Boaventura, “todo o conhecimento é socialmente construído”, “o seu rigor tem
limites inultrapassáveis” e sua “atividade não implica a sua neutralidade”. Sua posição
epistemológica é antipositivista, sendo sua defesa pelo “paradigma emergente”, em que ele
atribui “às ciências sociais antipositivistas uma nova centralidade”, e defende que “a ciência,
em geral, depois de ter rompido com o senso comum, deve transformar-se num novo e mais
esclarecido senso comum” (SANTOS, 2004, p. 09).
Se retomamos alguns princípios da etnopesquisa crítica (etnopesquisa formação), é por
entendermos que os sujeitos do estudo não são um produto descartável de valor meramente
utilitarista, não são idiotas culturais. Caracterizada por Roberto Sidnei Macedo como “modo
intercrítico de se fazer pesquisa antropossocial e educacional” (2006, p. 10), a etnopesquisa
crítica possibilita pensar na educação como prazer estético e também desafio criativo,
podendo evidenciar a relevância do fenômeno corporeidade, cujo alcance teórico permite
romper com a ilusão dualista de mente/corpo e enxergar/fazer valer, deste modo, o poder
criador, o qual “outorga à prática a possibilidade de criar formas de poder emancipador”
(RUIZ, 2004, p. 11). Não sendo um possuidor de seu corpo, mas sendo seu próprio corpo.
O que nos exorta à pesquisa é considerar o corpo como “vetor semântico” – conceito
tomado de empréstimo de David Le Breton – cujas acepções estão contidas nos processos de
escolarização e subjetivação, enfim, na experiência cotidiana. Entender o estatuto do corpo na
contemporaneidade exige saber olhar os homens e mulheres que são os seus corpos. É
justamente por conta disto que os trabalhos do antropólogo francês influenciam
significativamente os estudos sobre o corpo – como emblema do self – e a corporeidade – e as
suas acepções sobre os usos das marcas corporais. Interessa-nos “o corpo que pensa, que fala
e que reivindica”, mencionado por Marco Antônio Gonçalves. Por essa razão também
valorizamos o simbolismo do corpo na cultura indígena, em que o corpo é mais do que algo
fabricado, constituído pela sociedade.
O corpo é matéria-prima, suporte das pinturas, das máscaras e dos adornos, podendo
ele próprio ser transformado em troféu de guerra: cabeça reduzida, ícone da
modelação corporal e transformação cultural que sofre o corpo. Se a doença e a
morte encerram o ciclo vital da corporalidade, apontam, também, para direções que
transcendem a materialidade corporal. As viagens do xamã para curar o corpo
doente descortinam outros mundos, outros céus: dos espíritos, do depois da morte.
Morrer é se transformar em onça imortal, é não morrer, é reviver através de outra
forma de materialidade corporal (GONÇALVES, Marco Antônio. O simbolismo do
corpo na cultura indígena. In: Folder da exposição “Corpo e Alma Indígena”).

Nesse contexto, a pintura corporal é um tipo entre as inúmeras inscrições que, segundo
Le Breton, “preenchem funções diferentes em cada sociedade” (2007, p. 59). A marcação
social e cultural do corpo – que “pode se completar pela escrita direta do coletivo na pele do
ator [social]” –, para o antropólogo, integra “simbolicamente o homem no interior da
comunidade, do clã, separando-o dos homens de outras comunidades ou de outros clãs e ao
mesmo tempo da natureza que o cerca” (ib., p. 60).
Em função disso, apropriamo-nos das leituras de Tania Dauster, por seu olhar
antropológico no campo pedagógico, pensando a formação de um profissional apto, entre
outras coisas, “a ultrapassar estereótipos e preparado para compreender a diferença e a
especificidade de um determinado universo social em seu contexto”. Um especialista que seja
capaz de “desenvolver o seu potencial para apreender maneiras de sentir, pensar e se fazer
distintas daquelas que não são suas” (DAUSTER, 2007, p. 15). O poder de análise e a vasta
aquisição do referencial teórico são imprescindíveis, contudo é necessário também perceber
as razões do corpo-sujeito:
É que o corpo tem razões que a didática ignora. Vomitar é doença ou é saúde?
Quando o estômago está embrulhado, aquela terrível sensação de enjoo, todo mundo
sabe que o dedo no fundo da garganta provocará a contração desagradável, mas
saudável. Fora com a coisa que violenta o corpo! Nietzsche dizia em certo lugar (não
consegui encontrar a citação) que ele amava os estômagos recalcitrantes, exigentes,
que escolhiam a comida, e detestava os avestruzes, capazes de passar em todos os
testes de inteligência, por sua habilidade de engolir tudo. Estômago exigente, capaz
de resistir e de vomitar. Em cada vômito uma denúncia: a comida é imprópria para a
vida (ALVES, 2002, p. 73).
Rubem Alves, em sua belíssima (e transgressora!) fábula O currículo dos
urubus, fala do “desejo do corpo que se oferece à educação”. Tal alegoria pode ser traduzida
da seguinte forma: uma educação que nega o corpo está na realidade anulando o próprio
sujeito, visto que “pelo viés do corpo que somos, nós fruímos de um acesso à realidade
profunda de todas as coisas e do mundo em sua totalidade: esse ser profundo e dinâmico é
vontade” (HOTTOIS, 2008, p 289). Ao se aproximar do estilo e das metáforas, Alves
compartilha com Nietzsche – cujos aforismos unem filosofia e literatura – “uma linguagem
metafórica para um real plurívoco” (ib., p. 290).
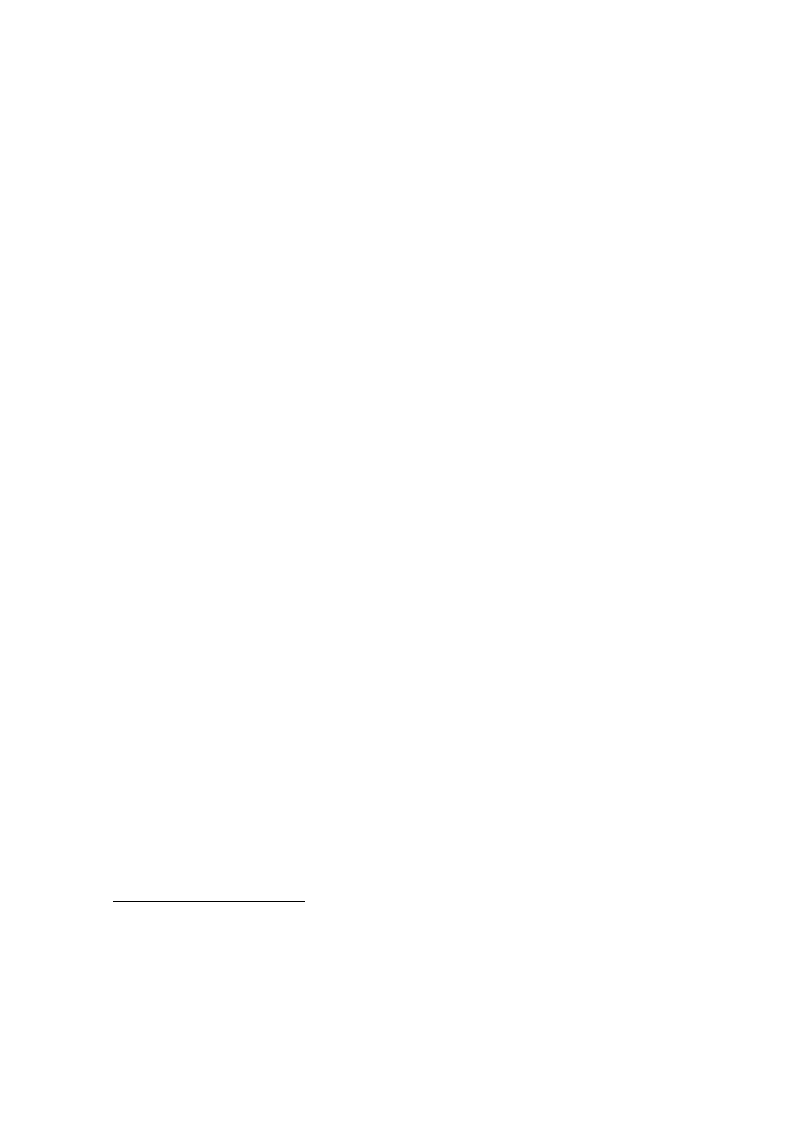
Capítulo 1: Por que a questão do corpo na pesquisa em educação4?
Quando cheguei ao Xingu, vinha de uma tradição (reforçada por minha educação
jesuítica) que ensinava que o corpo era uma coisa insignificante, em todos os sentidos
da palavra.
(Eduardo Viveiros de Castro)
Mas a corporalidade tem, de facto, importância como categoria unificadora da
existência humana. Assim, a apropriação social da corporalidade é o protótipo de
toda a produção social; a pessoa constituída por uma subjectividade socializada e
incorporada é o protótipo de todos os produtos. O "corpo socialmente informado"
(Bourdieu 1977) age como produtor e produto neste processo de apropriação.
(Miguel Vale de Almeida)
Quando um homem não encontra a si mesmo, não encontra a nada.
(Goethe)
Pise macio porque você está pisando nos meus sonhos.
(William Butler Yeats)
Além das epígrafes dispostas acima, uma ideia de David Le Breton marca significativa
presença em meus pensamentos e estudos: “Antes de qualquer coisa, a existência é corporal”
(2007, p. 7). E apesar de seu significado se mostrar inesgotável para mim, encontro nela a
força do leitmotiv (motivo central) da presente pesquisa e de todos os meus estudos anteriores.
A entendo como uma forma de reforçar a premissa de que toda educação é educação do
corpo, “no sentido de educação da pessoa”, algo “visível nas sociedades indígenas” (e não
somente nelas!), de que fala a professora Beleni Saléte Grando (UFMT). Essa noção de corpo
abrange o que somos, nossos prazeres e desprazeres, angústia e gozo, pulsão de vida e
também de morte, enfraquecimento e coragem; tudo isso junto e muito mais.
Com as primeiras leituras de Viveiros de Castro encontrei a exortação de que
precisava para seguir adiante nesse projeto de narrar/defender a significância do corpo
(corporeidade/corporalidade) – subvertendo a tradição da educação jesuítica – nas sociedades
humanas e, sobretudo, nos processos educacionais das escolas indígenas. Tal animação (alma,
de fato!) só fez aumentar, quando identifiquei o que neste momento apresento (em linhas
traçadas com grande carga afetiva) ser menos uma pesquisa e mais uma espécie de
aquecimento metodológico.
O tema do corpo5 neste estudo surge como questão teórica fundamental por dois
motivos, sendo que ambos estão ligados à curiosidade epistemológica da autora e intimamente
imbricados6. Um tem a ver com as experiências corpóreas7 que cada pessoa possui,
deflagradoras de sua subjetividade; e o outro com o contexto de grupo que faz desse ser um
sujeito sócio-histórico. De certo, ambos relacionam-se às marcas e mensagens (os discursos)
do corpo – que fala, inclusive quando silenciado.
4 Outro título possível para este item poderia ser: Digressões acerca da emergência dos estudos da corporeidade
na pesquisa em educação. Neste texto procuro apresentar o meu envolvimento com a temática do corpo.
5 Apropriamo-nos da ideia foucaultiana de corpo como superfície de inscrição dos acontecimentos e também
localizado na trama da história, marcado pelas exigências de sua época e de sua cultura.
6 Assumo o risco de algumas generalizações, mas procuro afirmá-las a partir de apropriações de Viveiros de
Castro (2011) a respeito de sua “elaboração da noção de ‘perspectivismo ameríndio’” (p. 480).
7 Experiências e contexto que interferiram na minha escolha de cursar licenciatura em Letras (Língua Portuguesa
e Literaturas Brasileira e Africanas) e Educação Física, reforçando a necessidade de entendimento da
corporeidade/corporalidade no cerne da linguagem (linguagens) humanas.
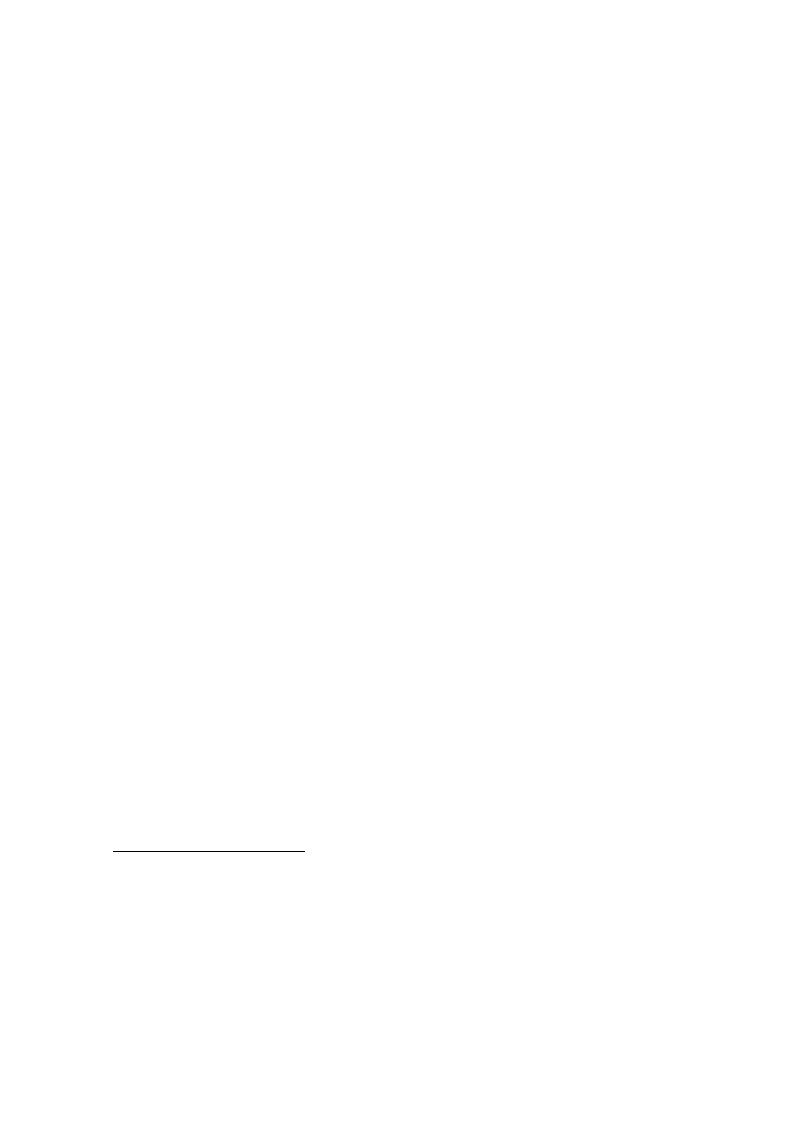
À referida curiosidade, somou-se o interesse pelas comunidades tradicionais, mais
especificamente os povos indígenas, por identificar – a partir dos diálogos com o professor
Aloisio Monteiro8 (UFRRJ) – o quanto poderia/posso aprender sobre a corporeidade e,
consequentemente, as diversas noções de pessoa e corpo. À corporalidade, agregam-se
qualidades sensíveis as quais são apreendidas no ou pelo corpo no mundo9.
Após o contato com o professor José Ribamar Bessa Freire (UERJ), o Referencial
Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI) fez-se texto relevante, passando a
constitui-se objeto de análise, precipuamente as menções e formas de o mesmo trabalhar as
questões da cultura corporal dos povos indígenas do Brasil. Segundo o referido documento,
“o corpo humano é um elemento central nas visões de mundo dos índios brasileiros; preparar
e educar o corpo é muito importante nas suas culturas” (RCNEI, 1998, p. 322). As variadas
práticas corpóreas compõem, inclusive, uma forma diferente de Educação Física, em
comparação à sociedade envolvente: é o caso do o banho de rio, os ensinamentos e as práticas
referentes à ornamentação e à pintura corporal, os ritos de iniciação (que envolvem
resguardos, corridas, danças e cantos), as maneiras adequadas de confeccionar artefatos,
plantar, caçar, pescar, entre outras. Formas de ser corpo que não podem ser ignoradas pelo
educador, sobretudo o professor de Educação Física [entendida de forma tanto] específica e
[quanto] intercultural.
Essa situação decorre do fato de os dispositivos dualistas de corpo fazerem parte da
nossa imagem de sociedade indígena, não correspondendo à realidade das comunidades
indígenas, às quais sequer podem ser analisadas como um grupo homogêneo10. As “oposições
binárias [...] eram consideradas a grande chave de abertura de qualquer sistema de
pensamento e ação indígenas” (VIVEIROS DE CASTRO, 2011, p. 477). E, felizmente, não
demorou muito para que os antropólogos perceberem a complexidade de interação entre as
dimensões (pelos não-índios identificadas como oposições) físico/moral, natural/cultural e
orgânico/sociológico. Sobre isso, o autor relata sua primeira experiência de pesquisa em uma
sociedade indígena.
O que me chamou a atenção foi o complexo da reclusão pubertária do Alto Xingu,
em que jovens têm o corpo literalmente fabricado, imaginado por meio de remédios,
de infusões e de certas técnicas de escarificação. Em suma, ficava claro que não
havia distinção entre o corporal e o social: o corporal era o social, e o social era o
corporal. Portanto, tratava-se de algo diferente da oposição entre natureza e cultura,
centro e periferia, interior e exterior, ego e inimigo (VIVEIROS DE CASTRO,
2011, p. 477).
A experiência do antropólogo com os Yawalapíti do Alto Xingu trouxe o tema do
corpo como questão teórica primordial em seus estudos iniciais. Identificando que naquela
etnia, “as coisas que consideramos como mentais, abstratas, lá eram escritas concretamente no
corpo11” (Ib. p. 477), ele atenta para a significativa diferença entre a cosmovisão dos
8 O professor Aloisio Jorge de Jesus Monteiro coordena o Núcleo de Estudos de Tradições Indígenas e
Negritudes – NETIN – da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) em parceria com o Programa
de Pós-graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares (PPGEduc/UFRRJ).
9 Ideia de Claude Lévi-Strauss, presente na obra Mitológicas. Informações em: LARAIA, Roque de Barros.
Claude Lévi-Strauss, quatro décadas depois: as mitológicas. Rev. bras. Ci. Soc. [online]. 2006, vol.21, n.60, p.
167-169.
10 Evidentemente, foram de grande importância o contato com índios de etnias variadas e as visitas às
comunidades indígenas, como a aldeia Sapukai, em Angra dos Reis, RJ, onde conhecemos a Escola Indígena
Estadual Guarani Karai Kuery Renda e conversamos com um de seus professores.
11 Encarado como significante, o corpo ou a corporalidade (na América do Sul) tornou-se pela primeira vez tema
de pesquisa, na obra Mitológicas, obra de Lévi-Strauss que trata da “lógica das qualidades sensíveis”,
“qualidades do mundo apreendidas no corpo ou pelo corpo: cheiros, cores, propriedades sensoriais e sensíveis.
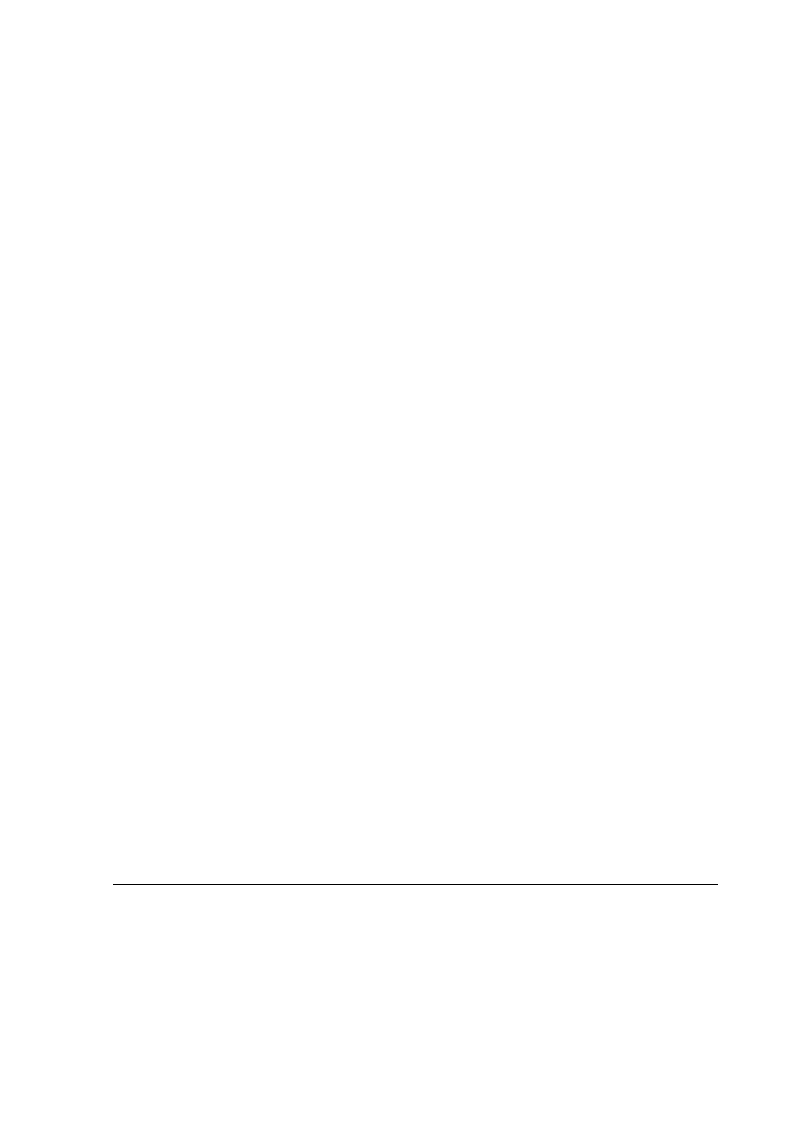
Yawalapíti e a da sociedade envolvente (a nossa visão de mundo). Carregamos uma cultura
em que a educação [e a Educação Física] tem servido ao controle dos corpos, mostrando
sobremaneira a necessidade de despirmo-nos de preconceitos e alguns tabus corporais.
Possuímos ainda certa dificuldade em ver o outro como ser legítimo e autêntico.
O corpo significa, então, o mesmo que a “totalidade/centralidade da pessoa, onde se
inscreve a cultura e se consolidada a integração a um grupo social específico por meio da
educação”, tal como defende Beleni Salete Grando (2009). A partir da autora, que constrói
suas ideias por meio do tripé corpo/educação/cultura, amplia-se o sentido (e importância)
deste estudo.
Nesse contexto, tecemos a costura da nossa questão central: a corporeidade presente
na educação escolar indígena, tomando especialmente as sociedades indígenas Tupinambá
(Brasil colônia), Wajãpi e povos Xinguanos12 (Brasil contemporâneo), suas concepções de
corpo, as cosmologias que apresentam. A retomada do período colonial foi relevante porque
representa a presença marcante de controle do corpo indígena (por parte da educação
jesuítica) em um primeiro momento de educação formal na história do Brasil. Acreditamos
que pensar o que e como deve ser a educação escolar indígena no país atualmente exige o
entendimento desse passado, e mesmo do desserviço da abordagem pedagógica jesuítica para
os povos indígenas. Faz-se necessário atuar em um processo de desconstrução das certezas
absolutas da Companhia de Jesus (e de toda uma concepção eurocêntrica de mundo).
Uma educação que se pretende emancipatória entende o corpo não como um composto
de duas partes distintas: um corpo (matéria, a substância extensa) e uma alma (espiritual, o
lado pensante, consciente do homem), visto que tal dualismo psicofísico apenas expõe o
quanto o homem possui dificuldade em ver claramente a si mesmo, fator que o aprisiona e
reprime. Superar essa dicotomia corpo-consciência requer ir além do corpo-carne, expressão
utilizada por Thérèse Bertherat, cuja pedagogia procura “fortalecer” o homem “pela ginástica
que se contenta com o adestramento forçado (desse corpo-carne) do corpo considerado sem
inteligência, como um animal a domar”. À educação cabe dar visibilidade ao corpo, pois por
meio dele o homem interage com o mundo e com os seus. Os corpos dos alunos revelam os
enigmas de suas existências, estas intimamente associadas à sua história de vida. Falar, pois,
em história do corpo, vem a ser traçar um locus da construção social do que hoje entendemos
sobre corpo, bem como corporeidade.
E por que corporeidade? A resposta está longe de ser única e simplista, mas carrega
consigo a complexidade e o inacabamento dos fenômenos plurais e dinâmicos. Péricles
Saremba Vieira e André Baggio desenvolvem uma argumentação que vem ao encontro de
nossas expectativas:
Por que corporeidade? O corpo comporta, historicamente, um imaginário do
disjuntivo e do fragmento. E, o que é pior, da parte menos valorizada.
Diferentemente dos atributos espirituais, das abstrações tidos como verdadeiramente
humanos. “O corpo é concebido como uma entidade somática fechada, que só revela
o tratamento químico” (MORIN; MOIGNE, 2001, 93). Mas quando falamos de
corporeidade não é mais possível entendê-la como constituída de elementos
Ele ali demonstrava como era possível a um pensamento articular proposições complexas sobre a realidade a
partir de categorias muito próximas da experiência concreta” (Ib. p. 477).
12 Dezesseis povos indígenas habitam o Parque Indígena do Xingu (PIX): Aweti, Ikpeng, Kawaiwete (Kaiabi),
Kalapalo, Kamaiurá, Kĩsêdjê (Suia), Kuikuro, Matipu, Mehinako, Nahukuá, Naruvotu, Wauja, Tapayuna,
Trumai, Yudja (Juruna), Yawalapiti. Localizado no Nordeste de Mato Grosso, em plena floresta amazônica, foi a
primeira terra de índios reconhecida e devolvida pelo governo federal aos antigos donos. Fonte: Almanaque
Socioambiental Parque Indígena do Xingu: 50 anos, elaborado pelo Instituto Socioambiental (ISA, 2011). Este
estudo não apresentará as manifestações corpóreas de cada uma dessas etnias, por tratar-se de um conteúdo
muito extenso; utilizaremos, assim, algumas das concepções de corpo contidas no Almanaque Socioambiental
xinguano.

químicos. A partir da corporeidade, os elementos químicos cedem lugar à
compreensão das reações químicas entre esses seus componentes. Entender a
corporeidade é, também, distanciar-se do paradigma natural-essencialista e inserir-se
no paradigma social-existencial. A construção da corporeidade só é possível pela
estimulação sócioecossistema. É preciso reconhecê-la na sua inserção com a
corporeidade cultural linguístico-ecossistêmica (VIEIRA; BAGGIO, 200413).
Os autores consideram que trabalhar com a corporeidade requer uma mudança de
paradigma, mudança dos valores vigentes em nossa sociedade cuja visão de mundo opta pelo
domínio da natureza em detrimento da harmonia com a Natureza; considera o ser humano
superior aos demais seres vivos em vez de entender que há igualdade entre as espécies
diferentes; aposta em um ambiente natural como recurso para os seres humanos, no lugar de
perceber que toda a natureza possui valor intrínseco; confia no crescimento econômico e
material como base para o crescimento humano, em vez de ver os objetivos materiais a
serviço de objetivos maiores de auto-realização. Essas são algumas das diferenças entre as
visões de mundo, intituladas por Fritjof Capra “Ecologia rasa” e a “Ecologia Profunda”. Em
suas palavras,
O novo paradigma pode ser chamado de uma visão de mundo holística [...] que
concebe o mundo como um todo integrado, e não como uma coleção de partes
dissociadas. Pode também ser denominado visão ecológica, se o termo “ecológica”
for empregado num sentido muito mais amplo e mais profundo que o usual. A
percepção ecológica profunda reconhece a interdependência fundamental de todos
os fenômenos, e o fato de que, enquanto indivíduos e sociedade estamos todos
encaixados nos processos cíclicos da natureza (e, em última análise, somos
dependentes desses processos) (CAPRA, 1996, p. 20).
Além de mencionar que a expressão “ecológico” deve ser concebida num sentido mais
amplo do que o habitual, Fritjof Capra difere sutilmente os termos “holístico” e “ecológico” e
diz que o segundo é “um pouco mais apropriado para descrever o novo paradigma” (CAPRA,
1996, p. 20). A visão holística, segundo ele, vê o todo funcional daquilo que analisa
compreendendo a interdependência de suas partes; já a visão ecológica inclui as
características da holística acrescentando-lhe como o objeto analisado se encaixa em seu”
mais importante ao tratarmos dos sistemas vivos “para os quais as conexões com o meio
ambiente são muito mais vitais”.
A “Ecologia Profunda” aponta ambiente natural e social etc. Soma-se a isso o fato de
ser a distinção entre “holístico” e “ecológico para o fato de não podermos entender os
problemas de nossa época isoladamente, uma vez que são problemas sistêmicos e por isso
devem ser analisados de maneira interligada, interdependente. Os exemplos dados por Capra
são inúmeros, tais como: primeiro, a pobreza deve der reduzida para que se estabilize a
população; segundo, enquanto o Hemisfério meridional estiver sob o fardo de enormes
dívidas permanecerá em escala massiva a extinção de espécies animais e vegetais; terceiro, o
colapso das comunidades locais e a violência étnica e tribal (característica mais significativa
da era pós guerra fria) são consequência da escassez dos recursos e da degradação do meio
ambiente combinados com populações em rápida expansão. Todos esses problemas devem ser
vistos, segundo Capra,
13 VIEIRA; BAGGIO. Complexidade, corporeidade e Educação Física. Disponível:
<http://www.efdeportes.com>. Acesso: jan. 2012. Revista Digital - Buenos Aires - Año 10 - N° 74 - Julio de
2004.

[...] como diferentes facetas de uma única crise, que é, em grande média, uma crise
de percepção. Ela deriva do fato de que a maioria de nós, em especial nossas grandes
instituições sociais, concordam com os conceitos de uma visão de mundo obsoleta,
uma percepção da realidade inadequada para lidarmos com nosso mundo
superpovoado e globalmente interligado (Ib.,, 1996, p. 21).
Essa crise de percepção é, poderíamos dizer, muito semelhante senão a mesma crise
que assola a vida humana completa, sendo um empecilho à nossa compreensão de nós
mesmos, à nossa emancipação. Capra diz ainda que há solução para os principais problemas
de nosso tempo, mas alerta a urgência de mudarmos nossa percepção, nosso pensamento e
nossos valores:
E, de fato, estamos agora no princípio desta mudança fundamental de visão do
mundo na ciência e na sociedade, uma mudança de paradigma tão radical como o foi
a revolução copernicana. Porém, essa compreensão ainda não despontou entre a
maioria dos nossos líderes políticos. O reconhecimento de que é necessária uma
profunda mudança de percepção e de pensamento para garantir a nossa
sobrevivência ainda não atingiu a maioria dos líderes das nossas corporações, nem
os administradores e os professores de nossas grandes universidades (Ib.,, 1996, p.
21).
O ponto de vista sistêmico, de acordo com Capra, prevê as soluções sustentáveis como
as únicas possíveis para garantir a nossa sobrevivência, para tanto baseia-se na definição de
Lester Brown, do Worldwatch Institute: “Uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz
suas necessidades sem diminuir as perspectivas das gerações futuras” com a qual corrobora
dizendo que o grande desafio do nosso tempo é a criação de ambientes sociais e culturais que
satisfaçam as nossas necessidades e aspirações humanas sem diminuir as chances das
gerações futuras.
O paradigma que está agora retrocedendo dominou a nossa cultura por várias
centenas de anos, durante as quais modelou nossa moderna sociedade ocidental e
influenciou significativamente o restante do mundo. Esse paradigma consiste em
várias ideias e valores entrincheirados, entre os quais a visão do universo como um
sistema mecânico composto de blocos de construção elementares, a visão do corpo
humano como uma máquina [grifo nosso], a visão da vida em sociedade como uma
luta competitiva pela existência, a crença no progresso material ilimitado, a ser
obtido por intermédio de crescimento econômico e tecnológico, e – por fim, mas não
menos importante – a crença em que uma sociedade na qual a mulher é, por toda a
parte, classificada em posição inferior à do homem é uma sociedade que segue uma
lei básica da natureza. Todas essas suposições têm sido decisivamente desafiadas
por eventos recentes. E, na verdade, está ocorrendo, na atualidade, uma revisão
radical dessas suposições (Ib.,, 1996, p. 22).
Vê-se que o paradigma da ecologia rasa trabalha com dualidades, antagonismos, que
fragmentam todas as coisas dispostas no universo, tendo como resultado a limitação do campo
de análise. O mesmo problema ocorre com as questões relativas ao corpossujeito, as quais
também são reduzidas e identificadas com o mesmo olhar dualista, fragmentado. O corpo
sofre com a sua divisão (separação do eu) e uma característica bastante contundente é a perda
ou o não entendimento da qualidade do contato, dos relacionamentos. Ou do que Leonardo
Boff chama cuidado, em seu texto “O cuidado essencial: princípio de um novo ethos14”. Ao
analisar o conceito de cuidado faz referência à “crise ecológica e civilizacional” pela qual
14 BOFF, Leonardo. O cuidado essencial: princípio de um novo ethos. In: Inclusão Social, Brasília, v. 1, n. 1, p.
28-35, out./mar., 2005.
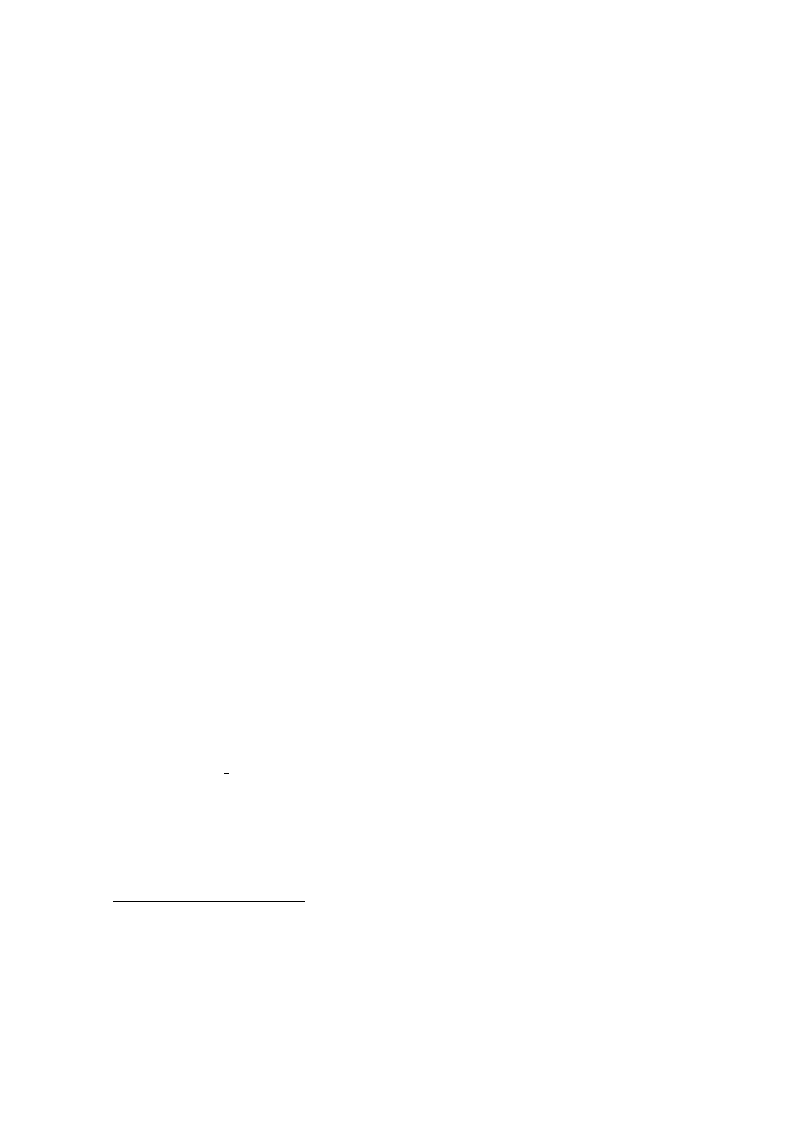
passamos e atenta para a questão do cuidar como o que faz vir à tona o que há de mais
humano em nós – “Sem cuidado, deixamos de ser humanos” (2005, p. 28), diz ele.
Identificamos certa semelhança e diálogo entre o termo corporeidade e o paradigma
sistêmico (paradigma da ecologia profunda), de Capra. Ambos abdicam do olhar
fragmentador acerca do corpo, tal como o poema de Walt Withman (1819-1892) que prefere
cantar a musa em sua valiosa completude, entendendo corpo como nossa única realidade
perceptível (BERTHERAT, 1977, p. 14):
Eu canto o Corpo
Da cabeça aos pés:
Nem só o cérebro
Nem só a fisionomia
Tem valor para a Musa
– digo que a forma completa
é muito mais valiosa,
e tanto a Fêmea quanto o Macho
eu canto.
A vida plena de paixão,
Força e pulsam,
Preparada para as ações mais livres
Com suas leis divinas
– O Homem Moderno
eu canto.
Talvez a poesia explique melhor a corporeidade, a complexidade e integralidade
humana; o processo por meio do qual o corpo entende-se corporeidade15: a união unívoca de
sua existência que o permite sentir/pensar/agir. Giovanina Gomes de Freitas, em seu livro O
esquema corporal, a imagem corporal, a consciência corporal e a corporeidade, afirma: “o
que marca o humano são as relações dialéticas entre esse corpo, essa alma e o mundo no qual
se manifestam, relações que transformam o corpo humano numa corporeidade, ou seja, numa
unidade expressiva da existência (FREITAS, 2004, p. 52).
Marta Genú Soares Aragão em sua tese Ressignificação do movimento em práticas
escolares: O diálogo, a consciência, a intencionalidade revela interesse em construir uma
pesquisa partindo do entendimento de que uma nova concepção de mundo aflora via
corporeidade-motricidade, concepção originada pelo amadurecimento teórico resultante de
múltiplos saberes dispostos de forma transdisciplinar. Nota-se bem no texto da autora a
influência de um olhar transdisciplinar presente nas definições tais como a alusiva ao termo
corporeidade:
A corporeidade é um conceito e um fenômeno. Conceito porque traduz
epistemologicamente o evento do sujeito histórico. Fenômeno porque caracteriza a
ação humana no contexto social. Como fenômeno e evento social que o sujeito
constrói na relação com o meio em que vive, envolve as dimensões humanas. Os
aspectos humanos desenvolvidos durante o processo de maturação (biológico) e
15 “A capacidade de o indivíduo sentir e utilizar o corpo como ferramenta de manifestação e interação com o
mundo chamamos de corporeidade. É a maneira pela qual o cérebro reconhece e utiliza o corpo como
instrumento relacional com o mundo. Se constrói no emaranhado das relações sócio-históricas e traz em si a
marca da individualidade, não termina nos limites que anatomia e a fisiologia lhe impõem. Portanto, a
corporeidade é a inserção de um corpo humano em um mundo significativo, a relação dialética do corpo consigo
mesmo, com os outros corpos e com objetos do seu mundo” (OLIVIER, 1999). Sobre isso, ler o texto de Sigrid
Augusta Busellato Nora: Um lugar para o corpo [POÉTICO] sensível na Educação Física da UCS (RS),
disponível na revista DO CORPO: Ciências e Artes, Caxias do Sul, v. 1, n. 1, jul./dez. 2011. Nora desenvolve
sua pesquisa a partir do entendimento de corpo como território biocultural.

socialização (cultura) constituem as dimensões humanas nomeadas como social,
política, emocional, biológica e cultural (GENÚ, 200716).
Segundo Marta Genú, a consciência corpórea é um constituinte do próprio processo de
conscientização que, por conseguinte, constrói a identidade do sujeito contribuindo para seu
autoconhecimento e para sua compreensão ser que se constrói na interação, estabelecendo,
via movimento experimentado/vivido, correlações cognitivas. Destarte ela considera que “é no
fluxo da ação-cognição que se dá a formação de ‘corpo inteiro’”.
A linguagem, o diálogo e a ação coletiva, são elementos constitutivos da
aprendizagem que, propiciam o processo de conscientização, qualquer que seja a
linguagem. Pela linguagem corpórea, nas práticas corporais, há que se buscar uma
consciência corpórea, na ação refletida e que, se traduza pela compreensão da
realidade a partir dos signos impressos nas corporeidades (as próprias histórias de
vida), na perspectiva da transformação dessa realidade pela transcendência
(superação de limites) (GENÚ, 2007).
Corporeidade, então, relaciona-se à história de vida que construímos por meio da
relação e das interações das manifestações psíquicas. O conceito liga-se à consciência
corpórea, que não cinde o sujeito e, o considera em todas as suas dimensões (sem reduzi-lo a
uma única): política, cultural e histórica; que representam a completude do fenômeno
humano. Na tentativa acertada dentro da postura questionadora de apresentar a corporeidade
(o corpo vivido), Marta Genú recorre à etimologia e às raízes morfológicas de palavras
pertencentes ao mesmo campo semântico do vocábulo corpo:
O termo “corpóreo” diferencia-se do corporal não só na grafia mas no sentido,
corpóreo, do latim, é o que tem corpo ou consistência e o corporal é tudo que
pertence ao corpo. Ter e pertencer refere diferentes qualidades. Meu corpo não me
pertence, no sentido dicotômico, porque sou corpo, tenho na minha unicidade corpo.
Merleau-Ponty (1999:237) ao analisar filosoficamente os dois termos, refere o ter no
sentido de propriedade e o ser como forma de existência, no entanto, para este autor
o ser se torna o sentido "fraco da existência" e o ter a designação da projeção, do
devir. Como há uma linguagem minha que é corporal, que me pertence porque
construída com minhas vivências e com minha história. Há um diálogo que é
corporal, isto é, quando os corpos dialogam entre si e trocam, por meio da
linguagem do gesto, experiências e aprendizagens corporais. Mas há um corpo que
tem conhecimento, de si, do outro, do contexto. É um corpo que na dinâmica das
construções é, em todas as dimensões. Portanto não é uma consciência que tem um
corpo, dicotomizado, cindido. É um corpo consciente, nas diferentes esferas; social,
simbólica, política. O sujeito não tem um corpo consciente, mas ele é consciente de
seu corpo, na medida que desperta de si, com o outro, no mundo (GENÚ, 2007).
A corporeidade que somos é um corpo intencional, nossa expressão no mundo. O
corpo em sua melhor acepção, corpo que busca harmonia, equilíbrio, autonomia; também um
corpo que guarda as marcas de sua história, muitas vezes, transparecida por meio de rigidez,
retração, dores musculares, respiração não natural:
A corporeidade que é construída desde a concepção e estende-se ao longo da vida,
inicia-se no desenvolvimento intra-uterino e adquire consistência no decorrer da
história de vida de cada um. Não temos uma corporeidade, somos corporeidade na
16 A corporeidade e as dimensões humanas, de Marta Genú Soares Aragão (UEPA); texto produzido para o
Ciclo de debates promovido pela a PROEX/UEPA em 21.06.2007.
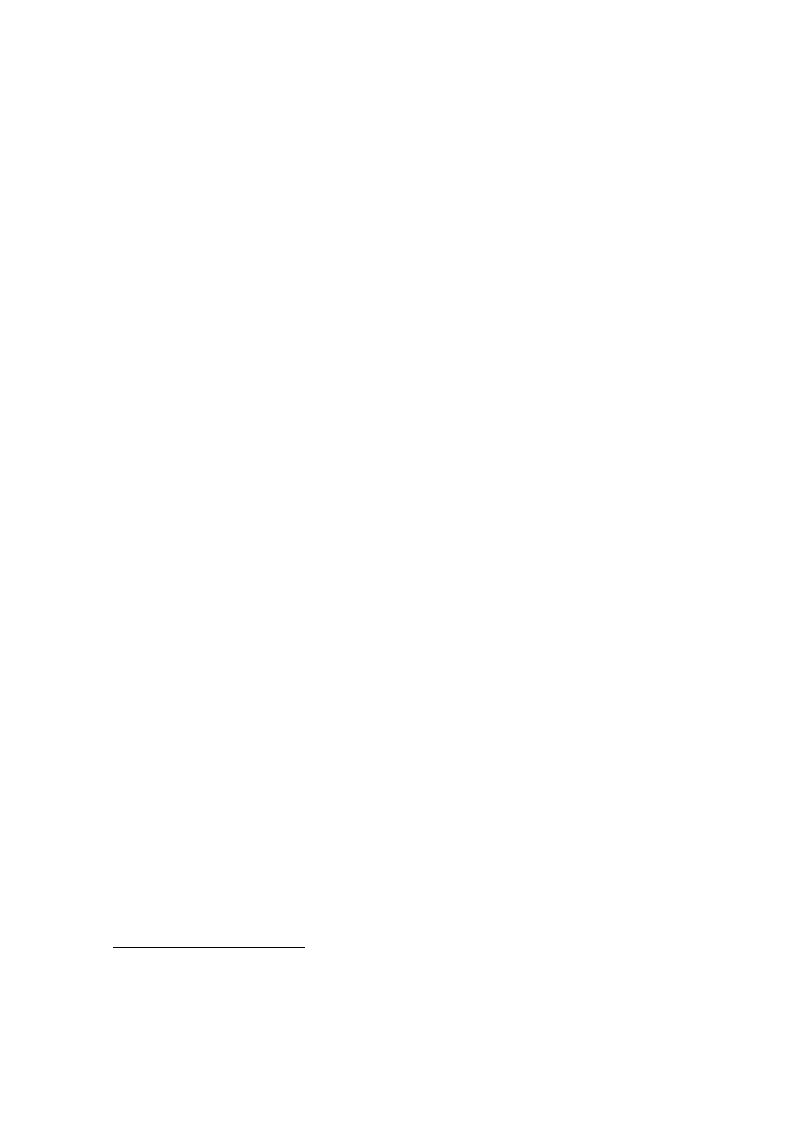
relação com o outro, no desenvolvimento de nosso ser. Precisamos ter consciência
disso. Muitas vezes a aprendizagem corpórea se dá de forma tão intuitiva que não
acontece conscientemente (GENÚ, 2007).
A unidade expressiva da existência humana, ou seja, a corporeidade, segundo David
Le Breton possui inúmeras abordagens críticas seja em sociologia ou em outras ciências que
“tomam a dimensão política como centro organizador da análise. Le Breton ao falar sobre a
existência de um controle político da corporeidade cita os trabalhos de Jean-Marie Brohm
cuja pretensão é mostrar que “qualquer política é imposta pela violência, pela coerção e pela
imposição sobre o corpo” (BROHM apud LE BRETON).
Mario Osorio Marques ao prefaciar o livro Educação Física: uma abordagem
filosófica da corporeidade, de Silvino Santin, refere-se ao homem como ser que realiza-se
como unidade de ser corpóreo movido pela intencionalidade. Indo mais além, o autor
menciona que em oposição à dualidade corpo-e-alma essa questão da corporeidade humana
pautada na história e na expressividade do ser – que, segundo ele, constrói-se ao expressar-se
na história e na linguagem e se expressa ao edificar-se no trabalho e na intersubjetividade – é
um dado fundamental para a reflexão filosófica a respeito da educação física na escola, sua
valoração, e para os movimentos expressivos do corpo. Todavia, ainda temos dificuldade em
reconhecermo-nos como um corpo integral, visto que a educação que recebemos (a do
“homem branco”, “não-índio”) desempenha um papel opressivo, juntamente com o meio
ambiente, achatando nossa “terceira dimensão e presença no espaço” (BERTHERAT, 1977, p.
187). Dificuldade que se deve à nossa ocidentalidade:
Como ocidentais, somos herdeiros da lógica binária, do princípio da identidade, da
lógica das contradições, e temos dificuldades para pensar em pluralismo, em
complexidade, em complementaridade. Estas dificuldades crescem quando
buscamos caminhos alternativos, que ajudem a construir trilhas para o entendimento
humano do mundo dos homens, sem necessariamente incorrer no irracionalismo.
Procuramos uma maneira de interpretar nossos espaços, de re-significar nossas
relações, na ânsia de suportar os temores, as angústias, o vazio do absurdo que
perpassa pelo mundo em que vivemos. Talvez seja por isso que as ciências humanas
e as ciências sociais estejam se afastando do cientificismo e alinhando suas
investigações na busca de sentidos para as ações humanas (MARQUES, 1987, p 37).
O termo corporeidade traz consigo a consciência corpórea do ser, a maneira como
pensa/sente/age no mundo, relaciona-se com os outros e com tudo o que o cerca. Tomando
como exemplo os poemas de Clã do Jaboti17, do escritor modernista Mário de Andrade, para
pensar a formação da cultura brasileira, encontramos a melhor expressão da corporeidade
(neste caso a brasileira): a nossa expressão muito engraçada, nosso sentimento pachorrento,
nosso jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir. Eis a melhor definição do termo
corporeidade: expressão de nossa existência, expressão bem melhor objetivada pelo lirismo
sem comedimentos do poeta; visceral no sentido de profundo. Por meio do entendimento da
abrangência conceitual (da corporeidade), o corpo vem a ser encarado como grande razão,
nomeação de Nietzsche (2010, p. 59) no livro Assim falou Zaratrusta, em que o autor revela o
aspecto monista do pensamento nietzschiano (Pinho, 2010, p. 41-42), onde alma e corpo não
17 Livro de poesia de 1927, constituindo-se uma compilação de poemas que falam de brasilidade, compondo o
projeto do Modernismo de (re)invenção do Brasil. Clã de Jaboti é apropriado pela cantora Maria Bethania, em
seu álbum Brasileirinho, onde nas canções Salve as folhas e Cabocla Jurema encontramos alguns dos mais belos
exemplos da estética do Modernismo brasileiro e dos vetores semânticos corpóreos de nossa cultura brasileira
(plural).

se opõem, não são contrários, mas sim a mesma coisa; a partir do resgate da subjetividade
corporal, Nietzsche, recupera “a nobreza dos instintos, o que levaria o ato de pensar a se
deixar guiar tanto pela sabedoria do organismo quanto pelo poderio dos sentidos” (Ib. 45). Os
autores utilizados nesta pesquisa auxiliam nessa tentativa de pensar o corpo localizado na
trama da história e capaz de produzir conhecimento. O nosso desejo, nesse contexto, é
levantar de certa forma a grande riqueza de saberes produzidos pelas culturas indígenas por
meio de um entendimento complexo de corpo (relacionado à alma), podendo auxiliar,
inclusive, em uma compreensão mais ampla de educação e formação humana.
Uma das intenções primeiras desta pesquisa é a de apresentar o corpo atribuindo-lhe
uma atenção histórica. E, nesse sentido, poder revelar a existência de um “ser humano total18”
(o que não significa entendê-lo como pronto, visto que somos seres inacabados, em
construção) sempre envolvido pela cultura e pela educação; um ator social dotado de valores e
maneiras de ser, ente sensível e corpóreo. A tarefa, sabemos, necessita também de certa
complexificação da noção de corpo. Este se metamorfoseia, possui suas próprias razões, é o
“ponto de fronteira”, fato que o faz estar no “centro da dinâmica cultural”. Ele está no
“cruzamento do invólucro individualizado com a experiência social, da referência subjetiva
com a norma coletiva” (CORBIN et al.;2008, p. 11).
Os índios possuíam hábitos demasiadamente distintos dos europeus: andavam nus,
banhavam-se várias vezes ao dia, alguns eram adeptos do canibalismo, entre outros costumes
vistos como animalescos, “selvagens”, pelos não-índios. Nesse contexto se deu a doutrinação
dos indígenas no século XVI, no Brasil, em que o “corpo depreciado do ser humano pecador”
estava ali presente e junto da “experiência religiosa” (GÉLIS, 2008, p. 20), na qual o discurso
cristão a respeito do corpo e das imagens que suscita são atravessados por uma ambiguidade,
como afirma Jacques Gélis, “um duplo movimento de enobrecimento e de menosprezo do
corpo” (ib., p. 20). Historicamente o corpo se singulariza, especificando funcionamentos
explicados por sua ‘própria força vital’ e exclusivamente por ela” (ib., p. 16). Suas questões
envolvem as indagações sobre a dicotomia corpo/mente, a desvalorização ou sua redução à
dimensão física (o corpo-carne), as concepções arbitrárias da igreja, a concepção do corpo do
rei, o canibalismo, a nudez sem nenhum pudor dos indígenas (em se tratando do Brasil
colonial). A educação jesuítica buscou deslocar o índio de sua cultura e de seu corpo,
utilizando uma pedagogia de controle do corpo e, consequentemente, rejeição de sua
expressividade e subjetividade, suas identidades.
18 Quando nos referimos à totalidade humana procuramos identificar sua unidade (abrangendo a importância da
motricidade, da afetividade, sensibilidade...), que possui em si mesma um caráter complexo. De modo algum
esgotamos essa questão, apenas defendemos a tentativa de um olhar holístico, profundo; algo que procura
aproximar-se ao monismo do filósofo Nietzsche, ao refutar os que desprezam o corpo e sua razão.

Capítulo 2. Concepções de corpo na sociedade indígena (Tupinambá, Wajãpi e Xingu)
[Corporeidade]: corpo vivido na sua totalidade, na sua unidade.
(Pierre Vayer)
O corpo: superfície de inscrição dos acontecimentos.
(Michel Foucault)
Claro que o corpo não é feito só para sofrer,
Mas para sofrer e gozar.
[...]
Meu prazer e transcendência,
És afinal meu ser interior e único.
[...]
Salve, meu corpo, minha estrutura de viver
e de cumprir os ritos do existir!
(Carlos Drummond de Andrade, “Missão do corpo”)
A história do Brasil data muito antes de Pedro Álvares Cabral chegar a essas terras,
visto que elas eram habitadas por vários povos, grupos que compartilhavam maneiras de ser
distintas entre si. Os arqueólogos calculam que entre 40 mil e 12 mil anos a. C. já existiam
grupos nômades, caçadores, pescadores vivendo aqui; provavelmente vindo da Austrália,
Oceania ou Ásia (GARCEZ, 2004, p. 12). O que confirma sua passagem são os registros
deixados em paredes e tetos de cavernas, os quais intitulam-se arte rupestre ou itacoatiaras –
as pinturas e gravuras, como as do Parque Nacional da Serra da Capivara, localizada em São
Raimundo Nonato, Piauí, ou as pinturas rupestres no painel da Pedra Pintada, em Barão de
Cocais, Minas Gerais. Encarregado de tombar esses registros, o Instituto do Patrimônio
Histórico Nacional (Iphan) visa a preservação desses espaços, ameaçados por inúmeras
formas de destruição.
Pouca coisa restou da cultura dos índios Tapajós, grande nação que habitava a região
de Santarém. [...] Em seu apogeu, a ilha de Marajó pode ter tido mais de 100 mil
habitantes. Entre eles havia diversos artistas, que fabricavam objetos cerâmicos
ricamente decorados, vasilhas, estatuetas, urnas funerárias e adornos. Esses objetos
sugerem que a cultura marajoara atingiu alto grau de sofisticação e complexidade
social e política (GARCEZ, 2004, p. 15).
A riqueza artística desses objetos faz com que sirvam ainda hoje de modelo para a
cerâmica artesanal, produzida na Amazônia, que encanta os turistas por sua beleza.
“Associados a rituais que eram verdadeiros espetáculos artísticos, pois reuniam todas as
manifestações (música, dança, adereços, vasos, urnas, estatuetas) que representavam as
crenças, os mitos e as formas de expressão” das culturas Marajoara e Tapajó (Ib.,, p. 15).
As diversas manifestações artísticas, nas sociedades indígenas, estão presentes “nas
diferentes esferas da vida: nos rituais, na produção de alimentos, nos locais de moradia, nas
práticas guerreiras, além de expressar aspectos da própria organização social” (RCNEI,1998,
p. 288-289).
É sabido que, além de outras funções, as produções artísticas dos povos indígenas são
um meio de comunicação de aspectos da cultura, da vida social e da visão do mundo por
intermédio dos objetos, das danças, da pintura corporal e dos cantos, são transmitidas e/ou
registradas as lembranças, os acontecimentos dos mitos, as referências de parentesco, a
existência e o aspecto dos seres sobrenaturais (Ib., p. 289). Possuem dinamismo e cada

sociedade produtora revela, em suas obras, as transformações do fazer artístico e sua
apreensão das realidades.
As orientações do RCNEI identificam o fato de haver os especialistas em cada povo
ameríndio, uma vez que nas sociedades indígenas a maioria das pessoas pratica algum tipo de
arte, situação bastante diferente da sociedade envolvente. Esse saber constitui-se parte da
formação de uma pessoa adulta respeitada em sua comunidade.
Entre os Suyá, por exemplo, todos os homens, de qualquer idade, dominam
um gênero de canções, a akia. Não cabe às mulheres cantar este gênero, mas
como são o principal público, elas conhecem e memorizam as canções,
sabendo apreciá-las. Entre os Xikrin (Pará), a pintura corporal é feita por
todas as mulheres, que exercem essa tarefa como qualquer outra atividade
básica, como cozinhar, cuidar dos filhos ou ir à roça. Assim como esses,
inúmeros exemplos poderiam ser citados (RCNEI, 1998, p. 290).
Existe de fato a presença de sensibilidade das populações indígenas para a arte,
especialmente para as artes visuais e tal fato vem fazendo despontar artistas índios que, a
exemplo dos povos nativos do Canadá, da Austrália ou da Nova Guiné, desenvolvem
produções individualizadas, porém mantendo vínculos com a arte de sua cultura, seja através
dos temas, dos materiais ou do estilo. Destaca-se, entre outros, o artista Feliciano Lana,
Desâna da região do Rio Negro (Amazonas), que, em belíssimas aquarelas, traz para o mundo
das imagens diferentes aspectos da mitologia de seu povo. Feliciano vem expondo seus
trabalhos em vários locais do Brasil e em outros países (Ib., p. 294-295).
A arte apresenta-se, então, como veículo das expressões e representações indígenas
que apontam para tipos de concepções de corpo, corporeidades, em que o processo educativo
possui em si mesmo uma dimensão estética fortemente presente. Por essa razão, a escola
indígena não pode desconsiderar as manifestações artísticas da cultura do seu povo.
a) Pintura corporal
A experiência perceptiva está ancorada no corpo como uma manifestação da
expressão, numa relação recíproca entre intencionalidade, sentido e
significado como certa maneira de ser e estar-no-mundo.
Maria Simone Vione Schwengber,
O corpo é uma palavra polissêmica, uma realidade multifacetada e,
sobretudo, um objeto histórico.
Denise B. Sant’Anna
Os índios Wajãpi19 decoram seus corpos e objetos: “por prazer estético e desafio
criativo”; não são suas pinturas corporais entendidas como decalques ou tatuagens nem
marcas étnicas ou símbolos rituais, como mostra a antropóloga Dominique Tilkin Gallois em
livro repleto de ilustrações intitulado “Kusiwa: pintura corporal e arte gráfica Wajãpi” (2002)
– publicação que integra a exposição “Tempo e espaço na Amazônia: os Wajãpi”, do Museu
do Índio – FUNAI, Rio de Janeiro.
19 Os índios Wajãpi são um povo de língua e tradição cultural tupi-guarani, vivem no estado do Amapá, numa
região de serras e florestas. Sua terra foi demarcada e homologada em 1996. São 550 pessoas, distribuídas entre
40 aldeias. Publicações sobre a casa, a pintura corporal e o artesanato produzido pelos Wajãpi podem ser
consultadas na Biblioteca Marechal Rondon. Para as crianças, foi criado um roteiro especial, com brincadeiras
ambientadas nas aldeias e florestas dos índios da Amazônia.
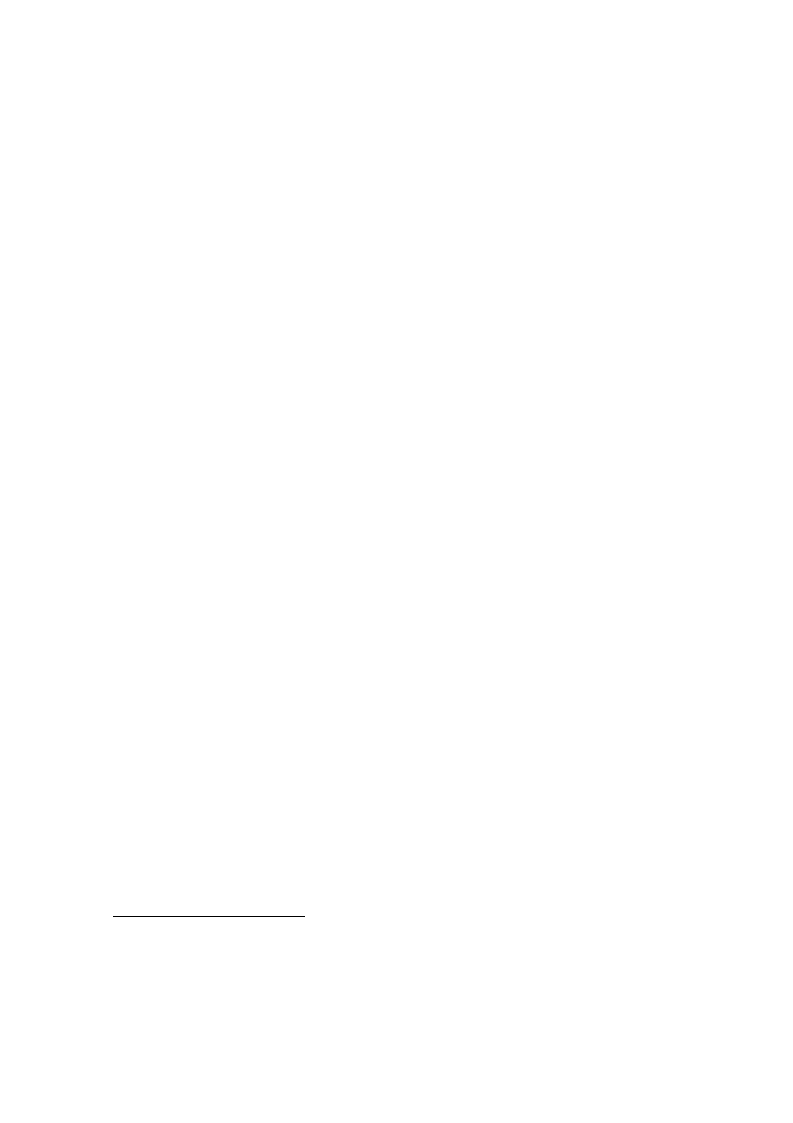
Assim, desejosos por uma educação com prazer e criação capaz de considerar o corpo
na trama da vida social e histórica, vivido em sua totalidade e unidade, buscamos adentrar na
cultura Wajãpi, povo que utiliza a pintura corporal em seu cotidiano, realizada no seio
familiar e cuja
Aplicação de padrões gráficos no corpo não está relacionada à posição social, nem
existem desenhos reservados para determinadas categorias de indivíduos ou para
ocasiões específicas. No entanto, o uso da pintura corporal com urucum, jenipapo ou
resina, varia de acordo com o estado da pessoa: em momentos de resguardo,de luto
ou doença, evita-se decorar o corpo com jenipapo ou laca. Cada um desses
revestimentos tem sua própria eficácia (GALLOIS, 2002, p. 8-9).
As obras elaboradas pelos Wajãpi devem ser de fato lidas como sua “propriedade
[intelectual] coletiva”, nas quais se encontram as “narrativas míticas e históricas sua forma de
transmissão e o dinamismo próprio à ampliação do repertório20” (ib., p. 70).
Tal como os Wajãpi, os demais povos indígenas apresentam especificidades culturais
– entre as quais a religiosidade, a relação dos homens com a força da natureza, a concepção de
corpo(reidade) – que suscitam a necessidade de entendimento de uma outra história, como a
cartilha de história do Acre que divide a história do Brasil em quatro períodos:
o tempo das malocas, antes da chegada de Cabral; o tempo das correrias, quando os
índios foram caçados à bala para a ocupação de seus territórios; o tempo do
cativeiro, quando eles foram usados como mão-de-obra escrava no corte de seringa;
e finalmente o tempo dos direitos, quando finalmente conquistaram o direito à terra
e à sua própria cultura (CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL, 2004, p.
123).
Variados grupos indígenas são produtores de conhecimentos, intelectuais, educadores,
poetas, pesquisadores, entre outros profissionais, todos sujeitos que se entendem autônomos,
isto é, capazes de gerir suas vidas e valorizar seus costumes e tradições. Evidentemente há
contradições e complexificações nessas culturas. A defesa da valorização das maneiras de ser
de cada etnia surge pelas perdas históricas desses povos que lutam para ter garantido o direito
de ser índio (neste caso, índio Wajãmpi).
Gallois salienta que os Wajãpi utilizam sementes de urucum, gordura de macaco, suco
de jenipapo verde e resinas perfumadas. Eles representam pássaros, borboletas, objetos como
a lima de ferro (Ib., p. 8). São utilizados três tipos de tinta para a decoração do corpo:
O vermelho claro é obtido com sementes de urucum amassadas e misturadas com
gordura de macaco ou óleo de andiroba. O preto azulado é obtido com a oxidação do
suco de jenipapo verde misturado com carvão. O vermelho escuro é uma laca
preparada com diversas resinas de cheiros e urucum (Ib., p. 8).
As técnicas variam, as pinturas podem ser aplicadas em justaposição ou de maneira
sobrepostas. Os padrões gráficos utilizados no rosto são distintos dos padrões usados nas
pinturas do corpo; as partes deste são decoradas diretamente com o dedo ou por meio de
chumaços de algodão embebidos de tinta.
20 “Os Waiãpi não são pobres. Porque nós temos a terra demarcada, temos floresta, temos animais, rio puro...
Nós, Waiãpi, sabemos tudo e valemos muito. Nós sabemos fazer reuniões. Sabemos fazer festas. Nós somos
contadores, cantores, lutadores, brincalhões, guerreiros. Nós, Waiãpi, sabemos fazer filhos para o povo Waiãpi
não acabar. Sabemos dirigir carro, motor de popa. Sabemos manter a nossa floresta, os rios, nossas famílias.
Sabemos criar filhos de animais como filhos de humanos”. (Aikyry, professor, um dos autores do Livro do
artesanato Waiãpi). Para um melhor entendimento acerca da cultura Wajãmpi, sua maneira de lidar com o corpo
e as pinturas corporais, ler Gêneses waiãpi, entre diversos e diferentes, de Dominique Tilkin Gallois. In: Revista
de Antropologia, São Paulo, USP, 2007, V. 50 Nº 1.

Um fato relevante a respeito das pinturas corpóreas dos Wajãpi é que, apesar de os
padrões gráficos não estarem relacionados à posição social dos membros do grupo e de não
existirem desenhos “reservados para determinadas categorias de indivíduos ou para ocasiões
específicas” (Ib., p. 8-9), a utilização da pintura corporal seja com urucum, jenipapo ou resina
“varia em acordo com o estado da pessoa: em momentos de resguardo, de luto ou doença,
evita-se decorar o corpo com jenipapo ou laca” (Ib., p. 9).
Gallois observou a existência de uma eficácia específica para cada um dos
revestimentos utilizados pelos Wajãmpi. Assim, tanto a tinta de urucum quanto a resina de
cheiro ou os padrões gráficos aplicados com jenipapo constituem revestimentos corporais que
interferem na relação entre a pessoa e o mundo à sua volta. O corpo, quando coberto de
urucum, e exalando o cheiro forte dessa tinta, está-se protegido de uma aproximação perigosa
com os espíritos da floresta (Ib., p. 9). Exatamente por esse motivo, os pajés evitam utilizar o
urucum para revestimento do corpo, visto que isso afastaria os espíritos com os quais eles
mantém comunicação.

b) O corpo como comunicação
Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde quando as
histórias não são conservadas.
(Walter Benjamin)
Creio que o poeta haverá de ser outra vez um fazedor. Quero dizer, contará uma
história e também a cantará. E não consideraremos diversas essas duas coisas, tal
como não pensamos que são diversas em Homero ou em Virgílio.
(Jorge Luis Borges)
Um olhar etnocêntrico não é maléfico apenas à cultura observada, encarada como
inferior, mas também deixa suas marcas nefastas nos pensamentos e ações daqueles que a
examinam. Um bom exemplo disto tem a ver com a forma como por muito tempo foi
encarada a cultura indígena e tudo que dela diz respeito, tais como a própria maneira de
transmitir saberes, de perceber o mundo em à sua volta, de lidar com o corpo etc., sendo
inclusive a história oficial um significativo partícipe das ideias preconceituosas disseminadas
pelos livros didáticos, já que essa história que nos dão a conhecer contém os conceitos
ideologicamente dominantes ao mesmo tempo em que desqualifica as manifestações culturais
localizadas à margem.
Em contrapartida, ao romper com o paradigma vigente, algumas pesquisas passam a
difundir uma outra história capaz de abrir os olhos aos movimentos de resistência dos povos
vencidos. Eis o porquê da relevância de Walter Benjamin para a educação e os movimentos
instituintes – porque configuram-se à margem do instituído – na medida em que resgatar o
passado é condição sine qua non para radicalizar no presente melhorando, desse modo, o
porvir.
O resgate concomitante à análise minuciosa das fontes históricas a respeito da questão
indígena, mais precisamente de seus aldeamentos do Rio de Janeiro, apresentada na obra de
José Ribamar Bessa Freire e Márcia Fernandes Malheiros revela toda uma forma de cultura
que possui em si mesma subsídios para pensarmos hoje a sociedade em que vivemos. Uma
afirmação dos autores, nesse contexto, é crucial: “Observadores cuidadosos da natureza, os
índios produziram ciência” (2009, p. 27).
Nesse contexto de produção de conhecimento, a linguagem do corpo – suas
vestimentas, adornos, tatuagens, pinturas, entre outras representações – transborda
significados de uma existência étnica, social e simbólica.
Embora andassem nus, os índios pintavam seus corpos, que funcionavam como um
verdadeiro código social, pois cada uma delas indicava uma situação ou estado de
espírito: guerra, nascimento de filhos, luto, ritos etc. Para todo aquele que conhecia
tais códigos, eles diziam mais do que qualquer outra vestimenta. Igualmente,
facilitava a comunicação entre tribos que não falavam a mesma língua.
Como descrito por Rosane Volpatto, o uso do corpo pelos indígenas configura tantos
significados que exercem a função de um “verdadeiro código social”, ainda mais em situações
em que a comunicação se faz necessária e o contexto das diversas línguas indígenas – as quais
“guardam informações e saberes, funcionando como uma espécie de arquivo” (2009, p. 20) –
dificultava sua fruição.
Nessa conjuntura, Volpatto atenta também para as funções sexuais e lúdicas das
pinturas corporais, as quais localizam-se no “âmbito da sedução e do domínio do corpo”, em
que um “nexo social” também era “evidente nas pinturas usadas pelos jovens indígenas em
seus bailes noturnos de caráter orgiástico e lúdico”.
Pensar as diferenças semânticas das pinturas corporais indígenas e suas distintas
funções nos localiza num dos domínios que Peter Burke denomina “Nova História cultural

(NHC)” que vem a ser a história do corpo, campo teórico que estuda, dentre um número
variado de objetos, as marcas tribais, a aparência física (do corpo-carne), os sinais específicos
de determinado grupo social etc.
A história do corpo desenvolveu-se a partir da história da medicina, mas os
historiadores da arte e da literatura, assim como os antropólogos e sociólogos, se
envolveram no que poderia ser chamado de “virada corporal” – como se já não
houvesse tantas viradas que os leitores correm o risco de ficar tontos (2008, p. 95).
Em O Narrar uma História, Jorge Luis Borges, considerando as distinções verbais
como representantes das distinções intelectuais, inicia o texto criticando o fato de o vocábulo
“poeta” ter sido fracionado. Assim, para ele, há um equívoco na compreensão do poeta como
aquele que apenas profere notas líricas tal como pássaros. Borges prefere o entendimento dos
antigos, os quais pensavam ser o poeta o “fazedor”, sendo o narrador de uma história: “Uma
história na qual todas as vozes da humanidade podem ser encontradas – não somente a lírica,
a pesarosa, a melancólica, mas também as vozes da coragem e da esperança.” (BORGES,
2000, p. 51).
O poeta defendido por Borges equipara-se ao narrador de Walter Benjamin. Ora, o que
vem a ser a verdadeira poesia senão aquela cujo leitmotiv é atemporal e ao mesmo tempo
universal, perdura por gerações, sendo muito semelhante ao belíssimo exemplo de “narrativa
verdadeira” dado por Benjamin ao referir-se à história do antigo Egito narrada por Heródoto –
segundo ele, “Ela se assemelha a essas sementes de trigo que durante milhares de anos
ficaram fechadas hermeticamente nas câmaras das pirâmides e que conservam até hoje suas
forças germinativas” (BENJAMIM, 1994, p. 204).
Contudo, o narrador está distante de nós, tornando-se cada vez mais longínquo, ainda
que soe familiar seu nome, visto que “a arte de narrar está em vias de extinção. São cada vez
mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente”, salienta Benjamin. O motivo disto se
dá pelo comprometimento de nossa faculdade de intercambiar experiências (comunicáveis) –
Benjamin esclarece que não vale qualquer experiência, haja vista a experiência drástica da
guerra capaz de gerar emudecimento.
A ausência da troca de experiência entre os sujeitos culturais compromete
significativamente a cultura dos mesmos. Podendo refletir na educação, essa ausência age
como um instrumento castrador à medida que propicia mais silenciamento.
Examinando obras como a Ilíada e a Odisséia na tentativa de buscar aquele “narrar
muito antigo de uma história” (Ib.,) o que menos importa, para Borges, são as intenções do
poeta, mas as sutilezas da história, uma “narrativa da esfera do discurso vivo” (BENJAMIN,
1994, p. 201); uma narrativa na qual o narrador imprime sua marca, sendo ela mesma uma
“forma artesanal de comunicação” (Ib.,, p. 205.
Paulo Freire em apresentação de um dos seus livros afirmou ser urgente a questão da
leitura e da escrita vista enfaticamente pelo ângulo da luta política. Esta necessária, segundo
ele, à superação dos obstáculos impostos às classes populares para que possam ler e escrever.
Evidentemente, sendo a educação um ato essencialmente político, a aquisição da linguagem
escrita padrão e de suas normas estão contidas no processo educativo, dele se apropriando em
benefício da formação humana, visto que o acesso à instrução em si mesmo vale por se tratar
de uma necessidade da própria condição humana. E há algo que antecede o conhecimento da
palavra escrita, o complementa, além de fazê-lo ampliar à medida que dele nos utilizamos:
refiro-me à importância da arte de narrar, contida na oralidade, e que possibilita dar
significado e sentido à educação, ao mundo, à vida enfim.
O surgimento e consolidação da linguagem representada por meio de signos gráficos
coincidiram com a formação do Estado, cuja burocracia passou a necessitar de registro escrito
de impostos e gastos. Por conta disso, historiadores e, consequentemente, livros didáticos

afirmam ser o surgimento da escrita um marco da história humana. Todavia, não foi a partir
da escrita que o homem começou a fazer história, mas desde que surgiu no planeta.
Com o intuito de suprir sua necessidade de comunicação, grupos humanos utilizavam
pinturas, ideogramas, entre outros desenhos iconográficos e recursos de memorização. O
império Inca possui um exemplo disso:
Apesar da complexidade da administração do império, não havia escrita. Utilizava-
se o quipu, um sistema baseado em cordas com nós que funcionavam como recurso
mnemônico para servidores do estado, cuja função era memorizar e recontar as
histórias, mitos e censos estatísticos. Para a comunicação administrativa, utilizava-se
a transmissão oral de mensagens: ao longo das vias principais, em intervalos
regulares, havia um posto com jovens corredores, que estabeleciam uma cadeia de
informação entre as províncias e Cuzco (FAUSTO, 2005, p. 18).
Contudo, apesar do advento da escrita, muito do saber cultivado por alguns povos
antigos foi transmitido através de recordações mnemônicas, demonstrando o quanto a
memória – e o que ela traz consigo, como a perpetuação de informações e saberes às gerações
futuras – possui para a história da humanidade um quê imprescindível para a expansão e
profundidade do processo de culturalização. Retomar Benjamin, nesse sentido, faz-se
necessário, uma vez que a memória é a força motriz do jogo discursivo, das diferentes formas
de manifestações das linguagens.

c) O corpo como identidade
A identidade é da ordem da representação e da recognição: x representa y, x
é y. A diferença é da ordem da proliferação; ela repete, ela replica: x e y e
z...
(Tomaz Tadeu da Silva)
Clifford Geertz (1966, p. 31-54), em seu texto “A transição para a humanidade”,
constrói um significativo apontamento sobre o conceito de cultura e, consequentemente, sobre
o entendimento de homem, visto que de todos os seres viventes do planeta, nós somos os
únicos que de fato produzimos cultura.
Ao levantar pontos de vista possíveis para o entendimento do próprio lugar da
antropologia e, por consequência, para a compreensão do homem concebido como ser
biocultural, ele o faz identificando a importância da cultura nesse contexto. E reitera que “sem
manifestações culturais não haveria homens” e vice-versa e que a vida humana é permeada
pela trama simbólica na qual construímos todas as nossas relações sociais, sendo construídos
(desde o nascimento) maneiras de ser, aprender, viver.
Sobre tal fato, poderíamos identificar que o autor transcende o entendimento do
homem fragmentado, entendendo sua complexidade e o importante lugar ocupado pela
cultura, visto que é a partir e por meio dela que nos tornamos de fato humanos:
O homem é o único animal vivo [...] cuja história evolutiva se desenvolveu de tal
forma que o seu ser físico se modelou em grau significativo pela existência dos
mesmos, e, por conseguinte, os pressupõe. A tensão existente entre a concepção do
homem como simples animal dotado de talento e do homem como estranhamento
único no seu gênero evaporar-se-á, assim como os conceitos teóricos que lhes deram
origem, ao momento em que se reconheça o alcance total deste fato.
Desse modo, em se tratando de homem, o que de fato há é a coexistência de um
animal e de um ser “estranhamento único no seu gênero”, já que nele habitam
simultaneamente razão, emoção, sensibilidade, simbolismos. O que supõe humanidade no
homem é tal complexidade particular que o faz sentir necessidade da arte, poesia, estética,
ética e educação.
Cultura vem a ser, então, a capacidade singular dos homens de se relacionar com
seu(s) grupo(s) utilizando diversas linguagens, códigos próprios, símbolos, compartilhando
manifestações artísticas (dentre elas algumas preferências de música, teatro, cinema, danças)
culinária, religião, formas de cuidar de si (do corpo), rituais e celebrações (tais como o
batismo, aniversário, casamento, enterro). Enfim, ela diz respeito aos “modos de vida em
todos os seus aspectos: as maneiras de comer; vestir; andar; as técnicas corporais; e as formas
de nascer e morrer. Todas estas dimensões formam padrões particulares que expressam os
significados e as visões de mundo dos sujeitos nos seus contextos de existência” (DAUSTER,
2003).
Ainda nos apropriando das ideias de Tânia Dauster a respeito da concepção de cultura
segundo Geertz, é oportuno ressaltar que:
Escolhendo o caminho da semiótica, Geertz vê o homem como um animal amarrado
a teias de significado que ele mesmo teceu, e a cultura, como essas teias (1978,
p.15). Desenvolvendo seu pensamento, declara que a cultura é pública e que o
comportamento humano é ação simbólica, pois tem significado (1978, p. 20). Por
sua vez, o papel da cultura na vida humana, segundo o mesmo autor, aproxima-se da
ideia de um “programa” ou “sistemas organizados de símbolos significantes que
orientam a existência humana” (1978, p.58).

Não por acaso alguns autores defendam que a cultura sirva como uma lente pela qual
apreendemos, observamos, intervimos, lemos o mundo; por vezes nos aproximando dos
nossos pares e julgando tudo aquilo que se apresenta diferente de nós. Cultura é, em poucas
palavras, nossa maneira de ser/pensar/agir no mundo. Daí porque procuramos ressaltar a
relevância do tripé corpo(reidade)/educação/cultura (que é constitutivo da pessoa e, por
conseguinte, nos possibilita entendê-la).
Evidentemente, ao abordar a referida tríade emergiu a necessidade de compreensão de
alguns conceitos e o que eles podem auxiliar na compreensão do tema corporeidade. Antes de
mais nada indagávamos a respeito das expressões corporalidade e corporeidade utilizadas por
teóricos da Educação Física como sinônimos, embora tenhamos percebido que a primeira
expressão seja mais empregada por antropólogos, etnólogos. Para Silvino Santin (2005, p.
103), “essas variantes [...] devem ser entendidas mais como uma questão gramatical do que de
conteúdo semântico”; entretanto o mesmo afirma que nas línguas neolatinas aparecem
algumas distinções, como no caso do francês que “define corporalidade como tendo um
sentido mais material do que corporeidade” ou na língua espanhola que distingue de maneira
mais sutil os termos, sendo aquele o “estado e qualidade de corporal” e este “qualidade de
corpóreo”.
Em meu ponto de vista o sentido de corporeidade deve confundir-se com o sentido
de corpo, isso porque Maurice Merleau-Ponty, o filósofo que pela primeira vez
identificou o homem como um ser corporal, não concentra reflexão sobre
corporeidade, mas sobre o corpo. Em sua obra encontramos sempre a preocupação
com o ser corpo, uma realidade existencial e humana, e não com a corporeidade,
enquanto ideia abstrata. Sendo assim, corporeidade é o que constitui um corpo tal
qual é, e cada corpo é uno, individual e inalienável. Cada um, portanto, é sua
corporeidade (SANTIN, 2005, p. 104).
Não nos parece uma escolha a esmo a opção que Santin e o próprio Le Breton fazem
pelo termo corporeidade (em vez de corporalidade). Preferência que traz à tona um conceito
importante para a Educação Física e para a área da Educação como um todo: a noção de
“corpo-sujeito”.
Na mesma obra em que Santin aborda o conceito corporeidade, Maria Simone Vione
Schwengber (2005, p. 104) ao tratar do conceito “corpo-sujeito” defendem ser “vital
compreender que o processo pedagógico não é um fenômeno puramente mental/cognitivo,
mas que envolve, de modo significativo, investimentos afetivos e sociais na
produção/conformação/transformação dos próprios corpos”.
Para a autora, a temática do corpo vai além da Biologia, ela exige profunda
investigação de áreas como a Antropologia, a Sociologia, a Economia, a Política, a Pedagogia
etc. e subentende pensar como o mesmo produz e é produzido no seio da trama da história.
Pois,
O corpo se reveste de intenções próprias e vividas; é uma instância intencional do
ser-no-mundo. Por quê? O corpo elabora e organiza as experiências no mundo,
assume uma expressão inerente a um estar no mundo, ultrapassa a dimensão
funcional. O corpo não está dentro do espaço (ele habita o espaço) da mesma forma
que não está no tempo (o corpo é uma história dentro de outra história – corpo
histocizado); já não há um corpo e um lugar, há um corpo-lugar. Para Virillo (1996)
“antes de habitar o bairro, o apartamento, o indivíduo habita o seu próprio corpo”
[...] o corpo é, ele próprio, um construto cultural, social, histórico, plenamente
investido de sentido e significado (2005, p. 105-106).

De fato, pensar o corpo subentende reconhecer o sujeito que o encarna, o contexto
sócio-histórico em que vive, as relações que estabelece com os seus semelhantes. Como bem
explicita Carmen Lúcia Soares (1999, p. 06), ele é “o lugar da escritura, da inscrição das
marcas da cultura humana”.
Essa reflexão corpo-sujeito convoca a ideia de que o corpo não é uma realidade fixa
e completa, mas é um processo em construção, em produção; não é uma máquina
que realiza atividades, mas um sujeito vivo que se confunde com o viver, que se
alimenta do prazer; corpo vivido; corpo que busca superação. Assim, o jogo da
corporeidade não exige um corpo atlético (essa ideia é fruto da modernidade)
enquanto se concretiza no jogo do corpo erótico (2005, p. 106).
Tal como as identidades culturais, senão a elas ligado, o corpo é fluido,
impermanente, possui estados de existência, modos variados do existir, portanto, alvo de
investimentos, transformações, disputas políticas, identidades. Ele marca as diferenças sociais
(entre grupos societários) e também individuais no cerne de uma mesma cultura; demonstra
diversidade e pode servir inclusive a determinados discursos xenofóbicos e fascistas. “A
história do corpo [...] não poderia escapar à história dos modelos de gênero e das identidades”
(CORBIN; COURTINE; VIGARELLO, 2008, p. 13).
Claude Lévi-Strauss reconhece que “todos os homens sem exceção possuem uma
linguagem, técnicas, uma arte, conhecimentos de tipo científico, crenças religiosas, uma
organização social, econômica e política”. São, todas essas características, manifestações
culturais.
O termo cultura diz respeito, grosso modo, à interpretação e, consequentemente, à
forma de ver o mundo de determinado sujeito que é sempre sócio-histórico. O fato é que sem
cultura vivemos perdidos no mundo, visto que a partir dela nos constituímos “pessoa” em um
processo dinâmico e infinito de trocas subjetivas (entre os outros e nós, onde nos
reconhecemos no outro). Em outras palavras, por meio da cultura construímos significações e
sentidos de viver, porque cultura é uma condição humana de criar símbolos.

d) O corpo como linguagem na educação informal21
O corpo é o vetor semântico pelo qual a evidência da
relação com o mundo é construída.
David Le Breton
Seremos um povo em construção de nossa história, e
seremos verdadeiramente, se não perdermos a nossa
essência.
Darlene Taukane (professora bakairi, MT)
Ao trabalharmos com a questão do corpo, não o resumimos ao entendimento de sua
dimensão física (do corpo-carne); ao contrário, o concebemos como a primeira visibilidade
humana, concretude da existência por meio da qual todas as relações humanas se efetivam.
Por essa razão, nos valemos da ideia de que o corpo é repleto de sentidos e valores, como
marca o antropólogo francês David Le Breton. E, sendo assim, o encaramos como “o eixo da
relação com o mundo”, visto que estudá-lo implica esclarecer algumas lógicas sociais e
culturais que envolvem a corporeidade humana. Partimos de sua contribuição de corpo como
“vetor semântico”, intentando mais bem compreender a problemática contida em um
cotidiano escolar em que o corpo é por vezes rejeitado e inferiorizado para, por fim, contribuir
nas discussões e na construção de uma escola indígena e de um currículo referenciado na
corporeidade.
A relevância em torno da corporeidade humana se dá pelo fato de ela ser a grande
mediadora das ações da trama da vida quotidiana, sejam elas as mais fúteis ou aquelas que
ocorrem na cena pública. Ao dizer que “o corpo é o vetor semântico pelo qual a evidência da
relação com o mundo é construída” e que “antes de qualquer coisa, a existência é corporal”
(2007, p. 07), Breton corrobora a ocorrência de existirmos porque somos um corpo. Eixo de
toda relação construída no/com o mundo, é com ele que o homem apropria-se da substância
de sua vida, a qual traduz para os seus semelhantes, utilizando sistemas simbólicos que
compartilha com os membros da comunidade.
Assim, corpo subentende o homem que o encarna. “Nunca se viu um corpo: o que se
vê são homens e mulheres. Não se vê corpos” (LE BRETON, 2007, p.24). E uma vez sendo
as representações do corpo exatas representações da pessoa, importa saber que os corolários
do corpo estão sempre inseridos nas visões de mundo das diferentes comunidades humanas.
Por essa e outras razões identificamos a relevância do tripé corpo/educação/cultura,
implicando assegurar a presença do sujeito. Toda educação é “educação do corpo”. Este,
como defende a professora Beleni Salete Grando, é a totalidade/centralidade da pessoa, lugar
onde se inscreve a cultura e se consolida a integração a um grupo social específico por meio
da educação.
Entretanto, algumas sociedades além de evidenciar falsas dicotomias (corpo/mente;
homem/corpo) dão um espaço reduzido ao corpo, haja vista a noção de corpo ocidental
encarada com certa ambiguidade. Nesse contexto, fica mais difícil o trabalho de educadores
comprometidos com uma educação verdadeiramente intercultural e dialógica, em que são
questionadas a visão hegemônica e as tradições eurocêntricas que nela se respaldam.
Le Breton afirma que o corpo como questão faz sua entrada triunfal na pesquisa em
Ciências Sociais a partir do final dos anos de 1960, sendo Michel Foucault um dos autores
que abordam a temática dos usos físicos, representativos e simbólicos de “um corpo que
merece cada vez mais a atenção entusiasmada do domínio social” (Ib., p.12). Apesar de
reconhecer a relevância de Foucault para a questão do corpo, o antropólogo se enquadra, ao
21 Neste item o tema corpo é assumido como vetor semântico, apropriação da Sociologia da corporeidade, de
David Le Breton (2007).

lado de G. Vigarello, J.-M. Brohm e J.-M. Berthelot, num grupo oposto ao do filósofo francês
por, segundo ele, se dedicar de modo mais sistemático a “desvendar as lógicas sociais e
culturais que se imbricam na corporeidade” (Ib., 12). Que fique claro, não há contradição
entre essas análises e as de Foucault, este apenas não se dedica com a mesma sistematização
daqueles a respeito da corporeidade, no entanto a partir dos trabalhos do filósofo francês o
corpo, sua materialidade, vem à tona.
Não à toa Le Breton esmiúça um relevante estudo sociológico dedicado “à
compreensão da corporeidade humana como fenômeno social e cultural, motivo simbólico,
objeto de representações e imaginários” (Ib., p. 7). Para o autor, há três maneiras que
persistem na sociologia para encarar o tema, e ele optou pelo campo de estudo da Sociologia
do corpo, cuja inclinação é direta sobre o corpo estabelecendo os fenômenos da sociedade e
da cultura que nele se propagam. Assim, o corpo é entendido como o “vetor semântico” que
medeia e constrói as relações do homem com o mundo: a existência humana é corporal. Sua
análise abrange grandes autores os quais direta ou indiretamente fizeram do corpo um objeto
de análise, como Marx e Foucault, por exemplo, pensadores considerados precursores da
temática da corporeidade.
Da mesma maneira como Le Breton, Maria Augusta Salim Gonçalves, no livro Sentir,
pensar, agir: corporeidade e educação, aborda a significância das teorias foucaultiana e
marxista. A primeira para pensar o corpo e, mais especificamente, o processo civilizatório, o
controle do corpo na escola, na sociedade industrial contemporânea por meio das análises
históricas em que Foucault revela a existência de um poder disciplinar – diferente do poder do
Estado, mas a ele articulado, bem como ao modo de produção capitalista – agindo nos corpos
dos indivíduos, no intuito de moldá-los. A segunda por considerar a relação do homem com
sua realidade dialética e a atividade produtiva essencialmente humana – o trabalho.
De certo, cabe pontuar que pensar o corpo em Marx muito difere de pensá-lo a partir
de Foucault, ainda que a consolidação da sociedade capitalista no século XVIII como
consequência da dupla revolução – industrial e francesa – sejam para eles o ponto de partida
para analisar as modificações sociais significativas que fizeram nascer um novo homem,
novas demandas corporais, outras relações sociais. Grosso modo, enquanto Foucault constrói
um pensamento filosófico preocupando-se com o método genealógico, por defender que o
poder, algo “sempre presente [que] se exerce como uma multiplicidade de relações de força”
(MACHADO, 2006, p.171), possui relevância para a “constituição de saberes” (Ib., p.167);
Marx arquiteta uma teoria sociológica tomando a sociedade dual, desigual, que evidencia o
embate entre os donos dos meios de produção (a classe dominante) e todos os outros homens
os quais vendem sua força de trabalho com o fim de subsistência (a classe trabalhadora).
A sociologia do corpo, de Le Breton, alerta para o fato de o pesquisador – no caso o
sociólogo – dever pontuar de que corpo deseja tratar, identificando a sua “natureza” e
questionando sempre que possível as ocorrências da cultura.
Quando é possível designar um corpo, traduz de imediato um fato do imaginário social
e podemos entender os tipos diversos de estruturas societárias. Isso porque “no fundamento de
qualquer prática social, como mediador privilegiado e pivô da presença humana, o corpo está
no cruzamento de todas as instâncias da cultura, o ponto de atribuição por excelência do
campo simbólico (LE BRETON, 2007, p. 31).
Algumas sociedades, as do tipo tradicionais de dominante comunitária em que o
estatuto da pessoa é subordinado ao coletivo, não dissociam o homem e o corpo22. Nelas, o
corpo é o “elemento de ligação da energia coletiva e, através dele, cada homem é incluído no
22 O conceito de pessoa, em muitas sociedades indígenas, é bastante complexo. Pode referir-se ao humano ou
não. Para a pessoa há um elenco de cuidados corporais e alimentares que irão fazê-la crescer. Sobre isso, ver o
texto Gêneses waiãpi, entre diversos e diferentes, de Dominique Tilkin Gallois. In: Revista de Antropologia, São
Paulo, USP, 2007, V. 50 Nº 1.

seio do grupo” (Ib., p.30). O homem integra o cosmo, está a misturado a ela, à natureza e aos
outros.
É por meio do corpo que construímos nossa identidade; gozamos ou não nos
momentos de lazer, tempo do não-trabalho; participamos dos processos de educação etc.
Todas as aquisições humanas são consequências de intervenções aprendidas por meio do
corpo. É este que, para Valter Bracht,
sofre a ação, sofre várias intervenções com a finalidade de adaptá-lo às exigências
das formas sociais de organização da produção e da reprodução da vida. Alvo das
necessidades produtivas (corpo produtivo), das necessidades sanitárias (corpo
saudável), das necessidades morais (corpo deserotizado), das necessidades de
adaptação e controle social (corpo dócil) (BRACHT, 1999, p. 72).
Por vezes desprezado (ou fragmentado), mas tomado como fio condutor por outros,
como Foucault, que por se deter com exclusividade nele, tornou certamente dificultoso o
trabalho de construção de um panorama sobre a história do corpo sem se reportar à analítica
foucaultiana, aos dispositivos de sexualidade, de poder, entre outros. Toda a repressão das
minorias sexuais se concentra no corpo, assim como a preocupação sobre o sexo, com um
físico saudável, forte, bonito.
Acreditando na valência do tripé corpo/educação/cultura para os processos de
formação do sujeito, reportamos à importância da condição corporal desenvolvida pela área
intitulada sociologia do corpo, em que é por meio do vetor semântico corpo que as relações
com o(s) outro(s) e com o mundo se dão: “Os feitos e gestos da criança estão envolvidos pelo
padrão cultural (ethos) que suscita as formas de sua sensibilidade, a gestualidade, as
atividades perceptivas, e desenha assim o estilo de sua relação com o mundo” (LE BRETON,
2007, p. 08). A corporeidade possui verdadeiro motivo simbólico, como o exemplo das
inscrições corporais as quais distinguem uma comunidade de outra:
Essas marcas corporais preenchem funções diferentes em cada sociedade.
Instrumentos de sedução, elas são ainda com maior frequência um modo ritual de
afiliação ou de separação. Elas integram simbolicamente o homem no interior da
comunidade, do clã, separando-o dos homens de outras comunidades ou de outros
clãs e ao mesmo tempo da natureza que o cerca. Elas humanizam o homem
colocando-o socialmente no mundo, como ocorre com os Bafia da África Ocidental
que afirmam não poder distinguir-se dos animais da selva sem suas escarificações
(Ib., p. 59-60).
Com David Le Breton, a corporeidade constitui-se um eixo de análise que interessa às
Ciências Sociais, por isso seu empenho em desvendar os fenômenos da cultura que nela se
imbricam. Sempre ligada à cultura e ao momento histórico, é comum que as atitudes a
respeito do corpo sejam modificadas, transformadas. E longe de se submeter a leis imutáveis,
cada grupo social pode instituir novas ações e sentidos para não somente sua prática educativa
formal, mas também para qualquer situação que vá de encontro ao ser humano e sua vida
completa. Em outras palavras, podemos sempre instituir novas práticas – educativas ou não –
capazes de valorizar um estado de satisfação plena das exigências do corpo/corporeidade.
Nesse sentido, entra em cena a Sociologia do Corpo, área do conhecimento humano que
auxilia o homem a desvendar as modalidades sociais e culturais das relações estabelecidas no
corpo, ou seja, contribuindo para que este homem – ator social – descubra a si mesmo na
extensão de sua relação com o mundo. E por que não dizer também no reconhecimento do
outro que o habita.
Um sistema cultural, em geral, pode ser identificado, primeiramente, como uma
relação social que oferece uma estrutura de valores, normas, maneiras de pensar e modos de

apreensão da realidade que orientam condutas de diversos atores sociais. Em um segundo
momento, a cultura conduz os homens e é conduzida por eles, elaborando uma maneira de
viver, desta vez representada, em atribuições de lugares, nas esferas de papéis e ações. Por
fim, busca desenvolver um processo de formação e de socialização dos diferentes atores, a
fim de que cada um possa se definir em relação a um ideal proposto – seja ele oficial ou não.
Ao gerar um modelo, a cultura passa a assumir um papel de socializadora e, neste
contexto, tem por finalidade, na maioria das vezes, a seleção dos comportamentos “corretos”,
das “boas” atitudes, que representam um fator de inclusão ou de marginalização.
Os conceitos de cultura, memória e narração, conjugados através da noção de
experiência, foram propostos por Benjamin como instrumentos de construção de uma história
e de uma cultura, que não sejam objeto de uma constituição de um lugar homogêneo e vazio,
mas de uma temporalidade saturada de “agoras” e possuidora de “armação teórica”
(Benjamin, 1994, p. 229-231).
Para Benjamin, a cultura deveria produzir um sistema no qual práticas sociais e
sistemas simbólicos buscassem a garantia de articulação das particularidades humanas e
sociais dos indivíduos. Então, nesse sentido, ela passa a ser o terreno sobre o qual os atores
lutam pelas suas representações e espaços, dentro dos quais é desvelado e se desenvolve a
relação social das diversas formas de diferenças, respaldadas historicamente pelas memórias
das experiências de lutas passadas.
O termo cultura se refere aqui a dois aspectos aparentemente independentes, mas
ligados pelo fato de que cada um deles implica em um poder de dar um significado às relações
sociais. Trata-se, de um lado, da cultura construída a partir das identidades das experiências
passadas e, de outro, da cultura forjada pelas histórias oficiais, particularmente presentes, para
Benjamin, na história dos vencedores.
A cultura das identidades das experiências passadas supõe a capacidade do ator de se
(re)nomear e de se fazer conhecer por outros sujeitos, ao ressignificar as lutas marcadas nos
“ecos de vozes que emudeceram” nas memórias, passando a se revelar, então, nas relações
sociais nas quais se inscrevem, abrindo a possibilidade do germinar de outras estratégias para
transformar as relações de exclusão e opressão vigentes.
A cultura, resgatada pela memória, revela, por conseguinte, as práticas sociais de lutas
em oposição ao sistema de representações de valores oficiais, por meio do qual o sujeito se
tornou força social e política, tornando possível que os diversos atores do presente se
(re)conheçam, então, como interlocutores fundamentais por e para outros sujeitos históricos.
Nesse sentido, o conceito de cultura assume um valor heurístico, na medida em que conduz ao
aprendizado com o passado, através das memórias entrelaçadas com as experiências históricas
de lutas vividas, assim como pelas suas representações e significações intersubjetivas e
coletivas.
Desse ponto de vista, não nos é mais possível apreender a cultura como um bloco
único e coerente. Há o perigo iminente de que a cultura possa reproduzir uma imagem elitista
de si mesma, vindo, em alguma instância, se articular ao instituído, com a intenção de impor
uma vontade coerente à sociedade como forma de proteção às possíveis divisões,
“assegurando”, assim, coesão e ordem.
Diante desse risco homogeneizador, a análise histórica de Benjamin nos incita ao
contrário: a postular a existência de ambiguidades na cultura, em função das lutas presentes
nas histórias passadas, e não uma função de coesão social, que estabeleceria a priori as
normas de regulação dos conflitos e das contradições que possam ameaçar a ordem
institucional.
O conceito de história em Walter Benjamin invalida qualquer entendimento que
suponha uma percepção de cultura como uma força coerente e onisciente, capaz de uma

vontade racional antecipadora. Por outro lado, a ambição dessa teoria é evidenciar as
especificidades, sinergias e empatias, presentes nas experiências narradas do passado.
Para o autor, a arte de narrar está desaparecendo porque a própria sabedoria se
encontra por submergir. Segundo ele, o conceito de narração é fundamental na medida em que
revela um outro: o de experiência em duas direções: sendo a primeira a vivência do sujeito e
de interação com a vida; e, em segundo lugar, a experiência com o sentido de autonomia do
sujeito na criação do contexto.
De fato, na expressão narração, onde, girando em seu interior existe essa dupla
compreensão de experiência, promove uma quebra do esquema tradicional de percepção que
atribui uma continuidade, uma homogeneidade, ao fenômeno da cultura, exatamente quando
se lança na projeção de movimentos que se querem instituintes, que se encontram repousados
e adormecidos em memórias de lutas passadas.
Esses caminhos correspondem ao que Benjamin define como “escovar a história a
contrapelo”. São para ele imperativos metodológicos de quem procura entender a forma de
uma cultural plural, fundada na rede complexa das diferenças e das relações sociais
dinâmicas.
Assim, não se trata mais de estabelecer a priori a natureza expressiva da cultura, já
que as narrações históricas da formação, relacionamentos e lutas sociais passadas permitem
conhecer as características e pulsões das relações de força entre sujeitos e realidades, bem
como, seu estabelecimento a partir de articulações empáticas e de manifestações das
diferenças. Com isso, Benjamin escapa de um determinismo estrutural e se baseia, pelo
contrário, em uma lógica de interação que dá conta de um raciocínio próprio da dimensão
política.
Segundo ele, uma cultura depende tanto das experiências quanto de suas
representações alegóricas e épicas que enriquecem o ser humano com sua criatividade.
O contraponto, para Benjamin, é uma forma não fixada de apreender as relações sociais, onde
o sistema de valores culturais e políticos, percebidos do ponto de vista da memória, é ao
mesmo tempo dinâmico, diversificado e provisório. A cultura nunca é tomada como uma
coisa finalizada. Ela está sempre capturada pela dinâmica de transformação. Por isso a enorme
dificuldade em acompanhá-la, dar visibilidade, apreender sua totalidade.
Tal postura implica em considerar que é no interior da diversidade das relações
sociais, e não somente nas relações de produção, que se dão às formações e tessituras sociais,
culturais e políticas de uma civilização.
Nesse sentido, a história não é predeterminada: os processos culturais e políticos
podem contribuir tanto para a regulação das relações sociais quanto para suas crises
civilizatórias. Essas relações se reproduzem, se deterioram ou se reinventam, no
entrelaçamento ou não, das possibilidades de lutas e histórias adormecidas nas memórias, cujo
objeto são os sistemas de valores, suas representações e seus significados.
Nessa perspectiva, o poder dos atores reside na capacidade de produzir movimentos
instituintes de superação das condições de opressão e exclusão humana, a partir do
estranhamento com realidades instituídas desse mesmo sistema, para apontar outras
possibilidades civilizatórias.
Por meio do corpo, o homem expressa sua cultura, modos de ser, pensar e agir, os
quais, ao mesmo tempo em que o diferencia de outros povos, clãs, linhagens e tribos, gera
uma identidade comum com os membros de seu povo. Assim, o corpo é entendido, segundo
Le Breton (2007), como o “vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o mundo é
construída”, importando nesse sentido a mediação e a compreensão da “corporeidade humana
como fenômeno social e cultural, motivo simbólico, objeto de representações e imaginários”.
Uma mediação nunca ausente nas relações humanas e capaz de incessantemente ressignificar

a atividade perceptiva do homem que, de acordo com Breton, se desenvolve a cada instante
permitindo-lhe ver, ouvir, saborear, sentir, tocar.
Desse modo, conscientes de que há representações de corpo nas diferentes culturas e
momentos históricos, interessa-nos o fenômeno da pintura corporal indígena, pois que
“caracteriza a ação humana no contexto social” sendo, nesse sentido, uma das expressões da
corporeidade. Expressão que é, segundo Marta Genú Aragão, ao mesmo tempo um conceito e
um fenômeno, por traduzir o evento do sujeito histórico e caracterizar a ação humana no
contexto social, envolvendo, outrossim, os aspectos humanos desenvolvidos durante seu
processo de maturação (biológico) e socialização (cultura), constituintes das dimensões
humanas social, política, emocional, biológica e cultural. A maneira peculiar com que
algumas tribos indígenas lidam com seus corpos instaura “significados, característica do
fenômeno cultural propriamente dito” (VELHO, 1988, p. 124), situações vivenciais que na
medida em que constroem história e cultura revelam a corporeidade dos sujeitos.
Assim, da mesma forma como a dança, a preparação para a guerra, entre outras
(manifest)ações corporais, a pintura corporal para o indígena é um meio de comunicação, uma
maneira de expressar de sua cultura e que também pode revelar um tipo de educação, pois que
concebe corpo tanto como um território biológico como um campo simbólico, no qual o
“emissor ou receptor [...] produz sentidos continuamente e assim insere o homem, de forma
ativa, no interior de dado espaço social e cultural” (LE BRETON, 2007). Nas palavras de
Denise Bernuzzi Sant’Anna (2006), “o corpo talvez seja o mais belo traço da memória da
vida”. David Le Breton reitera o papel importante do processo de socialização da experiência
corporal como uma constante da condição social do homem. Nesse sentido, é condição sine
qua non a valência de uma educação capaz de atender ao homem completo, privilegiadora
também do corpo e dos sentimentos da pessoa. Na Sociologia do Corpo de Le Breton, é por
meio do corpo(reidade) que se propagam determinadas lógicas sociais e culturais, visto que,
para o autor, “antes de qualquer coisa, a existência é corporal” (ib., p.07).
De acordo com Benjamin, o produto da relação de significações não podem se dar a
não ser pela tentativa de captura e ressignificações dos sistemas de valores presentes nas
memórias pela via do diálogo (narração), sendo que a destituição institucional desta
possibilidade produz, necessariamente, um estado de violência, que ele chamará de “estética
da guerra”.
Walter Benjamin focou a urgência de inundarmos a política com os desejos e riscos de
emancipação – adormecidos nas imagens de lutas e conflitos que não podem permanecer
submersas, pois, além dessa tentativa pasteurizadora, repousam linhas de fugas cotidianas,
onde podemos mais do que escapar às intempéries da história, podemos transformar a nossa
própria realidade.

Capítulo 3. O corpo na educação escolar indígena: potencialidades hoje
O corpo e a alma da América, o corpo e a alma de seus povos originários,
assim como o corpo dos homens e das mulheres que nasceram no chão
americano, filhos e filhas de não importa que combinações étnicas...
(Paulo Freire)
a) Antecedentes: A educação jesuítica no Brasil colonial
O futuro é dos Povos e não dos Impérios.
Paulo Freire [Pedagogia da indignação]
A conquista espiritual do Brasil pelos jesuítas foi, no século XVI, um
prolongamento da época medieval; ninguém poderia simbolizá-la melhor,
nas perspectivas da história intelectual, do que José de Anchieta.
Wilson Martins
O recorte historiográfico deste estudo trabalha em consonância com a obra de
Dermeval Saviani História das ideias pedagógicas no Brasil, utilizando precipuamente o
primeiro período da obra que trata do monopólio da vertente religiosa da pedagogia
tradicional (1549-1759). Seu entendimento tanto de história quanto de fazer pesquisa no
campo da educação suscita a relevância da superação dos paradigmas tradicionais e ao mesmo
tempo seu “empenho em captar o processo em sua unidade dinâmica e contraditória”
(SAVIANI, 2010, p. 9), pertinente apropriação do pensamento de Antonio Gramsci (1891-
1937), filósofo marxista italiano cuja proposta educacional defendia a instrumentalização das
classes subalternas visando por parte delas seu protagonismo social.
Saviani discorre sobre a entrada do Brasil para a dita “civilização ocidental cristã” no
ano de 1500, período da chegada dos portugueses e suas primeiras tentativas de colonização.
Todavia, a vinda dos primeiros jesuítas ocorreu em 1549, junto com o primeiro governador
geral do Brasil. O “grupo era constituído por quatro padres e dois irmãos chefiados por
Manuel da Nóbrega” e “vieram com a missão conferida pelo rei de converter os gentios” (ib.,
p. 25). E para atender ao mandato do rei os jesuítas construíram escolas e instituíram colégios
e seminários aos poucos espalhados por todo o território.
Ao caracterizar o processo da inserção do Brasil ao mundo ocidental, que envolveu os
três aspectos intimamente articulados entre si (a colonização, a educação e a catequese),
Saviani recorre a dois planos. O primeiro está no âmbito da linguagem e o segundo na
“manifestação específica nas condições de espaço e tempo tomadas como objeto de análise”
(ib., p. 26).
Sobre a unidade do processo no plano da linguagem, Saviani aborda a raiz etimológica
comum aos vocábulos colonização, educação e catequese. E ao retomar Manacorda (1989, p.
6), cuja síntese dos variadas características da educação constrói em três pontos básicos, a
saber: inculturação ou aculturação nas tradições e costumes; na instrução intelectual
subdivididas nos aspectos “formal-instrumental (ler, escrever, contar)” e “concreto (conteúdo
do conhecimento)” e na “aprendizagem do ofício”.
No caso da educação instaurada no âmbito do processo de colonização, trata-se,
evidentemente, de aculturação, já que as tradições e os costumes que se busca
inculcar decorrem de um dinamismo externo, isto é, que vai do meio cultural do
colonizador para a situação objeto de colonização (SAVIANI, 2010, p. 27).
Ao passo que se consolidava esse processo de implementação de novos costumes, a
cultura indígena (ignorada) perdia lugar para a lusíada, sendo negada as corporeidades

ameríndias. Todavia, o conceito “aculturação” nos parece inexato para descrever a situação
colonial, já que não se apaga por completo a cultura do outro (até mesmo sua corporeidade) –
inclusive porque os índios dialeticamente negavam e incorporavam alguns dos valores da
dominação colonial; “não houve homogeneidade de posições tanto em relação aos índios
quanto aos não-índios” (ARAÚJO, 2003, p. 27). Além do mais, houve também muitas
revoltas por parte dos “gentios” na “Terra dos males sem fim”, expressão de Mário Maestri
para aludir “à trágica situação das populações nativas do litoral luso-americano no século
XVI, sobretudo a partir dos anos de 1530, quando nosso ‘rei colonizador’, d. João III, optou
por explorar e povoar o território brasileiro”, como aponta Ronaldo Vainfas (1995, p. 46).
Para o autor,
Com a introdução da economia açucareira, desenvolveu-se a feroz e rendosa
empresa de caça ao indígena, e com ela o tráfico de nativos “descidos” para os
núcleos de colonização. É certo que, como indica Stuart Schwartz, o trabalho
indígena foi explorado não apenas através de cativeiro (lícito e ilícito), mas também
do escambo e do assalariamento, o que pouco amenizava, na verdade, a desdita dos
tupi na economia colonial. Na prática, as populações indígenas foram
progressivamente sugadas pelo sistema colonial nascente e se tornaram, no
vocabulário da época, “negros da terra”, “negros brasis”, fórmulas então utilizadas
para diferenciar os índios dos “negros da Guiné”, uns e outros escravos (VAINFAS,
1995, p. 47).
Ocorreram ataques, massacres e destruições de aldeias inteiras, milhares de ameríndios
dizimados – como os exemplos de Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mem de Sá, este último
o mais beligerante de todos, afirma Vainfas (ib. p. 47).
Governo geral e jesuítas, Mem de Sá e Anchieta, duas faces da opressão que se
abateu sobre a população indígena no século XVI. Muito já se escreveu acerca dos
efeitos destrutivos da catequese nas culturas ameríndias, embora o erguimento de
aldeamentos por vezes funcionasse como barreira à rapinagem escravocrata dos
colonizadores. [...] limitando-me a recordar a introjeção do colonialismo por meio
de culpabilizações e estigmas das tradições indígenas, a imposição de sacramentos
(alguns, ao menos), a proibição de usos e costumes ancestrais, a disciplina de
horários, ofícios divinos e serviços, a tentativa, enfim, de vestir os índios – com
algodão ou com o que fosse –, pois nada mais repugnava mais a um jesuíta do que o
corpo do “gentio”: sua nudez, sem dúvida, mas também suas aparentes lubricidades
e seu apego ao canibalismo – o pior dos males. Com sua sensibilidade, Baeta Neves
afirmou que a missão tencionava, “efetivamente, corrigir o corpo do Brasil”,
condição sine qua non para sua “salvação espiritual” (ib., p. 48).
A catequese, somada aos cativeiros e massacres, são nas palavras de Vainfas os
“traços definidores” da “terra dos males sem fim”, termo que ele toma de empréstimo de
Maestri. A esse contexto incluem-se “surtos epidêmicos que assolaram as aldeias, sobretudo
as da Companhia, a ceifar a vida de milhares de índios no século XVI”, sendo a pior das
moléstias a varíola, “a peste das bexigas” (ib., p. 49), seguidas de outras doenças como as
crises de pleurites, a terçã maligna (malária), as disenterias e as gripes fatais. Segundo o autor,
aproximadamente 30 mil índios, principalmente os escravos e os reduzidos na missão, foram
extintos.
Por conta das inúmeras doenças seguidas de mortes, “quadro de espanto e pavor que
marcava o cotidiano da varíola nos aldeamentos”, do “grito dos doentes”, da “tentativa vã dos
padres em tratar dos feridos”, do “amontoado de cadáveres mal enterrados”, enfim, do
“alastramento da doença”, o poder dos pajés era reforçado. “Os curandeiros indígenas diziam,
então, que o ‘batismo matava’, e não deixavam de ter alguma razão ao dizê-lo” (ib., p. 49-50).

De fato, “o impacto da colonização acabaria, na realidade, por reforçar a busca da
Terra sem mal. Na pregação dos profetas encontra-se amiúde o ímpeto guerreiro com que
várias tribos tupi enfrentavam os portugueses, ou deles fugiam, no rumo dos ‘sertões’” (ib., p.
50). A presença lusitana afastava os índios ou os dava força para dela se rebelar. Em meio a
este contexto, a educação serviu incondicionalmente ao disciplinamento, fato que não pode
ser resumido à subserviência consentida por parte dos “gentios” e que por outro lado revela as
transformações sentidas corporalmente pelos mesmos.
A Companhia de Jesus, instituição missionária e pedagógica, no contexto da
necessidade por parte da colônia portuguesa da subordinação dos “gentios” ou “selvagens”
por meio da catequização e, consequentemente, da doutrinação, trabalhou em prol de uma
educação atuante contundentemente sobre os corpos dos índios.
Nas cartas jesuíticas, suas informações, fragmentos históricos e sermões que abordam
e descrevem os trabalhos e frutos da catequese, é possível detectar que o processo de
doutrinação dos índios houve resistências travadas pelos mesmos à catequese.
Ainda que saibamos pouco da história indígena, como salienta Manuela Carneiro da
Cunha (1992), interessa-nos investigar as corporeidades contidas nessas cosmologias tomando
os índios como agentes de sua história e não simplesmente vítimas ingênuas do monopólio
jesuítico no qual sob a tríplice proteção – da Coroa portuguesa, da Igreja católica e da família
patriarcal – os jesuítas atuavam sozinhos como os mentores intelectuais e espirituais da
Colônia. Ressaltando, nesse contexto, a necessidade de compreender as singularidades das
culturas indígenas e, certamente, de refutar as considerações genéricas como as que
identificaram como meros “povos selvagens” ou indolentes para o trabalho.
Poderíamos retomar a explicação foucaultiana sobre a atuação dos dispositivos da
modalidade de poder disciplinar atuantes sobre os corpos dos indígenas para torná-los mais
úteis e igualmente subservientes, ou seja, verdadeiros “corpos dóceis”. Evidentemente entraria
em questão o tipo de sociedade e o processo de subjetivação nela atuante capaz de fabricar
certo tipo de sujeito. Em outras palavras e de maneira ampliada,
A noção foucaultiana de disciplina, como salienta Roberto Machado, permite
explicar como se ‘fabrica o tipo de homem necessário ao funcionamento e
manutenção da sociedade industrial [...]. O sucesso do capitalismo é diretamente
proporcional à disseminação da ordem disciplinar. Deste modo, podemos supor que
em outro regime político dos corpos isso não seria possível. Apenas a título de
ilustração, e mesmo assim correndo o risco de fazer transposições histórico-políticas
inadequadas, a chamada ‘preguiça’ indígena descoberta pelos portugueses no Brasil
pode fornecer um paralelo ao assunto aqui tratado. Mais do que um choque de
culturas que ensejou preconceitos, o que essa situação retrata é justamente a
inadequação de uma atitude corporal à rotina extrativista imposta pelos
colonizadores (PINHO, 2007, p. 55).
Todavia, em vez de disciplinamento, um termo mais bem utilizado nesse contexto,
para não correr o risco desta análise ser encarada como anacrônica, seria o de “subordinados
livres”, como aponta Andrea Sales (2011) em pesquisa recentemente concluída intitulada O
teatro jesuíta como instrumento pedagógico na escola para índios dos séculos XVI e XVII.
Segundo a autora,
Toda modelação que foi realizada nos corpos indígenas possuía um único objetivo:
transformá-los em corpos “subordinados livres.” Esse conceito pertence ao ratio
studiorum [...] e diz respeito ao uso do corpo indígena que, ao mesmo tempo que
possuía uma “liberdade” denominada pelos jesuítas, deveria se submeter às
determinações que lhes eram impostas (HANSEN, 2000:25) (SALES, 2011, p. 73).

Mas não nos parece um desacordo dialogar a noção de “subordinados livres” com a
questão do disciplinamento. O artigo escrito por Monique Brust (2007, p. 02), Corpo
submisso, corpo produtivo: os jesuítas e a doutrinação dos indígenas nos séculos XVI e XVII,
vai ao encontro de nossas indagações a respeito do tema por apresentar como foco de análise
o “estudo das práticas, dos mecanismos, das crenças e dos discursos inerentes ao processo de
doutrinação do corpo indígena e do seu enquadramento aos moldes culturais europeus” (p.
02).
Sob esta perspectiva cristã, no estado decaído do homem, era preciso dominar o
corpo, livrando-o do jugo do mundo animal, o qual, no caso indígena, tornava-se
ainda mais evidente, uma vez que, seus corpos, assim como os dos seres irracionais,
encontravam-se em perfeita harmonia com a natureza. Logo, da estranha relação que
eles mantinham com o próprio corpo, os jesuítas recolheram indícios de que por
detrás de sua aparente inocência, o Demônio estava agindo, corrompendo as almas.
Cabia, portanto, aos missionários, descobrir até que ponto este conseguira avançar
nos Trópicos, livrando os povos autóctones de sua ação perniciosa, seja através da
política das Aldeias, a qual previa o disciplinamento do corpo através de leis e
punições destinadas a combater as três práticas corporais consideradas abomináveis
aos olhos de Deus pelos jesuítas, quais sejam, o incesto, o canibalismo e a nudez,
seja por meio da manipulação do medo demonstrado pelos autóctones diante das
epidemias que devastavam as populações nativas e das catástrofes naturais, bem
como do estreitamento dos laços de dependência em relação aos padres, senhores da
cura e da possibilidade de obtenção de privilégios na sociedade em formação
(BRUST, 2007, p. 08).
A política empregada nos aldeamentos demonstrava a necessidade premente por parte
dos missionários de dominar o corpo indígena sinônimo de selvageria e também certa
naturalidade de costumes (nudez sem pudor algum, antropofagia) incômodos à cosmovisão
europeia. Como entender a “ocupação costumeira” de homens, mulheres e crianças, que
andavam nus sem o “menor sinal de pudor ou vergonha”, dançando, bebendo e “cauinando”
(LÉRY, 2009, p. 132)? Povos que utilizavam penas de avestruz e outras aves na confecção de
seu vestuário, que pintavam seus corpos com “desenhos de diversas cores” (muitos feitos com
jenipapo) e eram adeptos de vários ornamentos (colares, pedras, penas, ossos etc.), sendo
alguns específicos de determinada cerimônia ou faixa etária.
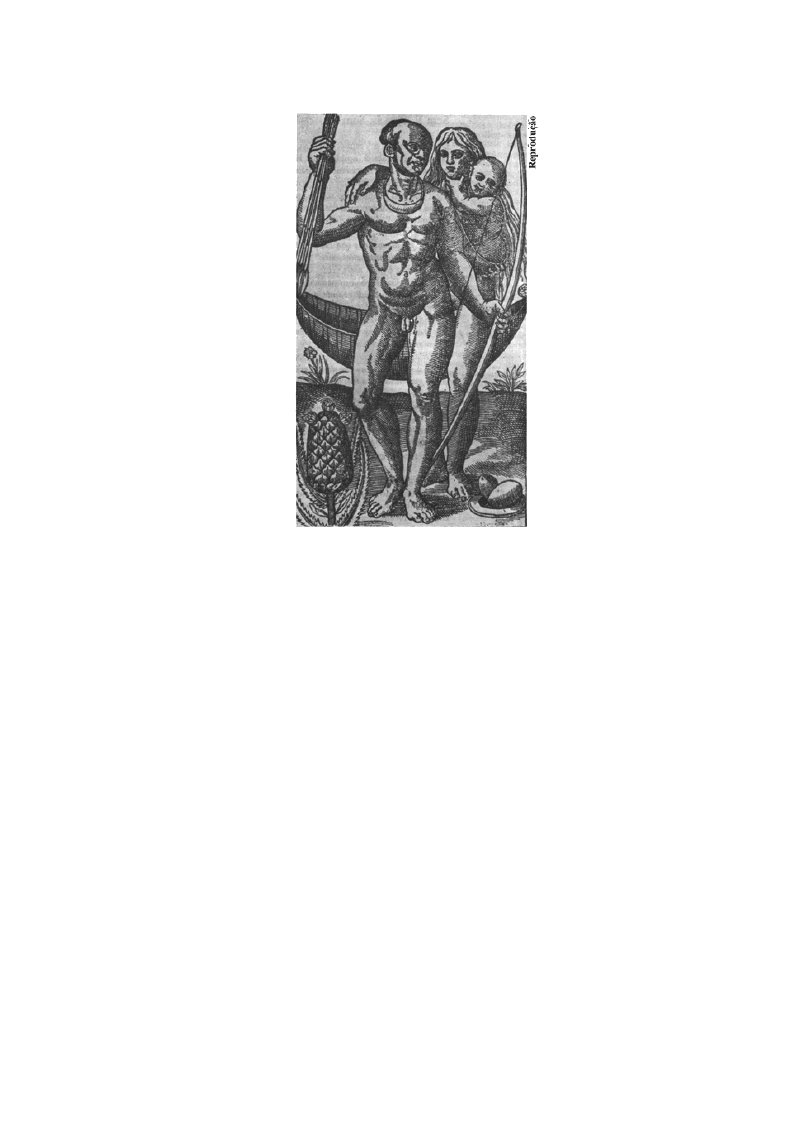
A imagem acima demonstra como Jean de Léry (2009, p. 133) descrevia e figurava um
índio. Segundo o viajante francês, bastava imaginar “um homem nu, bem conformado e
proporcionado de membros, inteiramente depilado, de cabelos tosados” e dotado de
transformações corporais como orelhas perfuradas e adornadas e de uma estética sonora e
motora incomparável com a dos europeus.
Num tempo em que a conduta humana estava sendo moldada por uma cultura
corporal divulgada pelos manuais de comportamento, segundo a qual a postura, os
gestos (Elias, 1994: 67 ss), o vestuário, enfim, toda a aparência exterior do indivíduo
era vista como a manifestação do homem interior, não havia lugar para
espontaneidade, ou melhor, para a naturalidade com que o indígena lidava com o
próprio corpo, seus fluídos e desejos, assim como a sua convivência pacífica e
irrestrita com a natureza. Cabia aos jesuítas, portanto, corrigir os males da educação
indígena, submetendo seus filhos, os discípulos do futuro e testemunhas do sucesso
da catequese nos Trópicos, aos objetivos da colonização, preparando-nos para o
trabalho e para a vida em sociedade segundo os padrões éticos e morais cristãos.
(BRUST, 2007, p. 19-20)
Sobre o Ratio Studiorum, Dermeval Saviani (2010, p. 43) declara ser “um plano geral
de estudos organizado pela Companhia de Jesus” quando do fracasso do plano de instrução
elaborado por Manuel da Nóbrega durante a primeira fase da educação jesuítica.
[...] todos os recursos utilizados pelos jesuítas dramaturgos eram próprios das
culturas indígenas. Desde objetos pessoais até personagens míticos, nada escapava
das criações artísticas jesuíticas. De toda documentação que encontramos durante
quase dois anos de pesquisa, em nenhuma delas percebemos o uso favorável ou
amigável dos objetos e personagens. Eles ganhavam voz na língua Tupi e
movimentos a partir dos corpos indígenas. O que de fato permite corroborar com o

que descreve Neves (1978), quando afirma que o teatro “foi uma forma de construir
um espelho destruidor das culturas indígenas (SALES, 2011, p.58).
Não se tratava, no entanto, de ter havido aculturação; ao contrário o que houve foi um
período de grande conflito entre os conquistadores europeus e toda uma forma de educação e
de formação social de povos – os “íncolas”, os “habitantes da terra que se pretendia
conquistar” – no qual os missionários tiveram papel fundamental na construção de sua
“pedagogia basílica” (SAVIANI, 2010, p. 39).
Os índios eram encarados muitas vezes também como “indômitos e ferozes”
(ANCHIETA, 1988, p. 46) e geralmente de maneira genérica, sendo desconsiderados os
variados povos, seus costumes, cosmologias. Por se tratarem de sociedades orais e pela
maneira de fazerem presença no mundo, com um corpo avesso ao do colonizador, foram
considerados bárbaros e destituídos de razão.
Ao descrever o corpo dos índios, José de Anchieta o faz enfocando a dimensão física,
retratando as questões da nudez, da ausência de vergonha, das enfermidades – inclusive a
forma como os indígenas curavam as doenças, como o cancro –, dos diversos adornos e
coloridas pinturas corporais, entre outras. Anchieta acreditava que aos poucos os índios iriam
adquirir os bons costumes, sendo o “santo batismo” o fenômeno que traria a razão e
igualmente a libertação das almas do inferno, visto que seus preceitos chocavam-se aos
daquela “nação tão cruel e carniceira” (1988, p. 211)
A mediação da linguagem fazia-se presente principalmente pelo entendimento da
aquisição da língua dos índios por ser um “valioso auxílio para a conversão dos infiéis” (p.
48). Instrução voltada para um disciplinamento com suma devoção que implica supor a força
ideológica do discurso e, consequentemente, de uma colonização plural porque também
linguística. “Nesta aldeia [de Piratininga], cento e trinta de todo o sexo e idade foram
chamados para o catecismo e trinta e seis para o batismo, os quais são todos os dias instruídos
na doutrina, repetindo as orações em português e na sua própria língua” (ANCHIETA, 1988,
p. 49). De certo que o objetivo dos padres de ensinamento dos “preceitos da lei divina e a
doutrina da fé cristã” foram em parte alcançados e que, embora tivessem encontrado
resistência, também possuíam aliados, já que mesmo em meio aos carniceiros havia mulheres
que “nunca comeram carne humana” (Ib.,, p. 211).
Poucas descrições foram tão pormenorizadas e relevantes sobre as corporeidades
indígenas como as relatadas por Jean de Léry, sobretudo as contidas no texto Sobre a índole,
força, estatura, nudez, disposição e ornatos de corpo dos homens e mulheres selvagens
brasileiros, habitantes da América, entre os quais permaneci quase um ano (Capítulo VIII, p.
128). O escrito aponta inúmeros aspectos importantes para o desvendamento das culturas
indígenas existentes no país. Aparecem por vezes comparações entre europeus e indígenas
sobretudo acerca da constituição física, do modo como o processo de envelhecimento é
entendido, das consequências do “bom clima da terra”:
E, de fato, nem bebem eles [os indígenas] nessas fontes lodosas e pestilenciais que
nos.corroem os ossos, dessoram a medula, debilitam o corpo e consomem o espírito,
essas fontes em suma que, nas cidades, nos envenenam e matam, antes do tempo, e
que são a desconfiança e a avareza, os processos judiciais e as intrigas, a inveja e a
ambição. Nada disso os inquieta e menos ainda os apaixona e domina [...]. E todos
eles parecem beber da Fonte da Juventude (LÉRY, 2009, p. 129).
A compreensão da história dos índios no Brasil oferece subsídios para compreender a
constituição histórica do nosso país, cujo batismo antecedeu ao batismo dos gentios. “De certa
maneira, desta forma, o Brasil foi simbolicamente criado”. Tal configuração não foi somente
simbólica e política, mas “motivos mesquinhos”, e de maneira fortemente agressiva, pois
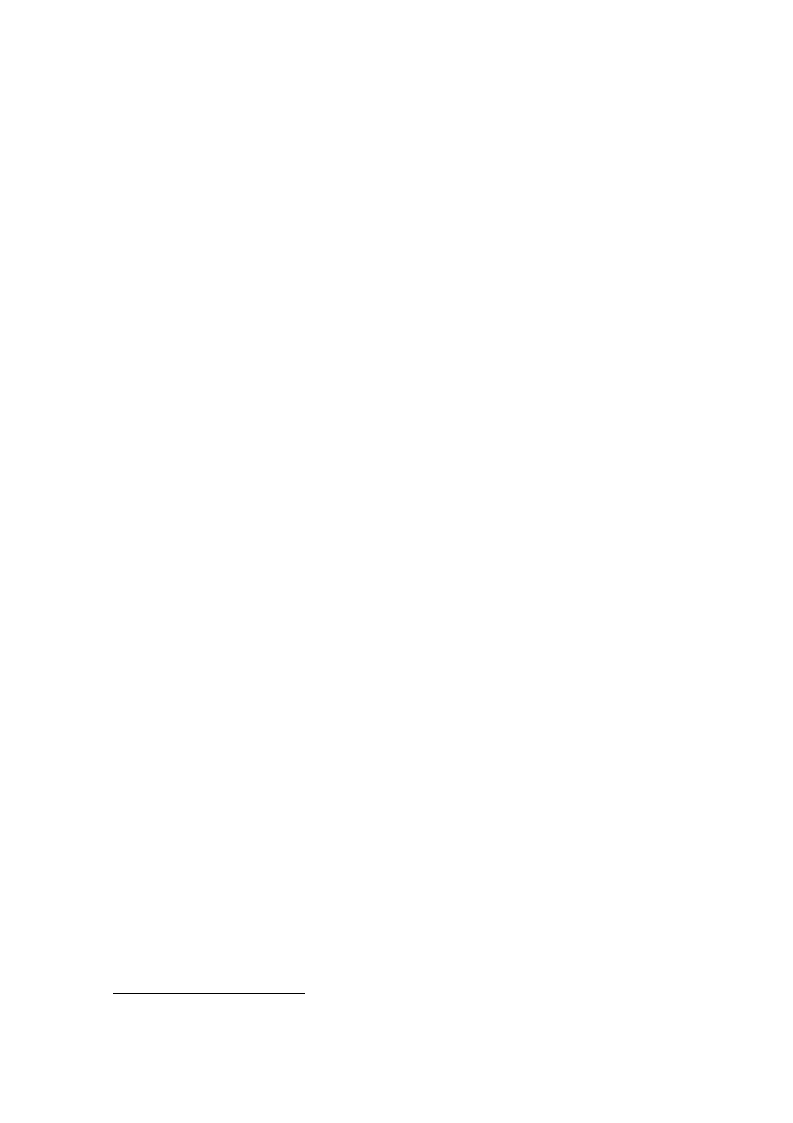
inúmeros povos indígenas desapareceram a partir do contato com as sociedades do Antigo
Mundo:
Esse morticínio nunca visto foi fruto de um processo complexo cujos agentes foram
homens e microorganismos mas cujos motores últimos poderiam ser reduzidos a
dois: ganância e ambição, formas culturais da expansão do que se convencionou
chamar o capitalismo mercantil. Motivos mesquinhos e não uma deliberada política
de extermínio conseguiram esse resultado espantoso de reduzir uma população que
estava na casa dos milhões em 1500 aos parcos 200 mil índios que hoje habitam o
Brasil (CUNHA, 1992, p. 12).
A dizimação dos povos indígenas do Brasil, fruto da ambição dos europeus, foi
causada por fatores como a exploração do trabalho indígena, as guerras, as fomes. Mazelas
vindas com os “desbravadores”, doenças dos não-índios, visto que “os selvagens da América
[em comparação aos europeus eram] mais fortes,mais robustos, mais entroncados, mais bem
dispostos e menos sujeitos à moléstias, encontrando-se entre eles muito poucos coxos,
disformes, aleijados e doentios” (LÉRY, 2009, p. 128). “O que é hoje o Brasil indígena são
fragmentos de um tecido social cuja trama, muito mais complexa e abrangente, cobria
provavelmente o território como um todo” (CUNHA, 1992, p. 12).
Procuramos apresentar como as corporeidades indígenas eram verdadeiros entraves ao
crescimento e desenvolvimento do império português, apesar dos colonizadores, entre eles a
Companhia de Jesus,23 terem aprendido a utilizar de alguns recursos – sendo o teatro um bom
exemplo – para o disciplinamento desses povos.
O que intentamos nesta pesquisa é considerar o fato de que todo esse “sistema de
exploração colonial cuja singularidade ainda marca profundamente o Brasil contemporâneo”
(ALENCASTRO, 2000, p. 9) foi construído intensamente.
23 “Na sua estratégia de evangelização dos índios, os jesuítas entram em conflito com os colonos, com o
episcopado e com a Coroa. Mas convém sublinhar o papel das missões como unidades de ocupação de território
ultramarino” (ALENCASTRO, 2000, p. 24).

b) O Referencial Curricular Nacional para as escolas indígenas (RCNEI) e o corpo
A história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo
homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de “agoras”.
(Walter Benjamin)
Então naquela época começou a conversar sobre a escola. E aí foi
dez anos de conversa. Como é que vai ser e escola? Qual escola que
queremos? E isso foi uma longa conversa com a comunidade. [...]
Porque a escola também traz muita coisa ruim na cabeça deles [dos
alunos guarani].
(Professor indígena Guarani Mbyá)
O Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas24 (RCNEI) é um
documento que constitui-se parte da série intitulada Parâmetros Curriculares Nacionais, e visa
atender às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), a
qual institui a diferenciação da escola indígena das demais escolas do sistema pelo respeito à
diversidade cultural e à língua materna e pela interculturalidade. Seu conteúdo possui
caráter generalista e abrangente, com sugestões de trabalho para cada área do conhecimento
escolar e para cada ciclo das escolas indígenas inseridas no Ensino Fundamental25.
Historicamente, os povos indígenas do Brasil sofreram com a imposição de processos
educacionais alheios às suas culturas, haja vista o exemplo da educação imposta pela
Companhia de Jesus com a intenção de catequizar os índios para a conversão ao cristianismo.
Por trás dessa catequização estava a domesticação da força de trabalho, a exploração
econômica e a escravidão passiva (MONTEIRO; SALES. In: SISS; MONTEIRO. 2009, p.
41). Os documentos oficiais apontam inúmeros protagonistas no Brasil colonial, missionários
jesuítas – mas não somente – defenderam a imposição dos valores cristãos europeus para de
fato corrigir o corpo do Brasil.26
O RCNEI aponta para a necessidade de minimizar a distância entre o discurso legal e
as ações efetivamente postas em prática nas salas de aula das escolas indígenas. A
concretização de um currículo diferenciado, aliás, há tempos faz-se presente nas
reivindicações dos professores índios. Estes possuem uma compreensão da história
semelhante à de Walter Benjamin (1994, p. 229-232): não como tempo homogêneo e vazio,
mas “um tempo saturado de ‘agoras’”, identificando nesse “agora” sua rigorosa coincidência
com o lugar ocupado no universo pela história humana.
24 O RCNEI ressalta ser relevante “deixar claro que, enquanto referencial para um país com sociedades indígenas
tão diversas, e tendo como fundamento e meta o respeito à pluralidade e à diversidade, o RCNE/Indígena não é
um documento curricular pronto para ser utilizado, mecanicamente, em qualquer contexto, nem pretende estar
dando receitas de aula: este Referencial se propõe, apenas, a subsidiar e apoiar os professores na tarefa de
invenção e reinvenção contínua de suas práticas escolares” (1998, p.14).
25 Segundo a Secretaria de Educação Fundamental, o RCNEI, em vez da função normativa, possui intenção
formativa; oferecendo subsídios e orientações para a elaboração de programas de educação escolar indígena
que atendam aos anseios e aos interesses das comunidades indígenas, considerando os princípios da
pluralidade cultural e da equidade entre todos os brasileiros, bem como, para a elaboração e produção de
materiais didáticos e para a formação de professores indígenas (BRASIL, 1998, p.6).
26 Sobre isso, ver Monique Brust (2007, p. 02), texto Corpo submisso, corpo produtivo: os jesuítas e a
doutrinação dos indígenas nos séculos XVI e XVII: No início, a doutrina prevista pelo padre Manoel da
Nóbrega, seguida do plano de Antonio Vieira, definindo a função das Aldeias como a de corrigir o corpo do
Brasil (Neves, 1978: 131). Utilizavam para isso as censuras, as restrições e as penalidades destinadas a
produzirem uma outra percepção corporal nos ameríndios, reprimindo a “bestialidade” inerente a sua cultura,
purificando a carne e ao mesmo tempo, preparando-a para o trabalho, encarado sob uma perspectiva ascética [...]
a relação do indígena com o seu próprio corpo e com a natureza causava estranhamento e repúdio aos ocidentais,
sobretudo por três comportamentos ou práticas corporais: a nudez, o canibalismo e as relações de incesto.
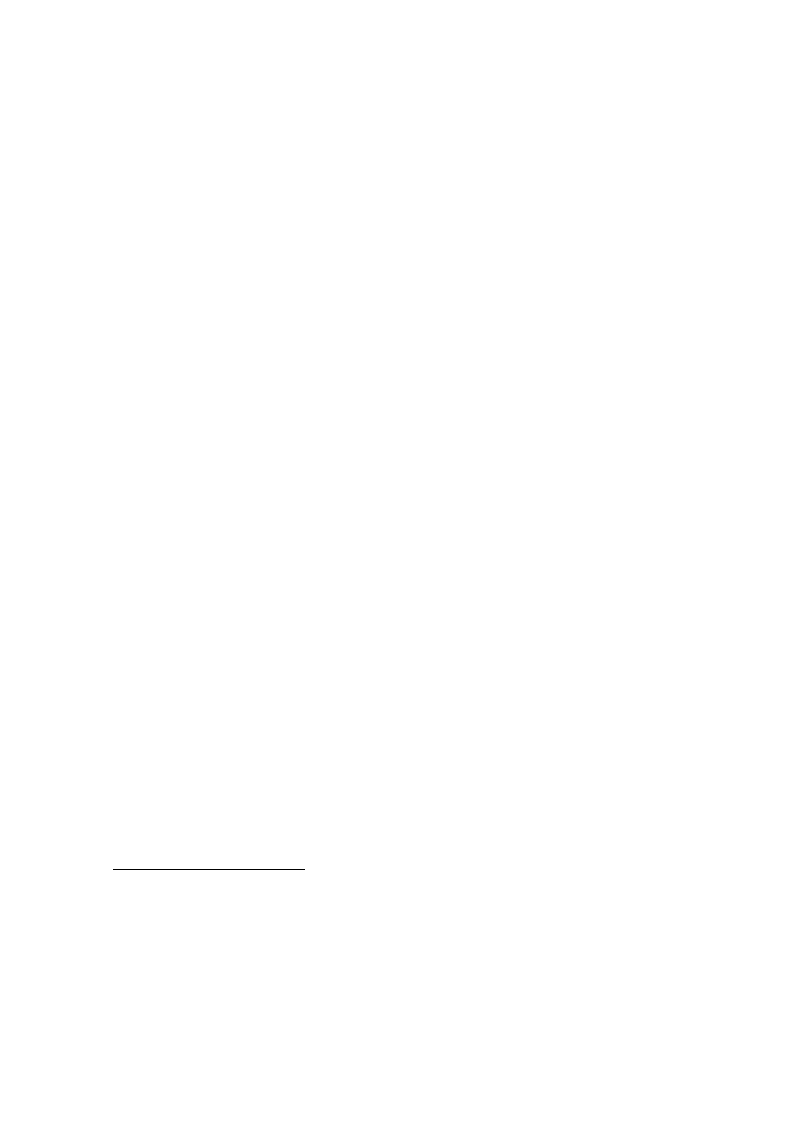
Há de fato certa urgência em utilizar a escola como espaço que faça sentido, capaz de
atender às demandas históricas dos sujeitos que a frequentam e de todos aqueles que
compõem a comunidade escolar. Sem dúvida uma aspiração comum entre índios e não-índios,
na qual o currículo27 deve pautar-se no entendimento de que possui forma e significado
educativo e cultural, sendo imprescindível o entendimento da imbricação teoria/prática e o
olhar voltado ao grupo escolar.
Os povos indígenas possuem uma noção de escola que poderíamos chamar ampliada
quando comparada à sociedade envolvente, porque difere da nossa visão de instituição de
ensino puramente formal. Basta recorrermos aos depoimentos indígenas, como o de Gersem
dos Santos Luciano, do povo Baniwa28, utilizado por Rosa Helena Dias da Silva, em seu texto
“O estado brasileiro e a educação (escolar) indígena: um olhar sobre o Plano Nacional de
Educação”:
A família e a comunidade (ou povo) são os responsáveis pela educação dos filhos. É
na família que se aprende a viver bem: ser um bom caçador, um bom pescador, um
bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um membro solidário e hospitaleiro da
comunidade; aprende-se a fazer roça, a plantar, fazer farinha; aprende-se a fazer
cestarias; aprende-se a cuidar da saúde, benzer, curar doenças, conhecer plantas
medicinais; aprende-se a geografia das matas, dos rios, das serras; a matemática e a
geometria para fazer canoas, remos, roças, cacuri etc.; não existe sistema de
reprovação ou seleção; os conhecimentos específicos (como o dos pajés) estão a
serviço e ao alcance de todos; aprende-se a viver e combater qualquer mal social,
para que não tenha na comunidade crianças órfãs e abandonadas, pessoas passando
fome, mendigos, velhos esquecidos, roubos, violência, etc. Todos são professores e
alunos ao mesmo tempo. A escola não é o único lugar de aprendizado. Ela é uma
maneira de organizar alguns tipos de conhecimento para ensinar às pessoas que
precisam, através de uma pessoa, que é o professor. Escola não é o prédio construído
ou as carteiras dos alunos. São os conhecimentos, os saberes. Também a
comunidade possui sua sabedoria para ser comunicada, transmitida e distribuída.
Na escola indígena o corpo equipara-se à grande razão, de Nietzsche, visto que nela
os sentidos devem ser ouvidos e experimentados. “Instrumentos e brinquedos são os sentidos
e o espírito; atrás deles acha-se, ainda, o ser próprio. O ser próprio procura também com os
olhos dos sentidos, escuta também com os ouvidos do espírito” (NIETZSCHE, 2010, p. 60).
Importa, desse modo, nas comunidades indígenas a vida vivida, experimentada – algo
inconcebível na educação dos tais “homens brancos” por conta do cronograma e currículos
rígidos – e o sentido mesmo de estar em grupo compartilhando saberes. Pudemos constatar
essa ocorrência lendo os depoimentos dos professores indígenas de etnias diversas,
participando de eventos29 com os indígenas e também na visita à Escola Indígena Estadual
Guarani Karai Kuery Renda, no ano de 2010, da comunidade indígena Guarani Mbyá30. Um
professor indígena da etnia guarani foi quem nos recebeu e, gentilmente respondendo as
nossas inquietações e curiosidades, também nos apresentou a comunidade: a cachoeira, o
posto médico, o espaço de lazer – uma espécie de quadra improvisada, na qual meninos e
27 As questões referentes ao currículo são amplas, complexas e muito importantes. Para este estudo não
aprofundamos essas questões. Contudo, alguns autores são pontuais para o entendimento sobre a circunscrição
do currículo escolar, a saber: Tomás Tadeu da Silva, Gimeno Sacristán e Miguel Gonzáles Arroyo, entre outros.
28 O povo Baniwa vive na região do Rio Negro/AM. E o depoimento foi proferido durante o IX Encontro dos
Professores Indígenas do Amazonas, Roraima e Acre, Manaus, 1996.
29 Foram relevantes muitos eventos acadêmicos, mas destacamos, para esta pesquisa, a importância dos eventos
III Simpósio de Cultura Corporal e Povos Indígenas:“Jogos Indígenas: saúde e educação intercultural” &
Seminário Práticas Corporais e Educação Intercultural: Jogos dos Povos Indígenas do Brasil, realizados entre os
dias 09 a 11 de setembro em Cuiabá/MT.
30 A referida escola está situada na aldeia Sapucai, distrito de Bracuí, localizada no município de Angra dos Reis,
do Estado do Rio de Janeiro.

meninas jogavam futebol com uma bola cortada ao meio – e, por fim, a escola. O professor
atentou para o fato de ser muitas vezes mais importante as atividades do calendário da aldeia,
cuja modificação ocorre conjuntamente com as mudanças climáticas, do que a do calendário
escolar. Ele falou do exemplo dos períodos de caça em que o professor trabalha com os alunos
o que é a caça, os instrumentos utilizados, as condições favoráveis etc., além de também ir à
caça, experimentar as surpresas da prática.
O RCNEI procura relacionar os saberes das disciplinas e relacioná-las às
manifestações corpóreas específicas de cada grupo indígena, de suas atividades cotidianas. A
respeito do saber matemático, por exemplo, há uma singularidade que deve ser observada pelo
educador indígena, o qual deve compreender que
Não se trata, simplesmente, de lidar com números e fazer contas; o estudo dos
números e operações aritméticas é apenas um dos campos da matemática. O
importante é deixar claro que se um determinado povo não conta além de dois ou
três, por exemplo, isto não significa que não tenha desenvolvido o conhecimento
matemático. Este conhecimento pode estar expresso nas formas diferenciadas de
conceber o espaço; nos padrões geométricos da tecelagem, cestaria ou pintura
corporal; nos distintos modos de delimitar ou medir a passagem do tempo. Em
poucas palavras: cada grupo cultural tem formas próprias de "matematizar" (Ib.161).
Nesse sentido, o próprio RCNEI defende que fazem parte das ideias e dos conceitos
matemáticos as atividades como a ornamentação geométrica de cestos, dos tecidos, da
cerâmica e da pintura corporal. Isso em nada tem a ver com a validez desses trabalhos ocorrer
somente porque a Matemática traduzir-se ou expressar-se por meio dessas percepções, visto
que
Os estudos que reconstroem a matemática na ornamentação da cestaria de povos
brasileiros valorizam o conhecimento matemático dos artesãos indígenas. Mostram
que a matemática existe por toda a parte, mesmo que não se tenha consciência disso.
E mais: demonstram que o conhecimento matemático usado na confecção desses
mesmos cestos, tecidos ou esteiras pode ser explorado em sala de aula. Os padrões
geométricos desenhados diariamente por mulheres na porta de suas casas na índia,
por exemplo, têm sido trabalhados com sucesso em atividades escolares. O trabalho
na escola valoriza a transmissão e atualização desse conhecimento tradicional entre
mães e filhos indianos (p. 161).
Outras intervenções da Matemática são relacionadas com a própria percepção
corpórea, tal como o trabalho de desenvolvimento do sentido espacial, porque nas sociedades
indígenas o estabelecimento de referências são tomadas em relação ao próprio corpo e/ou a
objetos e elementos da natureza; a partir da observação do espaço e do próprio entorno (Ib.
177). Por essa razão, ocorre a relevância de atividades centradas nas noções de direção e
orientação; nas experiências exploratórias com formas e figuras; e nos trabalhos com a
localização de objetos no espaço e com o relacionamento desses objetos entre si (Ib. 171).
De igual forma, há o entendimento da relevância da disciplina História. Todavia sua
ocorrência exige uma ruptura com a visão tradicional que a mesma possui. De acordo com o
parecer do professor Bruno Kaingang, (PR), contido no próprio RCENEI, “a palavra história
nos dá um novo significado [...] a historiografia começa a ter um corpo presente na vida
política dos povos e da sociedade em geral. Desse modo pode começar a emergir uma nova
visão do que são os povos indígenas” (Ib. 198). Outro depoimento, de Manoel Sabóia,
professor Kaxinawá (AC), aponta para uma intervenção pedagógica que corrobore os sentidos
dos conteúdos para os alunos indígenas: “Para trabalhar com a história na sala de aula da
minha escola, eu tenho que descobrir atividades para fazer meus alunos entenderem o que é

história. Primeiro, o professor tem pequenas histórias sobre diferentes acontecimentos da
aldeia...” (Ib. 202).
A mesma mediação docente vale para a disciplina Geografia, onde o saber geográfico
indígena também é relacionado com o cotidiano da aldeia e as orientações do RCNEI
objetivam expressar, descobrir, ordenar e comunicar os diversos conhecimentos que os alunos
já trazem sobre aquele assunto. Assim, os docentes procuram indagar:
Quais são e como são os meios de transporte e de comunicação usados na aldeia, no
território? Barco, avião, bicicleta, cavalo, carro? Tem televisão, tem rádio? Tem
radiofonia? Jornal, carta? Usa-se buzina, grito ou foguete, para identificação ou
aviso? E a pintura corporal, também é usada para identificação de metades ou clãs?
Em outros lugares, como as pessoas se comunicam? (Ib. 236)
A diferenciação entre o saber geográfico indígena e o saber geográfico escolar, suas
similitudes e diferenças, nas orientações do RCNEI visam fazer com que o aluno reflita
“sobre o seu saber tendo como referência os instrumentos do saber escolar, comunicando e
apresentando os resultados da pesquisa” (Ib. 247).
A disciplina Ciências, junto com Artes e Educação Física, apresenta um vasta
abordagem acerca da questão do corpo, inclusive por se tratar de uma área cuja ênfase
constrói-se sobre os conteúdos que envolvem o corpo humano e a saúde; fato que demonstra,
inclusive, seu dever em levantar “os aspectos sociais e fisiológicos que um indivíduo, em uma
determinada sociedade, considera necessários para o seu pleno desenvolvimento” (Ib. p. 264-
265).
O primeiro assunto abordado diz respeito aos cuidados corporais na decoração pessoal.
Do ponto de vista social, o RCNEI aponta para as práticas de modelagem do corpo, de
enfeites e demais tentativas de realçar as qualidades naturais por meio da utilização de
artifícios. Os exemplos são inúmeros, tais como “aplicar tatuagens e escarificações no corpo;
perfurar o septo nasal, o lóbulo da orelha ou os lábios e levar enfeites nos orifícios; usar a
pintura corporal”, entre outros.
Nas sociedades indígenas essas intervenções e manifestações corpóreas possuem
relação direta com suas cosmovisões, como o caso dos índios Xikrin, que dada a importância,
para eles, de saber ouvir e falar, possuem um tratamento bastante peculiar às orelhas e aos
lábios das pessoas.
Alguns dias depois do nascimento, os lóbulos da orelha, tanto dos meninos quanto
das meninas, são perfurados. Um fio de algodão é colocado no orifício para impedir
que ele se feche. Depois coloca-se um bastonete que, à medida que a criança cresce,
vai sendo substituído por outro mais grosso, até atingir o diâmetro de um centímetro
e meio. Este orifício serve para aguçar a audição e faz com que o indivíduo tenha
maior capacidade de ouvir, entender e ter mais conhecimento. Por intermédio de um
furo no lábio inferior, busca-se maior capacidade de usar a palavra. No caso dos
lábios, somente os homens têm seus lábios perfurados. O dom da fala é uma
característica dos homens e envolve discursos inflamados, realizados no centro da
aldeia – espaço exclusivamente masculino (Ib. 264-265).
O estudo do corpo humano e da saúde, somados ao significado das várias formas de
decoração pessoal, da sua função, origem e história das práticas para cada sociedade referem-
se ao caráter social (de estímulo do desenvolvimento físico; para indicar a puberdade, a
realização de um contrato matrimonial, o número de filhos, o luto, o ingresso numa sociedade
secreta etc.) extremamente importante para os índios. O caráter dessas manifestações pode ser
mágico-religioso como também exclusivamente decorativo, estético.
A alimentação também sugere determinada maneira de percepção da realidade. E
como a intenção é o trabalho de diálogos entres as disciplinas e da construção de sentidos,

entram em cena a relação entre a forma de alimenta-se e as condições geográficas: solo,
clima, vegetação etc., “fazendo uma ponte com o estudo da Geografia e, outra vez, com o
tema transversal Auto-Sustentação” (Ib., p. 266).
A dimensão crítica e a leitura da história (na contramão da historiografia tradicional),
nesse contexto, possuem grande importância para as sociedades indígenas, as quais, a partir
do contato com a sociedade envolvente “resultou em degradação ambiental e introdução de
novas doenças que, somadas às mudanças na prática da obtenção de alimentos e nos hábitos
alimentares, ocasionam sérios problemas na saúde física, mental e social do indivíduo” (Ib.
p.266).
O tema “à procura de alimentos” é central para poder se debater a abundância ou
escassez de alimentos; os impactos ambientais; as transformações do meio ambiente;
os benefícios ou problemas causados pela introdução de novas tecnologias; a
introdução de novas espécies vegetais e animais e a extinção de espécies animais e
vegetais. Estas questões podem ser abordadas de acordo com os seguintes tópicos: a
coleta de alimentos (a coleta pura e simples de animais silvestres como
insetos,moluscos, plantas, frutas); o cultivo de plantas (horticultura, agricultura,
cuidados e estímulos para o desenvolvimento de certas plantas); a domesticação de
animais (criação para uso do proprietário ou comercialização); a caça e a pesca
(diversidade das espécies e as práticas para a obtenção dos animais); dados
populacionais (povos como os Xavante, os Xikrin, os povos habitantes do Parque
Indígena do Xingu, entre outros, vêm registrando, nos últimos anos, aumento
demográfico). Novamente, aparece o Tema Transversal Auto-Sustentação (Ib., p.
266).
Um outro tema surge a partir do debate transversal: o binômio saúde/doença. Segundo
o RCNEI, o trabalho com o tema saúde pode tornar possível discernir as doenças tradicionais
e as que vieram do contato interétnico; identificar os diferentes agentes das doenças, as
formas de transmissão, a contaminação, e planejar seu controle por meio do saneamento
básico, da prevenção de doenças e acidentes, dos cuidados com o corpo e dos resguardos,
entre outros (Ib. p.266).
Ainda de acordo com o RCNEI, para muitos povos, as doenças e suas curas muitas
vezes não são individuais, mas coletivas. Esse fato necessita que o professor retome o tema
transversal Educação e Saúde objetivando trabalhar o conceito mais amplo de saúde,
precipuamente relacionando o conteúdo tratado pelo estudo com alguma situação que a
comunidade esteja vivendo naquele momento31.
O entendimento de saúde abarca tanto os aspectos sociais do corpo quanto o
desenvolvimento biológico do mesmo e as práticas diárias de lidar com a higiene. Como o
corpo é percebido em sua complexidade (sempre relacionado à alma), a cosmologia (que
representa a ordenação do universo) de cada sociedade infere o ser (pessoa) que encarna seu
corpo.
De acordo com aquilo que observam e em que acreditam, as pessoas imaginam
como é o mundo. Os gregos, por exemplo, imaginavam que a terra era redonda e que
era carregada por um gigante chamado Atlas. Alguns povos antigos achavam que a
Terra era carregada por uma tartaruga enorme e por elefantes. Outros povos
descrevem a Terra como um disco redondo, que se apoia nas colunas do céu. O céu
é imaginado como uma imensa xícara de cabeça para baixo. Com os povos
indígenas do Brasil não é diferente. Os índios Waiãpi do Amapá percebem o cosmo
como sendo composto de vários patamares superpostos, cuja diferenciação
31 Como o estudo da saúde tem a ver com o ambiente, o RCNEI orienta que o professor relacione esses temas
propostos. Por exemplo, ao estudar sobre o lixo, pode fazer um estudo prático sobre as doenças parasitárias,
coletando amostras de água encontrada no lixo contendo larvas de mosquito e observar, com os alunos, o ciclo
de vida daquele mosquito (RCNEI, 1998, p. 266).
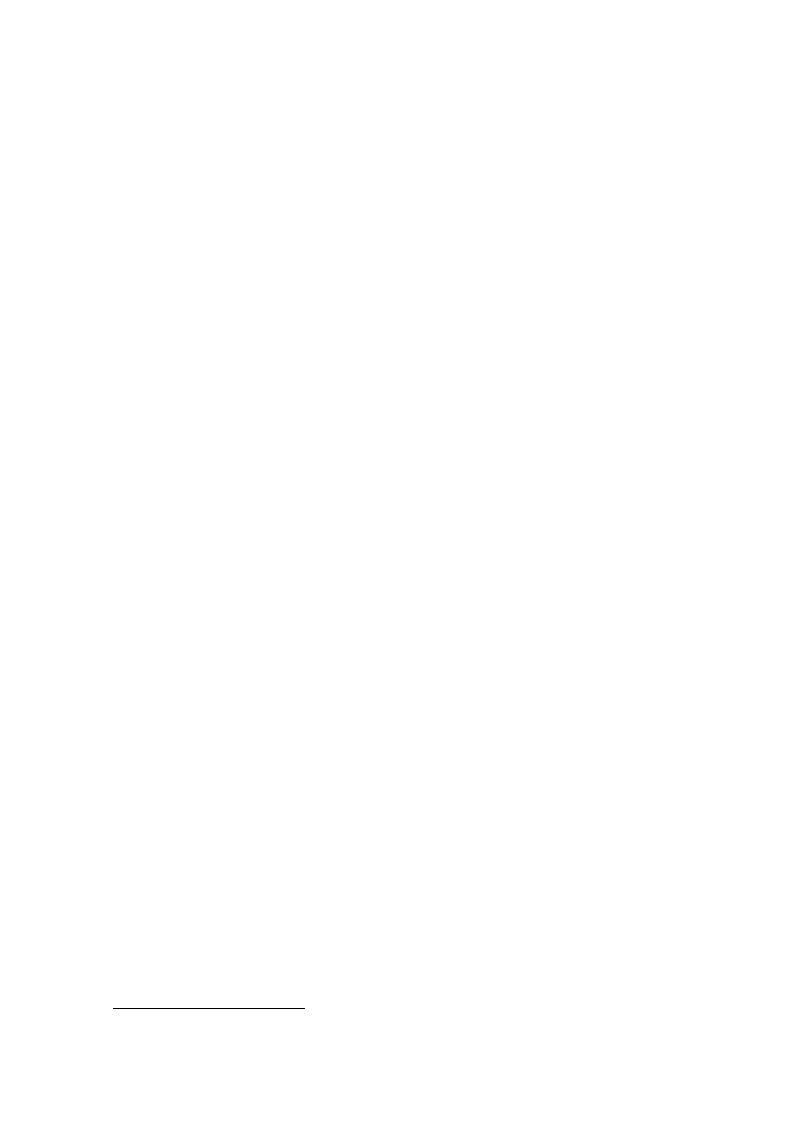
representa as transformações cíclicas que vêm ocorrendo desde a criação. E assim
por diante.
Desse modo, pensar o corpo em muitas sociedades indígenas requer concebê-lo como
pertencente à mitologia de cada povo. Sendo esta relacionada com o sol, a lua, as estrelas e
demais corpos celestes.
Muitas das ideias e histórias desenvolvidas sobre o homem e a natureza são
influenciadas pela concepção que cada povo tem da Terra, de sua relação com os
astros (principalmente com o sol e a lua) e com sua posição no espaço. Para realizar
um bom trabalho em suas aulas de ciências, o professor indígena precisa conhecer as
ideias que os mais velhos têm sobre todas essas coisas. O trabalho com seus alunos
sobre esse conhecimento será útil não apenas nas aulas dedicadas a este assunto,
pois o tipo de concepção do Universo influencia fortemente todas as ideias sobre os
demais fenômenos naturais, o comportamento dos animais e do ser humano. As
ideias e descobertas da ciência sobre esse tema também são muito importantes para
que alunos compreendam um pouco a lógica do pensamento ocidental. Finalmente, a
observação do céu, as histórias relacionadas com as estrelas e a compreensão a
respeito dos movimentos da Terra, da Lua e do Sol, será uma fonte permanente de
prazer e beleza para todos os alunos indígenas (Ib. 276).
As cosmologias indígenas dizem respeito às representações de modelos complexos
que expressam suas concepções a respeito da origem do Universo e de todas as coisas que
existem no mundo. Assim, são descritos pelos mitos não somente a origem do homem, mas as
relações ecológicas entre animais, plantas e outros elementos da natureza, da origem da
agricultura, da metamorfose de seres humanos em animais, da razão de ser de certas relações
sociais culturalmente importantes, etc32. A relação com o corpo e com os mais velhos também
contém traços (ou são a própria) cosmologia.
Embora o RCNEI trabalhe numa perspectiva relacional e interdisciplinar, no que tange
ao conhecimento das disciplinas escolares, três dessas disciplinas destacam-se quando o tema
abordado vem a ser a questão do corpo: 1) Ciências, 2) Artes e 3) Educação Física. Para esta
utilizamos um item à parte, visto que lida especificamente com a área de saber científico
denominado cultura corporal de movimento, que aborda a questão conceitual a respeito da
corporeidade – tema que norteia este trabalho e que procuramos apreender no contexto
educacional e cultural. Sobre a disciplina Arte e as orientações do RCNEI para ela, optamos
por mencioná-la no primeiro capítulo (que trata das concepções de corpo nas sociedades
indígenas).
32 Sobre isso, ver o texto Mito e cosmologia. Disponível no site do Museu do Índio:
<http://www.museudoindio.org.br/template_01/default.asp?ID_S=33&ID_M=110>. Acesso em 10 out 2010.

c) A Educação Física33 escolar indígena: diferenciada e intercultural
O conhecimento só pode ser efetivo se ele for aplicado, se servir
para mais pessoas, se puder contribuir para a melhoria de
condições de vida de todos os alunos.
(Jocimar Daólio, 2005)
O corpo humano é um elemento central nas visões de mundo dos
índios brasileiros; preparar e educar o corpo é muito importante
nas suas culturas.
(RCNEI, 1998, p. 322)
Neste item pretendemos analisar as orientações do Referencial Curricular Nacional
para as Escolas Indígenas (RCNEI) concernentes à Educação Física. As epígrafes escolhidas
refletem a essência do que o documento apresenta, sobretudo quanto aos discursos dos
professores indígenas nele contidos. As etnias indígenas, embora muito diferentes entre si,
acreditam ser o conhecimento aprendido, de forma efetiva e verdadeira, somente por meio do
corpo. Defendem que todo projeto educativo perpassa pelo conhecimento de si, das
necessidades de seu povo e, assim, procuram tecer a defesa de uma formação capaz de
caminhar ao encontro da percepção do homem como sujeito sócio-histórico, portanto sensível
ao meio, produtor e produto de sua cultura, enfim, entendido como corpo-sujeito34.
Este corpo, em muitas situações, tem sido de certa forma um intruso no interior da
escola dos não-índios35 (o aluno precisa corresponder às expectativas do professor, o que
significa falar apenas quando for o “momento certo”). Indagamo-nos a respeito de como as
escolas indígenas lidam com esse corpo. E além disso, quais as necessidades de uma
Educação Física diferenciada para as aldeias? Cabe ressaltar o entendimento de que “a escola
é um laboratório vivo, sendo imprescindível ‘ler/escrever/estudar/pesquisar como arte36’” e
que vem a ser um direito inalienável das comunidades indígenas “decidir se (e como) um
currículo escolar de Educação Física pode ser útil à formação de suas novas gerações”
(RCNEI, 1998, p. 323).
33 No documento, a Educação Física é uma área de estudo escolar (RCNEI, 1998, p. 322), tal como as demais
abordadas no referido documento: Línguas, Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes. Assim, não
aprofundaremos na diferenciação entre disciplina e componente curricular (sendo este termo utilizado pela
LDBEN para descrever a Educação Física).
34 A escolha por essa forma de escrita, em que juntam-se palavras, é respaldada por pesquisadores dos
cotidianos, tais como as professoras Nilda Alves e Amparo Cupolillo. Por refutar o pensamento pautado em
dicotomias equivocadas (porque separam o que não pode ser separado), as autoras utilizam as palavras grafadas
juntas, apontando para o fato de somente fazerem sentido umas com as outras, como nos exemplos teoriaprática
e corposujeito. Todavia, salientamos, a escolha pelo uso do hífen pelo fato de quando intervocálico a consoante
“s” possui som de “z” – assim, em vez de corposujeito preferimos a grafia corpo-sujeito.
35 Mesmo não compondo os objetivos deste estudo, o incômodo causado por algumas dessas situações fazem-se
presentes. E inevitavelmente sentimos necessidade de buscar elementos capazes de menos abrandar tal incômodo
e mais de apresentar possibilidades de transgressão do que não nos satisfaz. Nesse sentido, fazemos coro com as
docentes da mesa de debates intitulada “Perspectivas da profissão docente”, ocorrida no dia 04 de novembro,
quinta-feira, às 16:30, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) Ana Dantas (UFRRJ) e Célia
Linhares (UFF). Linhares iniciou sua explanação citando a ideia do filósofo Platão de que aprender implica
modificar as atitudes. Com uma fala muito bem articulada, ela tratou da realidade vivida pelos trabalhadores da
educação, do problema da precarização do trabalho docente, das políticas públicas atuais, da estrutura física das
instituições escolares e do plano de cargos e salários. Mas apresentou alguns vetores que devemos, enquanto
profissionais da educação, considerar: os movimentos instituintes, as memórias e reminiscências educacionais,
as políticas da e na educação e as artes de educar. A referida mesa constituiu-se de um momento da Semana de
Educação, do Instituto de Educação da UFRRJ.
36 Defesa da professora Dra. Célia Linhares a qual corroboramos.

Para alguns grupos indígenas, é possível que não haja nenhuma razão para se ensinar
Educação Física na escola. Pode ser que eles considerem que a educação corporal
informal (fora da escola) e as atividades físicas desenvolvidas no dia-a-dia e nos
rituais são suficientes para a formação de suas crianças e seus jovens. Se a decisão
for essa, ela precisa ser respeitada (RCNEI, 1998, p. 323).
Certamente o assunto é delicado e, além de carecer de maiores pesquisas, estas
contidas em saberes fronteiriços (dialogando os especialistas da própria Educação Física, da
Antropologia e da Pedagogia), os conhecimentos da Educação Física são transmitidos às
novas gerações por meio de métodos próprios. Cada povo possui suas atividades específicas e
cabe ao mesmo identificar quando e como a educação corporal deve ser inserida. O RCNEI
aborda o fato de as Secretarias de Educação (estaduais e municipais) não poderem impor a
mesma Educação Física presente nas escolas dos não-índios. Contudo, será que os saberes
corpóreos transmitidos pela Educação Física às comunidades indígenas brasileiras são uma
forma de ampliar suas potencialidades? Nesse sentido, devem ser pensadas alternativas que
conciliem os conteúdos da disciplina formal aos jogos tradicionais de cada etnia?
Exatamente com a intenção aglutinadora de saberes (tradicionais indígenas e os
saberes da sociedade envolvente), procuramos dialogar com as orientações do Referencial
Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI), sobretudo no que tange às
possibilidades de atuação da Educação Física, área que refere-se ao conjunto de
conhecimentos ligados ao tema do corpo e do movimento. Se o corpo “traduz a nossa
presença concreta no mundo”, como nos diz Azoilda Loretto da Trindade, sendo nossas
potencialidades e existência nele circunscritas, visto que é com ele que “amamos, sonhamos,
produzimos, sentimos, percebemos, nos constituímos como sujeitos”, então é necessário nele
pensar com minúcia. Pois o corpo é o “lugar do aprendizado social”, sendo “na corporalidade
que se expressa toda a simbologia e cognição da pessoa humana que é concebida
diferentemente em cada grupo étnico, em cada sociedade” (GRANDO, 2009, p. 26).
Em busca de definições e perspectivas na formação de professores de Educação Física,
nos indagamos, em princípio, sobre o que entendemos por Educação Física. E tendo sido
respaldados pela pedagogia freireana, consideramos que alguns aspectos importantes ao
processo de formação docente (porque inerentes à constituição do docente-discente) possuem
importância para esse professor, um educador capaz de atuar na formação do ser humano em
sua integralidade. “O homem como totalidade orgânica [que] está inserido no mundo [...],
submetido aos movimentos do Universo” (FRIAS, 2004, p. 56), e também um ser complexo.
A Educação Física não é o único campo teórico-acadêmico que versa sobre o tema do
corpo; todavia, embora ela não seja a única área de conhecimento que toma a tal objeto de
estudo, os seus espaços propiciam as discussões a respeito do mesmo e do movimento
humano. Pensamos ser necessário defini-la para, então, identificar suas áreas de abrangência.
A indagação (O que é Educação Física?) feita durante o decênio de 1980, e documentada em
livro homônimo de Victor Marinho de Oliveira, ainda parece-nos digna de atenção. Ele a
definiu como ciência, cujo objeto de estudo vem a ser o movimento humano. Todavia, há
controvérsias e quem defenda a Educação Física como ciência aplicada ou simplesmente – e
não simploriamente – como prática pedagógica. Preferimos compreender a Educação Física
somando as três maneiras diferentes de compreendê-la abordadas por Zenaide Galvão, Luiz
H. Rodrigues e Luiz S. Neto. Segundo estes autores, a Educação Física deve ser entendida
como “um componente do currículo das escolas”, “uma profissão caracterizada por uma
prática pedagógica no interior das escolas e fora delas” e igualmente também “como uma área
em que são realizados estudos científicos” (GALVÃO, et al. 2008. p. 25).
Nesse sentido, torna-se relevante ter claro nossa identidade profissional. Assim, ainda
que muitos estudantes tenham optado pela área de fitness, extra-escolar etc., a atuação do
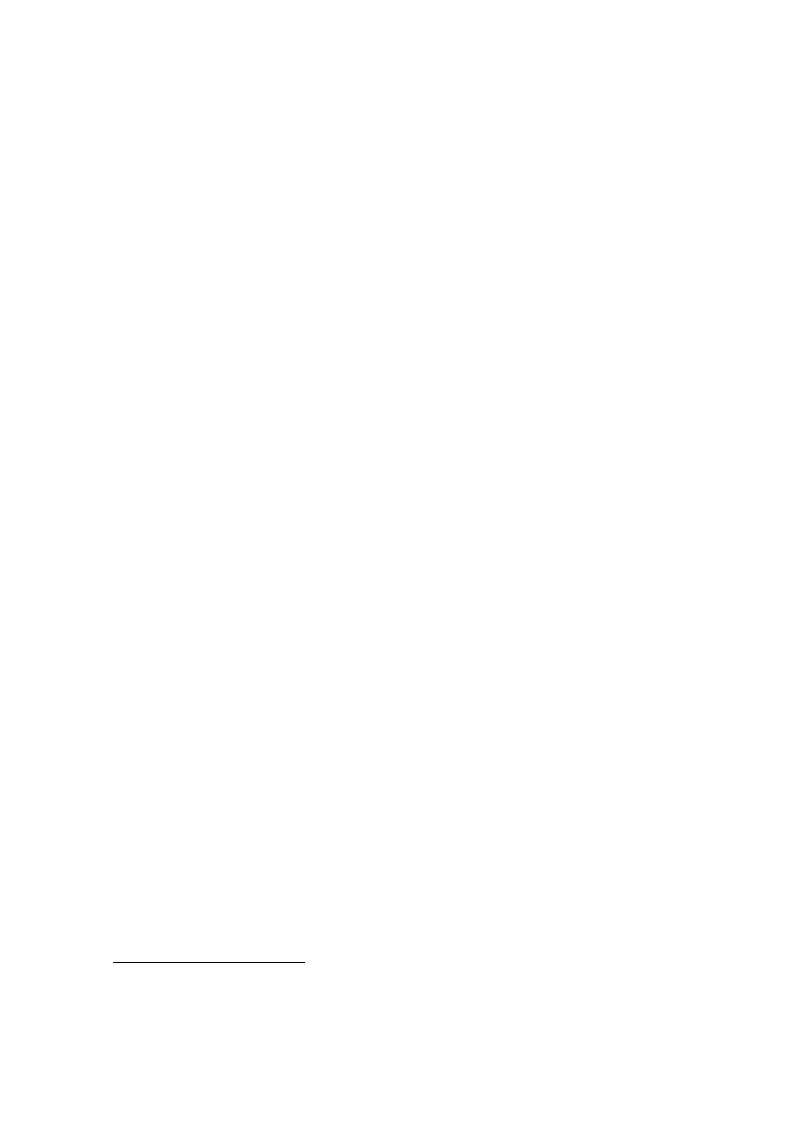
profissional de Educação Física é essencialmente docente. Isto é, somos professores atuando
tanto em espaços formais de educação – instituições escolares – quanto em espaços não-
formais – clubes, academias, escolinhas de esportes etc. Torna-se necessário – e a didática da
Educação Física cumpre muito bem esse papel – refletir acerca da identidade profissional do
professor de Educação Física. Somos antes de mais nada professores ou, nos termos de Paulo
Freire, “educadores” e isto em nada pode ser encarado como menor em detrimento do status
do profissional da saúde37. Por fim, poderíamos considerar também a Educação Física como
uma área de interface entre educação e saúde, cabendo compreendê-la de maneira ampliada.
Independentemente do espaço em que ocorra a intervenção do professor de Educação
Física sempre há que levar em conta sua área de investigação científica, que se intitula cultura
corporal de movimento, e que compreende Educação Física como prática pedagógica. O
corpo, então, é entendido de forma ampla; não mais apenas a dimensão física, mas palco das
produções vivenciadas por meio da interação indivíduo-mundo:
Quem faz é o próprio corpo, quem pensa é também o corpo. As produções físicas ou
intelectuais são, portanto, produções corporais. Produções essas que se dão na
interação do indivíduo com o mundo (FREIRE, 1997, p. 134).
Ao defender que tanto as produções intelectuais quanto as físicas são produções
corporais, o autor trabalha com uma concepção de corpo não dicotômico e sim de um corpo
integral, total. Visão que dialoga com os pressupostos da Psicomotricidade, que se ocupa do
homem enquanto ser inteiro, pois considera que seu corpo é uma "unidade indissolúvel" e não
uma dualidade: “tomar consciência do corpo é ter acesso ao ser inteiro... pois corpo e espírito,
psíquico e físico, e até força e fraqueza, representam não a dualidade do ser, mas sua unidade”
(BERTHERAT, 1977, p.14).
Para desenvolver suas potencialidades, o sujeito educando deve ser encarado como ser
único, indivíduo, e ao mesmo tempo ser global. E se entendermos que uma das funções da
Educação Física é aumentar o repertório psicomotor, corporal dos alunos, cabe discutir qual o
papel do professor. Este deve procurar aumentar as vivências das diferentes práticas
corpóreas. Assim, quando se trata do conteúdo “esporte”, para citar um exemplo, o professor
pode buscar estratégias que lhe possibilitem aproximar o aluno dos fundamentos técnicos e
táticos essenciais às modalidades escolhidas e implementar um trabalho orientado ao
conhecimento das diferentes modalidades.
Então vale ressaltar o caráter educativo da Educação Física. Embora tratemos aqui da
educação como modelo de ensino formal e centralizado, ou seja, da educação escolar, a
compreensão do conceito de educação em sentido mais amplo nos remete ao pensamento de
Carlos Rodrigues Brandão. Este aborda, inclusive, a pluralidade do termo. Assim, sendo
Vista em seu vôo mais livre, a educação é uma fração da experiência
endoculturativa. Ela aparece sempre que há relações entre pessoas e intenções de
ensinar-e-aprender. Intenções, por exemplo, de aos poucos ‘modelar’ a criança, para
conduzi-la a ser o ‘modelo’ social de adolescente e, ao adolescente, para torná-lo
mais adiante um jovem e, depois, um adulto (BRANDÃO, 1981, p. 20).
Para o autor, em vez de educação há sim educações, no plural, porque em cada grupo
social com qual convivemos há um tipo de processo formativo e de alguma forma todos eles
37 Conceito, aliás, que exige reflexão e deve ser entendido muito além da descrição da Organização Mundial da
Saúde (OMS), no qual “saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a
ausência de enfermidade” (contido na carta de princípios de 7 de abril de 1948. A tríade melhorar, manter e
recuperar a saúde do sujeito parece complementar a descrição da OMS, porém nos parece ainda carente de maior
entendimento do que vem a ser saúde da pessoa.
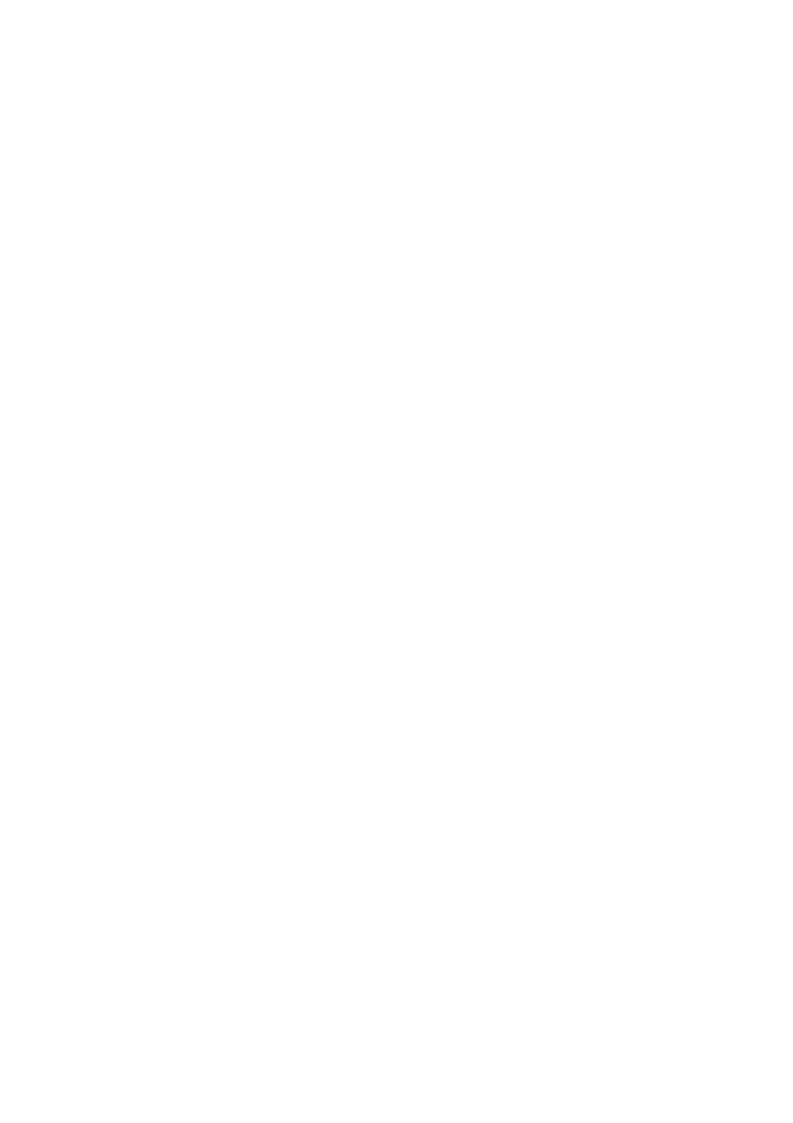
influenciam em nossa constituição. E todo conhecimento adquirido planta no ser humano a
possibilidade de mudança, de renovação. Então, como não conceber Educação como
transformação, já que
Todos os povos sempre traduzem de alguma maneira esta lenta transformação que a
aquisição do saber deve operar. Ajudar a crescer, orientar a maturação, transformar
em, tornar capaz, trabalhar sobre, domar, polir, criar, como um sujeito social, a obra,
de que o homem natural é a matéria-prima (Ib., 1981).
O ato de educar, como aborda Mészáros, não pode ser entendido simplesmente como
mera transferência de conhecimento, mas sim de conscientização e testemunho de vida.
Tendo em vista tal condição, defendemos uma educação que seja de fato emancipatória, capaz
de por meio de sua práxis filosófica (internalizada pelos que acreditam numa educação
enquanto formação humana ampla, qualitativa) transformar os sujeitos. Estes devem ter
garantido o acesso à educação básica e ao ensino superior (ainda que optem por não cursá-lo).
Segundo a Secretaria de Educação Básica, a Educação Básica vem a ser o caminho
para assegurar a todos os brasileiros a formação comum indispensável para o exercício da
cidadania e fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Dessa
forma, os principais documentos norteadores da educação básica são: a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e o Plano
Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172/2001. Ambos, evidentemente, regidos pela
Constituição da República Federativa do Brasil.
O conhecimento da legislação respalda/ampara o trabalho docente que se pretende
“decente”, como requer Paulo Freire, cujo pensamento aglutina docência à discência e
também à decência.
O Art. 26. § 3° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) possui uma
informação significativa para o trabalho do professor de Educação Física escolar. Segundo
ele, “a Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular
da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo
facultativa nos cursos noturnos”. Embora sua presença seja facultativa nos cursos noturnos, a
Educação Física deve ser pontuada pelos docentes como um componente curricular
importante em todas as etapas da educação básica.
Nessa etapa algumas indagações referentes ao planejamento de ensino, metodologia e
forma de avaliação são relevantes ao trabalho docente, porque ao interrogar a si mesmo, o
docente pode incutir maior qualidade aos processos de ensino-aprendizagem, à construção do
conhecimento, à relação professor/aluno(s), à relação aluno/aluno. Algumas dessas
interrogações são simples e ao mesmo tempo complexas dizem respeito a quem ensina quem,
quem aprende, quem ensina o quê, quem aprende o quê, como ensina, como aprende, quanto
tempo ensina, quanto tempo necessita, quando ensina e quando aprende, entre outras.
Por esse motivo, nos apropriamos da letra da música Comida, conhecida pela banda
Titãs, que versa sobre essa questão. Nós, seres humanos, sujeitos sócio-históricos, nos
alimentamos também de arte, diversão, lazer etc. Todas essas são situações sinestésicas que
somente podem ser vivenciadas por meio do corpo. É com ele que experimentamos e
questionamos a realidade que nos cerca.
Autores como Darido, Libâneo (1994), Coll et. al. (2000) e Zabala (1998), entendem
conteúdos de ensino como “o conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos
valorativos e atitudinais de atuação social, organizados pedagógica e didaticamente, tendo em
vista a assimilação ativa e aplicação pelos alunos na sua prática de vida” (2008, p. 65). Esse
conjunto de conhecimentos não podem ser negados aos povos indígenas, todavia há algumas
etnias que não aceitam a Educação Física escolar em suas aldeias – fato que deve ser
discutido com bastante cautela, já que por meio das aulas de Educação Física pode ser

possível ressaltar as culturas indígenas, considerando suas maneiras de lidar com o corpo (que
estiveram à margem, se tornaram algo secundário ao longo da história), mas não podem ser
dissociadas dessas culturas – pois constituem-se suas características (a pertinência das
culturas indígenas).
Além disso, a Educação Física não dá conta da totalidade; ela não se aplica a todos os
grupos, não é uma espécie de “chave universal”. É preciso, então, que os professores das
escolas indígenas identifiquem a nossa tendência (problemática e por vezes equivocada) de
totalizar a ocorrência de algo.
Pensar a importância e eficácia do conteúdo transmitido pela escola caminha ao lado
da função social que acreditamos ser dessa instituição e, consequentemente, do sentido
conferido a tudo aquilo que é transmitido aos alunos de forma sistemática, organizada,
estruturada. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), os conteúdos de
ensino
correspondem aos conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações
passadas como verdades acabadas, e, embora a escola vise à preparação para a vida,
não busca estabelecer relação entre os conteúdos que se ensinam e os interesses dos
alunos, tampouco entre esses e os problemas reais que afetam a sociedade (PCN,
Introdução, p. 30-31).
Muitos professores acreditam que o aspecto cultural deve ser levado em conta ao
planejar as atividades a serem selecionadas para as aulas de Educação Física. Evidentemente,
quando o professor organiza um plano de intervenção pedagógica, cujo ponto de partida é a
característica do grupo, sua faixa etária, seguido dos exercícios para ele motivadores e
igualmente do poder da Educação Física em vir a auxiliar numa melhora de habilidades,
buscando estimular uma prática regular no futuro. Pois, para além de formar para o mercado
de trabalho, a escola possui um compromisso com os sujeitos escolares que por ela passam, os
quais têm o direito de ter aliados os conhecimentos institucionalizados, sistematizados à
formação para a vida.
São inúmeros os conteúdos da Educação Física: brincadeiras, danças, esportes, lutas,
ginásticas jogos, entre outros elementos da cultura corporal de movimento.
Pessoalmente, tendo me debruçado um pouco mais sobre as questões teóricas do
jogo (ou lúdico), integro tais conteúdos numa dimensão maior que chamo de jogo
(cujas manifestações podem ser diversas, dependendo de cada contexto, tais como
brincadeiras, esportes, lutas, danças, etc.), e acrescento outros conteúdos na
dimensão do exercício corporal (exercícios de flexibilidade, de força, de resistência,
etc.). Diferencia-os o fato de que no jogo se inscrevem as atividades que fazemos
sem cumprir necessidades, sem obedecer a rotinas objetivas; [...]. Os exercícios são
rotinas, são tarefas, semelhantes às que cumprimos quando trabalhamos.
A partir da década de 1980, ocorre grande mudança no quadro histórico da área e os
conteúdos da Educação Física passam a ser alvo de preocupação por parte dos pesquisadores.
Para Daólio, (1995 p. 97), é “somente a partir do início da década de 1980, com a
redemocratização do país, é que a Educação Física começou a ser discutida de forma mais
contundente, levando ao reconhecimento de que sua prática escolar é problemática e visando
uma redefinição de seus objetivos, conteúdos e métodos de trabalho”. Inicia-se então uma
preocupação quanto aos conteúdos, objetivos pedagógicos de ensino e aprendizagem, e
métodos de avaliação, vinculados ao ensino escolar da Educação Física (PIOVEZAM;
BARRETO. p. 08).
Bracht (1992, p. 24) aponta o fato de a questão dos objetivos – conteúdos (métodos de
ensino) da Educação Física ser um dos pontos centrais do próprio desenvolvimento de sua
identidade pedagógica. Daí ser a profissão Educação Física estar intrinsecamente relacionada

à prática da docência. Tal relação nos remete à Pedagogia da autonomia, de Paulo Freire,
pensador/educador brasileiro cujas ideias contribuem em grande medida para uma prática
pedagógica interessada na efetiva formação humana, porque atenta ao inacabamento do
homem e, consequentemente, à sua capacidade de estar em constante aprendizado. Estamos
no mundo para fazer sentido, para muito além de ter, Ser. E Ser corresponde exatamente ao
ser autônomo, capaz de se perceber no mundo não como um mero autômato, mas disposto a
pensar/sentir/agir com liberdade de quem respeita os limites dos outros e de si próprio, um ser
que se sabe uma “Presença no mundo” (FREIRE, 1996, p. 18).
Os conteúdos curriculares, de acordo com os PCNs, atuam não como fins em si
mesmo, mas como meios para a aquisição e desenvolvimento dessas capacidades. Nesse
sentido, o que se tem em vista é que o aluno possa ser sujeito de sua própria formação, em um
complexo processo interativo em que também o professor se veja como sujeito de
conhecimento (Ib., p. 33).
Portanto, sequenciar esses conteúdos e adequá-los aos diferentes ritmos de
aprendizagem dos educandos (PCN, Adaptações curriculares: Estratégia para a educação de
alunos com necessidades especiais, p. 18) é tarefa fundamental, visto que tem a ver com a
própria progressão pedagógica – um direito do aluno e dever do professor, uma vez é uma
grande facilitadora do processo de ensino-aprendizagem.
Os conteúdos da Educação Física na escola estão circunscritos nas seguintes
categorias, segundo Zabala e César Coll: Conceitual (refere-se ao que se deve saber, estando
no plano da cognição); Procedimental (diz respeito ao que se deve saber fazer, localizado na
dimensão da motricidade) e Atitudinal (é o como se deve ser, seu plano é o da afetividade).
Os conteúdos conceituais e procedimentais mantêm uma grande proximidade, na
medida em que o objeto central da cultura corporal de movimento gira em torno do fazer, do
compreender e do sentir com o corpo. Incluem-se nessas categorias os próprios processos de
aprendizagem, organização e avaliação. Os conteúdos atitudinais apresentam-se como objetos
de ensino e aprendizagem, e apontam para a necessidade de o aluno vivênciá-los de modo
concreto no cotidiano escolar, buscando minimizar a construção de valores e atitudes por
meio do “currículo oculto” (PCN, 1998, p.19).
Suraya Cristina Darido exemplifica tais conteúdos da seguinte maneira: a dimensão
conceitual visa conhecer as transformações por que passou a sociedade em relação aos hábitos
de vida (diminuição do trabalho corporal em função das novas tecnologias) e relacioná-las
com as necessidades atuais de atividade física; a dimensão procedimental procura vivenciar
situações de brincadeiras e jogos e a dimensão atitudinal busca, por exemplo, valorizar o
patrimônio de jogos e brincadeiras do seu contexto ou ainda reconhecer e valorizar atitudes
não-preconceituosas quanto aos níveis de habilidade, sexo, religião e outras (DARIDO, 2008,
p. 65-66).
Os conteúdos escolares possuem um significativo caráter histórico, pois que ao longo
do tempo eles são elaborados e reelaborados conforme as necessidades de cada época e os
interesses sociais vigentes.
No Brasil, a influência da área médica (ênfase nos discursos pautados na higiene,
saúde e eugenia, dos interesses militares e do nacionalismo), como o exemplo do método
francês, a Educação Física foi orientada pelos princípios anátomo-fisiológicos (visando o
desenvolvimento harmônico do corpo) e, na idade adulta, a melhoria do funcionamento dos
órgãos (Ib., p. 69).
Em seguida, o Método Desportivo Generalizado (MDG), que procurava atenuar o
caráter formal da ginástica, incluindo o conteúdo esportivo, com ênfase no aspecto lúdico,
cujos objetivos eram a iniciação dos alunos em diferentes esportes; a orientação para as
especializações através do desenvolvimento e o aperfeiçoamento das atitudes e gestos,

desenvolver o gosto pelo belo, pelo esforço e performance e provocar as necessidades de
higiene (Ib., p. 69).
Quando, na década de 1970, o governo militar apoiou a Educação Física na escola,
seus objetivos estavam voltados à formação de um exército composto por uma juventude forte
e saudável, juntamente com a desmobilização de forças oposicionistas –fato que estreitou os
vínculos entre o esporte e o nacionalismo, o que vivenciamos até os nossos dias.
Com o decênio de 1980, e seu novo cenário político, o modelo de esporte de alto
rendimento para a escola passa a ser fortemente criticado fazendo surgir outras formas de se
pensar a Educação Física na escola.
Daí por diante ganham visibilidade a Psicomotricidade, cujo interesse é a formação
integral do aluno, tendo Le Bouch (1986) como um dos principais representantes; a
Perspectiva construtivista, na qual o conhecimento é construído a partir da interação do
sujeito com o mundo; a Saúde renovada, a Educação Física na escola é encarada como meio
de promoção da saúde ou a indicação para um estilo de vida ativa proposta por Nahas (1997).
Além das Abordagens críticas, as quais sugerem que os conteúdos da Educação Física devem
propiciar a leitura da realidade do ponto de vista da classe trabalhadora, sendo de grande valia
relacionar os conteúdos da mesma com os principais problemas sociais e políticos
vivenciados pelo alunos (DARIDO, 2008, p. 71).
Na década de 1990, ganham expressão os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil
1997 e 1998), documentos que procuram articular o aprender e o fazer, o saber por que está
fazendo, relacionando as três dimensões dos conteúdos e propõem relacionar as atividades da
Educação Física com os grandes problemas da sociedade brasileira (Temas Transversais),
sem, no entanto, perder de vista seu papel de integrar o cidadão na esfera da cultura corporal
(DARIDO, 2008, p. 72).
Mas por que diversificar e aprofundar os conteúdos da Educação Física? Nos
apropriamos da afirmação de Suraya Darido de que “todos os alunos têm direito a ter acesso
ao conhecimento produzido pela cultura corporal” e, por essa razão, a Educação Física na
escola deve “incluir tanto quanto possível todos os alunos nos conteúdos que propõe,
adotando para isto estratégias adequadas” (2008, p. 73-74).
É possível ampliar o leque de atividades corporais na escola, mesmo porque são
inúmeras as modalidades ainda pouco ou quase nada exploradas pelo professor de Educação
Física. Darido cita, como exemplos, Tavaler (1995), que propõe a prática do Tai-chi-chuan e
Volp (1994), que indica a dança de salão. Há também o yoga, o tênis de mesa, o badminton,
as atividades circenses, as práticas corporais alternativas. Vale ressaltar que neste terreno é
preciso ir além do costumeiro jogar...
Para a autora, um ensino de qualidade deve não só diversificar os conteúdos na escola,
mas também aprofundar seus conhecimentos, isto é, tratando-os nas três dimensões e
abordando os diferentes aspectos que compõem as suas significações (Ib.,, p.75). No caso do
futebol, ela exorta o professor a transcender o fazer (técnicas e táticas), procurando abordar a
sua presença na cultura – tais como as transformações ao longo da história; a dificuldade de
expansão do futebol feminino (causas e efeitos); a mitificação dos atletas de futebol; os
grandes nomes do passado; a violência nos campos de futebol etc.
Ao professor de Educação Física cabe ultrapassar a ideia única de estar esta prática
pedagógica voltada apenas para o gesto motor correto. Eis que entram em cena a
problematização, a interpretação, a capacidade de relacionar, compreender com seus alunos as
amplas manifestações da cultura corporal, de tal forma que os alunos compreendam os
sentidos e significados impregnados nas práticas corporais (DARIDO, 2008, p. 76).
Em relação ao esporte, este deve ser entendido como algo a ser aprendido, devendo ser
relacionado à vivência propriamente dita e aproximando o aluno dos fundamentos técnicos e
táticos essenciais às modalidades escolhidas e implementar um trabalho orientado ao

conhecimento das diferentes modalidades. A organização de um plano de intervenção com o
intuito de estimular uma prática regular (GALVÃO et al, 2008, p. 186) é igualmente
importante. Há que diferenciar, inclusive, o esporte na escola do esporte competitivo, eles
necessitam de tratamento diferenciado. Outro ponto chave é a interferência do professor que
está orientando a atividade: ela deve passar pelos critérios capazes de promover a inclusão da
totalidade dos alunos ou aproximar-se ao máximo da totalidade. Os documentos que orientam
os professores podem de fato auxiliar nesse sentido, como no caso dos PCNs, que abordam as
competências básicas, as quais irão compreender o aluno como produtor de conhecimento e
cidadão participante – também concebido como sujeito autônomo, caso utilizemos o olhar
freireano.
O ensino da dança, por exemplo, pode estar unido à proposta pedagógica: o professor
pode perfeitamente incluir a dança nos planejamentos das aulas de Educação Física Escolar de
forma lúdica, natural e orientada, valorizando as diferenças, respeitando limites e detectando
as capacidades individuais na ação coletiva. Já as lutas na escola devem servir como
instrumento de auxílio pedagógico ao profissional de Educação Física: o ato de lutar deve ser
incluído dentro do contexto histórico-sócio-cultural do homem, já que o ser humano luta,
desde a pré-história, pela sua sobrevivência (FERREIRA, 2006, p. 02).
Na escola do não-índio, o componente curricular Educação Física deve estar integrado
às demais disciplinas (realizando um efetivo trabalho interdisciplinar), todavia devendo o
professor buscar incessantemente o alcance dos objetivos tendo como referência os
conhecimentos próprios da área. Como discutimos ao longo de nossa formação docente, a
Educação Física possui relevância e conteúdos próprios e, por isso, cabe certamente o
trabalho em conjunto (com todos os professores), mas não sua utilização como mero ponto de
apoio das disciplinas, espécie de aula de reforço. Na escola do não-índio tais características
não são diferentes.
Por isso, é de suma importância o entendimento da Educação Física como área de
investigação científica; profissão regulamentada (cuja preparação ocorre no Ensino Superior);
e componente curricular das escolas na Educação Básica – fato que a concebe como prática
pedagógica, já que se refere ao processo de ensino e aprendizagem que ocorre no cotidiano
das escolas, como salientam Darido e Neto (2008, p. 20), auxiliam na compreensão de um
olhar mais amplo da área e, certamente, nos ajudam a justificar sua importância nas escolas (e
em locais informais de ensino), além de orientar nossa intervenção docente.
Nas escolas dos “brancos” a ocorrência da Educação Física possui argumentos
consolidados, tais como a importância de ampliar o repertório psicomotor do alunos, relevante
para o seu desenvolvimento biocultural, et. Porém, nas escolas indígenas as indagações ainda
constituem-se de perguntas básicas, tais como: Por que Educação Física para os índios? Será
que as comunidades indígenas precisam de uma disciplina escolar para ensinar seus alunos a
movimentar o corpo das maneiras que elas consideram adequadas? Precisam da escola para
garantir a vida que consideram saudável para seus membros? (RCNEI, 1998, p. 319)
O referencial salienta que nas tentativas de se elaborar um currículo de Educação
Física compatível às necessidades dos grupos indígenas brasileiros, é comum começar com
afirmações que levam a esses questionamentos, que aparecem nas propostas de formação de
professores índios do Acre e do Xingu. Pois quase todas as comunidades indígenas do Acre e
Sudoeste do Amazonas (sem distinção de etnia, gênero, ou faixa etária) desempenham
atividades físicas cotidianas regulares, sejam as atividades produtivas, sejam as rituais e
lúdicas. Nesse contexto, as orientações pedagógicas do RCNEI buscam relacionar as
diferentes disciplinas às necessidades cotidianas, assim:
Tal relação exige que o espaço físico da escola indígena compreenda outros locais
de socialização e construção curricular: a vida social, com seus eventos cotidianos e
extraordinários, passa a ser um importante fator de influência na seleção do currículo

escolar. Uma pescaria coletiva, como parte das atividades de educação física; a
abertura de um roçado, para a alimentação escolar; a limpeza do terreno em volta da
escola; a construção de um viveiro de árvores frutíferas, e assim por diante. Tais
eventos fazem a ponte entre o saber escolar e a vida da comunidade, abrindo as
portas da sala de aula e dando o sentido social e comunitário da escola indígena (Ib.,
p.63).
Para a maior parte dos grupos indígenas não há a necessidade de inclusão de suas
atividades corpóreas no currículo escolar, uma vez que elas “fazem parte do conjunto de
conhecimentos que o aluno possui independentemente da escola” (Ib., p. 322). Por esse
motivo, o currículo dessa disciplina deve existir como complementação da educação corporal
desenvolvida fora da escola. Quando for bem recebida pelo grupo, “a aula de educação física
deve promover o complemento das atividades físicas da aldeia/comunidade”, depoimento de
Lucas Rumi'o, professor Xavante, MT, (Ib., p.323).
A Educação Física diferenciada e intercultural é um direito dos estudantes indígenas,
ainda que optem por não tê-la – o que talvez não proceda com as intenções da aldeia, visto
que os esportes são bem recebidos pelos índios. “Suas práticas fazem parte do cotidiano e do
imaginário de muitos dos povos indígenas que vivem no país” (Ib., p. 323), haja vista a
realização dos Jogos dos Povos Indígenas do Brasil (em sua décima primeira edição), que
conta com os vários esportes tradicionais indígenas, tendo como objetivo principal a
demonstração e celebração entre os representantes das etnias; não há prêmio para a equipe
vencedora nem juiz para intermediar as “partidas”. O RCNEI relata o grande interesse dos
índios pelo futebol (que pudemos constatar nas visitas à aldeia dos Guarani Mbyá, do Rio
Janeiro).
O esporte, de modo geral, é uma poderosa linguagem do mundo contemporâneo. Por
intermédio dele, comunicam-se mulheres e homens; crianças, velhos e adultos; ricos
e pobres; diferentes grupos étnicos e países tão distantes como o Brasil e o Japão.
Ao que parece, os índios brasileiros vêm percebendo isso: dominar a linguagem
esportiva pode ser uma forma de, ao mesmo tempo, conhecer o “mundo dos
brancos” e divulgar a cultura indígena para os não-índios. E, de fato, os esportes são
mencionados frequentemente como demandas indígenas na área da Educação Física
escolar: Em 1995, os professores indígenas [do Parque do Xingu] reivindicaram a
introdução do vôlei nos cursos de formação, solicitando também o aprendizado das
regras específicas do esporte (Ib., 324).
Como dito, o esporte é um dos conteúdos possíveis da Educação Física escolar
(porque pertencente à cultura corporal de movimento) e que apresenta em si diferenciações,
que devem ser abordadas durantes as aulas. Vivenciar corporalmente os esportes não significa
assimilar o desporto de competição. Outro aspecto importante sobre a questão é que, já
fazendo parte do cotidiano de grande parte das aldeias e reservas indígenas brasileiras, os
esportes também trazem consigo alguns aspectos problemáticos. Estes dizem respeito a
certas avaliações preliminares na área da Educação Física, as quais indicam que,
depois do contato sistemático com a sociedade envolvente, os esportes “dos
brancos” passam a “substituir” os jogos indígenas tradicionais. Numa Unha
semelhante de raciocínio, encontramos, em algumas comunidades indígenas, a
atividade esportiva como motivo de desavenças: as novas gerações costumam ser
adeptas entusiasmadas da prática do futebol e de outros esportes; os mais velhos, por
sua vez, tendem a acreditar que o gosto excessivo dos jovens por essas práticas
mantêm-nos afastados das atividades cerimoniais do grupo (Ib., 234).
A ocorrência do esporte, então, pertence a um campo complexo em que, se por um
lado por meio de seus elementos o professor de Educação pode trabalhar valores e um
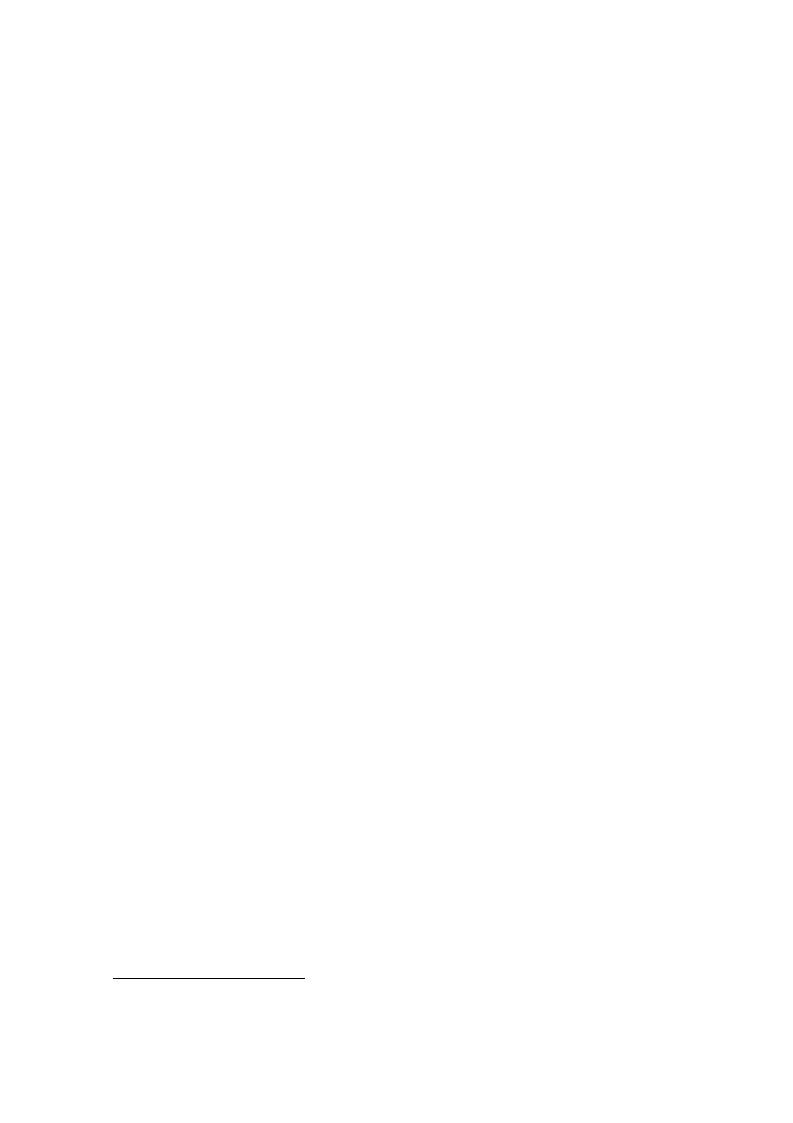
conjunto de movimentos específicos; por outro pode servir de apologia à competição
exacerbada, às demandas mercadológicas e midiáticas e à desvalorização da cultura indígena.
A mediação docente, nesse sentido, pode propiciar uma percepção crítica dessa realidade, à
medida que gera debates e reflexões sobre o tema.
Se é assim, a escola pode contribuir para que se forme um entendimento melhor
dessas situações, e para que se contorne essa discordância entre velhos e jovens. O
currículo de Educação Física pode ajudar a formar alunos críticos, capazes de refletir
sobre essas situações de conflito relacionadas às culturas corporais indígenas;
estudantes capazes de indagar: será que é assim mesmo? Será que a relação entre os
esportes "modernos" e os jogos e práticas corporais indígenas é de mera
substituição? Não é realmente possível conciliar os dois tipos de atividades? (Ib., p.
235)
O RCNEI defende que a área de Educação Física escolar pode estar voltada para um
primeiro objetivo, compatível com as demandas e realidades indígenas atuais: trata-se de fazer
com que o aluno, a partir dos conhecimentos próprios de sua cultura e dos
conteúdos aprendidos nas outras disciplinas escolares, conheça e avalie criticamente aqueles
elementos da “cultura corporal de movimento” (brincadeiras, jogos, esportes, exercícios de
ginástica, danças, lutas etc.) da sociedade envolvente que, na perspectiva indígena, forem
mais interessantes e atraentes (p. 325).
Dois os motivos contam a favor das aulas de Educação Física nas escolas indígenas.
Um converge com um espaço de sistematização de informações e conhecimentos sobre os
variados esportes que chegam até eles (como o vôlei, o atletismo e o futebol) por meios de
comunicação, do contato com não-índios e da prática dos próprios adultos nas comunidades
em que vivem. Outro motivo vai ao encontro da construção de conhecimentos sobre a questão
da saúde:
As limitações dos territórios indígenas e a fixação em aldeias, bem como as grandes
fazendas instaladas em seu entorno, podem levar ao rareamento da caça e da pesca,
o que tende a modificar os hábitos alimentares e a reduzir as atividades físicas
dessas populações. Seguem daí problemas como o sedentarismo, a obesidade e casos
de diabete entre índios (Ib., p. 325).
A busca de uma vida mais saudável é apontada como um segundo objetivo da
disciplina Educação Física na escola. Entendendo que o termo saúde está associado a aspectos
diversos e que possui em si “subjetividade implícita” e “ambiguidades”, mas é fato
atualmente que não significa ausência de doença (focalização da doença enquanto desvio
biológico em relação a um critério de normalidade – predominância de termos negativos),
mas a capacidade de o sujeito ao adoecer vir a se reabilitar/recuperar, voltando a desempenhar
as tarefas de seu cotidiano38.
Alguns Xavante, por exemplo, consideram que, nos dias de hoje, em que os jovens
já não vão com tanta regularidade à caça e à pesca, certos exercícios físicos, como
corridas longas e jogos de futebol, podem ajudar a livrá-los da "preguiça" e preparar
seus corpos para o futuro. Ou seja, nas condições atuais, os Xavante percebem que o
esporte satisfaz certas qualidades tradicionalmente valorizadas por sua cultura -
resistência física, rapidez, agilidade, vivacidade e astucia -, contribuindo para a
educação corporal e para a formação de jovens saudáveis (Ib., p 325).
38 Questão tratada na obra intitulada Saúde, promoção da saúde e educação física: conceitos, princípios e
aplicações, dos autores Paulo de Tarso Veras Farinatti e Marcos Santos Ferreira (2006). Ao apresentar um
resumo da evolução temporal do conceito de saúde, os autores introduzem seu entendimento em uma perspectiva
biopsicossocial.
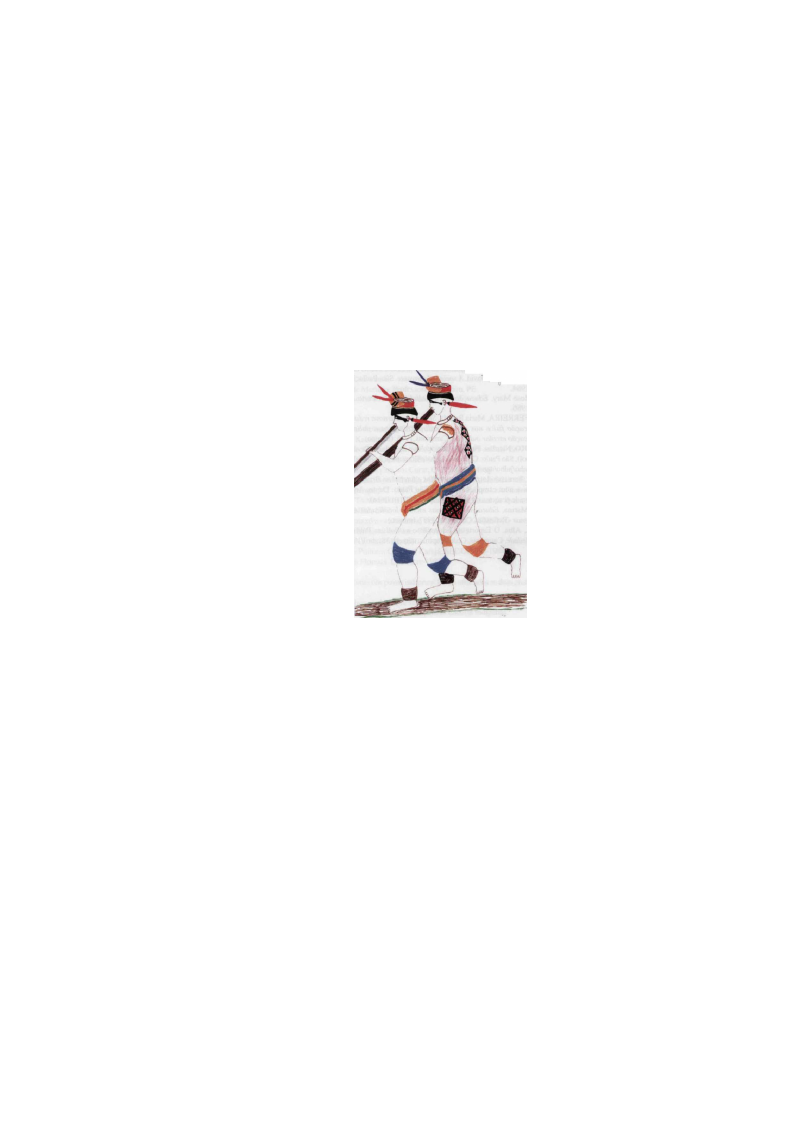
Nesse contexto, a tríade saúde, promoção da saúde e Educação Física faz-se
importante para pensar em confluência com a “perspectiva biopsicossocial”, a qual reconhece
saúde não como ausência de doença, mas a capacidade de o sujeito ao adoecer vir a se
reabilitar/recuperar, voltando a desempenhar as tarefas de seu cotidiano (FARINATTI;
FERREIRA, 2006). Assim, pensamos ser igualmente relevante o entendimento da prevenção
em saúde pública como ciência e arte de evitar doenças, prolongar a vida e desenvolver a
saúde física, mental e eficiência (DE PAULA; BRAGA, 1997).
O terceiro motivo que justifica uma proposta de Educação Física em escolas indígenas
é que os problemas decorrentes do contato com a sociedade nacional envolvem situações
variadas, chegando, até mesmo, a casos de abandono de aspectos da cultura indígena. A
escola pode ajudar a enfrentar essa situação (Ib., p325).
Amarildo Tahugaki Kalapalo, Parque do Xingu, MT (RCNEI, 1998)
Acreditamos que a teoria de Paulo Freire pode ser um grande contributo à intervenção
do professor de Educação Física por inúmeras razões, dentre elas a própria análise que tece a
respeito da prática pedagógica do professor em relação à autonomia de ser e de saber do
educando; o respeito com que identifica o conhecimento que o aluno traz para a escola; o
papel do professor enquanto sujeito ético; o fato de não haver docência sem discência (e
decência!), entre outras muitas contribuições (significativas tanto para as escolas dos não-
índios quanto para as indígenas). Os questionamentos continuam e nos provocam duas
sensações: do reconhecimento de nosso inacabamento (abordado por Paulo Freire) e
igualmente de nosso desejo incessante de conhecer e melhorar a nossa intervenção docente
(neste caso, a atuação do professor de Educação Física), visto que somos sujeitos eternamente
aprendentes. Nas escolas indígenas, para que essa percepção de aprendizagem e de sujeitos
autônomos seja efetiva, há a necessidade de considerar o que os povos desejam e o que não
desejam para a escola e para a Educação Física. Nesse sentido, o RCNEI constitui-se um
avanço para esses povos por apresentar visões distintas; relacionar as culturas indígenas com
as da sociedade envolvente (identificando a ausência de supremacia de uma em detrimento da
outra); por apresentar as contradições e conflitos existentes no próprio processo de feitura de
documentos que sirvam de orientadores e norteadores do que deve ser um currículo pautado
nas demandas das pessoas. As falas dos professores indígenas convergem exatamente para
essa preocupação: o desejo de uma educação e uma Educação Física específicas, ou seja,
atentas à reanimação, reavivação da importância da cultura como um todo (parecer do
Professor Lucas Rumi'o Xavante, MT).
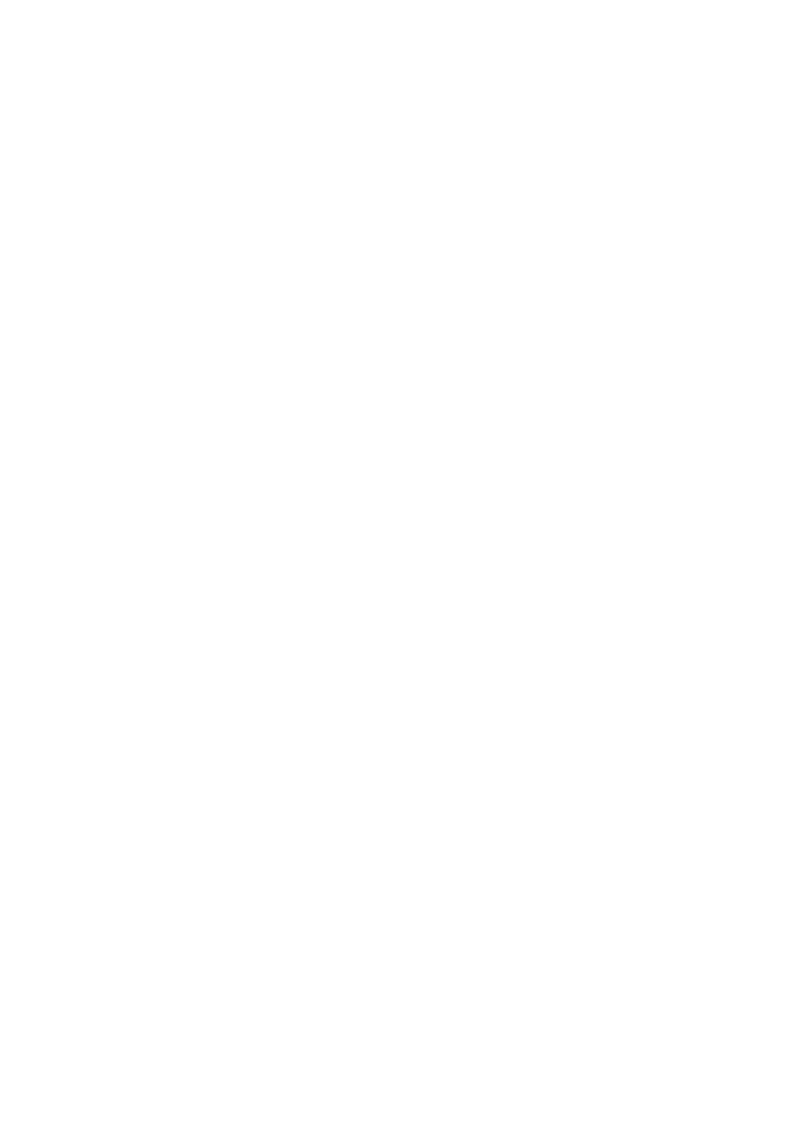

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A mensagem que gostaria de deixar [...] é, contra todo o desânimo e a falta de horizontes que
nos atinge no momento presente, uma palavra de confiança no homem e na educação, uma
mensagem, portanto, de esperança. Com efeito, pelo simples fato de eu continuar trabalhando
e lutando no campo da educação, mantém-se viva a esperança, isto é, a confiança de que o
homem é capaz de, desenvolvendo as suas potencialidades, superar suas limitações; e isto não
apenas como indivíduo mas como espécie, o que significa que, como agente histórico, a
humanidade é portadora do futuro, sendo capaz de transformar as condições em que vive na
direção da realização de seus ideais. Não fosse assim, tivesse eu perdido a esperança, eu teria,
por coerência, que abandonar o campo da educação e me dedicar a qualquer outra atividade.
Para mim, um educador sem esperança é uma contradição lógica, um absurdo39.
(Dermeval Saviani)
Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade.
(Oswald de Andrade)
Os brancos só contaram um lado. Contaram o que lhes agradava. Contaram muito que não
era verdade. O homem branco só contou suas melhores ações, só as piores dos índios.
(Lobo Amarelo, dos Nez Percés)
O conceito de corporeidade situa o homem como um corpo no mundo, uma totalidade que age
movida por intenções.
(Giovanina Gomes de Freitas)
Hoje eu vou tirar prova de estudo. Eu escrevi assim no quadro para eles copiarem no caderno:
“Depois que eu entrei na escola, o que eu já aprendi”.
(Itsairu, professor Kaxinawá, AC)
A aula de hoje foi de português, com o assunto da avaliação da ortografia. Pedi para fazerem
um texto com o tema da caçada. Quando terminaram, trocaram o texto com os outros, para
que lessem. Depois escrevi o texto de cada um no quadro e pedi ao dono para 1er como ele
mesmo escreveu. E aí ficaram corrigindo os erros que cometeram (...).
(Joaquim Maná, professor Kaxinawá, AC)
Esta pesquisa procurou investigar as concepções de corporeidades na educação escolar
indígena, que poderia muito bem ser grafada no plural (educações), visto que o próprio
Referencial Curricular para as Escolas Indígenas (RCNEI) apresenta as concepções e os
discursos de inúmeros povos ameríndios, objetivando abarcar a necessidade de atender às
demandas (variadas) de cada etnia. Ainda que o nosso cerne seja a modalidade de educação
formal, escolarizada; são marcadamente significativos os processos educativos nos quais por
meio do corpo inscrevem-se os acontecimentos de suas culturas. O corpo está na escola, está
além dela; ele está no mundo e subentende o sujeito (ser corpóreo), sua existência no cosmos.
Nas sociedades ameríndias, existem diversas formas de materialidade corporal, as quais são
praticamente incompreensíveis para a sociedade envolvente40.
39 Entrevista concedida por Dermeval Saviani à Helena de Sousa Freitas, do Jornal Literário.
40 Talvez este estudo não tenha conseguido expor com minúcia e fidedignidade como os ameríndios concebem
as diversas materialidades corpóreas. A relevância do corpo nas sociedades indígenas é tamanha por ser sempre
relacionado à alma e às cosmologias (que representam a ordenação do universo) de cada uma delas. Tratar da
questão do corpo para os povos ameríndios impõe um despir-se da visão colonizadora que, de certa maneira,
fragmenta o sujeito que o encarna ao separá-lo da mente e do espírito. Assim, ausentes as dicotomias de toda
ordem – homem/sociedade, natureza/cultura etc. – corpo subentende mais do que a presença no mundo, dizendo
respeito a capacidade de transformação: “Morrer é se transformar em onça imortal, é não morrer, é reviver
através de outra forma de materialidade corporal”. Há nessas corporeidades outras possibilidades de
materializações corpóreas, outras maneiras de ser, além da própria tríade sentir/pensar/agir teorizada por autores
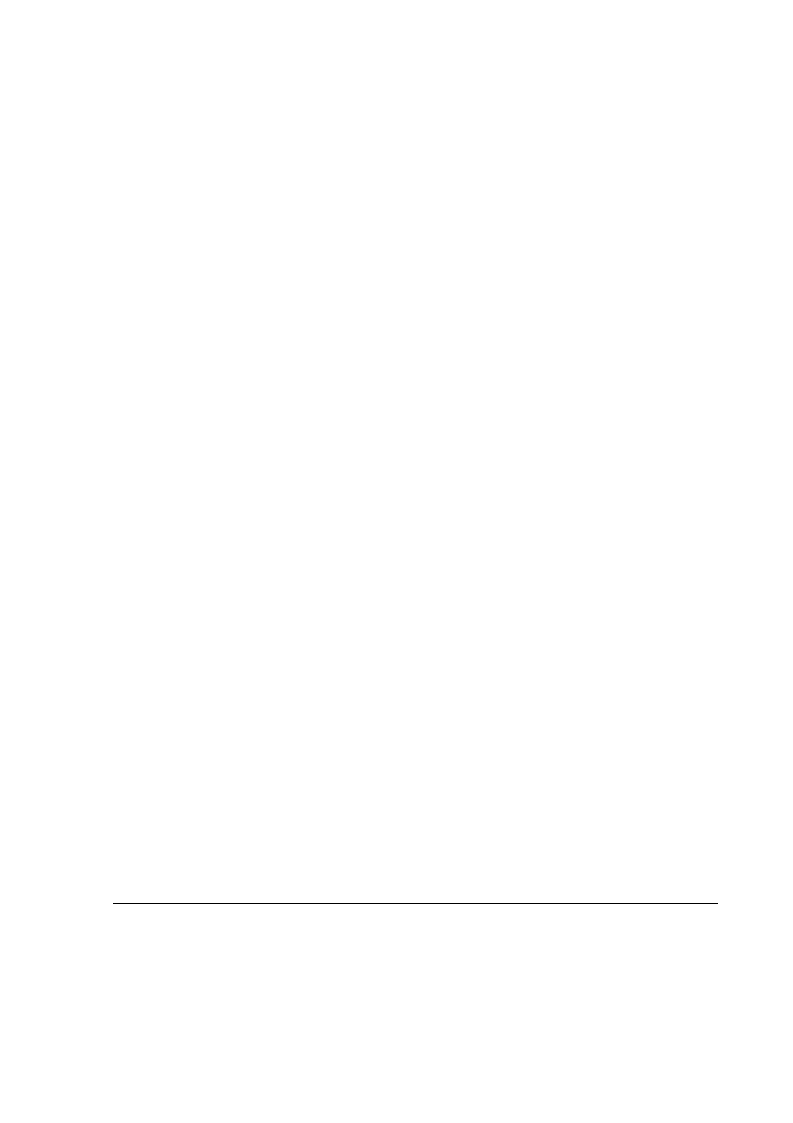
O tripé corpo/educação/cultura, por lidar com a constituição da pessoa humana
identificando suas complexidades, singularidades, diferenças, identidades, subjetividades e
multiplicidades, pareceu-nos ideal no contexto do processo de escolarização indígena, ainda
que haja um longo caminho a trilhar. A condição humana corpórea, a partir da referida tríade,
permite repensar o que é educação física e refletir sobre a educação, não como um fim em si
mesma, mas como possibilidade de formação humana.
No esforço de superar os limites dos paradigmas tradicionais da historiografia, e
utilizando o respaldo de Dermeval Saviani e Walter Benjamin, procuramos identificar o lugar
das corporeidades indígenas no contexto das práticas educativas, retomando em um primeiro
momento o monopólio da vertente religiosa da Companhia de Jesus – sob as condições de um
Brasil aos poucos se incorporando ao império português – para, em um segundo momento,
apontar a relevância das manifestações corpóreas para as sociedades ameríndias. Podemos
inferir que todas as tentativas de dominar o corpo do “selvagem” por parte dos pedagogos
jesuítas constituem-se, ainda na contemporaneidade, um verdadeiro desserviço para as
sociedades indígenas.
Dos documentos lidos acerca do contexto colonial, identificamos a rejeição (e de certa
maneira a negação41) das corporeidades indígenas em nome de um processo “civilizatório”
opressor por parte dos colonizadores. Incutir os valores do europeu significava vestir o índio,
visto que as vestimentas de um povo refletem seus hábitos, sua cultura, sua maneira de ser.
No Brasil que se incorporava ao império português, isso significava não apenas vestir os
corpos nus dos povos ameríndios, mas principalmente obrigá-los a destituir-se de seus
hábitos, de suas crenças, de suas cosmologias. Como se houvesse uma única forma de
ser/fazer-se homem. O “encontro” de civilizações foi marcado por estranhamentos, causados
pelas diferenças visíveis a partir do olhar acerca do outro. E a história oficial registrou apenas
o olhar do europeu (do colonizador), retrato indissociável de uma educação ainda arraigada ao
pensamento medieval, a qual via no corpo humano a imagem do pecado – ainda que o
Renascimento tenha retomado a ideia de civilizações como a grega. A vestimenta contundente
foi além da intenção de cobrir o corpo físico, dizia respeito à necessidade de o “homem
branco” em “salvar” os ameríndios da barbárie, tornando-os seres civilizados por meio da
catequese. Podemos, então, encarar a educação jesuítica como uma política social de
conversão ao cristianismo, de “correção do corpo do Brasil”. Obviamente, por detrás da
catequização estavam a domesticação da força de trabalho, a exploração econômica e a
escravidão passiva.
Na contemporaneidade, apesar dos inúmeros conflitos existentes – como os interesses
de grupos políticos e a luta indígena pelos seus costumes e saberes – as corporeidades são
tidas como legítimas. A formação de índios, como professores e gestores das escolas
localizadas em terras indígenas, é hoje um dos principais desafios e prioridades para a
consolidação de uma Educação Escolar Indígena pautada pelos princípios da diferença, da
especificidade, do bilingüismo e da interculturalidade, (GRUPIONI, 2006, p. 24). É nesse
contexto que os povos indígenas do Brasil têm reivindicado uma escola que lhes sirvam de
instrumento para a construção de projetos autônomos de futuro, dando-lhes acesso a
conhecimentos necessários para um novo tipo de interlocução com o mundo de fora da aldeia.
do campo da corporeidade humana. Nesse contexto, talvez o termo complexidade pode não dar conta da noção
de corpo e de pessoa presentes nas cosmologias desses povos originários. Espera-se com trabalhos de campo
futuros compreender melhor tais cosmologias.
41 Embora sinônimos em muitos dicionários, os vocábulos rejeição e negação são encarados por nós como
pertencentes a um processo de progressão, no qual, primeiro rejeita-se para, em seguida, negar a cultura do
outro. Essa recusa das corporeidades ameríndias deveu-se ao intento de reprimir e corrigir as características que,
na visão do europeu, eram consideradas “bestiais”, “selvagens”, tendo em vista que as práticas corpóreas dos
indígenas (a nudez, o canibalismo e o incesto) os aproximavam dos animais e dos demônios.

Atualmente há que se pensar também nos avanços e conquistas indígenas em relação
ao acesso ao Ensino Superior, destacando a concretização de cursos específicos destinados
aos povos ameríndios – onde temos como pioneira a Universidade Estadual do Mato Grosso
(UNEMAT) com o curso de Licenciatura Intercultural – cujo objetivo é formar professores
indígenas, a partir do ano de 2001. Além desses cursos específicos, destacar as questões das
ações afirmativas e o direito ao acesso em cursos não necessariamente específicos também
podem ser compreendidos como luta pela ampliação e democratização do acesso ao Ensino
Superior.
Repleto de sentidos e valores, como marca o antropólogo francês David Le Breton, o
corpo deve ser entendido para além de sua dimensão física. E sendo “o eixo da relação com o
mundo”, estudá-lo implica compreender (ou buscar algumas compreensões acerca das) as
lógicas sócio-culturais que o envolvem e, igualmente, os movimentos do homem e a forma
como o mesmo participa dos processos educacionais. Porque corpo é movimento, é
deslocamento, é relação, e subentende o homem vivo capaz de sentir/pensar/agir.
Entendendo que a problemática da violência, da intolerância e da ausência de respeito
ao outro ultrapassam os limiares das condições socioeconômicas, bem como os “muros” da
própria escola, uma nova concepção de educação é uma iniciativa que propõe a (re)construção
de princípios, valores e recursos educacionais, fundamentados em uma Política Pedagógica de
inclusão (neste caso a indígena), que vise, por um lado, o entrelaçamento complexo da
realidade vivida com sonhos, subjetividades e sensibilidade (incluindo a livre expressão das
culturas), e por outro, o desenvolvimento da consciência de cidadania e dignidade humana,
pautada em uma cultura de paz e de um “saber com sabor”.
A partir de nossa identificação com as lutas dos povos ameríndios e de nosso
compromisso docente com o saber e contra as injustiças sociais, defendemos a relevância de
um projeto de descolonização em relação aos mitos da formação da cultura brasileira e, por
consequência, da imagem do índio como sendo o mesmo da época colonial. Muitos dos índios
de hoje trocaram a aldeia pelos centros urbanos e isso não significa que tenham perdido suas
identidades; muito pelo contrário, a adaptação à sociedade do “não-índio” e a utilização da
tecnologia – como o uso da internet, o ingresso em universidades e a aquisição da língua
portuguesa– têm servido para propagar a cultura de muitos grupos étnicos e, inclusive,
mostrar à sociedade envolvente seus saberes.
As comunidades indígenas, como as demais do planeta, acompanham as mudanças
históricas e reivindicam seus direitos, desempenham sua autonomia e precisam ter
asseguradas a inserção e permanência de jovens e adultos na educação institucionalizada –
entendendo, outrossim, que a escola não é o único lugar de aprendizado. Algumas escolas já
possuem matriz curricular diferenciada: bilíngue, respeitosa da cultura local e com
professores indígenas – capacitados em um programa específico para eles. O Referencial
Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI), nesse contexto, representa um
avanço para a educação e Educação Física escolar indígenas, ainda que outros espaços de
saberes devam ser considerados, inclusive como mais importantes do que a educação formal
do “homem branco”. O direito ao acesso e à permanência na educação básica e superior por
parte dos índios brasileiros parece-nos uma maneira de instrumentalizá-los como forma de
contraresistência à dominação cultural que historicamente foi imposta.
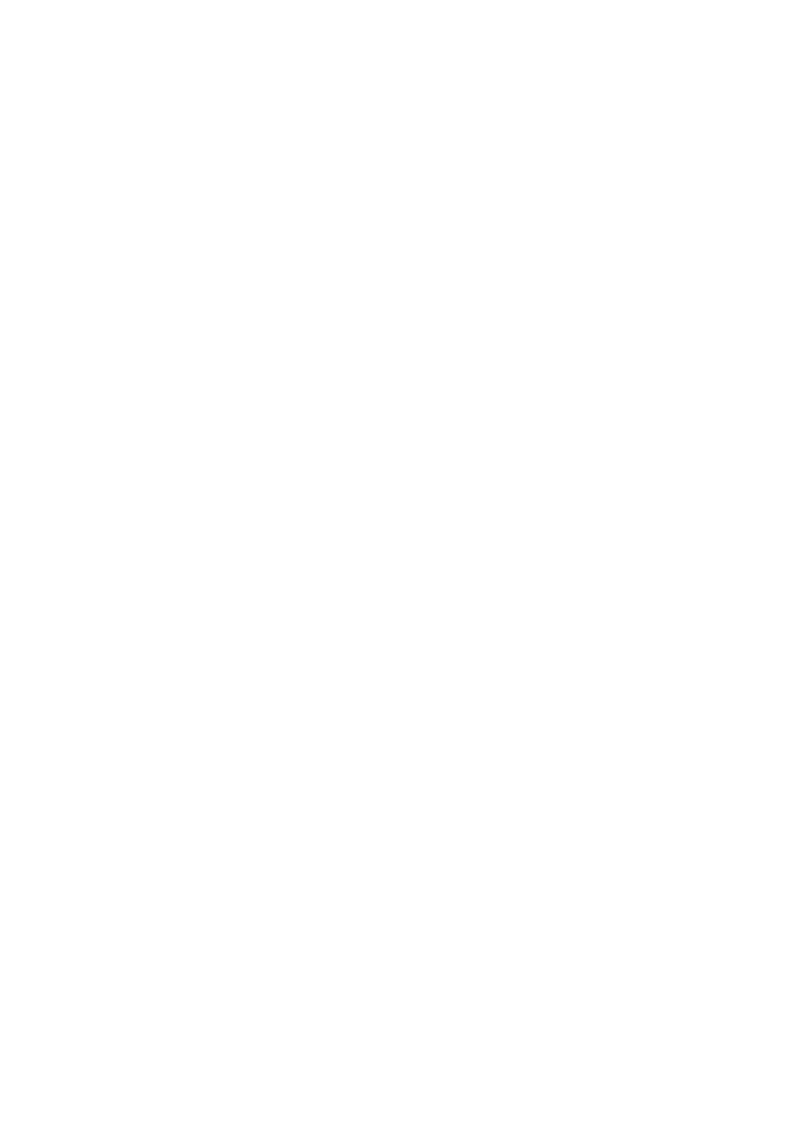
Referências bibliográficas
ALVES, Rubem. O currículo dos urubus. In: Estórias de quem gosta de ensinar. São Paulo:
Ars Poética, 2002.
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul:
séculos XVI e XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
AMANTINO, Marcia. E eram todos pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse
suas vergonhas. In: DEL PRIORE, Mary; AMANTINO, Marcia (Orgs.). História do corpo
no Brasil. São Paulo: Editora Unesp, 2011. p. 15-43.
ANCHIETA, José de. Cartas: informações, fragmentos históricos e sermões. Belo Horizonte:
Itatiaia, São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1988.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Corpo. 18. ed. Rio de Janeiro: Record, 2004.
ARAGÃO, Marta Genú. A corporeidade e as dimensões humanas. Pará: PROEX/UEPA,
2007.
ARAÚJO, Melvina. Do corpo à alma: missionários da Consolata e índios Macuxi em
Roraima. São Paulo: Associação Editorial Humanitas: Fapesp, 2006.
ARROYO, Miguel G. Os corpos, suas marcas, suas mensagens. In: ______. Imagens
quebradas: trajetórias e tempos de alunos e mestres. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. p.
121-138.
BANIWA, Gersem Luciano. Movimentos e políticas indígenas no Brasil contemporâneo.
Tellus, Campo Grande, ano 7, n. 12, p.127-146, abril 2007.
BARTHES, Roland. O prazer do texto. 5 ed. São Paulo: Perspectiva, 1999.
BATLLORI, Miguel. L' opera dei gesuiti nel Brasille e il contributo italiano nella
‘História’. Roma: La civiltà cattolica, 1951.
BENJAMIM, Walter. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: ______.
Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 7. ed. São
Paulo: Brasiliense, 1994.
BERGAMASCHI, Maria Aparecida. Por que querem e por que não querem escola os
Guarani? Tellus, Campo Grande, ano 4, n. 7, p. 107-120, out. 2004.
BERTHERAT, Thérèse. O corpo tem suas razões: antiginástica e consciência de si. São
Paulo: Martins Fontes, 1977.
BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998.
BLANCEL, Nicole, Pascal Blanchard & Sandrine Lemaire. Os Jardins Zoológicos Humanos.
In: Le Monde Diplomatique. 2000

BONANI, Raisa Ariane; BAMONTE, Joedy Luciana Barros Marins. O desenho de artistas
europeus no Brasil. In: XXII CIC – Congresso de Iniciação Científica – UNESP, 2010,
Bauru-SP, v. 1. p. 1-1.
BORGES, Jorge Luis. O narrar uma história. In: ______. Esse ofício do verso. São Paulo:
Companhia das Letras, 2000.
BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
______. A condição colonial. In: ______. História concisa da literatura brasileira. 43. ed.
São Paulo: Cultrix, 2006.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 1981.
BRASIL. Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas/ Ministério da
Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.
LE BRETON, David. A sociologia do corpo. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
______. As paixões ordinárias: antropologia das emoções. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.
BROWN, Dee Alexander. Enterrem meu coração na curva do rio: uma história índia do
oeste americano. Tradução de Geraldo Galvão Ferraz. São Paulo: Melhoramentos, 1973.
BURKE, Peter. O que é história cultural? 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
CAMPOS, Maria Cristina Rezende de. A arte do corpo mbyá-guarani: processos de
negociação, patrimonialização e circulação de memória. 2012. 167 f. Tese (Doutorado em
Memória Social) – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Rio de
Janeiro, 2012.
CAPARROZ, Francisco Eduardo. Entre a Educação Física na escola e a Educação Física
da escola: A Educação Física como componente curricular. Vitória, UFES, Centro de
Educação Física e Desporto Ltda. 2000.
CAPRA, Fritjof. Ecologia profunda: um novo paradigma. In:___. A teia da vida. São Paulo:
Cultrix,
1996.
Disponível
em:
<
http://www.humanas.unisinos.br/professores/hbenno/ecolprof.htm>. Acesso em: 15 ago.
2008.
CAVALCANTI, Nireu Oliveira. Crônicas históricas do Rio colonial. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2004.
CARNEIRO da Cunha, Manuela. Política indigenista no século XIX. In: História dos índios
no Brasil (Org.). São Paulo: Companhia das Letras, 1992. P. 133-154.
CUNHA, Manuela Carneiro da. Imagens de índios do Brasil: o século XVI. Estud. av.
[online]. 1990, vol.4, n.10, pp. 91-110. ISSN 0103-4014.

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL. Vídeo das aldeias: um olhar indígena.
Mostra... [s.l.]. CCBB, 2004.
CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado: pesquisas em antropologia política. Rio
de Janeiro: Francisco Alves, 1978.
Coletivo de autores. Metodologia do ensino da Educação Física. São Paulo, Cortez, 1992.
CORBIN, Alain; COURTINE, Jean-Jacques; VIGARELLO, Georges (Orgs). História do
corpo: da Renascença às Luzes. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
COSTA, S. Diferença e Identidade: a crítica pós-estruturalista ao multiculturalismo. In:
VIEIRA, Liszt (Org.). Identidade e globalização: impasses e perspectivas da identidade e a
diversidade cultural. São Paulo: Record, 2009.
CROCKER, William H; CROCKER, Jean G. Os Canelas: parentesco, ritual e sexo em uma
tribo da Chapada Maranhense. Rio de Janeiro: Museu do Índio, 2009. Série Monografias.
CUNHA, M. C. da. O futuro da questão indígena. In: SILVA, A. L. & GRUPIONI, L. D. B.
Orgs. – A Temática Indígena na Escola: novos subsídios para professores de 1° e 2° graus. 4
ed. São Paulo: Global; Brasília; MEC: MARI: UNESCO, 2004.
CUPOLILLO, Amparo Villa. Corporeidade e conhecimento: diálogos necessários à Educação
Física e à escola. 2007. 215 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal
Fluminense. Niterói, 2007.
DALMOLIN, Gilberto Francisco. Colonialismo, política educacional e a escola para povos
indígenas. Tellus, Campo Grande, ano 3, n. 4, p.11-25, abril 2003.
DARIDO, Suraya Cristina; RANGEL, Irene Conceição Andrade. Educação Física na
Escola: implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
DARIDO, Suraya Cristina; SOUZA, Osmar Moreira de. Para ensinar Educação Física:
possibilidades de intervenção na escola. Campinas, SP: Papirus, 2007.
DAUSTER, Tania (Org.). Antropologia e educação: um saber de fronteira. Rio de Janeiro:
Editora Forma e Ação, 2007.
______. Um saber de fronteira: entre a antropologia e a educação. 26º REUNIÃO ANUAL
DA ANPED. Poços de Caldas, outubro, 2003.
DE PAULA; BRAGA. Prevenção do câncer. In: GOMES, R. Oncologia básica. Rio de
Janeiro: Revinter, 1997. p. 45-55.
DIEHL, Astor Antônio. Cultura historiográfica: memória, identidade e representação.
Bauru: EDUSC, 2002.
DREGUER, Ricardo. Nóbrega e Anchieta: fundando cidades e escolas. 1 ed. São Paulo:
Moderna, 2004.

FAUSTO, Carlos. Os índios antes do Brasil. 3 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
Descobrindo o Brasil.
FARINATTI, Paulo de Tarso Veras; FERREIRA, Marcos Santos. Saúde, promoção da
saúde e educação física: conceitos, princípios e aplicações. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2006.
FLEURI, Reinaldo Matias. Intercultura, educação e movimentos sociais no Brasil. In:
COLÓQUIO INTERNACIONAL PAULO FREIRE: DESAFIOS À SOCIEDADE
MULTICULTURAL, 5., Recife. Anais... Recife, de 19 a 22 de setembro de 2005.
FOUCAULT, Michel. A vontade de saber. In: ______. Resumo dos cursos do Collège de
France (1970-1982). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.
______. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1985.
______. Introdução à vida não fascista. Prefácio: Gilles Deleuze e Félix Guattari. Anti-
Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, New York, Viking Press, 1977, pp. XI-XIV.
Traduzido por wanderson flor do nascimento. Disponível em:
<http://vsites.unb.br/fe/tef/filoesco/foucault/vidanaofascista.pdf>. Acesso em: 13 mai 2010.
FRANCO, José Eduardo; TAVARES, Célia Cristina. Jesuítas e Inquisição: cumplicidades e
confrontações. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2007.
FREIRE, Carlos Augusto da Rocha. O SPI na Amazônia: política indigenista e conflitos
regionais (1910-1932). 2 ed. Rio de Janeiro: Museu do Índio, 2009. Série Publicação Avulsa
do Museu do Índio 2.
FREIRE, José Ribamar Bessa. Os índios em arquivos do Rio de Janeiro. Volumes 1 e 2.
Rio de Janeiro: EdUERJ, 1995.
FREIRE, José Ribamar Bessa; MALHEIROS, Márcia Fernanda. 2. ed. Aldeamentos
indígenas do Rio de Janeiro: EdUERJ, 2009.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1997.
FREITAS, Giovanina Gomes de. O esquema corporal, a imagem corporal, a consciência
corporal e a corporeidade. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 1999.
FRIAS, Ivan. Doença do corpo, doença da alma: medicina e filosofia na Grécia clássica.
Rio de Janeiro: Ed. PUC-RJ; São Paulo: Loyola, 2004.
GALLOIS, Dominique Tilkin. Kusiwa: pintura corporal e arte gráfica Wajãpi. Ilustrações
índios Wajãpi. Rio de Janeiro: Museu do Índio-FUNAI/APINA/CTI/NHII-USP, 2002.
GALLO, Sílvio. FOUCAULT: (Re)pensar a educação. RAGO, Margareth; NETO, Alfredo
Veiga (Orgs.). Figuras de Foucault. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.

GALLO, Sílvio. A vila: microfascismos, fundamentalismo e educação. In: GALLO, Sílvio;
NETO, Alfredo Veiga (Orgs.). Fundamentalismo e educação. Belo horizonte: Autêntica
Editora, 2009.
GARCEZ, Lucília; OLIVEIRA, Jô. Explicando a arte brasileira. Rio de Janeiro: Ediouro,
2004.
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Guanabara, 1989.
______. A transição para a humanidade. In: TAX, Sol (Org.). Panorama da Antropologia.
Rio de Janeiro, São Paulo, Lisboa: Fundo de Cultura, 1966.
______. Os usos da diversidade: horizontes antropológicos, Ano 5, n.10. Porto Alegre:
PPGAS/UFRGS, 1999.
GONÇALVES, Marco Antônio. O simbolismo do corpo na cultura indígena. In: Folder da
exposição
Corpo
e
Alma
Indígena.
Disponível
em:
<http://museudoindio.org.br/template_01/default.asp?ID_S=33&ID_M=123>. Acesso em: 29
mar 2010.
GONÇALVES, Maria Augusta Salin. Sentir, pensar, agir: corporeidade e educação. 2. ed.
Campinas: Papirus, 1997.
GOMES, Mércio Pereira. Antropologia: ciência do homem: filosofia da cultura. São Paulo:
Contexto, 2010.
GONZÁLEZ, Fernando Jaime; FENSTERSEIFER, Paulo Evaldo. Dicionário crítico de
educação física. Ijuí: Unijuí, 2005.
GRANDO, Beleni Saléte. Corpo e educação: Relações Interculturais nas práticas corporais
Bororo em Meruri – MT. Florianópolis: 2004. Tese (Doutorado em Educação) – Centro de
Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Reinaldo Matias
Fleuri.
GRANDO, Beleni Saléte. Corpo, educação e cultura: as práticas corporais e a constituição da
identidade. In: ______ (Org). Corpo, educação e cultura: práticas sociais e maneiras de ser.
Ijuí: Ed. Unijuí, 2009.
HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2009.
______. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.
______. Quem precisa da Identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e
diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2009. p. 103-133.
HOTTOIS, Gilbert. Nietzsche: hermenêutica e niilismo. In: ______. Do nascimento à pós-
modernidade: uma história da filosofia moderna e contemporânea. Aparecida, SP: Ideias e
Letras, 2008.

HUTTNER, Édison. A igreja católica e os povos indígenas do Brasil: os Ticuna da
Amazônia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007.
ISTITUTO historicum S. I., Roma. Bibliografia de Serafim Leite. Roma: Istituto
Historicum, 1962.
LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia,
2000.
______. Novas cartas jesuíticas: de Nóbrega a Vieira. São Paulo: Cia. Editora Nacional,
1940.
______. A primeira biografia inédita de José de Anchieta-apóstolo do Brasil-Publicada e
anotada por... Lisboa: Brotéria, 1934.
______. Os governadores gerais do Brasil e os jesuitas no século XVI (com
documentação inédita). Lisboa: Sociedade Nacional de Tipografia, 1937.
______. As raças do Brasil perante a ordem teológica, moral e jurídica portuguesas nos
séculos XVI a XVII. Coimbra: Of. da Gráf. de Coimbra, 1965.
______. Aspectos do Brasil em 1571 numa carta inédita do Pe. Antonio da Rocha,
superior do Espírito Santo. Lisboa: Papelaria Fernandes, 1961.
______. Artes e ofícios dos jesuitas no Brasil (1549-1760). Lisboa: Brotéria, 1953.
LÉRY, Jean de. História de uma viagem à terra do Brasil, também chamada América.
Rio de Janeiro: Batel: Fundação Darci Ribeiro, 2009.
Lévi-Strauss, Claude. Raça e História. In: Raça e ciência. Vol.1. São Paulo: Perspectiva,
1970.
LIMA, Manoel Ricardo de. Apesar do mundo. In: BORGES, Eliana. Carto+grafias
[subjetivas]. Rio de Janeiro: Caixa Cultural, 2007. [Guia de visitação da exposição, ocorrida
entre 6 de fevereiro a 4 de março de 2007]
LINHARES, Célia Frazão. De uma cultura de guerra para uma cultura de paz e justiça social:
movimentos instituintes em escolas públicas como processos de Formação docente. In:
LINHARES; LEAL. Formação de professores uma crítica à razão e à política
hegemônicas. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
______. Memórias e reminiscências. 2004, mimeo.
LOURO, Guacira Lopes (Org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo
Horizonte: Autêntica, 2001.
MACEDO, Roberto Sidnei. Etnopesquisa crítica, etnopesquisa-formação. Brasília: Liber
Livro Editora, 2006.
MARIANI, Bethania. Colonização linguística. Campinas, SP: Pontes, 2004.

MEDINA, João Paulo Subirá. O brasileiro e seu corpo: educação e política do corpo. 3. Ed.
Campinas, SP: Papirus, 1991.
MELLO, Luiz Gonzaga de. Antropologia cultural: iniciação, teoria e temas. Petrópolis:
Vozes, 1986.
MEMMI, Albert. Retrato do colonizado precedido de Retrato do colonizador. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
MENEZES, Ana Luisa Teixeira de. O corpo “educado” na dança Mbyá-Guarani. Tellus,
Campo Grande, ano 4, n. 7, p. 93-106, out. 2004.
MILWARD, Maria Portugal. Lendas do Brasil maravilhoso. 2 ed. Rio de Janeiro: Avanço,
1985.
MORAIS, João Francisco Regis de. Filosofia da ciência e da tecnologia: introdução
metodológica e crítica. 5. Ed. Campinas, SP: Papirus, 1988.
MONTEIRO, Aloísio Jorge de Jesus. Violência ou valores na educação? A Política de Não-
Violência de Mahatma Gandhi e as Experiências Instituintes da Brahma Kumaris. Tese de
Doutorado, Niterói: UFF, 2004.
______. Sobreviventes das fronteiras: cultura, violência e valores na educação. ANPED -
Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ISBN 85-86392-15-4, Caxambu -
MG, v. 1, p. 1-25, 2005.
______. Caminhos da liberdade: uma perspectiva educacional do Oriente-Ocidente. In:
Linhares, C.; Leal , M. C (Orgs.). Formação de Professores: uma crítica à razão e à política
hegemônicas, Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
______. O desafio da história indígena no Brasil. In: SILVA, A. L. & GRUPIONI, L. D. B.
Orgs. A Temática Indígena na Escola: novos subsídios para professores de 1° e 2° graus. 4ª
ed. São Paulo: Global; Brasília; MEC: MARI: UNESCO, 2004.
MONTEIRO, John Manuel (Coord.). Guia de fontes para a história indígena e do
indigenismo em arquivos brasileiros: acervos das capitais. São Paulo: USP, Núcleo de
História Indígena e do Indigenismo; FAPESP: 1994.
______. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo:
Companhia das Letras, 1994.
MORAIS, João Francisco Regis de. Filosofia da ciência e da tecnologia: introdução
metodológica e crítica. 5. Ed. Campinas, SP: Papirus, 1988.
MOREAU, Filipe. Os índios nas cartas de Nóbrega e Anchieta. São Paulo: Annablume,
2003.
MOREL, Cristina Massadar. Almanaque histórico Rondon: a construção do Brasil e a causa
indígena. Brasília: Abravideo, 2009.

NASCIMENTO, Adir Casaro. Escola indígena: palco das diferenças. Campo Grande:
UCDB, 2004. [Coleção teses e dissertações em educação, v. 2]
NASCIMENTO, Analzira Pereira. Interculturalidade: o encontro com o outro, com o
diferente e as diferenças. In: PROJETO COMVOCAÇÃO, 2009, São Paulo. Encontro... São
Paulo: IBAB, 2009.
NEVES, E. G. Os índios antes de Cabral: arqueologia e história indígena no Brasil. In:
SILVA, A. L.; GRUPIONI, L. D. B. (Orgs.). A temática indígena na escola: novos subsídios
para professores de 1° e 2° graus. 4ª ed. São Paulo: Global; Brasília; MEC: MARI: UNESCO,
2004.
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim falou Zaratustra: um livro para todos e para
ninguém. 18. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
NÓBREGA, Manuel da. Cartas do Brasil e mais escritos do Padre Manuel da Nóbrega.
Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo, 1988.
______. Diálogo sobre a conversão do gentio. Lisboa: União gráfica, 1954.
OLIVEIRA, Cláudia de; ROUCHOU, Joëlle; VELLOSO, Monica Pimenta (Orgs.). Corpo:
identidades, memórias e subjetividades. Rio de Janeiro: Mauad X, 2009.
OLIVEIRA, Vitor Marinho de. O que é Educação Física. São Paulo: Brasiliense, 1983.
PESSOA, Fernando. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986.
PIERONI, Geraldo; DeNIPOTI, Cláudio (Orgs.). Saberes brasileiros: ensaios sobre
identidades: séculos XVI a XX. Rio de Janeiro: Bertrand, 2004.
PINHO, Luiz Celso. A era dos corpos disciplinados. Boletim Interfaces da Psicologia da
UFRuralRJ, n. 1, 2008, p. 52-56.
______. Nietzsche e a nobreza dos instintos corporais. Boletim Interfaces da Psicologia da
UFRuralRJ, n. 1, v. 3, 2010, p. 37-46.
PINTO, Leila Mirtes Santos Magalhães; GRANDO, Beleni Saléte (Orgs). Brincar, jogar,
viver: IX jogos dos povos indígenas. Cuiabá: Central de texto, 2010.
POMPA, Cristina. Religião como Tradução. Missionários, Tupi e Tapuia no Brasil colonial.
Bauru: EDUSC, 2002.
PUNTONI, Pedro. A guerra dos bárbaros: povos indígenas e a colonização do sertão
nordeste do Brasil, 1650, 1720. São Paulo: Edusp, 2000.
RAMINELLI, Ronald José. Escritos, imagens e artefatos: ou a viagem de Thevet à França
Antártica. História [online]. 2008, vol.27, n.1, pp. 195-212. ISSN 1980-4369.

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo:
Companhia das Letras, 2006.
RICUPERO, Rodrigo. A formação da elite colonial: Brasil, c. 1530-c.1630. São Paulo:
Alameda, 2009.
RODRIGUES, José Carlos. Tabu do corpo. 7. ed. Rio de Janeiro. Fiocruz, 2006.
ROUANET, S. Universalismo concreto e diversidade cultural. In: VIEIRA, Liszt (Org.).
Identidade e globalização: impasses e perspectivas da identidade e a diversidade cultural.
São Paulo: Record, 2009.
RUIZ, Castor. Os labirintos do poder: o poder (do) simbólico e os modos de subjetivação.
Porto Alegre: Escritos Editora, 2004.
SÁEZ, Oscar Calavia. Autobiografia e liderança indígena no Brasil. Tellus, Campo Grande,
ano 7, n. 12, p.11-32, abril 2007.
SALES, Andrea de Lima Ribeiro. O teatro jesuíta como instrumento pedagógico na escola
para índios dos séculos XVI e XVII. 2011, 95p. Dissertação (Mestrado em Educação,
Contextos Contemporâneos e Demandas Populares). Instituto de Educação/ Instituto
Multidisciplinar. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2011.
SANTIN, Silvino. Perspectivas na visão da corporeidade. In: MOREIRA, Wagner Wey
(Org.). Educação física e esportes: perspectivas para o século XXI. Campinas, SP: Papirus,
1992. p. 51-69. Coleção Corpo e Motricidade.
______. Corporeidade. In: GONZÁLEZ, Fernando Jaime; FENSTERSEIFER, Paulo Evaldo.
Dicionário crítico de educação física. Ijuí: Unijuí, 2005.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Ciência e senso comum. In:______. Introdução a uma
ciência pós-moderna. [S.l.]: Edições Afrontamento, 1989.
______. Um discurso sobre as ciências. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2004.
______. Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social. São Paulo: Boitempo,
2007.
SANTOS, Boaventura. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. In:
FELDMAN-BIANCO, B.; CAPINHA, G. (Orgs.). Identidades: estudos de cultura e poder.
São Paulo: Hucitec, 2000.
SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 3. ed. Campinas, SP:
Autores Associados, 2010.
SCHWENGBER, Maria Simone Vione. Corpo-sujeito. In: GONZÁLEZ, Fernando Jaime;
FENSTERSEIFER, Paulo Evaldo. Dicionário crítico de educação física. Ijuí: Unijuí, 2005.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo:
Cortez, 2007.

SILVA, M. F.; AZEVADO, M. M. Pensando a Escola dos Povos Indígenas no Brasil: o
movimento dos professores indígenas do Amazonas, Roraima e Acre. In: SILVA, A. L.;
GRUPIONI, L. D. B. (Orgs.). A temática indígena na escola: novos subsídios para
professores de 1° e 2° graus. 4ª ed. São Paulo: Global; Brasília; MEC: MARI: UNESCO,
2004.
SILVA, A. L.; FERREIRA, M. K. L. (Orgs). Práticas pedagógicas na escola indígena. São
Paulo: Global, 2001.
SAINTE-FOI, Charles. Padre Manuel da Nóbrega: primeiro apóstolo do Brasil. 2. ed. São
Paulo: Artpress, 2000.
______. Vida do venerável padre José de Anchieta. Vertida em portuguez e dedicada pelo
traductor ao exmo. e revmo. snr. D. Lino Deodato Rodrigues de Carvalho bispo da Diocese de
S. Paulo. São Paulo: Typ. de Jorge Seckler, 1878.
SANTOS, Arlindo Veiga dos. De Nóbrega e outros patrícios. Sao Paulo: [s.l.], 1955.
SENNETT, Richard. Carne e pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental. Rio de
Janeiro: Record, 2003.
SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais.
Petrópolis: Vozes, 2000.
SKLIAR, Carlos. Pedagogia (improvável) da diferença: e se o outro não estivesse aí? Rio
de Janeiro: DP&A, 2003.
SHIMITZ, Egídio Francisco. Os jesuítas e a educação: filosofia educacional da Companhia
de Jesus. São Leopoldo: Ed. Unisinus, 1994.
SOARES, Carmem Lúcia (Org.). Corpo e história. Campinas, SP: Autores Associados,
2004.
SOUSA, Cássio Noronha Inglez de; ALMEIDA, Fábio Vaz Ribeiro de; LIMA, Antonio
Carlos de Souza; MATOS, Maria Helena Ortolan (Orgs). Povos indígenas: projetos e
desenvolvimento II. Brasília: Paralelo 15, Rio de Janeiro: Laced, 2010.
TAUKANE, Darlene. A história da educação escolar entre os Kurâ-Bakari. Cuiabá: 1999.
[Publicado com recursos do Governo do Estado de Mato Grosso, através da Lei de Incentivo à
Cultura, com o patrocínio da DaMatta Produtos Agropecuários Ltda].
TEIXEIRA, Dante Martins. A “America” de Jodocus Hondius (1563-1612): um estudo das
fontes iconográficas. Rev. Inst. Estud. Bras. [online]. 2008, n.46, pp. 81-122. ISSN 0020-
3874.
TODOROV, Tzvetan. Nós e os outros: a reflexão francesa sobre a diversidade humana 1. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.
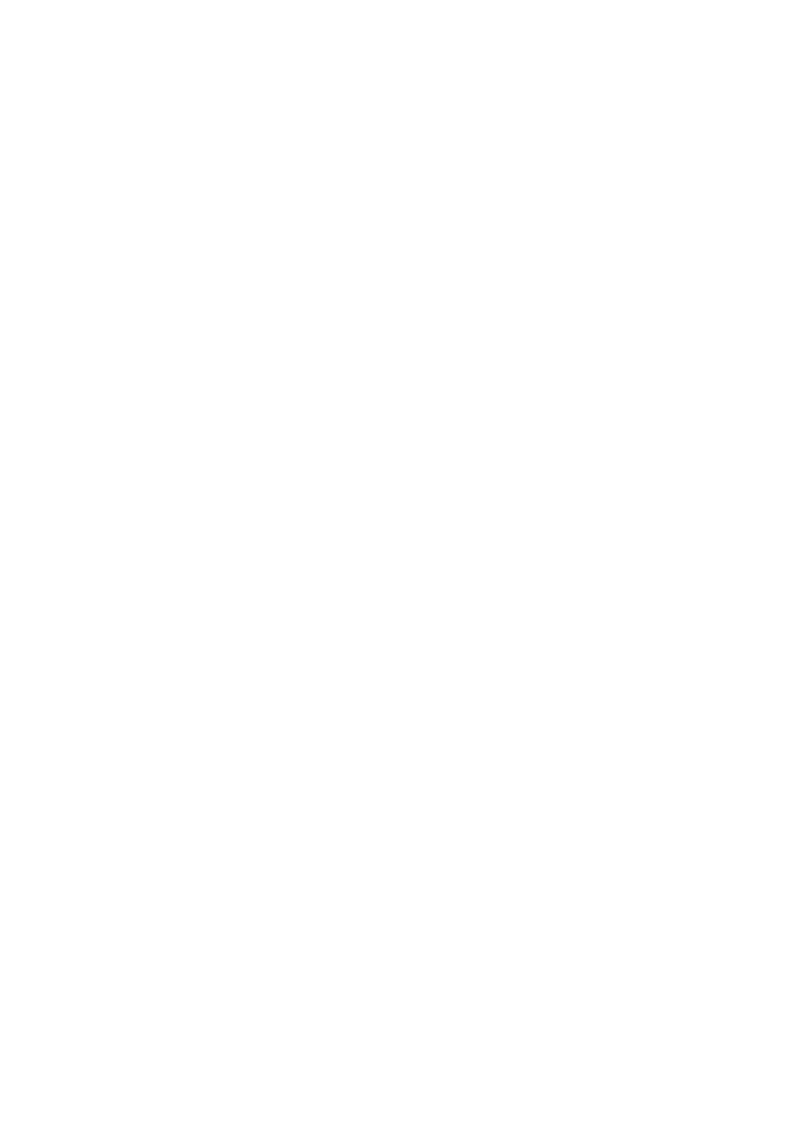
TRINDADE, Azoilda Loretto da. Áfricas e afro-brasileiros nos brinquedos e brincadeiras.
Salto para o futuro / TV Escola. Programa 4. Disponível em: <www.tvebrasil.com.br/salto>.
Acesso em 25 out. 2010.
VAINFAS, Ronaldo. A heresia dos índios: catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. São
Paulo: Companhia das Letras, 1995.
VAYER, Pierre. O diálogo corporal: a ação educativa para a criança de 2 a 5 anos. São
Paulo: Manole, 1984.
VAZ, A. F. et al. Corpo, educação e indústria cultural: aspectos teóricos e empíricos para a
compreensão da sociedade brasileira contemporânea. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
CIÊNCIAS DO ESPORTE, 13., 2003, Caxambu. CBCE 25 anos. Anais... Campinas:
CBCE/CNPq, 2003. p. 1-7.
VELHO, Gilberto. Memória, identidade e projeto: uma visão antropológica. In: Revista
Tempo Brasileiro, n. 85, out – dez, 1988, p. 119-126.
VIDAL, Lux. A Cobra Grande: uma introdução à cosmologia dos Povos Indígenas do Uaçá
e Baixo Oiapoque – Amapá. 2 ed. Rio de Janeiro: Museu do Índio, 2009. Série Publicação
avulsa do Museu do Índio 1.
VIEIRA, Antônio e HANSEN, João Adolfo. Cartas do Brasil: 1626-1697, Estado do Brasil e
Estado do Maranhão e Grã Pará. [S/l]: Hedra, 2003.
VIEIRA, Péricles Saremba; BAGGIO, André. Complexidade, corporeidade e educação física.
In: Revista digital de lecturas, educación física y deportes, Buenos Aires, ano 10, n. 74, jul
2004. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd74/corpo.htm>. Acesso em: 04. nov
2007.
VIGARELLO, Georges. História da beleza. O corpo e a arte de se embelezar, do
Renascimento aos dias de hoje. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006.
VILLAÇA, Nízia; GÓES, Fred. Em nome do corpo. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstância da alma selvagem – e outros ensaios de
antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2011.
WITHMAN, Walt. O próprio ser eu canto. Disponível em: <
http://www.redutoliterario.hpg.ig.com.br/poesia/walt.htm>. Acesso em: 03 jan. 2009.
WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In:
SANT’ANNA, Denise Bernuzzi de (Org.). Políticas do corpo. São Paulo: Estação Liberdade,
1995.
WOORTMANN, Klaas. O selvagem e o Novo Mundo: ameríndios, humanismo e
escatologia. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004.
