
Paidéia
2017, Vol. 27, Suppl. 1, 395-403. doi:10.1590/1982-432727s1201704
ISSN 1982-4327 (online version)
Suplemento Especial: Pesquisa Qualitativa em Psicologia
O Compromisso Pró-Ecológico nas Palavras de Seus Praticantes1
Raquel Farias Diniz2
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN,
Brazil
Jose de Queiroz Pinheiro
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN,
Brazil
Resumo: O compromisso pró-ecológico (CPE) compreende uma relação de caráter positivo que as pessoas estabelecem com o meio
ambiente, manifestada por via de práticas de cuidado ambiental. Para aprofundar o conhecimento sobre esse fenômeno psicossocioam-
biental, o objetivo foi explorar as definições sobre o CPE a partir do ponto de vista de pessoas comprometidas pró-ecologicamente, e as
concepções de meio ambiente que o embasam. Pessoas indicadas como comprometidas pró-ecologicamente (N = 29; idades entre 23 e 79
anos) discorreram livremente em entrevistas sobre seu CPE, sobre meio ambiente e indicaram outras pessoas avaliadas como sendo com-
prometidas. O corpus foi submetido à análise de conteúdo interpretativa. Identificamos mudanças nos entendimentos de meio ambiente,
que se distinguiu do conceito de natureza, e de CPE atreladas aos contextos sócio-históricos e às experiências pessoais. Foram menciona-
das práticas relativas às escolhas cotidianas, saúde, conscientização e relações de caráter pró-social, assim como barreiras e hábitos que
dificultam o cuidado ambiental.
Palavras-chave: psicologia ambiental, comportamento ecológico, pesquisa qualitativa
Pro-Ecological Commitment in the Words of its Practitioners
Abstract: A pro-ecological commitment (PEC) is a positive relationship people establish with the environment and is manifested throu-
gh environmental care practices. In order to deepen knowledge of this psychosocial and environmental phenomenon, we explored the
definitions of PEC from the perspectives of people committed to the environment, taking into account the environmental conceptions
underpinning this commitment. People who were nominated as being pro-ecologically committed (N = 29; aged between 23 and 79 years
old) freely talked about their PECs and environment and also nominated other people they deemed to have the same commitment. The
corpus was analyzed according to interpretive content analysis. We identified changes in their understandings concerning PEC and the
environment, which was distinguished from the concept of nature, linked to socio-historical contexts and personal experiences. Practices
related to daily choices, health, sensitization and pro-social relations, as well as barriers and habits that hinder environmental care, were
also reported.
Keywords: environmental psychology, ecological behavior, qualitative research
El Compromiso Pro-Ecológico en las Palabras de sus Practicantes
Resumen: El compromiso pro-ecológico (CPE) comprende una relación de carácter positivo que las personas tienen con el medio, mani-
fiesta a través de las prácticas de cuidado del medio ambiente. Para profundizar el conocimiento de este fenómeno psicosocioambiental,
nuestro objetivo fue explorar el CPE desde el punto de vista de las personas comprometidas y los conceptos de medio ambiente que le
dan soporte. 29 personas pro-ambientalmente comprometidas (edades de 23 a 79 años) participaron en entrevistas en las que hablaron
sobre su CPE, sobre medio1 ambiente e indicaron personas evaluadas como comprometidas; el corpus fue objeto de análisis de contenido
interpretativa. Identificamo2s cambios en la comprensión del medio ambiente, diferente de la naturaleza, y del CPE vinculados a los con-
textos socio-históricos y a las experiencias personales. Fueron mencionadas las prácticas relacionadas con las opciones de todos los días,
la salud, la concienciación y relaciones de carácter pro-social, así como barreras y hábitos que impiden el cuidado del medio ambiente.
Palabras clave: psicología ambiental, conservación (conducta ecológica), investigación cualitativa
1Paper derived from the doctoral dissertation of the first author under the ad-
vice of the second author, defended in the Graduate Program in Psychology at
the Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Support: National Council
of Scientific and Technological Development (CNPq, Grant No. 203464/2013-3
SWE).
2Correspondence address: Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
Departamento de Psicologia,Campus Universitário Lagoa Nova, Avenida
Hermes da Fonseca - s/n., Lagoa Nova, Natal, RN, Brazil. CEP: 59.078-970.
E-mail: raquelfdiniz@gmail.com.
Available in www.scielo.br/paideia
A presente investigação compõe o esforço comum a di-
versos campos do saber, na busca por compreender o que leva
as pessoas a cuidar do meio ambiente. Insere-se no campo
interdisciplinar dos estudos pessoa-ambiente, por via da Psi-
cologia Ambiental em sua vertente “Verde”, tendo como pano
de fundo o conhecimento que vem sendo construído ao longo
das últimas décadas pela ciência psicossociológica sobre a
395

Paidéia, 27(Suppl. 1), 395-403
pró-ambientalidade (Pol, 2007). Considerando os contextos
sociais e históricos, com o foco nas dimensões do cotidiano,
dos estilos de vida e escolhas comportamentais, buscamos
lançar luz sobre como pessoas, dentro dos modos de vida das
sociedades ocidentais, se apropriam dessa questão a ponto de
adotarem práticas do cuidado ambiental, incorporando-o em
suas relações e rotinas pessoais, domésticas, de formação, de
trabalho.
Nesse sentido, levantamos elementos que auxiliem no
entendimento a respeito de como, diferentemente da maioria
da população, algumas pessoas aderem a um compromisso
que compreende uma relação de caráter positivo com o meio
ambiente, e passam a responsabilizar-se e interessar-se por
ele. Entende-se que esse compromisso tem uma orientação
pró-ecológica, ou seja, tem como foco a manutenção das di-
ferentes formas de vida e o equilíbrio ambiental. É composto
por um conjunto de dimensões psicossociais – conhecimen-
tos, atitudes, crenças, normas, valores, visões de mundo –
que, dependendo de fatores situacionais, concretizam-se em
práticas de cuidado e conservação do ambiente (Gurgel &
Pinheiro, 2011).
Partimos do entendimento de que por mudarem com o
tempo e serem relativos ao período em que se manifestam,
os fenômenos sociais trazem em si uma carga histórica. Para
além, pode-se dizer que tais fenômenos têm memória porque
são, também, resultantes da história de sua produção, das
peculiaridades da cultura, das tradições e modos de vida da
sociedade em que são produzidos. Assim, a forma como se
manifestam no presente mantém relação intrínseca com sua
genealogia, sendo decorrentes das práticas e relações sociais
a partir das quais foram sendo constituídos (Gergen, 1985,
1996; Ibáñez, 2003).
O compromisso pró-ecológico (CPE) – compreendido
como um fenômeno psicossocial sob essa perspectiva – se
constitui a partir das práticas e relações circunscritas numa
dada cultura, em um dado momento histórico. Há ainda outro
fator central que concorre para sua constituição: o ambiente,
que pode ser compreendido em suas múltiplas acepções, des-
de o espaço físico a seus aspectos simbólicos. Desse modo,
trata-se de um fenômeno “psicossocioambiental” que vem se
formando no bojo do debate ecológico e do verdejar da opi-
nião pública, há mais de cinco décadas. Sua produção tem
como condições o reconhecimento dos diversos efeitos nega-
tivos da ação humana no meio ambiente, e a emergência de
uma preocupação com os riscos dessa ação.
A questão ambiental vem sendo debatida de forma pro-
gressiva desde o início dos anos de 1960, quando os cientistas
passaram a alertar a população em geral sobre o aumento da
poluição e da degradação ambiental, atreladas à escassez de re-
cursos que traria riscos para a vida humana no planeta (Comis-
são Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1991).
A difusão desse debate coube, em grande parte, à atuação dos
movimentos ambientalistas que teve início, no Brasil, a partir
dos anos de 1970. Começou marcada pela denúncia da degra-
dação ambiental em campanhas com mínimas repercussões na
opinião pública, passando por um momento de politização du-
rante o período da redemocratização, marcado por um caráter
bissetorial (grupos de base e agências estatais ambientais) até
396
o ano de 1985 e, finalmente, evoluindo para um movimento
multissetorial e complexo a partir da segunda metade da década
de 1980, tendo como marco posterior a Rio-92 (Viola & Leis,
1995). Embora a agenda ambiental não tenha tido os avanços
esperados nas últimas duas décadas, houve um aumento da
participação da sociedade civil em dispositivos e órgãos go-
vernamentais (Cordeiro, 2014; Losekann, 2012). Ressalta-se,
também, a emergência de novos movimentos socioambientais
como a permacultura, as ecovilas, e movimentos voltados para
pautas urbanas como a mobilidade, ocupação do espaço públi-
co e o direito à cidade.
Cabe destacar, então, as transformações nas acepções e
os discursos sobre ambiente que acompanham as mudanças
nos contextos sociais e históricos que demarcam a evolução
dos movimentos ambientalistas no Brasil e no mundo des-
de meados do século passado e o momento mais recente, nas
primeiras décadas do século XXI. Desse modo, uma das ca-
racterísticas específicas do nosso tempo em comparação com
outros momentos históricos é o uso das palavras ambiente e
ambientalismo, as quais possuem uma intersecção semânti-
ca com outros termos também de corrente associação com
o termo natureza, como: ecologia, ecologismo, naturalismo,
ecocentrismo, antropocentrismo, biocentrismo, ecofeminis-
mo, gaianismo, desenvolvimento sustentável, verdes, ecossis-
temas, entre outros. De acordo com Castro (2005) foi apenas
nas últimas décadas que o termo ambiente passou a “habitar
um novo – e denso – campo semântico onde a cor predomi-
nante é o verde” (p. 172). O que a autora chama de “explosão
semântica” nos leva a refletir sobre a evolução destes concei-
tos e a importância que os mesmos vêm assumindo dentro e
fora da academia.
O verdejar da opinião pública sobre os temas ambientais
é de fundamental interesse para pensar e planejar interven-
ções que favoreçam transformações nos estilos de vida nas
sociedades capitalistas. A pró-ambientalidade, como uma de
suas expressões, tem sido foco de um número crescente de
investigações, comportando diferentes nomenclaturas (exem-
plo, comportamento pró-ambiental, comportamento de con-
servação, atitudes ambientais, conduta sustentável), mas com
objetivo comum de compreender os comportamentos com im-
pactos positivos para o ambiente, e identificar os determinan-
tes envolvidos em sua promoção. Tais investigações recor-
rem, tradicionalmente, a escalas que abordam predisposições
do comportamento, como atitudes, crenças, motivações e va-
lores com orientação pró-ecológica. Tal fragmentação impõe
limites ao próprio conhecimento sobre o fenômeno, como já
vem sendo apontado em alguns estudos (Gaspar de Carvalho,
Palma-Oliveira & Corral-Verdugo, 2010; Hill, Figueredo &
Jacobs, 2010; Vaccari, Cohen & Rocha, 2016).
Nesse sentido, a noção de CPE representa uma relação
com o meio ambiente que sintetiza diversos indicadores in-
vestigados separadamente, aproximando-se da ideia de preo-
cupação tal como decorre da tradução do termo corrente em
inglês “environmental concern”, porém com um caráter posi-
tivo, visto sua relação com a noção de cuidado como algo a
ser buscado e não evitado (Pinheiro, 2002). Representa, tam-
bém, o interesse pelo recurso a uma linguagem mais acessível
a diferentes áreas de conhecimento, como a educação ambien-

Diniz, R. F., & Pinheiro, J. Q. (2017). Compromisso Pró-Ecológico e seus Praticantes.
tal, visto tratar-se de uma nomenclatura mais clara e próxima
ao senso comum (Gurgel & Pinheiro, 2011). Ressalta-se ainda
que, para além da intenção, o CPE expressa o comprometi-
mento assumido com a prática efetiva do cuidado ambiental
decorrente de um vínculo estabelecido com o(s) ambiente(s).
Algo que é percebido socialmente, ou seja, manifesto em di-
versos espaços de interação social na forma de diferentes prá-
ticas de cuidado ambiental (Pinheiro & Diniz, 2013).
Sob a perspectiva já sinalizada, a presente investigação
partiu do interesse por aprofundar o conhecimento sobre o
CPE como fenômeno psicossocioambiental, circunscrito so-
cial, cultural e historicamente. Para aprofundar o conheci-
mento sobre esse fenômeno psicossocioambiental, o objetivo
deste estudo foi explorar as definições sobre o CPE a partir do
ponto de vista de pessoas comprometidas pró-ecologicamen-
te, e as concepções de meio ambiente que o embasam. Com-
preende-se, então, que a construção do conhecimento pautado
pela perspectiva das próprias pessoas pode fornecer bases
para o desenvolvimento de estratégias de educação ambiental
e intervenções mais pertinentes e próximas de diferentes con-
textos e modos de vida contemporâneos.
Método
A fim de explorar as concepções de meio ambiente e
de CPE em pessoas que manifestam esse compromisso, foi
utilizada uma abordagem metodológica de base qualitativa.
Orientada por um paradigma interpretativo, tal abordagem
possibilitou acessar o ponto de vista das pessoas que viven-
ciam o fenômeno, contribuindo para a compreensão em pro-
fundidade dos processos de formação de padrões de signifi-
cado e suas características estruturais (Willig, 2013). A partir
de um posicionamento êmico, foi estabelecida uma relação
próxima com os participantes, valorizando seus pontos de vis-
ta em relação às questões da pesquisa, se valendo deles para
dar sentido à análise.
Participantes
A fim de assegurar a participação de pessoas comprome-
tidas pró-ecologicamente, para a seleção de participantes foi
utilizada a estratégia da percepção social do CPE. Tal indica-
dor se baseia em avaliações feitas por pares, em um contexto
de interações e de conhecimento entre as pessoas, sendo estas
capazes de avaliar o compromisso pró-ecológico de colegas.
As avaliações foram feitas espontaneamente e sem o uso de
categorias previamente definidas, levando em conta os com-
portamentos, posto que as pessoas são expectadoras familiari-
zadas com as ações praticadas pelas outras e as utilizam como
critérios em sua avaliação (Pinheiro & Diniz, 2013).
O primeiro grupo de participantes foi identificado em
estudo anterior, por via da percepção social do CPE (Diniz,
2010). Foi então solicitado a essas pessoas que, com base
em sua avaliação, indicassem outras que considerassem
comprometidas pró-ecologicamente. A partir das indicações
convergentes (caracterizando a percepção social) foram sele-
cionados participantes para coletas subsequentes. Somada a
essa estratégia, a fim de acessar pessoas em outras regiões do
Brasil, algumas indicações (avaliações) foram feitas por espe-
cialistas (acadêmicos e técnicos com atuação na área ambien-
tal), e algumas pessoas foram selecionadas por atuarem como
lideranças em organizações não governamentais encontradas
via Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (CNEA/
Ministério do Meio Ambiente).
Desse modo, participaram da pesquisa 29 pessoas das
cidades de Brasília (DF), João Pessoa (PB), Natal (RN), Re-
cife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), e São Paulo
(SP), das quais 17 eram do gênero masculino. Já no momento
da análise, observou-se que o grupo de participantes se distri-
buía em duas faixas etárias com características distintas: 16
participantes com idades entre 23 e 33 anos, estudantes no
último ano do curso superior, recém-graduados, ou na pós-
-graduação; e 13 participantes com idades entre 39 e 79 anos,
com carreiras profissionais consolidadas ou aposentadas/os.
Instrumento
Para a construção do corpus, foram realizadas entre-
vistas intensivas, individuais, utilizando questões focadas se-
miestruturadas (Charmaz, 2014). O roteiro da entrevista foi
composto por questões que abordaram os seguintes tópicos: o
que entendia por meio ambiente; por que achava que havia re-
cebido as indicações para participar da entrevista; quais eram
as práticas individuais e/ou coletivas de cuidado ambiental.
Ao final, era solicitada a indicação de outras pessoas que fos-
sem consideradas pela/o entrevistada/o como comprometida
pró-ecologicamente para participar do estudo, caracterizando
a percepção social do CPE. As justificativas para as indica-
ções também compuseram o corpus da pesquisa.
Procedimento
Coleta de dados. Todas as entrevistas foram realizadas
em lugares e horários previamente definidos com as pesso-
as entrevistadas, e tiveram durações que variaram entre 25 e
179 minutos. Foram gravadas em áudio, mediante autorização
prévia, e transcritas, considerando que esse procedimento é,
em si, um princípio da análise e a auxilia posteriormente.
Análise dos dados. O corpus da pesquisa foi subme-
tido a uma análise de conteúdo de base interpretativa, que
visa a identificar, analisar e reportar temas significativos e/
ou recorrentes, servindo à interpretação de vários aspectos re-
lativos às questões da pesquisa. Em lugar do foco exclusivo
nos aspectos idiossincráticos dos sujeitos, a análise priorizou
a teorização acerca dos contextos socioculturais e ambientais,
e das condições que os estruturam. E para além do conteúdo
semântico dos dados, num nível latente, foram examinadas
ideias subjacentes, pressupostos e conceitos que dão forma ao
que foi enunciado (Braun & Clarke, 2013).
Quanto aos procedimentos da análise, foi seguida a
sequência de passos: (1) organização dos dados e elaboração
de memorandos; (2) geração dos códigos iniciais, com o su-
porte de um software de auxílio à análise de dados qualitati-
vos (QDA Miner); (3) identificação dos temas, em níveis mais
amplos de abstração; (4) revisão dos temas, utilizando os cri-
397

Paidéia, 27(Suppl. 1), 395-403
térios de homogeneidade interna (harmonia entre os códigos)
e heterogeneidade externa (distinção entre os temas); (5) des-
crição e definição dos temas, com foco em aspectos de inte-
resse e inovadores; (6) relato e discussão dos resultados, com a
seleção de extratos ilustrativos e cotejamento com a literatura e
o conhecimento empírico já construído em torno do fenômeno
do compromisso pró-ecológico (Braun & Clarke, 2013).
Em suma, a análise atingiu três níveis, quais sejam: nível
sintetizador, relativo ao resumo das ideias contidas no conjun-
to de dados em caráter descritivo; nível explicativo, relativo
ao aprofundamento das ideias recorrendo ao próprio texto, ou
a outras fontes como a literatura, com foco na compreensão;
e nível estruturante, que diz respeito à articulação entre essas
ideias, com o suporte de elementos teóricos e abstrações con-
ceituais (Flick, 2014).
Da análise emergiram dois grandes temas, tomados
como categorias. Desse modo, a primeira categoria, refere-se
às concepções de meio ambiente, nomeada a partir de uma
fala recorrente em diferentes entrevistas “Meio-Ambiente é
tudo!”. A segunda categoria, nomeada por “Os Compromissos
Pró-Ecológicos”, engloba as definições de CPE pelas pessoas
entrevistadas.
Considerações Éticas
Na condução da pesquisa foram tomados todos os cuida-
dos éticos previstos para a pesquisa com seres humanos. Foi
assegurado o anonimato e solicitada a assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido e do Termo de Autoriza-
ção de Gravação de Voz pelos participantes. Esta pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (Parecer Nº 147.523).
Resultados
As concepções sobre meio ambiente mantêm relações
com os entendimentos sobre o compromisso pró-ecológico,
considerando que ambos são construídos socialmente, sendo
circunscritos por contextos socioambientais e históricos. Ape-
nas para favorecer uma compreensão em detalhes, na presente
exposição, são separadas em duas categorias, como sinalizado
anteriormente na seção de método.
Meio ambiente é tudo!
Como ponto de partida nas entrevistas, foi solicitado
a cada participante que discorresse livremente sobre o que
entendiam por meio ambiente e, na sequência, como haviam
construído esse conceito. Em geral, as respostas versaram
sobre a interação e a integração comum ao binômio pesso-
a-ambiente, mais próxima da noção ecossistêmica de inter-
dependência, e sobre a construção pessoal dessa definição a
partir da mudança de uma compreensão ingênua para outra
mais abrangente e reflexiva. De forma espontânea, alguns
participantes discorreram sobre os contrastes entre seu pró-
prio entendimento e a visão de meio ambiente no âmbito do
senso comum.
Inicialmente, as pessoas abordaram as diferenças entre
398
as noções de natureza e meio ambiente. Nesse sentido, ge-
ralmente a natureza é vista como algo distinto do humano,
de que este não faz parte, e essa visão está relacionada com
uma perspectiva preservacionista, que compreende a natureza
como algo que precisa ser protegido integralmente, ou como
algo a ser simplesmente contemplado. Já a concepção de meio
ambiente compreende o espaço de interações, e de integra-
ção, associada à ideia de habitat, da qual a interferência e a
ação humana fazem parte. O meio ambiente, então, caracte-
riza uma visão mais ampla e inclusiva, envolvendo também
elementos naturais e os ambientes construídos.
Essa distinção, entre os conceitos de natureza e meio
ambiente, mantém relação direta com outro ponto de contras-
te evocado nas entrevistas: a visão corrente do senso comum
versus o entendimento mais complexo. No âmbito do senso
comum, a noção de meio ambiente está frequentemente as-
sociada e limitada ao conceito de natureza, mencionado ante-
riormente, algo que está fora das pessoas e do qual não fazem
parte, o que seria uma concepção excludente. Distingue-se,
assim, de uma visão complexa e embasada, fruto de conhe-
cimentos (adquirido por vias formais ou informais) sobre o
tema, e de reflexões pessoais e em coletivo. Nesse sentido,
o conceito é tratado de forma mais ampla e inclusiva, inte-
grando as relações das pessoas com e no ambiente. Algumas
pessoas discorreram sobre a complexidade dessa concepção
em termos de níveis, ou escalas. Consideraram desde o meio
ambiente mais elementar, o corpo, o organismo, passando ao
ambiente direto, a casa, até os outros ambientes de interação.
“Vamos cuidar do meio ambiente!” parece que
para cuidar das árvores, né? Vamos cuidar das flo-
restas. Não! O entendimento de meio ambiente é
o ambiente onde a gente está ambientando, é aqui
também, é o concreto, é a rua, é a cidade é o tra-
balho, o seu ambiente de viver (Participante 1, ho-
mem, 29 anos).
Eu entendo meio ambiente em vários níveis, tem o
meu nível, tem o meu meio ambiente, que é a mi-
nha pessoa, meu corpo faz parte do meio ambien-
te; tem o meio ambiente físico do mundo e como
eu me relaciono com esse meio ambiente físico do
mundo natural, que não se distingue (Participante
2, homem, 27 anos).
Essa definição de meio ambiente se relaciona com ou-
tros dois pontos de contraste, que marcaram suas próprias
elaborações: uma conceituação do ponto de vista científico
(formal) e a elaboração subjetiva sobre o conceito. Ambas as
visões coexistem e se relacionam, visto que os participantes
atuam em meio ambiente, portanto, ainda que alguns não te-
nham formação acadêmica específica em áreas relacionadas
com o tema de meio ambiente, de forma mais ampla dominam
a retórica do campo ambiental.
No que concerne à visão científica, como emerge no
discurso dos participantes, meio ambiente contempla fatores
bióticos (seres vivos, incluindo os seres humanos) e abióticos
(substâncias inorgânicas, regime climático, oxigênio, solo,
etc.). Dentro dessa visão, meio ambiente se enquadra como

Diniz, R. F., & Pinheiro, J. Q. (2017). Compromisso Pró-Ecológico e seus Praticantes.
uma das três dimensões da sustentabilidade (sendo as outras
dimensões, a social e a econômica). Pode ser compreendido,
ainda, como habitat, o lugar que habitamos e que circunscre-
ve nossas interações tanto com seres humanos quanto com
outros seres vivos e seres não vivos. Diferentemente da visão
de senso comum, se reconhece o papel da interferência hu-
mana, até mesmo a partir da cultura e da vida urbana, que são
também compreendidos como elementos que formam parte
do meio ambiente.
Envolve aspectos físicos, aspectos bióticos, bióticos en-
tra o homem também. E envolve também seus significados e
aí tem a ver com a cultura, e tem a ver também com as paisa-
gens, com a cultura, com o que se vê (Participante 3, mulher,
53 anos).
Pra mim a questão do meio ambiente é justamente
o lugar, o lugar de interação entre todos os seres. A
questão da fauna, a questão do homem e, pra não
ofender as feministas, da mulher (risos). A questão
dessa qualidade de vida, o bem-estar, então toda
essa referência de qualidade de vida, de estar bem,
pra mim é meio ambiente (Participante 4, mulher,
48 anos).
As ideias de bem-estar e qualidade de vida, menciona-
das pela Participante 4, integram também um ponto de vista
subjetivo, que contempla os aspectos experienciais e afetivos,
sem recorrer necessariamente às definições e delimitações
técnicas do termo. Nesse sentido, observa-se não apenas a
presença de visões ecocêntricas, focadas na valorização da
natureza em si, mas essas coexistindo com visões de inter-
dependência entre a conservação da natureza e a manutenção
da vida humana, o que caracteriza uma visão antropocêntrica.
Convém salientar que em muitos casos a resposta es-
pontânea evocada pela pergunta/estímulo sobre a concepção
de meio ambiente foi: “Tudo!”. Essa ideia de totalidade ex-
pressa uma visão do planeta como sendo um organismo vivo
(Gaia), um macrocontexto integrado que engloba diversos
tipos de interações e inter-relações, sendo abordado por parti-
cipantes considerando os sentidos de interdependência e equi-
dade. Tem-se como exemplos as passagens a seguir: “Eu acho
que é tudo. Meio ambiente é o lugar e as inter-relações desses
lugares, todas as relações que acontecem num espaço” (Par-
ticipante 5, mulher, 42 anos); “Tudo! Não consigo ver meio
ambiente como coisas isoladas. Eu consigo ver como um con-
junto de coisas e situações” (Participante 6, mulher, 26 anos);
“Tudo! Realmente tudo. Eu defino como sendo as relações, na
realidade é tudo desde o ar ao que a gente come, as relações
entre as pessoas, a matéria corporal, para mim meio ambiente
é basicamente tudo” (Participante 7, mulher, 30 anos).
Algumas pessoas afirmaram que seu entendimento so-
bre o tema foi sendo desenvolvido a partir de suas próprias
experiências, levando à mudança de uma visão mais ingênua
em direção a um entendimento mais complexo. O que decor-
reu de um interesse pessoal e de leituras, reflexões e trocas de
ideias com outras pessoas, e de um ponto de vista cognitivo,
mantém relação com a aquisição de novas crenças. Contudo,
essa mudança se deu com base não apenas em leituras e for-
mação técnica (aspecto cognitivo), mas também se construiu
a partir de experiências pessoais que envolveram dimensões
afetivas (exemplo, sentir-se bem, felicidade), contato com a
diversidade, estabelecimento de novas relações, etc.
Em casa eu já recebi uma certa influência nesse
sentido, de entender essa... totalidade das coisas,
essa interdependência, essa interligação também ...
viagens também que eu fazia contribuíram pra essa
ideia, conversas e leituras, e reflexões, tudo isso
eu acho que vai... por isso que eu digo, a gente tá
sempre lendo, a gente tá sempre pensando, a gente
tá sempre conversando então isso ta em constante
construção (Participante 8, homem, 27 anos).
As concepções sobre meio ambiente formam parte da
própria construção do compromisso pró-ecológico, tanto em
nível cognitivo quanto em termos afetivos. Tais crenças vão
se modificando ao longo da vida dos indivíduos e extrapolam
o nível do conhecimento científico, incorporando a dimensão
das experiências de vida como fatores que desencadeiam ou
oportunizam reflexões e transformações do conceito. Esse en-
tendimento também se manifesta na forma como os indivídu-
os percebem e definem o compromisso pró-ecológico.
Os compromissos pró-ecológicos
A fim de explorar como as pessoas entrevistadas com-
preendem o CPE, foi solicitado que as mesmas avaliassem
seu próprio compromisso, relatando os tipos de práticas que
desenvolviam dentro de uma perspectiva de cuidado ambien-
tal, ou seja, que considerassem como tendo impacto positivo
para o meio ambiente. Nos casos em que a pessoa havia sido
indicada (via percepção social do CPE), era solicitado, tam-
bém, que discorressem sobre os motivos que pudesse apontar
para as indicações recebidas. Somado a isso, ao final da entre-
vista, cada participante indicou outras pessoas que avaliasse
como sendo comprometidas pró-ecologicamente, justificando
essas indicações a partir das práticas de cuidado ambiental
observadas.
Desse modo, os dados sobre as concepções acerca do
CPE foram decorrentes da avaliação que as pessoas fizeram
do seu próprio compromisso, assim como das avaliações
feitas sobre o compromisso de outras pessoas. Observou-se
que ambas convergiram. Embora a autoavaliação tenha tido
como referência mais comum práticas domésticas e escolhas
cotidianas, a percepção social, de forma mais ampla, abarcou
dimensões semelhantes, tendo como foco características pes-
soais, práticas cotidianas e profissionais, e ações em âmbito
coletivo.
Foram elencadas diversas atividades, desde ações
individuais e de impacto em seu meio imediato, a ações com
engajamento coletivo e de impacto mais abrangente. Em prin-
cípio, algumas pessoas citaram práticas relacionadas com es-
colhas cotidianas, contexto doméstico e práticas pessoais, tais
como: cuidado com resíduos (coleta seletiva, reuso, redução),
cultivo de plantas e hortas domésticas, economia de recursos
(água, energia), consumo consciente (exemplo, escolhas no
399

Paidéia, 27(Suppl. 1), 395-403
supermercado), redução no uso de carro e a opção pela cami-
nhada, uso de bicicleta e transporte coletivo.
Outra classe de práticas individuais, compreendidas
como parte ou resultante do CPE, teve relação com o cuidado
com o corpo e com a saúde, como a prática de ioga, medita-
ção, o cuidado com a alimentação e consumo de alimentos
saudáveis, com atenção à origem desses alimentos, dando
preferência aos produtos orgânicos, integrais, menos proces-
sados e de cultivo local. Embora essa listagem de práticas não
seja comum a todas, cada pessoa elencou pelo menos algu-
mas delas. Destacou-se a visão acerca de um “estilo de vida
simples”, ou seja, de base deliberada, cooperativa e austera
(Corral-Verdugo, 2010). Essa concepção também se aproxi-
ma da noção de frugalidade, relativa à restrição voluntária e
ao uso dos recursos de forma criativa (Muiños, Suárez, Hess
& Hernández, 2015).
Na minha escolha de viagem, ou na minha escolha
de consumo também passa a questão ambiental na
percepção de evitar os excessos, não que eu seja
diferente da maioria, mas eu procuro evitar os ex-
cessos com relação ao consumo, procurar comprar
em locais que tenha mais, que haja mais divisão
de renda, pequenos supermercados, ou feiras or-
gânicas, comprar ao invés de uma loja de doces,
comprar de uma amiga que faz bolo, ou coisas as-
sim que possam melhorar um pouco a situação e a
divisão de renda (Participante 3, mulher, 53 anos).
Então eu cuido de mim, da minha alimentação en-
tendendo que a minha alimentação ela vai... eu vou
acabar passando, tendo a minha saúde melhorada
ou não isso vai influenciar o ambiente e a alimen-
tação que eu estou colocando pra dentro de mim
ela vem de algum lugar ela tem uma fonte, qual é
essa fonte? O que é que eu to escolhendo colocar
pra dentro?... Eu tento minimizar a industrializa-
ção, alimentos industrializados, alimentos muito
refinados, eu gosto de uma alimentação mais inte-
gral mais viva, em primeiro lugar (Participante 9,
mulher, 27 anos).
Outras práticas elencadas se relacionaram com os con-
textos de trabalho. A atuação profissional dessas pessoas é
marcada pela atenção dada às questões ambientais, seja no
trabalho em organizações não governamentais (ONGs), no
serviço público (exemplo, Secretarias de Meio Ambiente, ór-
gãos fiscalizadores), ou em âmbito privado, como o trabalho
em consultorias. Quem atua no contexto acadêmico (como
docente ou estudante) mencionou o tripé de ensino, pesquisa
e extensão, favorecendo o acesso a novas referências teóricas,
práticas no campo de estágio e/ou pesquisa, e a influência que
esse conhecimento tem sobre as práticas pessoais, menciona-
das anteriormente. As falas ilustram essa questão: “Enquanto
funcionária pública sempre disponibilizei a minha formação,
sempre me senti responsável, como geógrafa, pelo planeta”
(Participante 10, mulher, 51 anos); “Trabalhei no projeto de
horta escolar, base de pesquisa, com restauração, projeto (...),
400
trabalhei com coisas lá no CEFET, secretaria de meio am-
biente, também num outro projeto, desde 2005 eu não paro
quieto” (Participante 11, homem, 26 anos).
Ações de conscientização, como o repasse de in-
formações sobre temáticas ambientais e sobre mudanças em
práticas cotidianas, também foram mencionadas como ações
relacionadas com o CPE. Podem ocorrer tanto em contextos
formais, programas ou projetos de educação ambiental, nos
ambientes de trabalho, como em contatos informais, em diá-
logos com pessoas do convívio (parentes, amigos), ou mesmo
em situações cotidianas (exemplo, na fila do supermercado).
Nessa direção, destacou-se a forma como essas pessoas
se relacionam com outras em diversos contextos, algo também
mencionado como parte do seu CPE. Ressaltaram o estabele-
cimento de relações democráticas, horizontais, de cuidado e
trato respeitoso com as pessoas como algo que expressa e é
coerente com esse compromisso. Como ilustram as seguintes
falas: “Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu acho que isso é
uma coisa básica. Você se relacionar bem com as pessoas”
(Participante 8, homem, 27 anos); “Olha, a minha vida inteira
sempre fui muito cuidadosa com as pessoas” (Participante 12,
mulher, 61 anos). Ou ainda:
Cuidado e o respeito com as pessoas, de uma ma-
neira independente. Então respeitar realmente os
indivíduos, a diversidade, é o que eu falo, tentar
viver de uma maneira mais democrática mesmo,
democracia mais profunda no sentido da palavra e
tudo mais. Então acho que isso é fundamental. Isso
é uma prática que pra mim faz parte (Participante
2, homem, 27 anos).
A forma como se constroem as relações com as pesso-
as também parece contribuir para a realização de ações de
caráter coletivo, que são marcadas pelo engajamento em ati-
vidades de mobilização social e participação em movimentos
socioambientais (exemplo, defesa de parques, protestos) e a
atuação na esfera política (exemplo, participação em audiên-
cias públicas, comissões, conselhos). Tais ações se caracteri-
zam pela visibilidade que alcançam e por serem orientadas ao
impacto em contexto mais amplo (social e ambiental). Com
exceção das pessoas que exercem atividades remuneradas
nesses contextos, o engajamento é voluntário.
E pensar em ação pró-ativa, poxa eu sou um cara
que fiz muito, então eu participo de audiência pú-
blica, eu participo do conselho municipal de meio
ambiente da minha cidade, eu participo de movi-
mentos pró-ambientais diversos, eu fundei uma
ONG aos 16 anos e passei mais de uma década de-
senvolvendo campanhas (Participante 13, homem,
33 anos).
O destaque dado às características pessoais apareceu de
forma mais comum na percepção social do CPE. Tal como
mencionado pelo Participante 13, a pró-atividade foi uma
característica marcante nos discursos, referente ao senso de
responsabilidade e à tomada de iniciativas, como promover

Diniz, R. F., & Pinheiro, J. Q. (2017). Compromisso Pró-Ecológico e seus Praticantes.
ações, convidar outras pessoas para desenvolver projetos e re-
passar informações sobre mobilizações. Outras características
mencionadas estavam associadas à sensibilidade, perseveran-
ça, persistência e senso de justiça.
E ele [pessoa indicada] me inspirou muito pela re-
sistência, ele é incansável, eu sou uma pessoa que
me canso, durmo muito, ele quase não dorme, ele
é incansável, ele tá sempre animado, mesmo de-
pois de uma derrota, ele sempre acha que vai con-
seguir fazer alguma coisa (Participante 7, mulher,
30 anos).
Outro aspecto que também identificado nas falas, fo-
ram as barreiras para as práticas de cuidado ambiental. Foram
apontados fatores situacionais, como a ineficácia e insufici-
ência da rede de transportes urbanos e a ausência de estrutura
para coleta seletiva como situações que desmotivam práticas
alternativas relativas à mobilidade e tratamento do lixo. Outro
ponto mencionado foi a cristalização de rotinas já estabeleci-
das tanto em contextos domésticos como de trabalho, o que
mantém relação com os hábitos e a dificuldade de modificá-
-los. Ao abordar a dificuldade de realizar práticas e mudanças
de comportamento reconhecidas como importantes e neces-
sárias, ocorre uma visão crítica e também autocrítica. Como
nos seguintes exemplos: “Eu faço coisas incorretas também,
tem coisas que já entrou no costume, de hábito” (Participante
7, mulher, 30 anos); “Bom, agora é difícil você ter um com-
portamento, assim, como chamam, eu não gosto muito des-
sa expressão, é ecologicamente correto 100% porque o meio
capitalista impede, é uma contradição” (Participante 14, ho-
mem, 79 anos).
Sintetizando os resultados até aqui apresentados sobre
indicadores sociais percebidos como expressão do CPE, vê-se
que foram mencionadas práticas já apontadas pela literatura
relativas às escolhas cotidianas, no contexto doméstico, e prá-
ticas pessoais (exemplo, destinação de resíduos, cultivo de
plantas, economia de recursos, consumo consciente, redução
do uso de carro, uso de bicicleta e transporte coletivo). Foram
mencionadas, também, práticas relativas ao cuidado com a
saúde numa perspectiva holística (exemplo, ioga, meditação,
consumo de alimentos saudáveis). Em relação às ações de
conscientização em âmbitos coletivos e de atuação profissio-
nal, os participantes ressaltaram o estabelecimento de rela-
ções democráticas, horizontais, de cuidado e trato respeitoso
com as pessoas como algo que expressa e é coerente com esse
compromisso, enfatizando seu caráter pró-social. Os partici-
pantes discorreram, ainda, sobre as barreiras que dificultam
práticas de cuidado ambiental, as quais envolvem fatores situ-
acionais (exemplo, ineficácia e insuficiência da rede de trans-
portes urbanos e a ausência de estrutura para coleta seletiva) e
os hábitos, com base num posicionamento crítico.
Tendo em vista que a consciência ecológica é um fe-
nômeno que se consolida de forma recente na história da
humanidade, observamos variações em sua apropriação e
construção pelas pessoas, até mesmo na forma de conceber as
relações dos pontos de vista pró-ecológicos com sistemas já
estabelecidos na história de nossas sociedades.
Discussão
Em uma visão mais ampla sobre as concepções de meio
ambiente e de CPE aqui analisadas, alguns aspectos merecem
destaque. Primeiramente, ressalta-se a visão crítica a respei-
to do conhecimento que vem sendo produzido no âmbito da
pró-ambientalidade. Tomar por base o referencial das próprias
pessoas participantes para compreender em profundidade
elementos que a literatura da área tem apontado sistematica-
mente, por vezes de forma descontextualizada, trouxe novas
possibilidades de expansão desse conhecimento. Com o foco
no processo de construção das concepções e visões de meio
ambiente, assim como do próprio compromisso, foi possível
esmiuçar pontos de convergência e de distinção entre diferen-
tes perfis. Foi possível, também, identificar a influência dos
contextos nos quais se dão essas construções.
Algumas das pessoas entrevistadas tinham formação
técnica e/ou superior em áreas de meio ambiente (exemplo,
Biologia, Ecologia, Engenharia, Geografia), enquanto outras
tinham sido ou estavam sendo treinadas em Ciências Huma-
nas ou da Saúde. A despeito dessas diferenças, os discursos
sobre meio ambiente seguiram direções semelhantes. Assim,
em alguns momentos o conhecimento técnico auxiliou e jus-
tificou o uso de alguns termos, mas essa não foi a tônica das
definições. Nos relatos sobre as mudanças no conceito ao lon-
go das trajetórias, observou-se a relevância de um conjunto
de experiências de vida que contribuíram para a construção
desse entendimento.
Nesse sentido, cabe problematizar a inclinação cogni-
tivista que em geral atravessa programas de educação am-
biental e intervenções socioambientais. Como já vem sendo
apontado na literatura, o foco exclusivo no conhecimento e na
informação, não dá conta da complexidade inerente aos temas
ambientais (Gaspar de Carvalho, Palma-Oliveira & Corral-
-Verdugo, 2010; Hill, Figueredo & Jacobs, 2010). A diver-
sidade de experiências com interações socioambientais que
não ficaram restritas ao âmbito formal de ensino, envolvendo
reflexões pessoais e em coletivos, favoreceram o desenvolvi-
mento de concepções mais críticas, integrativas e complexas
sobre o meio ambiente. Tal como se depreende na presente
análise, a dimensão cognitiva, quando contemplada exclusi-
vamente em contextos formais e de caráter informativo, pare-
ce se distanciar da dimensão afetiva, sendo esta mais associa-
da com a informalidade e o caráter vivencial das experiências
relatadas. Desse modo, sugere-se a consideração de ambas as
dimensões no planejamento de ações de cunho educativo.
Como apontaram Polli e Camargo (2016), em seu levan-
tamento sobre as representações sociais de meio ambiente,
não identificamos diferenciações entre as definições de dois
grupos de participantes, com faixas etárias distintas, acessa-
das de forma não-intencional no processo de construção do
corpus. A despeito dessa convergência nas visões sobre meio
ambiente, no que se refere ao compromisso pró-ecológico fi-
caram evidentes distinções entre as construções desses grupos
de participantes. Embora haja ações em comum entre ambos,
algumas práticas foram ressaltadas com maior ênfase por um
ou por outro.
O grupo mais jovem de participantes (com idades entre
401

Paidéia, 27(Suppl. 1), 395-403
23 e 33 anos) desenvolve seu CPE em meio a um cenário
mais recente de constituição do campo ambiental no Brasil,
e em meio à abertura e expansão do ensino técnico, superior
e em nível de pós-graduação voltados especificamente para a
temática ambiental. Considerando a riqueza de detalhes des-
critivos e as justificativas dadas nas indicações, essas pessoas
jovens atribuíram maior ênfase às práticas pessoais no coti-
diano, às características pessoais e às relações com as pesso-
as. O CPE também é caracterizado pela inserção em novos
movimentos de cunho socioambiental, como a permacultura
e as ecovilas, assim como movimentos com pautas próprias
do meio urbano como a mobilidade e a ocupação dos espaços
públicos e direito à cidade.
De maneira distinta, as demais pessoas entrevistadas
(idades entre 39 e 79 anos) tiveram o despertar para as questões
ambientais em meio ao momento inicial do verdejar do pensa-
mento público no Brasil, ou seja, num contexto em que essas
questões começaram a adentrar o âmbito do senso comum. No
entendimento sobre o CPE, teve maior peso a trajetória de mili-
tância e o engajamento em ações coletivas, políticas, e na esfera
governamental. Assim como no caso do grupo mencionado an-
tes, tais definições mantêm relação direta e fundamental com os
contextos sociais e históricos nos quais se desenvolvem sendo,
portanto, resultado da história de sua produção, das peculia-
ridades da cultura e modos de vida da sociedade em que são
produzidos (Gergen, 1996; Ibañez, 2003).
Nesse sentido, destacam-se as transformações sofridas
ao longo dos anos pelas concepções de meio ambiente e natu-
reza, e pelas expectativas que emergiram em torno do cuidado
ambiental e do que possa ser considerado um compromisso
pró-ecológico. As diferenças apontadas sugerem uma relação
com o contexto geracional das pessoas entrevistadas, situados
em diferentes momentos do desenvolvimento dos movimen-
tos ambientalistas e do pensamento ecológico no Brasil, com
ênfase no momento posterior à realização da Rio-92, com a
difusão da noção de sustentabilidade (Viola & Leis, 1995).
Outro aspecto relevante diz respeito ao fato de que as
ações que compõem os diversos CPEs não são percebidas ou
encaradas pelos participantes como algo negativo, de caráter
restritivo ou de sacrifício, mas sim como algo positivo e que
traz, de forma geral, bem-estar e qualidade de vida, algo que
já vem sendo apontado por outros estudos (Corral-Verdugo
2010; 2012). Tal constatação tem impacto para a formação de
sujeitos comprometidos pró-ecologicamente, tendo em vista
que as mudanças provocadas nos estilos de vida podem ter
impactos positivos não apenas para o meio ambiente, mas
para as pessoas e para os grupos nos quais se inserem.
Por fim, considera-se o perfil homogêneo do grupo de
participantes como um aspecto limitante da pesquisa. Nes-
se sentido, abrem-se caminhos para investigações futuras
que incluam pessoas com características diferentes das aqui
contempladas. E, principalmente, que desenvolvam suas
concepções de meio ambiente e que tenham a formação de
seu compromisso em contextos diversos. Especificamente,
populações rurais, de baixa renda, com diferentes níveis de
inserção no ensino formal. Tais estudos podem favorecer uma
visão mais ampla do CPE, assinalando a diversidade inerente
a esse fenômeno.
402
Referências
Braun, V., & Clarke, V. (2013). Successful qualitative
research: A practical guide for beginners. London, United
Kingdom: Sage.
Castro, P. (2005). Crenças e atitudes em relação ao ambiente
e à natureza. In L. Soczka (Org.), Contextos humanos e
psicologia ambiental (pp. 169-201). Lisboa, Portugal:
Fundação Calouste Gulbenkian.
Charmaz, K. (2014). Constructing grounded theory (2nd ed.).
London, United Kingdom: Sage.
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
(1991). Nosso futuro comum (2a ed.). Rio de Janeiro, RJ:
Editora da Fundação Getúlio Vargas.
Cordeiro, R. M. (2014). Os projetos de desenvolvimento do
Brasil contemporâneo. Revista de Economia Política,
34(2), 230-248. doi:10.1590/S0101-31572014000200004
Corral Verdugo, V. (2010). Psicologia de la sustentabilidad:
Un análisis de lo que nos hace pro-ecológicos y pro-
sociales. México, DF: Trillas.
Corral Verdugo, V. (2012). Sustentabilidad y psicología
positiva: Una visión optimista de las conductas
proambientales y prosociales. Hermosillo, México:
Manual Moderno/Universidad de Sonora.
Flick, U. (2014). An introduction to qualitative research (5th
ed.). London, United Kingdom: Sage.
Gaspar de Carvalho, R., Palma-Oliveira, M., & Corral-
Verdugo, V. (2010). Why do people fail to act?
Situational barriers and constraints on ecological
behavior. In V. Corral-Verdugo, C. H. García-Cadena,
& M. Frías-Armenta (Eds.), Psychological approaches
to sustainability: Current trends in theory, research and
practice (pp. 269-294). New York, NY: Nova Science.
Gergen, K. J. (1985). The social constructionist movement in
modern psychology. American Psychologist, 40(3), 266-
275. doi:10.1037/0003-066X.40.3.266
Gergen, K. J. (1996). La construción social: Emergencia y
potencial. In M. Pakman (Comp.), Construcciones de la
experiencia humana (pp. 139-182). Barcelona, España:
Gedisa.
Ibáñez, T. (2003). La construcción social del
socioconstruccionismo: Retrospectiva y perspectivas.
Política Y Sociedad, 40(1), 155-160. Recuperado de
http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/viewFile/
poso0303130155a/23709
Hill, D., Figueiredo, A. J., & Jacobs, J. (2010). Contextual
influences on sustainable behavior. In V. Corral-Verdugo,
C. H. García-Cadena, & M. Frías-Armenta (Eds.),
Psychological approaches to sustainability: Current
trends in theory, research and practice (pp. 269-294).
New York, NY: Nova Science.
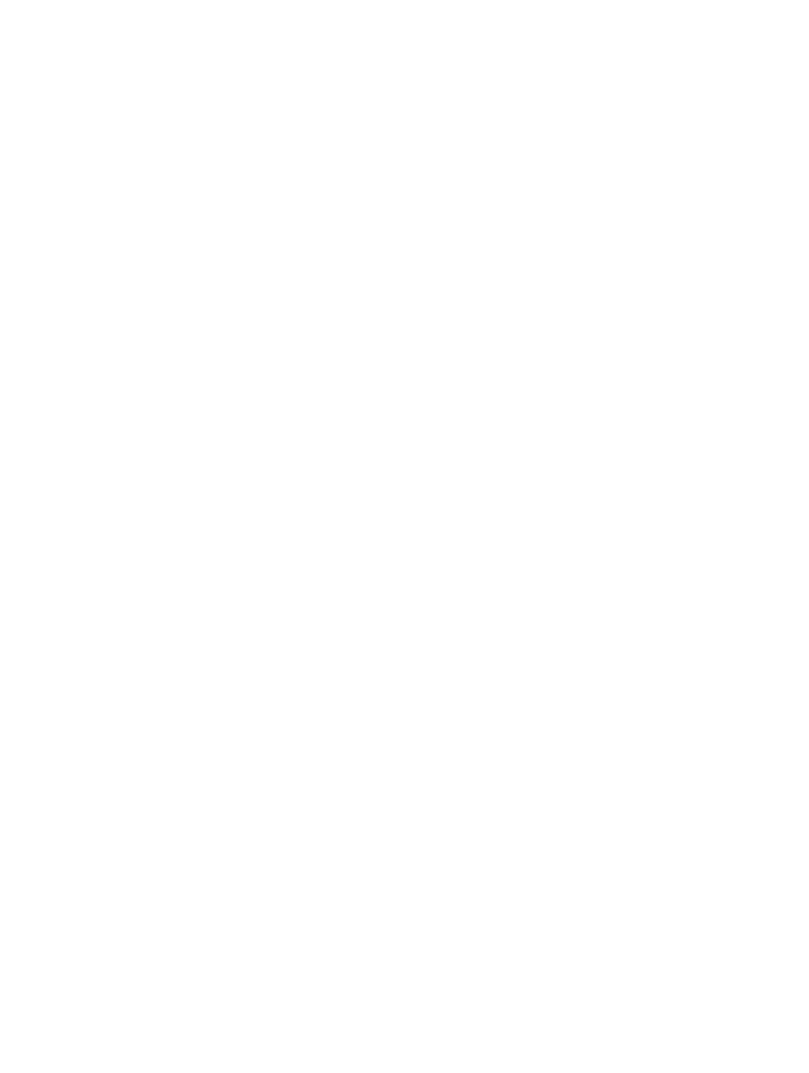
Diniz, R. F., & Pinheiro, J. Q. (2017). Compromisso Pró-Ecológico e seus Praticantes.
Losekann, C. (2012). Participação da sociedade civil na política
ambiental do Governo Lula. Ambiente & Sociedade,
15(1), 179-200. doi:10.1590/S1414-753X2012000100012
Muiños, G., Suárez, E., Hess, S., & Hernández, B. (2015).
Frugality and psychological wellbeing. The role of
voluntary restriction and the resourceful use of resources.
Psyecology, 6(2), 169-190. doi:10.1080/21711976.2015.1
026083
Pol, E. (2007). Blueprints for a history of environmental
psychology (II): From architectural psychology to
the challenge of sustainability. Medio Ambiente y
Comportamiento Humano, 8(1/2), 1-28. Recuperado de
http://mach.webs.ull.es/PDFS/Vol8_1y2/Vol8_1y2_a.pdf
Polli, G. M., & Camargo, B. V. (2016). Representações
sociais do meio ambiente para pessoas de diferentes
faixas etárias. Psicologia em Revista, 22(2), 390-404.
doi:10.5752/P.1678-9523.2016V22N2P392
Vaccari, L. C., Cohen, M., & Rocha, A. M. C. (2016). O hiato
entre atitude e comportamento ecologicamente conscientes:
Um estudo com consumidores de diferentes gerações
para produtos orgânicos [Edição Especial]. Gestão.Org:
Revista Eletrônica de Gestão Organizacional, 14(1), 44-
58. doi:10.21714/1679-18272016v14Esp.p44-58
Viola, E. J., & Leis, H. R. (1995). O ambientalismo
multissetorial no Brasil para além da Rio-92: O desafio
de uma estratégia globalista viável. In E. J. Viola, H.
R. Leis, & I. Scherer-Warren (Orgs.), Meio ambiente,
desenvolvimento e cidadania: Desafios para as ciências
sociais (2a ed., pp. 134-160). São Paulo, SP: Cortez.
Willig, C. (2013). Introducing qualitative research in
psychology: Adventures in theory and methods.
Maidenhead, United Kingdom: McGraw-Hill Education.
Raquel Farias Diniz é docente do Departamento de Psicologia
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil.
José de Queiroz Pinheiro é docente do Programa de
Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, Brasil.
Recebido: 22/03/2017
1a Revisão: 05/09/2017
Aprovado: 18/10/2017
Como citar este artigo:
Diniz, R. F., & Pinheiro, J. Q. (2017). O compromisso
pró-ecológico nas palavras de seus praticantes. Paidéia
(Ribeirão Preto), 27(Suppl. 1), 395-403 doi: 10.1590/1982-
432727s1201704
403
