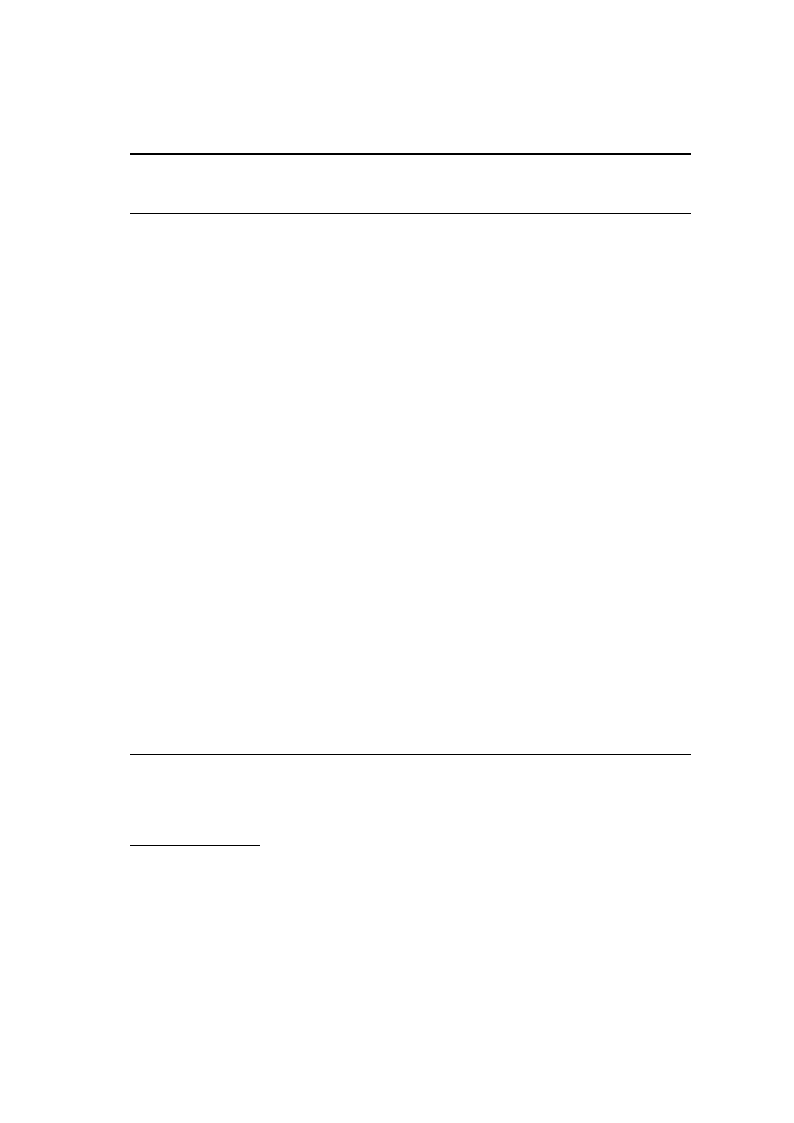
10.5216/sig.v28i2.35532
Ecolinguística, linguística Ecossistêmica E análisE do discurso
Ecológica (adE)
Elza
KioKo
naKayama
nEnoKi
do
couto*
1
Hildo
Honório
do
couto**
2
rEsumo
O paradigma ecológico já vem sendo seguido por representantes de
praticamente todas as ciências sociais. Por isso, o objetivo do ensaio é mostrar
como ele tem sido aplicado no estudo dos fenômenos da linguagem, sob o
nome de Ecolinguística. Começamos por uma visão de conjunto das iniciativas
nesse sentido. Em seguida, apresentamos em relativo detalhe a versão da jovem
disciplina chamada de Linguística Ecossistêmica, cujo nome se deve ao fato
de partir da visão ecológica de mundo expressa não só na Ecologia Biológica,
mas também na Social e na Filosófica, como a Ecologia Profunda. O texto
se completa com uma exposição da mais jovem ainda Análise do Discurso
Ecológica (ADE) que, diferentemente das análises do discurso tradicionais,
enfatiza a vida (de todas as espécies) e luta contra tudo que possa trazer
sofrimento aos seres vivos. Se as ideologias são inevitáveis, a ADE subscreve
a ecoideologia, não as ideologias políticas com respectivas relações de poder.
Ela não ignora as últimas, mas não faz delas o item mais importante. Em vez
do conflito implícito nessas ideologias, a ADE enfatiza a harmonia.
Palavras-cHavE: Ecolinguística, Linguística Ecossistêmica, ADE, Harmonia.
* Pós-doutora em Linguística pela Universidade de Brasília (UnB), Brasília, Distrito Federal,
1
Brasil, e doutora em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP), São Paulo, São Paulo, Brasil. Professora Adjunta na Universidade Federal de Goi-
ás (UFG), Goiânia, Goiás, Brasil.. E-mail: kiokoelza@gmail.com
** Doutor em Linguística pela Universidade de Colônia, Colônia, Remânia do Norte-Vestfália,
2
Alemanha. Professor pesquisador na Universidade de Brasília (UnB), Brasília, Distrito Fede-
ral, Brasil. E-mail: hildodocouto@gmail.com

1. introdução
A Ecolinguística é uma disciplina relativamente jovem. Ela
surgiu no início da década de 70 do século passado e se consolidou
no início da de 90. Em geral, reportando-se a Haugen (1972), ela tem
sido definida como sendo o estudo das relações entre língua e seu meio
ambiente. Tanto o prefixo ‘eco-’ quanto a própria definição da disciplina
apontam na direção da Ecologia que se pratica no âmbito da Biologia.
Na Ecologia, ‘meio ambiente’ (MA) é um componente do ecossistema,
é o lugar em que determinada espécie ou grupo de espécies vivem e seus
membros interagem entre si. Por isso, ‘ecossistema’ é definido como
sendo composto de uma população de organismos e suas inter-relações
(interações) com o respectivo habitat (nicho ecológico, biótopo,
território, MA), dependendo do ponto de vista, bem como das interações
dos organismos entre si. Como a expressão meio ambiente tem dado
lugar a mal-entendidos, sugerindo uma associação direta apenas com
a questão do ambientalismo, cremos que uma definição melhor para a
disciplina seja a de que Ecolinguística é o estudo das interações entre
língua e seu contexto social, mental e natural, via população. Outra
possibilidade de dizer a mesma coisa seria: Ecolinguística é o estudo
das inter-relações linguísticas que se dão no nível social, no mental e no
natural. Ambas definições evitam uma reificação da língua, implícita na
definição de Haugen.
O que acaba de ser dito suscita uma questão epistemológica da
maior relevância. Por isso, antes de falar sobre os conceitos ecológicos,
é importante ressaltar que, para algumas teorias linguísticas, a língua
é um fenômeno eminentemente social. É o caso da Sociolinguística,
da Análise do Discurso e outras. Para outras, como a Gramática
Gerativa, a língua é quase que exclusivamente mental, fato que
Chomsky tem salientado desde seus primeiros escritos. Para outras
orientações, inclusive algumas correntes filosóficas, a língua existe
para nos relacionarmos com o mundo, para falarmos dele, como na
tradição metafísica e no materialismo dialético, por exemplo. Para a
Ecolinguística, ela é tudo isso, ou seja, social, mental e social ao mesmo
tempo. Ela é biopsicossocial, uma vez que os três aspectos não se
dissociam um do outro.
382
Couto, E. K. N. N. do; Couto, L. H. do. ECoLiNguístiCa, LiNguístiCa...

2. os fundamEntos Ecológicos
Sabemos que ecossistema é o conceito central da Ecologia. A tal
ponto que ela poderia perfeitamente ser chamada de “Ecossistêmica”,
sem nenhuma perda conceitual. Por outro lado, poderíamos também
definir Ecologia como sendo “estudo dos ecossistemas”. Isso porque
tudo na Ecologia emerge do ecossistema ou imerge nele. Aí estão
inclusas suas propriedades e/ou características. Além da já mencionada
(a) interação, temos ainda (b) a diversidade, (c) a abertura, (d) o holismo,
(e) a adaptação, (f) o caráter dinâmico (evolução), (g) a visão de longo
prazo (h), entre outras. Passemos em revista cada uma delas, a fim de
entendermos melhor a importância da visão ecológica de mundo no
estudo dos fenômenos da linguagem.
Um primeiro princípio que deve ser observado é o do holismo,
que se explica pelo fato de, uma vez delimitado pelo observador,
o ecossistema passar a ser encarado como um todo, mesmo quando
ele se debruça sobre o comportamento de uma única espécie e até
mesmo de um único espécime. Ele estuda as inter-relações que esse
espécime (ou essa espécie) mantém no interior de todo o ecossistema
que ele delimitou. No caso da língua, há inter-relação da sintaxe
com a entoação, para não dizer com a morfologia, com a fonologia e
com o léxico, por exemplo, por mais que a gramática gerativa queira
negá-lo. A sintaxe tem a ver até mesmo com a ecologia da interação
comunicativa. Até recentemente pensávamos que “língua” era aquilo
que os gramáticos normativos apresentavam em seus livros, juntamente
com um dicionário, também altamente normativo, pois não ele inclui
palavras populares, por mais usadas que sejam. No entanto, aquilo que
os gramáticos nos revelam é uma pequena parte da língua real. Além
disso, temos a exterioridade da linguagem, sua exoecologia.
Delimitado o ecossistema, encarado holisticamente, o que há de
mais relevante em seu interior é a interação, ou inter-relação. O que
interessa ao ecólogo que vai estudar um ecossistema não é diretamente
a população de organismos que o compõe nem seu habitat, mas essas
interações, as que se dão entre organismo e habitat (interações organismo-
mundo) quanto as que têm lugar entre quaisquer dois organismos
(interações organismo-organismo). Em Linguística Ecossistêmica
(LE), as primeiras equivalem à significação (referência, denotação) e
Signótica, goiânia, v. 28, n. 2, p. 381-404, jul./dez. 2016
383

as segundas à comunicação (interação comunicativa). A interação é a
base de tudo na Ecologia e, consequentemente, no ecossistema. Ela é
também a base para a definição de língua, constituída pelas interações
verbais no interior do ecossistema linguístico.
Para que o ecossistema seja dinâmico e apresente uma alta
vitalidade, é de fundamental importância que haja uma grande
diversidade de espécies em seu interior. Quanto mais variedades de
espécies houver, mais sólido ele será; quanto menos espécies, mais
frágil. Isso vale não só para a natureza, mas também para a cultura, aí
inclusa a linguagem. Por exemplo, se a Índia tivesse uma única língua,
como o hindi, seria muito mais pobre culturalmente do que é com suas
mais de 16 línguas oficiais e muitas outras línguas de minorias.
A ideia de diversidade nos leva a aceitar não só o multilinguismo,
situação comum em diversas partes do mundo, como na África, em
certas áreas indígenas do Brasil (como o Parque Indígena do Xingu,
Alto Rio Negro), bem como algumas regiões da Europa, como
Bruxelas. O europeu moderno é altamente aberto ao multilinguismo,
uma vez que convive com diversas línguas, às vezes até em seu dia a
dia. A aceitação da diversidade leva também a certa benevolência para
com os dialetos. Os ditadores gostariam que seu país tivesse uma única
língua monodialetal, o que seria uma situação muito pobre. Enfim, a
diversidade estimula aceitar os modos de falar diferentes do nosso, a
língua e o dialeto do outro.
O ecossistema, mesmo delimitado pelo observador, não se
apresenta separado do mundo circundante. Pelo contrário, ele envia e
recebe matéria, energia e informação a todo instante. Por isso, apresenta
também a característica da porosidade, às vezes também chamada de
abertura. Ela tem muito a ver com as estruturas dissipativas do físico
Ilya Prigogine. Enfim, há um fluxo constante entre os ecossistemas,
quando não pelo fato de não estarem separados por fronteiras claramente
delimitadas. O ecossistema é delimitado pelo observador, que estabelece
uma linha imaginária separando o segmento que deseja investigar do
restante da imensa teia que é a natureza. Mesmo assim ele é estruturado,
é um sistema, porque é ecossistema. As interações que se dão em seu
interior seguem alguns princípios, elas não são inteiramente aleatórias.
No caso da língua, sabemos que ela não é uma estrutura fechada, como,
384
Couto, E. K. N. N. do; Couto, L. H. do. ECoLiNguístiCa, LiNguístiCa...

aliás, o próprio precursor da Ecolinguística (Edward Sapir) já havia
notado. Por fim, o conceito de porosidade é útil na delimitação do
domínio das línguas, problema que tanto atormentou os dialetólogos do
século XIX, que não conseguiam ver limites claros entre os dialetos. O
conceito de ecossistema linguístico soluciona o problema.
Todos os organismos de um ecossistema estão sempre se
adaptando ao meio e uns aos outros. A adaptação é muito importante
para a sobrevivência das espécies e de cada espécime de organismo
que as compõe. O darwinismo havia enfatizado a competição e a
sobrevivência do mais forte (ou do mais apto), no entanto, estudos
mais recentes têm demonstrado que as espécies que têm mais chances
de sobreviver são justamente as que mais se adaptam às novas
circunstâncias. Do mesmo modo, as línguas estão sempre se adaptando
às novas situações em que seus usuários se encontram. Na dinâmica da
língua, a adaptação pode ser vista até na interação comunicativa, em
que o falante procura se expressar como acha que o ouvinte entenderia
e o ouvinte procura interpretar o que ouviu como acha que é o que o
falante quis dizer. Comunicar-se é adaptar-se. Manter uma comunidade
íntegra implica uma adaptação constante. Do contrário, teríamos um
bellum omnium contra omnes. A adaptação está intimamente associada
a outro conceito da Linguística Ecossistêmica, a comunhão. Aprender
língua é adaptar-se, línguas transplantadas se adaptam ao novo contexto
e assim por diante.
Uma consequência da adaptação é a mudança em determinados
aspectos do ecossistema. Por isso a evolução é outra característica de
vital importância para a sobrevivência do ecossistema. Ela se dá ao
acaso, mesmo que no sentido da Teoria do Caos. O mesmo acontece
com a língua. Como disse Coseriu (1979), a língua existe porque
muda, ela não pode funcionar senão mudando. Até na aprendizagem
da língua dos pais pela criança há mudança, pois, como disse Mufwene
(2001), ela sempre replica de modo imperfeito a linguagem deles, o
que acarreta evolução. Uma língua que não mudasse, como querem os
gramáticos normativistas, morreria em poucas gerações, uma vez que
não se adaptaria, não serviria mais como meio de comunicação no novo
contexto. Enfim, a evolução parece ser o verso da moeda cujo reverso
é a adaptação.
Signótica, goiânia, v. 28, n. 2, p. 381-404, jul./dez. 2016
385
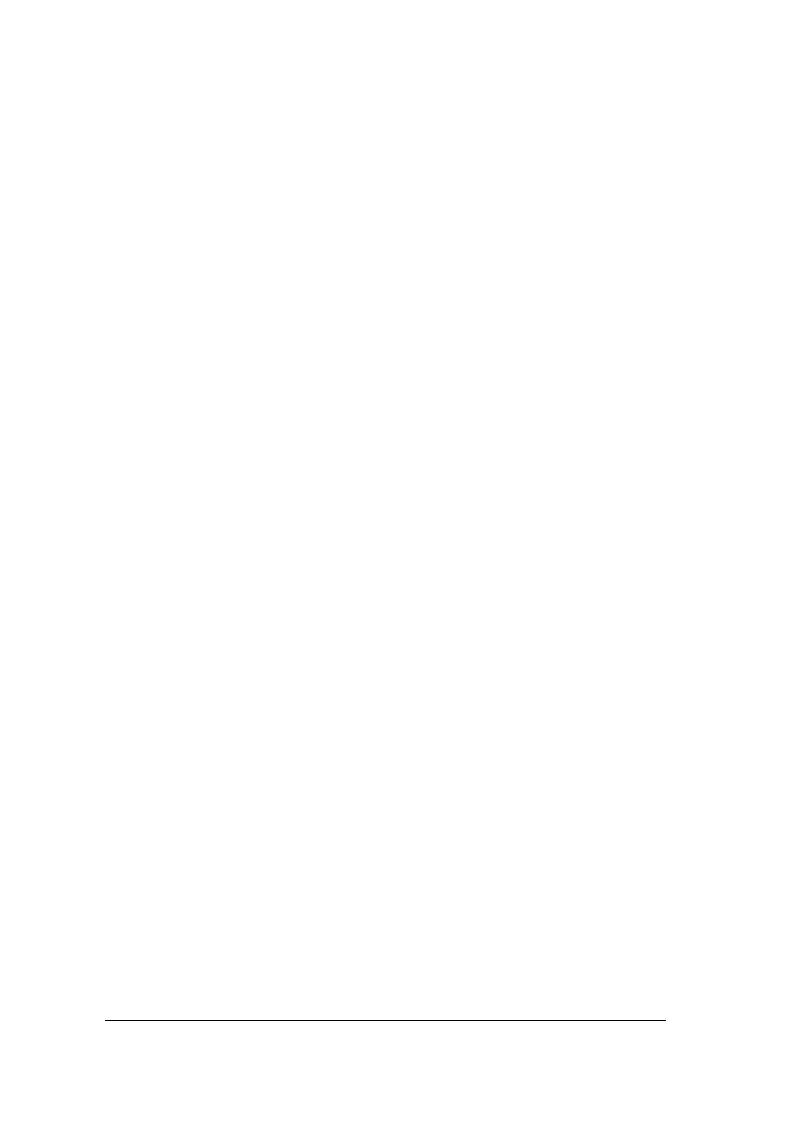
Poderíamos falar ainda da sustentabilidade e da visão de
longo prazo, embora elas pareçam ter a ver mais com a atitude dos
humanos para com o ecossistema. A natureza não tem pressa. Portanto,
não faz muito sentido falar-se em ‘proteção da natureza’, ‘defesa do
ecossistema tal’ etc. Ela segue seu curso conosco ou sem nós. O que
fizermos com ela (ou nela) agora, mesmo que nos pareça anódino,
poderá ter consequências daqui a muitos anos. Por exemplo, ninguém
sabe se haverá uma reação à retirada voraz de óleo (petróleo) das
entranhas da terra. Hoje não percebemos nenhuma consequência disso,
mas, quem pode garantir que não haverá alguma em um século, ou até
em cinquenta anos? Na língua, essas categorias têm a ver que questões
de letramento.
Retornemos à questão da Linguística Ecossistêmica. Não é à
toa que ela tem esse nome. Ela é parte da Macroecologia, portanto,
não é uma linguística que pinça conceitos da Ecologia e os traslada
e os enxerta nos estudos linguísticos. Pelo contrário, ela é uma parte
da própria Ecologia. Quem a pratica está partindo da Ecologia para
estudar esses fenômenos, não o contrário. Tanto que outro nome para
ela é Ecologia Linguística, não Linguística Ecológica, praticada por
muitos ecolinguistas.
3. EcossistEmas linguísticos
Desde Haugen (1972), a Ecolinguística vem sendo definida
como sendo o estudo das interações entre língua e meio ambiente
ou mundo. Infelizmente, porém, o criador da disciplina achava que
o único MA da língua era a sociedade. A Linguística Ecossistêmica
mostrou que, na verdade, a língua está relacionada a um MA natural,
um mental e um social, além do integral, que abrange os três. Como o
MA (habitat) de qualquer espécie é parte integrante do ecossistema,
vamos falar aqui de ecossistemas linguísticos, no interior dos quais os
falantes se relacionam com o respectivo MA verbalmente. Trata-se das
já vistas relações indivíduo-mundo (referência) e indivíduo-indivíduo
(comunicação).
O ecossistema linguístico que mais salta à vista é o ecossistema
natural da língua, constituído por um povo (P) específico, como os
386
Couto, E. K. N. N. do; Couto, L. H. do. ECoLiNguístiCa, LiNguístiCa...

índios kamayurás, convivendo em determinado lugar do Parque
Indígena do Xingu que é seu território (T) e interagindo verbalmente
pelo modo tradicional de interagir, que é sua língua (L), o kamayurá.
Tudo que tem a ver com a língua como fenômeno específico de uma
espécie de ser vivo, ou seja, com suas manifestações naturais. Por isso,
representamo-la por L1, uma vez que ela pode ser vista também como
um fenômeno mental ou social. No interior do ecossistema natural da
língua, temos o meio ambiente natural da língua, constituído por P1 e
T1, como seres concretos, que têm nomes próprios. Resumindo, esse
ecossistema consta de P1T1L1 e, em seu interior, o MA em que se dão as
interações linguísticas é constituído de P T .
11
Quando focamos a atenção na língua em cada indivíduo da
população, notamos que ela foi formada, está armazenada e é processada
no cérebro deles. As inter-relações da língua no interior desses cérebros
(ou mentes) se dão nas conexões entre os neurônios (axônios e
dendritos). Representaremos língua como fenômeno mental por L2, o
conjunto de inter-relações mentais (gramaticais, lexicais, interacionais
etc.). P2 está para a parte do indivíduo da população que interessa, ou
seja, a mente, e T2 representa o cérebro de cada indivíduo da população,
o “território”, ou locus da língua como fenômeno mental. Dentro desse
ecossistema mental da língua, temos o meio ambiente mental da língua,
constituído de P2 mais T2.
Por fim, se encararmos a língua como fenômeno social (aqui
representada por L3), como o próprio Haugen havia feito, notamos que
ela se encontra no seio da população como um conjunto de indivíduos
organizados socialmente (P3), a coletividade, cuja totalidade constitui
a sociedade (T3), que é o locus das interações sociolinguísticas. Nesse
caso, o meio ambiente social da língua é esse conjunto de indivíduos
considerados como seres sociais (P ) juntamente com a totalidade de
3
indivíduos encarada como sociedade (T3).
Como proposto filosoficamente por Leonardo Boff, há um quarto
ecossistema, no nosso caso, o ecossistema integral da língua, no caso
dele a ecologia integral (BOFF, 2012). Ele é assim chamado porque
integra os três outros; é a língua encarada holisticamente. Em seu
interior, temos o meio ambiente integral da língua, formado é P e T,
considerados genericamente, ou seja, P não é um conjunto de indivíduos
Signótica, goiânia, v. 28, n. 2, p. 381-404, jul./dez. 2016
387

concretos e T não é um território concreto. Esse ecossistema equivale
à comunidade, dividida em comunidade de língua e comunidade de
fala. A comunidade de língua é o domínio de determinada língua da
perspectiva do sistema. Assim, a comunidade de língua portuguesa
abrange Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo
Verde, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, independentemente de
se está sendo usado no momento ou não. A comunidade de fala, em
consonância com o ecossistema biológico, é qualquer agrupamento
relativamente estável de pessoas (P), convivendo de modo constante
em determinado lugar ou território (T) e interagindo pelo modo local
de interagir (L). O linguista ecossistêmico pode delimitar o Brasil
inteiro como a comunidade de fala que vai estudar. Mas, pode delimitar
também só Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, Uberaba ou um bairro
de Uberaba. Pode demarcar até domínios menores, como um quarteirão,
em que houvesse uma comunidade de estrangeiros, ciganos ou outro
tipo de pessoas que se distinguissem dos demais do local.
Como se pôde ver, quando falamos em meio ambiente da língua,
estamos nos referindo a pelo menos quatro coisas. Tudo depende da
pergunta que o investigador fizer. Se ele perguntar se ela é uma realidade
genérica, específica do ser humano, seu ecossistema será o integral. Ele
pode ainda querer saber se ela é algo natural, mental ou social. Se indagar
se ela é um fenômeno natural, a resposta será afirmativa, uma vez que
ela tem um aspecto de ondas sonoras, é usada por seres de natureza
física (biológica), para falar de “coisas” do mundo (referência) etc. Se
perguntar se ela é um fenômeno mental, obterá uma resposta também
afirmativa. Por fim, se quiser saber se ela é social, ficará sabendo que ela
o é. Vale dizer, linguístico-ecossistemicamente, a língua é tudo isso ao
mesmo tempo. Ela é um fenômeno biopsicossocial, termo que surgiu
nos estudos de saúde.
Nem todos os ecolinguistas adotam esta postura ecossistêmica.
Entre os que o fazem destacam-se o filósofo da linguagem alemão
Peter Finke, seu discípulo linguista Wilhelm Trampe, além de Hans
Strohner, da Escola de Odense (Jørgen Døør e Jørgen C. Bang, Sune
Steffenson etc.), do catalão Albert Bastardas i Boada, do húngaro-
americano Adam Makkai, de Mark Garner e outros. Strohner (1996) foi
o primeiro a usar a expressão linguística ecossistêmica (ökosystemische
388
Couto, E. K. N. N. do; Couto, L. H. do. ECoLiNguístiCa, LiNguístiCa...

Sprachwissenschaft¸ ökosystemische Linguistik) por escrito. Ele
foi também um dos primeiros a falar em metodologia no seio da
Ecolinguística, embora usando conceitos ecológicos como metáforas,
ou seja, de fora para dentro, não de dentro para fora.
Agora podemos formular a pergunta: O que estudaria a
Linguística Ecossistêmica? Ela é o ramo da Ecolinguística que estuda
na linguagem tudo aquilo que pode ser explicado naturalmente partindo
do conceito de ecossistema e de suas características e/ou propriedades.
Isso tem muitas implicações relevantes para a Ecolinguística. Uma das
mais importantes é a de que a língua é, antes de mais nada, interação
comunicativa por meio de palavras, uma vez que língua equivale às inter-
relações (interações) da Ecologia. Em vez da “metáfora ecológica”, a
Linguística Ecossistêmica parte do ‘ponto de vista ecológico’, como
disse Peter Finke (2001, p. 87), parte não ‘do ponto de vista lógico’, de
Willard Quine. Para Makkai (1993, p. 71),
“a língua não é um
conjunto de ‘objetos’ mas uma rede de inter-relações”, como as da
Ecologia Biológica.
Há duas vantagens na concepção de língua como sendo uma teia
de inter-relações ou interações. A primeira é que, a despeito de partir da
‘interação comunicativa’, ela contém em si o conceito de sistema. Como
diz a teoria da comunicação, para que uma mensagem enviada pelo
falante ao ouvinte seja entendida na íntegra por este, é necessário que ela
tenha sido formulada na linguagem que ele conhece. No caso presente,
essa linguagem (sistema) está subordinada às regras interacionais. A
segunda é que assim concebida, a língua não é reificada, não é encarada
como uma coisa localizada em algum lugar e que é um instrumento
para se fazer isso ou aquilo (comunicar-se, representar o pensamento).
Quando falamos em meio ambiente da língua, estamos nos referindo
ao locus dessas inter-relações, que pode ser natural, mental ou social.
A Linguística Ecossistêmica veio para mostrar que aquilo que já
vinha sendo feito por diversas ciências parcelares pode ser integrado
em um ponto de vista unificado, a visão ecológica de mundo. É bem
verdade que a esmagadora maioria dos estudos ecolinguísticos se dedica
a questões ambientais, à análise do discurso dos poluidores que querem
se passar por amigos do meio ambiente, entre outros. No contexto
da nova visão de mundo, é possível estudar não só a exterioridade
Signótica, goiânia, v. 28, n. 2, p. 381-404, jul./dez. 2016
389

linguística (exoecologia linguística), mas também sua interioridade
(endoecologia linguística). Ela pode valer-se de especialistas da
área que interessa no momento. Os resultados obtidos são avaliados
linguístico-ecossistemicamente, de acordo com a ecometodologia,
brevemente discutida mais abaixo (GARNER, 2005).
4. a Ecologia da intEração comunicativa
A Ecolinguística concorda com a tese de Bakhtin de que o núcleo
da realidade linguística é a interação verbal. A língua nasce, vive e
morre na interação. Sem pessoas tentando se entender, não teria havido
o surgimento de nenhuma das línguas por nós conhecidas. A língua está
viva enquanto é usada em atos de interação comunicativa, se ainda há
pelo menos duas pessoas que interajam por meio dela em situações
normais de vida. A partir do momento em que uma delas morre, a
língua também morreu. A presença de um único indivíduo que tenha
conhecimento do que foi uma língua não é suficiente para considerá-
la viva, pois ele não tem com quem interagir comunicativamente. Por
esses outros motivos o cerne da Linguística Ecossistêmica é a ecologia
da interação comunicativa (EIC).
Num momento inicial, o falante é uma pessoa (p1) da comunidade
de fala e o ouvinte (p2) seu interlocutor. Na situação prototípica, p1
(como falante) faz uma solicitação a p2 (como ouvinte). Em seguida,
p atende-a, nesse momento já como falante de nível 2 (F ), e p como
2
2
1
ouvinte de nível 2 (O2). E assim a interação comunicativa pode se
desenrolar com uma troca cíclica de papéis, ad libitum.
Para a Linguística Ecossistêmica, as regras interacionais são
mais importantes do que as regras sistêmicas (gramática). A seguir,
apresentamos as 15 regras interacionais que já conseguimos detectar,
observando a Análise da Conversação, a Pragmática, a Linguística
Interacional e outras. Como se verá, algumas são de natureza social,
como as de número 7 e 14. As de número 1 e 2 são proxêmicas, ao passo
que as dos números 3, 9 e 10 são cinésicas. As regra 4 e 6 são de cunho
paralinguístico. E assim por diante. Trata-se de uma questão que ainda
aguarda pesquisas mais aprofundadas. A seguir, temos a lista das 15
regras interacionais.
390
Couto, E. K. N. N. do; Couto, L. H. do. ECoLiNguístiCa, LiNguístiCa...

rEgras intEracionais
1) F e O ficam próximos um do outro; a distância varia de uma
cultura para outra ou conforme as circunstâncias.
2) F e O ficam de frente um para o outro.
3) F e O devem olhar para o rosto um do outro, se possível para
os olhos.
4) F deve falar em um tom de voz mediano: alto demais será
agressivo; baixo demais, inaudível.
5) a uma solicitação deve corresponder uma satisfação.
6) tanto solicitação quanto satisfação devem ser formuladas em
um tom cooperativo, harmonioso, solidário, com delicadeza.
7) a solicitação deve ser precedida de algum tipo de pré-
solicitação (por favor, oi etc.).
8) a tomada de turno: enquanto um fala, o outro ouve.
9) se o assunto da interação for sério, F e O devem aparentar um
ar de seriedade, sem ser sisudo, carrancudo; se for leve, um ar
de leveza, com expressão facial de simpatia (leve sorriso, se
possível); a inversão dessas aparências pode parecer irônica,
antipática, não receptiva etc.
10) F e O devem manter-se atentos, “ligados” durante a interação,
sem distrações, olhares para os lados.
11) durante a interação, F e O de vez em quando devem sinalizar
que estão atentos, sobretudo na interação telefônica, que
ainda “estão na linha”.
12) em geral, é quem iniciou a interação que toma a iniciativa de
encerrá-la; o contrário pode ser tido como não cooperativo,
não harmonioso.
13) adaptação mútua: F deve expressar-se como acha que O
entenderá e O interpretará o que F disse como acha que é o
que ele quis dizer.
14) o encerramento da interação comunicativa não deve ser feito
bruscamente, mas com algum tipo de preparação; quem
desejar encerrá-la deve sinalizar essa intenção (tá bom, tá, é
isso etc.).
15) Regras sistêmicas (inclui toda a gramática).
Signótica, goiânia, v. 28, n. 2, p. 381-404, jul./dez. 2016
391

Salta aos olhos que a regra de número 15 na verdade é um
conjunto de regras, a gramática. Aí vem a pergunta: por que elas foram
incluídas como a regra 15? Simplesmente porque a língua é interação
verbal. Tudo nela é de cunho interacional e até inter-relacional. As
chamadas regras da gramática existem para garantir o entendimento.
Se estivermos na África e ouvirmos uma informação fragmentada
como “leão”, “caçador” e “matar”, não sabemos se foi o leão que matou
o caçador ou o caçador que matou o leão. Por isso, os formadores
do português (e de todas as línguas românicas e de muitas outras da
Europa e do mundo) firmaram um consenso ao longo do tempo de
que o que vem antes do verbo é agente da ação indicada por ele e o
que vem depois dele é o paciente, com a ressalva de que, conforme
o contexto, essa regra pode ser infringida. A frase pode ser então
caçador mata leão. Os criadores do português sentiram necessidade
também de explicitar se se trata de leão e caçador conhecidos (dele
e/ou do ouvinte), indicando-o mediante o artigo definido: o caçador
mata o leão. Mas, na nossa cultura, só diríamos o caçador mata o leão
como algo que estivesse acontecendo no momento da interação ou
uma ação que fosse a de se esperar. Se o falante quisesse dizer ao seu
interlocutor que sabe que o caçador matou o leão, o verbo teria que
ir para o passado, pois, em nossa cultura só se narra um fato depois
de ele ter acontecido: o caçador matou o leão. Outras línguas têm
outras estratégias para indicar isso, como o latim que o faz mediante
flexão em casos (nominativo, acusativo etc.) e o japonês, em que essas
funções são indicadas por partículas. Por esse motivo, a ordem das
palavras nessas duas línguas não é tão rígida como no português, em
que uma mudança de ordem muda toda a natureza do evento. Veja-se
a formulação o leão matou o caçador.
Mesmo em línguas de ordem fixa, pode-se alterar a ordem dos
constituintes para determinadas finalidades, conforme o que se queira
considerar tema ou rema. Suponhamos que alguém pergunte? Cadê o
leão? Diante do que já sabemos, o falante pode dizer o leão, o caçador
matou (após leão há uma pequena pausa e uma ligeira elevação da
entoação). Nesse caso, a “estrutura subjacente” continuaria sendo
sujeito-verbo-objeto, pois é ela que serve de parâmetro para se entender
o que o leão, o caçador matou quer dizer. O que essa transposição do
392
Couto, E. K. N. N. do; Couto, L. H. do. ECoLiNguístiCa, LiNguístiCa...

objeto para o início da oração indica é algo como “o leão sobre o qual
você está perguntando [pausa] o caçador matou [-o]”.
Enfim, a gramática existe também, mas não como o núcleo
da linguagem, como quer a Gramática Gerativa. Ela é uma auxiliar
da interação, e não a mais importante. Tanto que há interações que
prescindem dela, como a que se deu entre os membros da esquadra
de Cabral, em Porto Seguro, em 1500 (COUTO, 2003) ou o que se
dá entre pessoas de línguas diferentes, mas que compartilham algum
vocabulário. Na formação dos pidgins e crioulos é isso que ocorre.
5. comunHão
Não há interação eficaz, mais especificamente, não há interação
comunicativa sem algum tipo de comunhão prévia. Imaginemos um
minidiálogo entre um transeunte e um visitante da sua cidade. O visitante
jamais diria, de supetão: onde fica a rua Tiradentes? Normalmente, faz
a pergunta ser precedida de algo como: por favor! Ao dizer isso, faz
com que o transeunte entre em comunhão com ele, momento em que as
chances de ser bem atendido são bem grandes. Obtida a informação, o
solicitante não vira as costas simplesmente e vai embora. Pelo contrário,
ele procura encerrar essa mini-interação com um obrigado!, ao que o
transeunte certamente responde: de nada. O solicitante só partiria de
fato após dizer algo como tchau!, a que o transeunte corresponderia
com a mesma expressão. O termo ‘comunhão’ começou a ser usado
nesse contexto sob o rótulo de comunhão fática, com o antropólogo
(MALINOWSKI, 1972). Jakobson (1969) retomou o assunto sob
a forma de sua função fática, que, segundo ele, visa a abrir o canal
de comunicação, mantê-lo aberto e fechá-lo. É exatamente o que
aconteceu na mini-interação que acabamos de ver. Enfim, comunhão é
um conceito muito importante na Linguística Ecossistêmica.
Como já sugere sua origem religiosa, comunhão é um estado
de espírito que vai no sentido da solidariedade, da benevolência, de
as pessoas de um grupo estarem satisfeitas por simplesmente estarem
juntas. É um compartilhamento, não importa de quê. Todos estão
juntos, não necessariamente trocando palavras, mas compartilhando
um objetivo comum. Pessoas em oração coletiva, melhor, toda ação
Signótica, goiânia, v. 28, n. 2, p. 381-404, jul./dez. 2016
393

coletiva pressupõe um estado de espírito comunial. Um grupo de
indivíduos que se veem em um elevador ficam constrangidos por
estarem espremidamente juntos, mas não compartilharem nada. O mal-
estar se deve a essa ausência de comunhão. Tanto que sempre que chega
o andar de um deles, ele cai fora o mais rápido possível, sentindo um
alívio. Porém, se o elevador parar, eles passam a ter algo em comum,
como a própria sobrevivência, preocupação com a escuridão, com
raridade de oxigênio etc. Com isso, entram em comunhão na marra,
diferente da comunhão que vimos entre os dois transeuntes.
Enfim, a comunhão é um pressuposto para tudo na linguagem,
inclusive a interação comunicativa. Tanto que até mesmo entre os
portugueses e os tupinambás houve atos de comunhão em Porto
Seguro, em 1500. Trata-se de uma interação comunial. Até no nível da
comunidade de língua há comunhão. Por exemplo, todos os indivíduos
que constituem comunidade de língua portuguesa sentem-se membros
dessa comunidade, compartilham o conhecimento e o uso dela. Sabem
que sempre que se dirigirem a qualquer indivíduo da comunidade
deverá agir dessa ou daquela forma, que certamente será atendido
etc. A comunidade de língua existe porque seus membros se sentem
em uma espécie de comunhão sistêmica, por falta de termo melhor.
Enfim, a comunhão é uma interação, porém, quase que só mental,
pois, não precisa ser exteriorizada. Em Couto (2003) há muitas outras
informações sobre esse conceito.
6. algumas árEas dE PEsquisa na Ecolinguística
Tendo tudo isso em mente, e levando em conta o que se vê nas
coletâneas já publicadas, nota-se que a Ecolinguística apresenta pelo
menos as seguintes subáreas e/ou linhas de investigação: Ecolinguística
Crítica, Análise do Discurso Ecocrítica, Linguística Ambiental,
Ecolinguística Dialética, Linguística Ecossistêmica, Análise do
Discurso Ecológica, Ecologia das Línguas, Etnoecologia Linguística,
Ecologia da Evolução Linguística, Ecologia da Aquisição de Língua,
Biodiversidade e Linguodiversidade. Essa lista certamente não está
completa dada a vastidão dos domínios de interesse da Ecolinguística.
Vimos que ela pretende ter uma visão não linear, não fechada, não
394
Couto, E. K. N. N. do; Couto, L. H. do. ECoLiNguístiCa, LiNguístiCa...

parcial dos fenômenos da linguagem, vale dizer, uma visão holística.
Com isso, o cético e o crítico poderiam perguntar se ela pretende ser
uma “teoria de tudo linguístico”, como na Teoria de Tudo (Theory of
Everything) da Física. Na verdade, ela nos fornece um novo ponto
de vista para estudar os fenômenos em questão. A expressão ‘ponto
de vista’ precisa ser sublinhada. Ela indica uma nova maneira de
encarar o mundo. Temos que mudar nossa postura a fim de sermos
verdadeiros ecolinguistas. Praticar ciência da perspectiva cartesiano-
newtoniana (Sociolinguística, Psicolinguística, Funcionalismo,
Gramática Gerativa etc.), de filiação aristotélica, seria agir como
alguém que encara o mundo a partir de uma janela. Ele consegue ver
poucas coisas, mas em detalhe, tem uma visão microscópica delas.
Praticar ciência assumindo a postura ecológica é colocar-se no topo
do telhado da casa, de onde tem uma visão englobante, holística do
campo; pode ver mais coisas, mesmo não podendo ver detalhes de
cada uma. É estar em sintonia com a nova visão de mundo introduzida
já na segunda década de século XX, com a Teoria da Relatividade
e a Mecânica Quântica. É estar em sintonia com perspectivas mais
modernas como a Teoria dos Sistemas, a Teoria do Caos a visão
oferecida pela matemática dos fractais etc. Como disse Michael Löwy
(1978), infelizmente enviesado pela ideologia marxista, há pontos de
vistas privilegiados, como o do topo da casa. Portanto, quem aí se põe
tem uma visão de conjunto de seu objeto de estudo. Se precisar estudar
microscopicamente um deles em especial, faz um zoom mediante o uso
de uma das diversas subáreas da Ecolinguística recém-mencionadas,
e até de outras ciências se necessário, com o que conseguirá estudar
detalhes finos desse objeto. Terminado isso, ele volta ao topo da casa,
à visão ecológica no nosso caso, e avalia os resultados obtidos no
contexto dessa visão holística. Enfim, como se costuma dizer, ele
pode até estudar uma árvore (e até partes dela), mas sem se esquecer
de que ela faz parte de uma floresta (GARNER, 2005).
Esse procedimento tem implicações metodológicas sérias.
Alguém perguntou a Hildo Couto em um encontro ecolinguístico qual
era a metodologia da Ecolinguística. Sem pensar muito, respondeu que a
metodologia era dada pelo objeto sob investigação. Logo a seguir, ficou
temeroso de ter dito algo despropositado. Posteriormente, refletindo
Signótica, goiânia, v. 28, n. 2, p. 381-404, jul./dez. 2016
395

melhor sobre o assunto constatou que não há outra saída. Se nossa
disciplina busca o auxílio técnico de diversas outras, ela é mais que
trans- e interdisciplinar, é multidisciplinar. Vale dizer, a metodologia
que ela usa empiricamente é a da disciplina de que estiver se servindo
no momento para uma análise microscópica. Quando o ecolinguista
retorna ao ponto de vista holístico assume a ecometodologia. É como o
engenheiro que planeja o carro. O especialista em disciplinas parcelares
é como o mecânico. Há momentos em que o engenheiro precisa do
mecânico. No entanto, assim que este repara o defeito do automóvel, o
engenheiro precisa reassumir sua postura abrangente e se conscientizar
do funcionamento total do veículo.
7. linguística Ecossistêmica crítica ou análisE do discurso
Ecológica (adE)
A primeira vez que a expressão análise do discurso ecológica
apareceu em um texto publicado foi em Alexander e Stibbe (2014),
embora Couto (2013) já a tivesse proposto na internet. No ano seguinte,
apareceu Couto (2014), bem mais elaborado. Trata-se de uma extensão
da Linguística Ecossistêmica para se estudarem questões de textos e
discursos, motivo pelo qual o nome inicial que recebeu foi Linguística
Ecossistêmica Crítica, por sugestão da Análise do Discurso Crítica e da
Ecolinguística Crítica. Mas, o nome mais usado atualmente é Análise do
Discurso Ecológica (ADE). Aqui vamos dar apenas um breve apanhado
geral desse ramo da Linguística Ecossistêmica.
A esmagadora maioria dos trabalhos em Análise do Discurso,
de todos os matizes, parte consciente e explicitamente de uma postura
ideológica. As relações postas em relevo no objeto de análise são,
portanto, as relações de poder dela decorrentes. O grande problema com
essas análises é que a ideologia em geral é consciente e explicitamente
marxista. Pois bem, apesar de defender várias ideias aceitas pela
visão ecológica de mundo, o marxismo apresenta pelo menos umas
três características que ela não aceita. A primeira delas é a ênfase no
conflito, sendo que ecologicamente se valoriza a harmonia, o somar, não
o dividir. A segunda é o antropocentrismo, mesmo que sob o rótulo de
“humanismo”. Com isso, os humanos seriam os reis da criação, estando
396
Couto, E. K. N. N. do; Couto, L. H. do. ECoLiNguístiCa, LiNguístiCa...

os demais seres aí apenas para servi-los, portanto, podem usar e abusar
deles, inclusive matá-los por prazer, como na caça e na pesca lúdica. A
terceira é a ditadura do proletariado. Ora, ditadura é mal-vinda, venha
de onde vier, venha em que nome vier. Uma quarta característica é a
ênfase no econômico, sendo que a visão ecológica de mundo subordina
o econômico ao ecológico.
Um exemplo de análise a que se tem dado muita atenção nos
escritos sobre ADE é a situação da mulher que apanha do marido que
chega bêbado em casa todos os dias, chegando em alguns casos a matá-
la. A AD tradicional encara o fato ideologicamente, inserindo-o no
contexto de uma herança do patriarcalismo, em que o homem detém
todo o poder sobre a mulher, podendo perpetrar barbaridades como
essas. Muito bem, tudo isso é verdade. A grande questão é que atacando
o problema por esse lado, estamos opondo a mulher ao homem,
estamos implicitamente enfatizando o conflito. A ADE também defende
a mulher, mas não por ser mulher, oposta ao homem, mas por ser um ser
vivo que sofre. Defende-a partindo de uma causa muito maior do que
a justa luta das feministas. Com isso, consideramos a mulher igual ao
homem, ou vice-versa. O homem não é um antagonista dela. Os dois
estão no mesmo barco da luta pela vida.
Um dos pontos de honra, nucleares da ADE é a defesa
intransigente da vida, sob todas as suas formas. Correlatamente, vem
uma luta constante e incansável contra tudo que possa trazer sofrimento.
As questões ideológicas e de poder estão subordinadas a esses dois
princípios. Aliás, se quisermos falar em ideologia nesse contexto,
poderíamos dizer que se trata de uma ideologia da vida, ideologia
ecológica ou ecoideologia, embora esses rótulos sejam de somenos
importância.
8. Ecolinguística como nova manEira dE sE fazEr linguística
Já dissemos acima que cada uma das ciências parcelares
disponíveis mostra o que é possível ver a partir de uma janela. Elas
fazem um recorte no complexo que é o fenômeno da linguagem e
investigam questões às vezes até mesmo microscópicas. Tudo isso é
muito bem-vindo e muito importante. No entanto, fica no nível que
Signótica, goiânia, v. 28, n. 2, p. 381-404, jul./dez. 2016
397

a ciência atingiu com a filosofia cartesiana e a mecânica newtoniana.
É muito preciso, mas muito limitado. Não consegue ver o fenômeno
em sua integralidade. A Ecolinguística, sobretudo a Linguística
Ecossistêmica, nos oferece o panorama que se mostra a partir da
cumeeira da casa, ou até mesmo do alto da montanha. Hoje poderíamos
dizer até mesmo a partir de um satélite. Como já foi também salientado,
essa visão holística não dá conta das especificidades da linguagem,
entre elas algumas bastante finas, como as da estrutura fonológica, da
morfológica e da sintática. Mas, quem tem essa visão pede o auxílio
de um especialista nessas áreas. A seguir, ele avalia os resultados por
obtidos partindo da visão ecológica de mundo. Alguns ecolinguistas
são, eles próprios, especialistas em uma área específica, em tal caso eles
podem efetuar a análise microscópica específica e voltar à cumeeira a
fim de analisar os dados obtidos.
O mais importante em tudo isso é que a visão ecológica de
mundo perfilhada pela ADE pressupõe uma mudança de postura. É
preciso mudar nosso modo de ver o mundo, mudar o foco. Diz-se que
Einstein teria afirmado que é mais fácil cindir o átomo do que mudar a
opinião de alguém. De qualquer modo, para se praticar Ecolinguística
e qualquer uma de suas ramificações, é necessário mudar. Do contrário,
seríamos pseudoecolinguistas. Para ser um bom ecolinguista, ninguém
precisa deixar o que fazia antes. Se era um fonólogo, pode continuar a
fazer fonologia, além da Ecolinguística, mesmo usando metodologias
cartesiano-newtonianas, embora hoje em dia haja modelos fonológicos
com muitas afinidades com a visão ecológica de mundo, como se pode
ver em Lima Jr. (2012). O mesmo vale para as demais especialidades
linguísticas. Para mais discussão sobre a visão ecológica de mundo,
pode-se consultar as obras de Fritjof Capra.
9. obsErvaçõEs finais
A Ecolinguística e, com mais razão, a Linguística Ecossistêmica,
juntamente com a Análise do Discurso Ecológica, já foi chamada de
mais um modelo linguístico no mercado. Na seção imediatamente
anterior, vimos que não é bem assim, que se trata de uma nova maneira
de se fazer ciência, em consonância com a visão de mundo trazida pela
398
Couto, E. K. N. N. do; Couto, L. H. do. ECoLiNguístiCa, LiNguístiCa...

Teoria da Relatividade, pela Mecânica Quântica, pela Ecologia, pelos
sistemas complexos etc. A despeito disso, a Ecolinguística em geral
não se adjudica o título de panaceia para os problemas linguísticos.
Ela simplesmente procura encará-los a partir da nova visão de mundo
instaurada pela ciência moderna.
Nós estamos firmemente convictos que a Ecolinguística
representa uma ótima chance para os jovens pesquisadores fazerem
algo de diferente e que não fique no nível da Mecânica Clássica.
Vimos que até mesmo na análise de discursos, ele pode avaliar textos
de uma perspectiva até aqui relegada segundo plano. Por exemplo,
recentemente foi defendida uma tese comentando notícias sobre a Usina
Belo Monte. O autor comentou e criticou minuciosamente os prejuízos
materiais, os interesses econômicos e políticos envolvidos, a ideologia
subjacente a tudo isso. Só não deu relevo, e às vezes até ignorou, ao
fato de que a criação da usina provocou a morte de centenas de espécies
vegetais e animais que viviam nas áreas que foram alagadas, inclusive
microorganismos. Ignorou que o alagamento trouxe sofrimento para
os ameríndios que habitavam a região, pois era do rio que tiravam o
sustento, motivo pelo qual o consideravam sagrado. Ignorou que a
barragem impede a piracema, que garante a reprodução das diversas
espécies de peixe ao longo de todo o rio e assim por diante. Um
especialista em ADE inverteria toda a direção da análise, enfatizando
justamente a defesa da vida e lutando contra um monstrengo que traz
sofrimento para tantas espécies, inclusive para ribeirinhos não índios.
As questões ideológicas, políticas e econômicas são as últimas a serem
consideradas, não as primeiras.
Como alguém já disse, contrariamente ao que acontece em
ciências como a Física e a Química e, sobretudo, a Farmacologia, não
se descobrem fatos novos em ciências sociais, uma vez que eles são
criados pelos membros da comunidade e por eles conhecidos. O que
se pode fazer é dar uma interpretação melhor a fatos já conhecidos.
Nós acreditamos que há novidade na interpretação ecolinguística,
mesmo que os fatos já tenham sido analisados por algumas ciências
parcelares.
Signótica, goiânia, v. 28, n. 2, p. 381-404, jul./dez. 2016
399
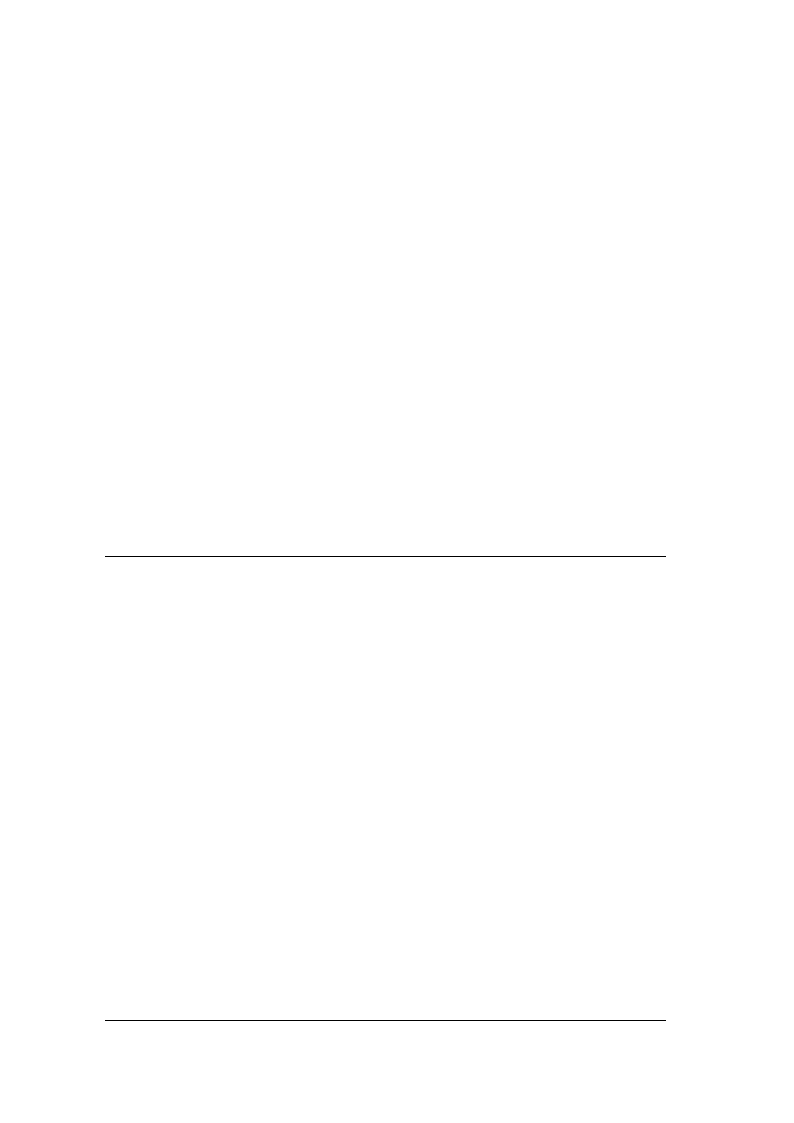
Ecolinguistics, EcosystEmic linguistics, and Ecological discoursE
analysis
abstract
The ecological paradigm has been followed by representatives of practically
all social sciences. Because of this, the main objective of this essay is to show
how it has been applied to the study of language phenomena as well, under
the name of Ecolinguistics. We begin by giving an overview of what has been
done up to now. We also present the version of this young discipline called
Ecosystemic Linguistics, whose name is due to the fact that it departs from
the ecological view of the world, seen not only in Biological Ecology but
also in Social and Philosophical Ecology, as is the case with Deep Ecology.
Then, the text presents the still younger Ecological Discourse Analysis (EDA).
Differently from traditional discourse analysis, EDA follows ecoideology,
not traditional political ideologies, nor the power relations they imply. It does
not ignore them. On the contrary, it includes them in the wider framework of
ecoideology, which defends the life of all living beings and struggles against
everything that may cause suffering to them. By doing this, EDA emphasizes
harmony, not conflict as it is traditionally done.
KEywords: Ecolinguistics, Ecosystemic Linguistics, EDA, Harmony.
Ecolingüística, lingüística Ecosistémica y análisis dEl discurso
Ecológico (adE)
rEsumEn
el paradigma ecológico ya ha sido seguido por representantes de prácticamente
todas las ciencias sociales. Por eso, el propósito de este ensayo es mostrar
cómo se ha aplicado en el estudio de los fenómenos lingüísticos, bajo el
nombre de Ecolingüística. Comenzamos presentando una visión general de las
iniciativas en ese sentido. A continuación, presentamos en relativo detalle la
versión de la joven asignatura llamada Lingüística Ecosistémica, cuyo nombre
se debe al hecho de que parte de la visión ecológica del mundo, especificada
no sólo en la Ecología Biológica, sino también en la Ecología Social y en la
Ecología Filosófica, como la Ecología Profunda. El texto se completa con una
exposición de la, aún más joven, Análisis del Discurso Ecológica (ADE) que,
a diferencia del análisis del discurso tradicional, enfatiza la vida (de todo tipo)
y la lucha contra todo lo que pueda traer sufrimiento a los seres vivos. Si las
400
Couto, E. K. N. N. do; Couto, L. H. do. ECoLiNguístiCa, LiNguístiCa...

ideologías son inevitables, la ADE apoya la ecoideologia, no las ideologías
políticas con sus relaciones de poder. Ella no ignora esas ideologías, pero no
las toma como el aspecto más importante. En lugar del conflicto implícito en
ellas, la ADE enfatiza la armonía.
Palabras-clavE: Ecolingüística, Lingüística Ecossistémica, ADE, Armonía.
10. rEfErências
ALEXANDER, Richard; STIBBE, Arran. From the analysis of ecological
discourse to the ecological analysis of discourse. Language sciences 41, p.
104-110, 2014.
BANG, Jørgen Christian; DØØR, Jørgen. Language, ecology and society.
Londres: Continuum, 2007.
BASTARDAS-BOADA, Albert. Ecologia de les llengües. Barcelona: Proa,
2000.
BOFF, Leonardo. As quatro ecologias: ambiental, política e social, mental e
integral. Rio de Janeiro: Editora Mar de Ideias, 2012.
COSERIU, Eugenio. Sincronia, diacronia e história. Rio de Janeiro: Presença/
EDUSP, 1979.
COUTO, Hildo Honório do. Portugueses e tupinambás em Porto Seguro,
1500: interação, comunhão e comunicação. In: RONCARATI, Cláudia;
ABRASSADO, Jussara (Org.). Português brasileiro - contato linguístico,
heterogeneidade e história. Rio de Janeiro: 7 Letras, p. 253-271, 2003.
_______. Ecolinguística: estudo das relações entre língua e meio ambiente
. Brasília: Thesaurus, 2007.
_______. Ecologia, linguística e ecolinguística. São Paulo: Contexto, 2009.
_______. Análise do discurso ecológica (ADE). 2013. Disponível em: <
http://meioambienteelinguagem.blogspot.com.br/2013/04/analise-do-
discurso-ecologica.html>.Acesso em: 23 dez. 2013.
_______. Linguística ecossistêmica crítica ou análise do discurso ecológica.
In: COUTO, Elza N. N. do, DUNCK-CINTRA, Ema M.; BORGES, Lorena
A. O. (Org.). Antropologia do imaginário, ecolinguística e metáfora. Brasília:
Thesaurus, p. 27-41, 2014.
Signótica, goiânia, v. 28, n. 2, p. 381-404, jul./dez. 2016
401

DORING, Martin; PENZ, Hermine; TRAMPE, Wilhelm (Org.). Language,
signs and nature: Ecolinguistic dimendions of environmental discourse.
Tübingen: Stauffenburg, 2008.
FILL, Alwin. Sprachökologie und Ökolinguistik. Tübingen: Stauffenburg
Verlag, 1996.
______; Mühlhäusler, Peter (Org.). The ecolinguistics reader. Londres:
Continuum, 2001.
FILL, Alwin; PENZ, Hermine; TRAMPE, Wilhelm. Colourful green ideas.
Berna: Peter Lang, 2002.
FINKE, Peter. Sprache als missing link zwischen natürlichen und kulturellen
Ökosystemen. Überlegungen zur Weiterentwicklung der Sprachökologie. In:
FILL, Alwin. (org.) Sprachökologie und Ökolinguistik. Tübingen: Stauffenburg
Verlag, 1996. p. 27-48.
______. Identity and manifoldness: New perspectives in science, language and
politics. In: Fill, Alwin; Mühlhäusler, Peter (Org.). The Ecolinguistics reader,
language, ecology and environment. Londres: Continuum, 2001. p. 84-90.
GARNER, Mark. 2004. Language: An ecological view. Oxford: Peter Lang.
MALINOWSKI, Bronislaw. O problema do significado em linguagens
primitivas. In: OGDEN, C. K.; RICHARDS, I. A. O significado de significado.
Rio de Janeiro: Zahar Editores, p. 295-330, 1972.
HAUGEN, Einar. The ecology of language. Stanford: Stanford University
Press, 1972. p. 325-339.
JAKOBSON, Roman (1960). Linguística e poética. Lingüística e comunicação.
São Paulo: Cultrix, 1969.
LIMA JR., Ronaldo Mangueira. A influência da idade na aquisição da
fonologia do inglês como língua estrangeira por brasileiros. Tese (Doutorado
em Linguística) – Instituto de Letras, Universidade de Brasília, Brasília, 2012.
LÖWY, Michael. Método dialético e teoria política. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 2. ed., 1978.
MAFFI, Luisa (Org.). On biocultural diversity: linking language, knowledge
and the environment. Washington: Smithsonian Institution Press, 2001.
MAKKAI, Adam. Ecolinguistics: ¿Toward a new **paradigm** for the
science of language? Londres: Pinter Publishers, 1993.
MUFWENE, Salikoko. The ecology of language evolution. Cambridge:
Cambridge University Press, 2001.
402
Couto, E. K. N. N. do; Couto, L. H. do. ECoLiNguístiCa, LiNguístiCa...
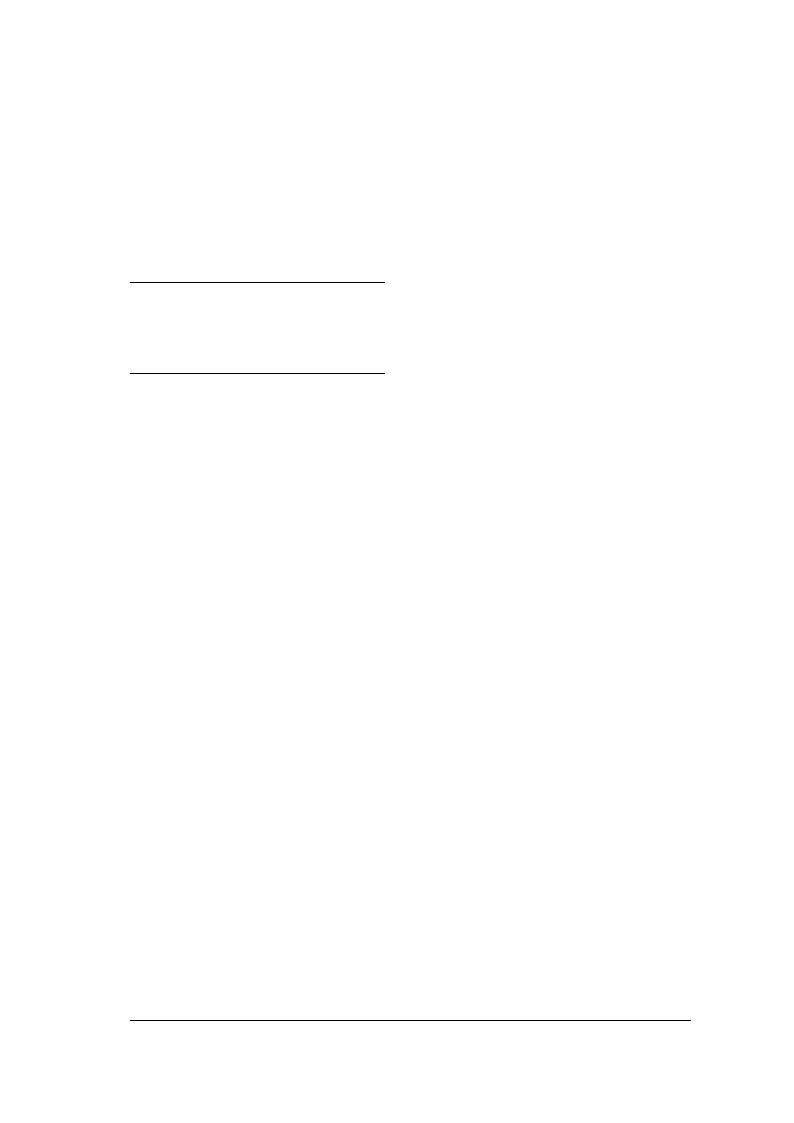
ODUM, Eugene P. Fundamentals of ecology. 3. ed. Philadelphia: W. B.
Saunders Company, 1971.
SAPIR, Edward. Língua e ambiente. Linguística como ciência. Rio de Janeiro:
Livraria Acadêmica, 1969. p. 43-62.
TRAMPE, Wilhelm. Ökolinguische Linguistik. Opladen: Westdeutscher
Verlag, 1990.
Submetido em 12 de maio de 2015.
Aceito em 08 de setembro de 2015.
Publicado em 23 de novembro de 2016.
Signótica, goiânia, v. 28, n. 2, p. 381-404, jul./dez. 2016
403

404
Couto, E. K. N. N. do; Couto, L. H. do. ECoLiNguístiCa, LiNguístiCa...
