
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE LETRAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA
LORENA ARAÚJO DE OLIVEIRA BORGES
A CONSTITUIÇÃO DE UMA ESCOLA ECOSSISTÊMICA:
NOVAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS SOB A PERSPECTIVA
DA ECOLINGUÍSTICA E DO IMAGINÁRIO
Goiânia
2015
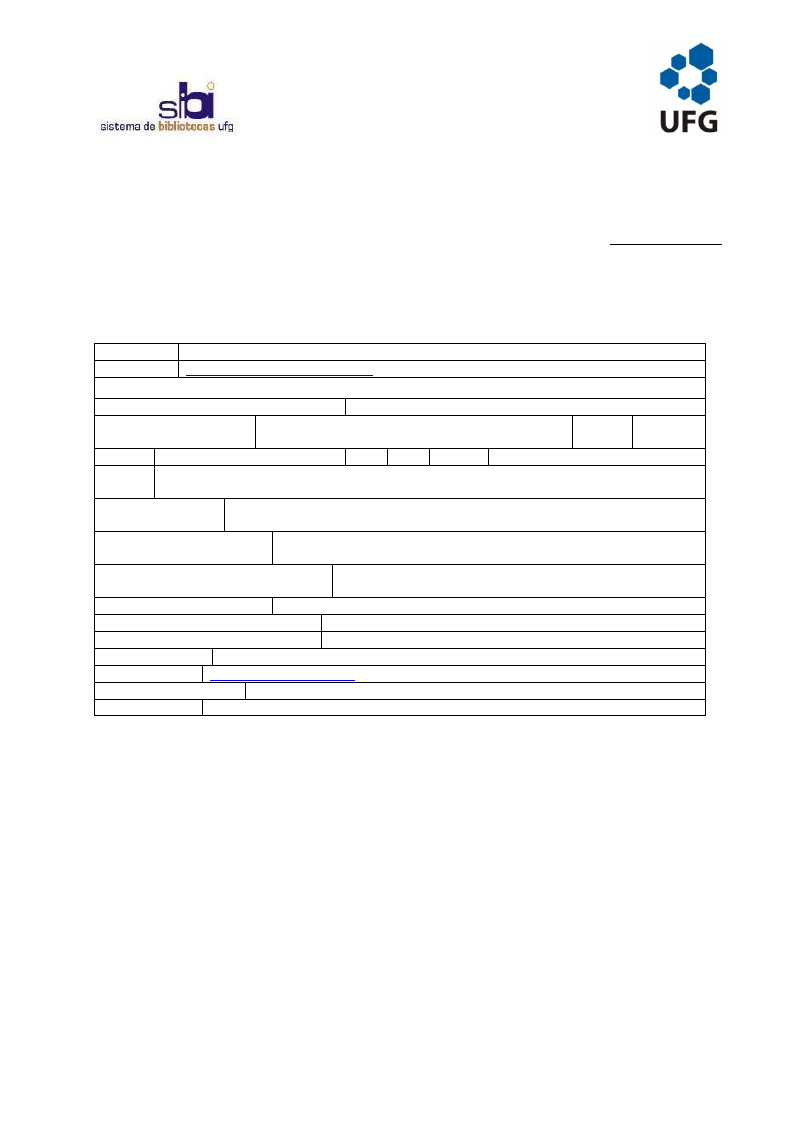
TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E
DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG
Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás
(UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
(BDTD/UFG), sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o
documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou
download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.
1. Identificação do material bibliográfico:
[X] Dissertação
[ ] Tese
2. Identificação da Tese ou Dissertação
Autor (a): Lorena Araujo de Oliveira Borges
E-mail:
lorena.aoborges@gmai.com
Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?
[ ]Sim
[X] Não
Vínculo empregatício do autor
Agência de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Sigla: CAPES
de Nível Superior
País: Brasil
UF: GO CNPJ:
Título: A constituição de uma escola ecossistêmica: novas práticas educacionais sob a
perspectiva da ecolinguística e do imaginário
Palavras-chave: Antropologia do Imaginário; Ecolinguística; Novas práticas
pedagógicas.
Título em outra língua: The constitution of an ecosystem school: new educational
practices from the perspective of ecolinguistic and imaginary
Palavras-chave em outra língua: Imaginary Anthropology; Ecolinguistic; New
pedagogical practices
Área de concentração: Estudos Linguísticos
Data defesa: (dd/mm/aaaa)
13/02/2015
Programa de Pós-Graduação: Letras e Linguística
Orientador (a): Profa. Dra. Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto
E-mail:
kiokoelza@gmail.com
Co-orientador (a):*
E-mail:
*Necessita do CPF quando não constar no SisPG
3. Informações de acesso ao documento:
Concorda com a liberação total do documento [ X ] SIM
[ ] NÃO
Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o
envio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF ou DOC da tese ou dissertação.
O sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que os
arquivos contendo eletronicamente as teses e ou dissertações, antes de sua disponibilização,
receberão procedimentos de segurança, criptografia (para não permitir cópia e extração de
conteúdo, permitindo apenas impressão fraca) usando o padrão do Acrobat.
________________________________________
Assinatura do (a) autor (a)
Data: ____ / ____ / _____

LORENA ARAÚJO DE OLIVEIRA BORGES
A CONSTITUIÇÃO DE UMA ESCOLA ECOSSISTÊMICA:
NOVAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS SOB A PERSPECTIVA
DA ECOLINGUÍSTICA E DO IMAGINÁRIO
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Letras e Linguística da
Universidade Federal de Goiás, como requisito
para obtenção do título de Mestre em Letras e
Linguística.
Área de concentração: Estudos Linguísticos
Orientadora: Profª Drª Elza Kioko Nakayama
Nenoki do Couto
Goiânia
2015
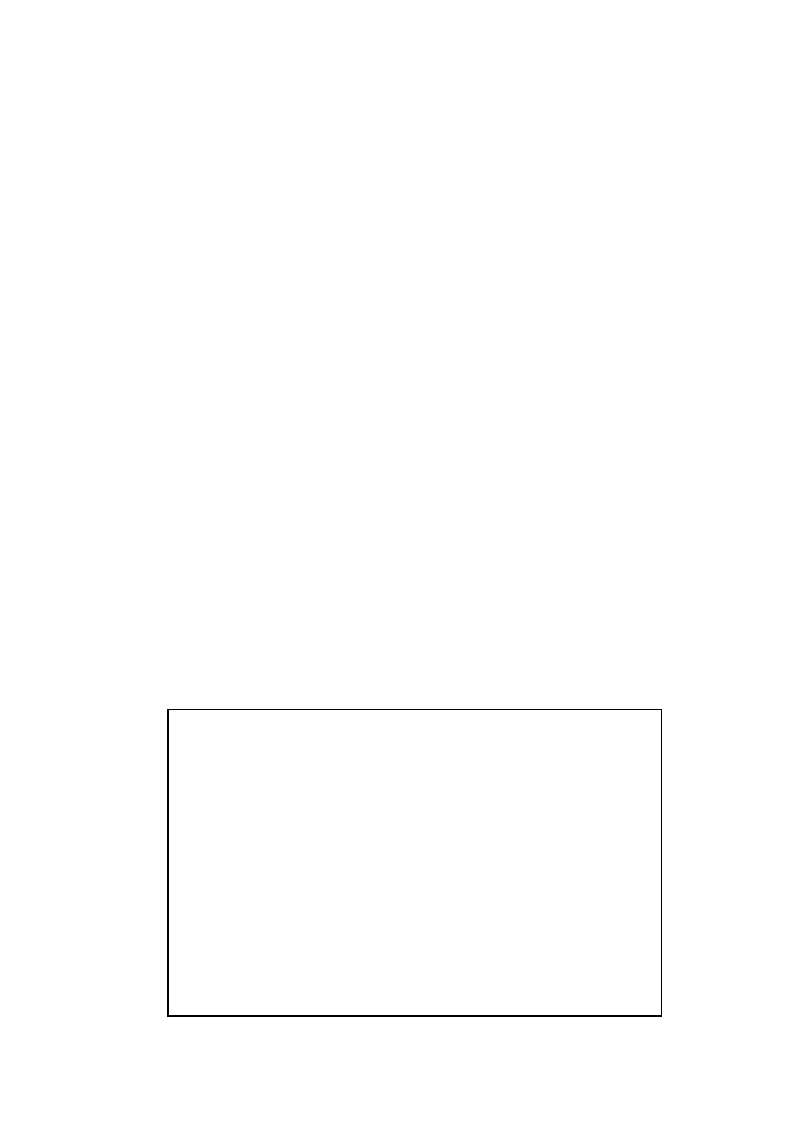
Ficha catalográfica elaborada automaticamente
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob orientação do Sibi/UFG.
Borges, Lorena Araújo de Oliveira
A constituição de uma escola ecossistêmica [manuscrito] : novas
práticas educacionais sob a perspectiva da ecolinguística e do
imaginário / Lorena Araújo de Oliveira Borges. - 2015.
XCIX, 99 f.
Orientador: Profa. Dra. Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto.
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Faculdade
de Letras (FL) , Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística,
Goiânia, 2015.
Bibliografia. Anexos. Apêndice.
1. Antropologia do Imaginário. 2. Ecolinguística. 3. Novas práticas
pedagógicas. I. Nakayama Nenoki do Couto, Elza Kioko, orient. II. Título.

2
LORENA ARAÚJO DE OLIVEIRA BORGES
A CONSTITUIÇÃO DE UMA ESCOLA ECOSSISTÊMICA:
NOVAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS SOB A PERSPECTIVA DA
ECOLINGUÍSTICA E DO IMAGINÁRIO
Dissertação defendida no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade
de Letras da Universidade Federal de Goiás para a obtenção do grau de Mestre, aprovada em
13 de fevereiro de 2015, pela Banca Examinadora constituída pelas seguintes professoras:
Professora Dra. Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto (Presidente/ Faculdade de Letras –
UFG); Professora Dra. Kênia Mara de Freitas Siqueira (Membro externo/ Mestrado
Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias – UEG); Professora Dra. Eliane
Marquez da Fonseca Fernandes (Membro interno/ Faculdade de Letras – UFG).

3
A todos aqueles que acreditam e lutam
por uma educação melhor, em especial àqueles
que me inspiraram: Alexander Neill, José
Pacheco e Ana Elisa Siqueira.

4
AGRADECIMENTOS
Antes de qualquer um, agradeço à minha orientadora e mãe acadêmica, Profa. Dra.
Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto, por segurar em minha mão e acreditar que eu era
capaz, mesmo nos momentos de insegurança e de tormenta. Ela me disse vai e eu fui – antes e
durante todo esse percurso. E, desde então, minha vida tem sido uma grande aventura. Que
essa parceria se estenda por muito tempo!
Às professoras Dra. Eliane Marquez da Fonseca Fernandes e Dra. Kênia Mara de
Freitas Siqueira, pelo grande auxílio ao longo desse processo. Percorrer as tramas do discurso
e do imaginário não é uma tarefa fácil, mas pode se transformar em algo mais suave com os
conselhos adequados.
À equipe da Escola Municipal Desembargador Amorim Lima, de São Paulo, que me
recebeu de braços abertos e me permitiu percorrer o fantástico labirinto que constitui essa
instituição, em especial à diretora da instituição, pela garra, coragem e determinação.
Aos meus irmãos de Nelim, sempre presentes, fazendo apontamentos, comentários e
brincadeiras. Foi em meio a essa irmandade que eu consegui alcançar todo o meu potencial.
A todos os professores que acompanharam essa jornada, por todas as conversas,
carinho e atenção para com uma aluna que queria (e quer) abraçar o mundo. Agradeço
especialmente a Vânia Cristina Casseb Galvão, Tânia Ferreira Rezende Santos, Sinval
Martins de Sousa Filho e Wilton Divino da Silva Júnior.
À equipe da coordenação de pós-graduação, por todo carinho despendido. Se cheguei
aqui, também foi graças ao apoio e cortesia de vocês.
À Capes, pela bolsa que possibilitou o desenvolvimento dessa pesquisa.
À minha mãe, Rosilda Araújo de Oliveira Azevedo, e ao meu paidastro, Neucírio
Ricardo de Azevedo, que nem sempre entendem minhas escolhas, mas estão lá, me apoiando,
e ao meu irmão, Daniel Araújo Azevedo, por simplesmente existir. Você é o símbolo da
minha (i)mortalidade, com quem conheci o verdadeiro sentido do amor fraterno.
Aos meus sogros, Sofia de Melo Paula e Tadeu Ramos de Paula, que me receberam no
seio da família. Vocês me permitiram ser a companheira de seu filho e eu serei eternamente
grata por esse presente.
Aos meus amigos do peito, aqueles que me acompanharam ao longo desse caminho,
estendendo a mão, cuidando e auxiliando nas horas de necessidade. Grandes irmãos, grandes
companheiros. Amo todos, do fundo do meu coração.

5
Por último, eu agradeço à pessoa mais importante da minha vida. Aquele que segurou
minha mão na perdição e me ensinou a combater o medo e percorrer o breu, meu amado
Marcos Paulo de Melo Ramos. Esse trabalho é tão seu quanto meu. Obrigada por issso!

6
“From a very earlier age, I’ve had to interrupt
my education to go to school”
George Bernard Shaw

7
RESUMO
BORGES, L. A. O. A constituição de uma escola ecossistêmica: novas práticas
educacionais sob a perspectiva da ecolinguística e do imaginário. 2015. 99f. Dissertação
(Mestrado) – Faculdade de Letras, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.
O presente trabalho percorre diferentes campos epistemológicos para observar e analisar a
constituição de uma instituição de ensino ecossistêmica a partir do estudo de caso da Escola
Municipal Desembargador Amorim Lima (EMDAL), de São Paulo. Como fundamentação
teórica e metodológica são mobilizados os conceitos da Ecolinguística, com enfoque sobre a
vertente ecossistêmica desenvolvida no eixo Brasília-Goiânia, e da Antropologia do
Imaginário, de Gilbert Durand. Tais referências possibilitam a compreensão de como a escola
em questão, a partir de mudanças estabelecidas nas práticas cotidianas, constitui-se como uma
instituição pautada nos princípios da Ecologia Profunda, com enfoque nos princípios da
interação e da comunhão, buscando promover relações mais harmoniosas dos indivíduos entre
si e com o meio ambiente físico. Foi possível observar, a partir da análise do corpus, que tanto
o discurso colocado em circulação pelo Projeto Político Pedagógico quanto os elementos
simbólicos – dentre eles o mito – dessa instituição se mobilizam para permitir que ela se
diferencie das escolas tradicionais, estabelecendo-se como uma escola ecossistêmica.
Palavras-chave: Antropologia do Imaginário; Ecolinguística; Novas práticas pedagógicas.

8
ABSTRACT
BORGES, L. A. O. The constitution of an ecosystem school: new educational practices
from the perspective of ecolinguistic and imaginary. 2015. 99p. Master Thesis – Faculty of
Arts. Federal University of Goiás, Goiânia, 2015.
This paper covers different epistemological fields to observe and analyze the creation of an
ecosystem education institution from the case study of the Escola Municipal Desembargador
Amorim Lima (EMDAL). As theoretical and methodological foundation are mobilized the
concepts of Ecolinguistic, focusing on the ecosystem framework developed in Brasilia-
Goiania axis, and Imaginary Anthropology, of Gilbert Durand. Such references enable us to
understand how the school in question, from changes brought in daily practices, was
established as an institution based on the principles of Deep Ecology, focusing on the
principles of interaction and fellowship, seeking to promote more harmonious relations of
individuals with each other and with the physical environment. It was observed, from the
corpus analysis, that the speech put into circulation by the Pedagogical Political Project and
the symbolic elements – among them the myth – of this institution allows it to be different of
the traditional schools, establishing itself as an ecosystem school.
Keywords: Imaginary Anthropology; Ecolinguistic; New pedagogical practices.

9
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Escola de Yasnaia Poliana ...................................................................................... 24
Figura 2 – A. S. Neill, fundador de Summerhill, em frente à escola........................................ 25
Figura 3 – Ambiente de estudo na Escola da Ponte ................................................................. 28
Figura 4 – Nota da EMDAL na Prova Brasil entre 2005 e 2011.............................................. 30
Figura 5 – Amorim Lima vista da rua ...................................................................................... 31
Figura 6 – Jardim no pátio de entrada da Amorim Lima.......................................................... 31
Figura 7 – Painel de azulejos na entrada da Amorim Lima...................................................... 32
Figura 8 – Valores do Programa de Transferência de Recursos Financeiros (PRTF)..............33
Figura 9 – Paradigma científico da simplificação .................................................................... 36
Figura 10 – Mudança do paradigma científico da simplificação para o da complexidade ...... 37
Figura 11 – Paradigma da complexidade ................................................................................. 39
Figura 12 – Ecossistema natural da língua ............................................................................... 45
Figura 13 – Ecossistema social da língua ................................................................................. 46
Figura 14 – Ecossistema mental da língua ............................................................................... 47
Figura 15 – Ecossistema fundamental da língua ...................................................................... 48
Figura 16 – Regimes do Imaginário ......................................................................................... 52
Figura 17 – Tópica diagramático do social .............................................................................. 55
Figura 18 – Trajeto antropológico do imaginário.....................................................................57
Figura 19 – Trabalho em grupo ................................................................................................ 66
Figura 20 – Trabalho em grupo ................................................................................................ 66
Figura 21 – Roda de conversa realizada na EMDAL ............................................................... 68
Figura 22 – Roda de pais e professores da EMDAL ................................................................ 68
Figura 23 – Fotonovela para explicar as epopeias....................................................................71
Figura 24 – Trabalhos de Hércules em menu de game................................................................71
Figura 25 – Mito de Procusto e os fantasmas ........................................................................... 72
Figura 26 – Estampas feitas pelos alunos ................................................................................. 72

10
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 – Princípios da Ecologia Profunda ........................................................................... 60

11
LISTA DE SIGLAS
ADE
APM
EFL
EMDAL
MEC
PPP
SME/SP
USP
Análise do Discurso Ecológica
Associação de Pais e Mestres
Ecossistema Fundamental da Língua
Escola Municipal Desembargador Amorim Lima
Ministério da Educação
Projeto Político Pedagógico
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
Universidade de São Paulo

12
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO – REPENSAR A EDUCAÇÃO.................................................................14
CAPÍTULO 1 – AS ESCOLAS PIONEIRAS ...................................................................... 21
1.1 POR QUE PIONEIRAS?............................................................................................ 22
1.2 YASNAIA POLIANA E SUMMERHILL......................................................................24
1.3 ESCOLA DA PONTE: A INSPIRAÇÃO PORTUGUESA ................................................. 27
1.4 DESEMBARGADOR AMORIM LIMA: O PIONEIRISMO BRASILEIRO .......................... 29
1.5 SOBRE ESCOLAS PIONEIRAS E TRADICIONAIS........................................................34
CAPÍTULO 2 – O QUE É A COMPLEXIDADE ECOLÓGICA? ................................... 35
2.1 A ECOLINGUÍSTICA .............................................................................................. 40
2.1.1 Conceitos centrais ........................................................................................ 41
2.1.2 Língua é interação........................................................................................43
2.1.3 O ecossistema linguístico ............................................................................ 43
2.1.3.1 O ecossistema natural da língua ........................................................... 44
2.1.3.2 O ecossistema social da língua ............................................................. 46
2.1.3.3 O ecossistema mental da língua............................................................47
2.1.3.4 O Ecossistema Fundamental da Língua (EFL) ..................................... 48
2.1.4 Análise do Discurso Ecológica (ADE) ........................................................ 49
2.2 ANTROPOLOGIA DO IMAGINÁRIO ......................................................................... 50
2.2.1 Regimes do imaginário ................................................................................ 51
2.2.2 Schèmes, arquétipos, símbolos e mitos........................................................53
2.2.3 Tópica sociocultural durandiana .................................................................. 54
2.2.4 Mitodologia durandiana ............................................................................... 56
2.3 ECOLINGUÍSTICA E IMAGINÁRIO: RELAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS .......................... 57
CAPÍTULO 3 – A CONSTITUIÇÃO DE UMA ESCOLA ECOSSISTÊMICA .............. 59
3.1 PRINCÍPIOS DE UMA ESCOLA ECOSSISTÊMICA ....................................................... 60
3.1.1 Escola de área aberta ................................................................................... 61
3.1.2 Trabalho com roteiros .................................................................................. 63
3.1.3 Estudo em grupo .......................................................................................... 65
3.1.4 Rodas de conversa ....................................................................................... 67

13
3.1.5 Participação dos pais....................................................................................69
3.1.6 Realização social do trabalho ...................................................................... 71
3.2 ASPECTOS ECOSSISTÊMICOS NO DISCURSO E NO IMAGINÁRIO............................... 73
CONSIDERAÇÕES FINAIS – O FLUXO ETERNO DAS MUDANÇAS ....................... 82
REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 85
APÊNDICES ........................................................................................................................... 89
APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO ............................................................... 89
ANEXOS ................................................................................................................................. 90
ANEXO 1 - PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO EMEF AMORIM LIMA............................ 90
ANEXO 2 – ROTEIROS DE PESQUISA DA EMDAL ......................................................... 98

14
INTRODUÇÃO
REPENSAR A EDUCAÇÃO
“Temos o direito a sermos iguais quando a diferença nos inferioriza.
Temos o direito a sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza”
Boaventura de Sousa Santos
Imagine. Apenas feche os olhos e faça um esforço para idealizar uma escola em que o
sinal não toca a cada cinquenta minutos (não toca nunca, para falar a verdade); uma escola em
que as carteiras não ficam todas enfileiradas, umas atrás das outras; uma escola em que os
alunos não precisam andar uniformizados; uma escola em que a criança pode se movimentar
pelos espaços sem se preocupar em ser repreendida; uma escola em que o estudante se
levanta, voluntariamente, e vai ao quadro negro ensinar um conteúdo ao colega; uma escola
em que latim e grego fazem parte do conteúdo curricular; uma escola onde as próprias
crianças são responsáveis por organizar a utilização das quadras; uma escola que realiza,
todos os dias, rodas de conversa, para que os professores possam ouvir o que os educandos
têm a dizer sobre a instituição e o processo educativo. Apenas imagine!
Como as pessoas se sentiriam ao saber que essa escola realmente existe? Mas não só
isso: como elas se sentiriam se essa escola existisse no Brasil e fosse pública? Pois aquilo que
é considerado utópico por muitos pais e educadores, ocorre de fato na periferia de São Paulo,
no Distrito de Butantã, região oeste da capital. Desde 1996, a Escola Municipal
Desembargador Amorim Lima, doravante EMDAL, vem buscando alternativas para
estabelecer um outro savoir-faire educacional; questionar o espaço e o tempo que
tradicionalmente regem o espaço educacional tem sido uma das principais metas. Funciona?
Para pais, professores e grande parte dos educandos, essa escola é uma experiência que tem
trazido bons resultados. Entretanto, ainda é possível encontrar vozes dissonantes, que
conclamam que não há nada de mais nessa instituição, apenas nomes diferentes para maquiar
a realidade (considerada por muitos) degradante de uma educação pública que não consegue
mais se reinventar. Mas, todos os anos, aqueles que veem essa experiência como um o sopro
de inovação e ousadia lotam a escola com o objetivo de descobrir como ela consegue se
estabelecer em meio a tantos problemas socioeducacionais, como evasão escolar,
agressividade, violência, etc.

15
Se há algo que você aprende ao visitar a EMDAL é que muito ainda está por ser
construído. Como lidar com as drogas entre os muros da escola? O que fazer com os alunos
agressivos? Como se comportar diante do namoro entre alunos? E como combater a evasão
escolar? O conteudismo? A EMDAL não traz respostas prontas para essas perguntas.
Simplesmente propõe novos questionamentos acerca do fazer educativo. Talvez seja por isso
que ela conseguiu se estabelecer ao longo desses quase vinte anos. Nesse período, ela tem se
esforçado para lidar com gerações e gerações de jovens que não querem mais se sentar
enfileirados e ter os conteúdos ministrados de cima para baixo; jovens que são facilmente
levados pelos aparatos tecnológicos que prendem a atenção com mais eficiência que o quadro
negro; jovens que não sabem que rumo seguir diante de um sistema político e econômico que
impõe, descaracteriza, desumaniza e corrompe. É para esse espaço que essa pesquisa se
propõe a olhar com o objetivo de analisar de que forma essa instituição, a partir de suas
práticas diferenciadas, consegue se constituir como uma escola ecossistêmica.
Antes de qualquer coisa, precisamos nos questionar qual é, de fato, o papel que a
educação desempenha na sociedade atual. Moldar jovens para inseri-los na sociedade?
Transmitir todo o conteúdo desenvolvido pela humanidade ao longo de nossa história? Ser um
grande percurso iniciático que contribui para que a criança entenda seu papel diante do mundo
e assuma uma posição social que é sua por direito? E, diante desse(s) papel(éis), que rumos a
instituição de ensino está tomando?
A escola moderna, laica, surge com a Revolução Francesa e chega às classes populares
durante a Segunda Revolução Industrial, no final do século XIX. Nesse período, as máquinas
fabris se tornaram mais complexas e passaram a demandar que o proletariado fosse capaz de
fazer equações básicas e ler. Exatamente por esse motivo, a noção de ensino universal se
popularizou na Europa e nos Estados Unidos. Assim, o capitalismo e a escola pública e
universal contemporânea se desenvolveram concomitantemente, permitindo que esta última se
transformasse na maior e mais longa linha de montagem da humanidade, responsável por
capacitar a mão-de-obra necessária para fazer a engrenagem econômica funcionar.
Conforme aponta Foucault (2004), a escola se constitui como uma instituição
disciplinar, de sequestro, responsável por capturar nossos corpos por um tempo variável e
submetê-los às tecnologias do poder; instrumentos de dominação e escravização da mente dos
indivíduos, que contribuem para a formação de um objeto dócil-e-útil, capaz de se submeter a
determinações políticas e econômicas. A partir dessa perspectiva, as escolas, atualmente,

16
impõem às crianças um ensino desinteressante, baseado em regras e determinações, que
desconsidera a opinião e os interesses dos alunos (PARO, 2010).
Não é de hoje que se sabe que a escola pública tradicional enfrenta inúmeros
problemas, como o baixo rendimento dos estudantes, isolamento dos professores, exclusão
escolar, indisciplina generalizada, com o crescimento dos casos de agressão entre alunos e
professores. É verdade que essa realidade não se aplica a todas as instituições de ensino
públicas, mas, ainda assim, ela faz parte do imaginário social da população brasileira.
Em meio a esse quadro é possível mapear instituições públicas que fogem a essa
perspectiva, entendendo tanto a educação, quanto a criança e o espaço de formas
diferenciadas, partindo de uma concepção que aborda o mundo como um todo integrado e não
como um acúmulo de partes dissociadas (MORIN, 2007). Essas novas possibilidades
pedagógicas emergem nos pontos cegos das políticas públicas educacionais, geralmente em
áreas de periferia – caso da escola objeto dessa pesquisa –, cultivando um ímpeto para
vivenciar uma educação integral, capaz de contribuir para a constituição de indivíduos críticos
e responsivos. Essas instituições são entendidas por essa pesquisa como escolas pioneiras e
ecossistêmicas, conceitos que serão desenvolvidos ao longo deste trabalho.
O destaque que essa pesquisa dá à EMDAL se justifica por alguns motivos que devem
ser elucidados. Primeiro, trata-se de uma escola pública, instalada numa região considerada da
periferia de São Paulo – ainda que uma periferia privilegiada, uma vez que está próxima à
Universidade de São Paulo (USP), onde é possível encontrar muitos estudantes e professores
da instituição –, que implementou a perspectiva de mudança sem apoio de qualquer projeto
público ou privado. Por conta própria, a direção da escola, com a ajuda de pais, estudantes e
professores, deu o pontapé inicial para a construção de uma nova realidade educacional.
Segundo, porque a transformação vem ocorrendo ao longo de 20 anos, o que garante mais
renome a essa iniciativa, permitindo que ela rompa as amarras da invisibilidade com mais
facilidade e se transforme em um modelo almejado por outras instituições de ensino, públicas
e privadas, espalhadas pelo país.
Nesse sentido, essa pesquisa tem como objeto de estudo os discursos e o imaginário
que constroem/constituem a EMDAL como uma instituição de ensino ecossistêmica, na
medida em que se pauta num modelo organizacional diferenciado. Ainda que seja apontada a
importância do modelo organizacional implementado na instituição em questão, durante o
levantamento do estado da arte foi possível constatar que ela não é foco de muitos estudos
acadêmicos. Foram encontradas apenas três pesquisas – Campolina (2012), Oliveira (2012) e

17
Sabba (2009) – que se aprofundam nas práticas educacionais desenvolvidas nessa instituição,
sem focar no fato de que estas possibilitaram a constituição de uma nova práxis.
Assim, essa dissertação possui uma relevância na medida em que se propõe a partir
das práticas para estudar as interações estabelecidas nesse meio, com o intuito de
compreender de que forma a apropriação do espaço e as inter-relações desenvolvidas entre os
indivíduos permite o desenvolvimento de um savoir faire educacional ecossistêmico, voltado
para a autorrealização do educando/educador. Outros objetivos, estes específicos, nos ajudam
a alcançar o objetivo geral, a saber: analisar como os as práticas e os discursos colocados em
circulação na EMDAL contribuem para a constituição de uma instituição ecossistêmica;
verificar se os símbolos que emergem dessa escola apontam para a mesma perspectiva;
analisar, tendo como suporte a mitodologia durandiana, qual é o mito que rege essa escola, e
de que forma ele coaduna com uma educação ecossistêmica.
Parte-se da hipótese de que o modo de interação desenvolvido dentro da EMDAL
estabelece uma mudança essencial no discurso e no imaginário que rege essa instituição,
produzindo resultados iguais ou melhores do que a interação que se dá nas escolas
tradicionais e permitindo que essa instituição escolar alcance o patamar de percurso iniciático
a ser percorrido pelo jovem.
Para tanto, buscou-se por teorias que se constituíssem através de uma abertura
epistemológica, pela compreensão do homem não apenas pelo seu aspecto antropológico ou
social, mas também pelo seu aspecto físico e natural. Ou seja, teorias que integrassem o
homem Homo sapiens sapiens ao sujeito contemporâneo, que compreendessem a interferência
do espaço físico e do biológico na constituição do mesmo, que estabelecessem um
pensamento ecológico complexo por excelência, compreendendo o indivíduo como um todo
constituído por inúmeras partes, sem reduzi-lo nem ao todo e nem às suas partes.
Nesse sentido, buscou-se como aparato teórico a Ecolinguística e a Antropologia do
Imaginário. Ambas entendem o indivíduo como um ser biopsicossocial e, a partir dessa
perspectiva, abrem-se para ver o homem além de sua própria humanidade, atravessando de
um paradigma da simplicidade para um paradigma ecológico da complexidade (PENA-
VEGA, 2005). É desse ponto que partiremos para compreender o indivíduo e suas interações,
não apenas por recortes, mas por multidimensionalidades que deem conta da amplitude e
magnitude que é o ser humano.
A Ecolinguística é importante na medida em que se propõe a abarcar as manifestações
linguísticas como um todo, levando em consideração os meios ambientes que a constituem, a
saber, o social, o mental e o natural. Ao contrário do que poderia parecer à primeira vista, a

18
Ecolinguística não se apropria dos conceitos ecológicos metaforicamente. Antes, ela percebe
que as interações linguísticas funcionam de acordo com os mesmos princípios e se propõe a
elucidar de que forma isso acontece. Para tanto, utilizamos, como categorias de análise, os
aspectos considerados fundamentais para a constituição do ecossistema: diversidade, inter-
relação, holismo, evolução, adaptação, etc., buscando compreender em que medida os
discursos e as práticas colocados em circulação nessa instituição conclamam/ressaltam essas
características.
Por fim, recorremos à análise do imaginário durandiana para compreendermos como
essa mudança se dá simbolicamente ou no que poderíamos chamar de meio ambiente mental.
Para tanto, focamos nos símbolos que mais se destacam na instituição e no mito que rege essa
escola.
Uma vez que o principal intuito dessa pesquisa é compreender o modo como um
determinado fenômeno acontece, trabalharemos no âmbito da pesquisa qualitativa. Esta
atividade sistemática possui um caráter interpretativo, construtivista e naturalista, e está
“orientada à compreensão em profundidade de fenômenos educativos e sociais, à
transformação de práticas e cenários socioeducativos, à tomada de decisões e também ao
descobrimento e desenvolvimento de um corpo organizado de conhecimentos” (SANDIN
ESTEBAN, 2010, p. 127).
A pesquisa qualitativa pode ser entendida tanto como um conjunto de procedimentos
metodológicos quanto um conjunto de práticas e procedimentos, de fundamentos teórico-
epistemológicos, que orientam e sustentam o fazer científico. Levando-se em consideração o
segundo aspecto, é possível apontar algumas características essenciais dessa epistemologia
que serão relevantes para o desenvolvimento dessa pesquisa:
Atenção ao contexto. O enfoque desse estudo está no acontecimento, na eventicidade,
e este não pode, de forma alguma, ser separado do contexto no qual ocorre. Assim, é
preciso ter em mente que o contexto interfere diretamente na orientação dos
acontecimentos e, portanto, não pode ser relegado a segundo plano na análise;
Abordagem global ou holística. Nenhuma experiência se constitui como um conjunto
separado de variáveis. Ainda que seja possível mapear as unidades que a constitui, a
união dessas nunca será capaz de alcançar o todo do evento em questão. Nesse
sentido, as experiências devem ser consideradas tanto em sua totalidade quanto em sua
singularidade e o pesquisador deve ter sensibilidade para reconhecer tal aspecto;

19
Relevância do pesquisador. Este assume o papel de instrumento principal da pesquisa,
uma vez que é ele quem interage com a realidade, coleta dados e realiza a
interpretação destes;
Caráter interpretativo. É esse aspecto que permite, ao pesquisador, tanto justificar,
elaborar ou integrar os dados levantados, de acordo com determinado marco teórico,
quanto dar voz aos participantes do estudo.
Nesse sentido, enquadramos essa pesquisa em um paradigma de investigação
interpretativista (SERRANO, 1998), de caráter não-experimental, que pretende compreender,
explicar e interpretar uma realidade que é constituída “no solo por hechos observables y
externos, sino también por significados, símbolos e interpretaciones elaboradas por el próprio
sujeto a través de uma interacción com los demás” (SERRANO, 1998, p. 27). Ou seja, trata-se
de um paradigma que engloba perfeitamente os estudos da Ecolinguística e da Antropologia
do Imaginário durandiana, arcabouço teórico dessa pesquisa.
No âmbito da finalidade prática, identificamos esse estudo como básico ou puro, na
medida em que não tem o intuito, propriamente, de resolver um problema. Antes disso, seu
principal objetivo é revelar o conhecimento que está sendo colocado em circulação para
permitir a reformulação das práticas educacionais da instituição em questão. Ao levarmos em
consideração o objetivo a ser alcançado, realizou-se uma pesquisa de viés explicativo, que
“tem como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para
a ocorrência dos fenômenos” em questão (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 70).
A partir dessa perspectiva paradigmática, quanto à natureza das perguntas que
estimulam esse estudo, nos apoiaremos na pesquisa documental, “uma técnica valiosa de
abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras
técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986,
p. 38). O principal intuito é analisar os discursos e o imaginário que rege esses documentos.
Segundo Bell (2008), o estudo de documentos pode ser orientado tanto para a fonte – quando
o estudo é orientado pela própria fonte – quanto para o problema – quando o pesquisador
estabelece o foco do estudo.
O corpus dessa pesquisa foi constituído a partir da pesquisa do Projeto Político
Pedagógico da instituição, do diário de campo da pesquisadora e de imagens da escola.
Acredita-se que, a partir dos elementos levantados será possível mapear os aspectos
discursivos e simbólicos que permitem que essa instituição seja considerada ecossistêmica.

20
Os capítulos dessa dissertação foram organizados de forma a permitir que o leitor
compreenda como a mudança se estabelece na EMDAL, tanto no âmbito do discurso quanto
do imaginário. No primeiro capítulo, fazemos algumas considerações acerca do que poderia
ser entendido como uma escola pioneira, bem como apresentamos o objeto de estudo
analisado nessa pesquisa. Para tanto, recorremos a autores como Neill (1969; 1980), Paro
(2010), Pacheco (2011) e Alves (2001).
No capítulo 2, apresentamos o arcabouço teórico que nos permitiu realizar o pleno
estudo das interações comunicativas e do imaginário que regem essa instituição, a saber, os
estudos da Complexidade, a Ecolinguística e o Imaginário. Norteamos nosso percurso em
autores como Couto (2007; 2012; 2013 e 2014), Couto (2012), Capra (1996), Morin (2007;
2000), Durand (1983; 1996; 1997; 1998), Strôngoli (1997; 2000), entre outros.
No capítulo 3 são realizadas as análises dos dados. A análise das práticas e dos
discursos foi realizada a partir da Ecolinguística, buscando-se compreender de que forma eles
contribuem para a constituição de uma escola ecossistêmica, baseada nos princípios
ecológicos. A análise do imaginário da instituição se preocupou em mostrar como os símbolos
que mais se destacam nessa instituição apontam para perspectivas ecológicas, bem como o
mito diretor da mesma.
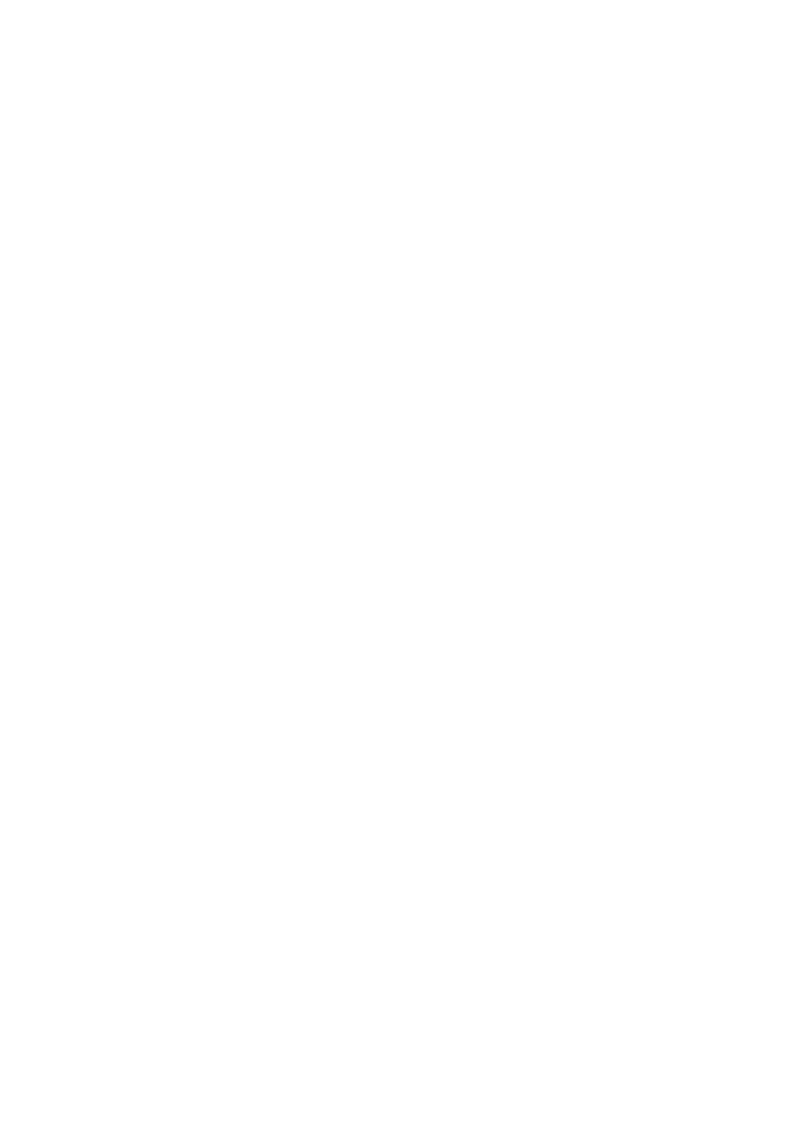
21
CAPÍTULO 1
AS ESCOLAS PIONEIRAS
Quando cheguei aqui
o que havia estava no fim
e o que estava por vir
andava disperso pelo sonho de alguns.
Mas a maioria
vivia
o seu dia a dia
e todos contentes
por serem todos assim.
Eles não davam pelo fim
quanto mais pelo que já assomava mais além
– isto que já começava nos sonhos de alguém.
Almada Negreiros
Não é de hoje que o sistema educacional tradicional tem suas práticas questionadas.
Desde o século XIX, diferentes possibilidades pedagógicas emergem ao redor do mundo,
propondo novas práticas e formas de lidar com o ensino-aprendizagem dos indivíduos. Afinal,
como bem apontou Foucault (1995), não existe exercício de poder sem que, em contrapartida,
uma forma de resistência se constitua. Nesse sentido, a EMDAL é apenas uma das instituições
que se contrapõem ao modelo educacional tradicional, podendo ser classificada como
pioneira.
Ao longo desse capítulo, apresentaremos os motivos que justificam essa
classificação, negando-se termos já estabelecidos para se tratar de práticas pedagógicas
diferenciadas, como escolas democráticas, libertárias, anárquicas, etc. Também faremos uma
breve apresentação das principais instituições pioneiras que não foram apagadas pelos
entremeios da história ou submetidas a uma pressão invisibilizante que prima pela
manutenção de um determinado status quo e estabelece que o diferente deve, em suma, ser
silenciado.
Passaremos rapidamente pelas experiências de Tolstói, com a Escola Yasnaia
Poliana, e Neill, com Summerhill, para desembocarmos nos modelos organizacionais
desenvolvidos pela Escola da Ponte e pela EMDAL. A primeira delas serviu e serve de
inspiração para várias instituições ao redor do mundo que buscam uma alternativa para lidar
com um sistema educacional imerso em diversos problemas derivados da modernidade. A

22
segunda é um exemplo de como essas novas possibilidades podem ser aplicadas no ensino
público brasileiro.
1.1 POR QUE PIONEIRAS?
Antes de mergulharmos nas tramas da complexidade, faz-se necessário compreender
o porquê esse estudo entende a instituição analisada como pioneira. Geralmente, as escolas
que fogem ao modelo estabelecido pelo ensino tradicional são adjetivadas como
democráticas, libertárias e, até mesmo, anárquicas. Entretanto, ao longo dos anos, esses
termos foram apropriados pelas mais diversas instituições, transformando-se numa
maquiagem que esconde o fato de que muitas delas continuam funcionando a partir de um
paradigma tradicional, que divide os conteúdos e impõe modelos espaciais e temporais que
primam pela homogeneização dos indivíduos.
O termo pioneira é apenas uma alternativa encontrada para abordarmos um modelo
organizacional que foge à regra estabelecida pelas instituições de ensino tradicionais. As
escolas pioneiras são aquelas que conclamam uma nova forma de pensar e estruturar o tempo
e o espaço escolar, promovendo uma transformação profunda de vários aspectos que
constituem o cotidiano de uma escola. De acordo com Alves (2001), as escolas se organizam
segundo coordenadas espaciais e temporais. Nas instituições tradicionais, as espaciais são as
salas de aula. As temporais podem ser apreendidas a partir de um aspecto macro e um micro.
No primeiro caso, temos as séries ou anos; no segundo, os horários das aulas.
Nas escolas pioneiras, por outro lado, as salas de aula separadas por grupos etários
desaparecem, bem como o uso obrigatório do quadro negro e a imposição de uma lógica
conteudista. A escola inteira, bem como o bairro, se transforma numa grande sala de aula,
onde os alunos constroem o conhecimento. Os horários das aulas são reinterpretados, sendo
encarados a partir de uma perspectiva cíclica. Se antes o tempo era cumulativo e linear,
fomentando apenas o acúmulo de conhecimento, agora ele permite que o aluno seja
eternamente conclamado à aventura de aprender. O aluno, que na educação tradicional é
encarado como aquele que não sabe e precisa aprender algo, transforma-se em
aprendensinante (FERNANDEZ, 2001), assumindo o papel de protagonista do processo
educacional, buscando, por conta própria, os conteúdos que julga necessários para o seu
conhecimento.

23
O termo pioneiras foi utilizado por Neill (1969), criador e diretor de Summerhill,
instituição britânica que tinha uma particularidade essencial em relação às outras escolas
britânicas: prezava pela autonomia e individualidade de seus alunos. Nessa escola, as crianças
e os jovens tinham o direito de escolher o que queriam estudar e, até mesmo, se queriam ou
não estudar. Ao ser questionado sobre que tipo de escola era Summerhill, Neill apontou que a
melhor forma de qualificá-la seria como “pioneira”, uma vez que esse termo encerra a força
de caminhos abertos pela coragem, teimosia e fé nos objetivos. “Prefiro a palavra pioneira,
com sua evocação de sujeitos ambiciosos, abrindo caminho na selva com seus machados, para
que mais tarde as carretas possam rolar por ali com seus aproveitadores e exploradores”
(NEILL, 1969: 196).
A passagem é clarificadora e estarrecedora ao mesmo tempo. Ela deixa claro que
qualquer tentativa de mudança que funcionar poderá ser apropriada por aqueles que ainda
querem aplicar um modelo pronto e acabado com a garantia de bons resultados. “[…] o que
for que a gente faça, alguém nos deve seguir e transformar a região inculta que trabalhamos
em uma cidade com anúncios luminosos e salão de bar” (NEILL, 1969, p. 196). Isso é tudo o
que uma escola pioneira não busca e, portanto, sustenta-se como um termo que dificilmente
poderá ser utilizado por instituições que não estejam, de fato, focadas na constituição de um
projeto educacional voltado para a sua realidade imediata.
As escolas pioneiras podem ser compreendidas como instituições que agem de
acordo com as situações particulares que vivenciam, fugindo à utilização de modelos
globalizantes, portando-se como instituições que promovem o processo de tradução. Para
Santos, a tradução é “o procedimento que permite criar inteligibilidade recíproca entre as
experiências do mundo, tanto as disponíveis como as possíveis” (SANTOS, 2004, p. 802),
isto é, parte do princípio de que nenhuma experiência deve ser alçada ao estatuto de aquilatar
a totalidade ou capaz de atingir uma homogeneidade exclusiva. “As experiências são vistas
em momentos diferentes do trabalho de tradução como totalidades ou parte e como realidades
que não se esgotam nessas totalidades ou partes” (SANTOS, 2004, p. 802). Nesse sentido, ao
aplicar um modelo pedagógico que emerge das particularidades e peculiaridades da realidade
vivenciada pela sua comunidade educacional, essas escolas estariam se comportando como
pioneiras, cercadas por incertezas, mas nunca impedidas de continuar. Ao contrário, cada
incerteza é a garantia de novas possibilidades.
Como as instituições de ensino pioneiras fogem ao modelo pedagógico predominante,
elas são constantemente invisibilizadas. Ou ainda, são encaradas como instituições de um futuro
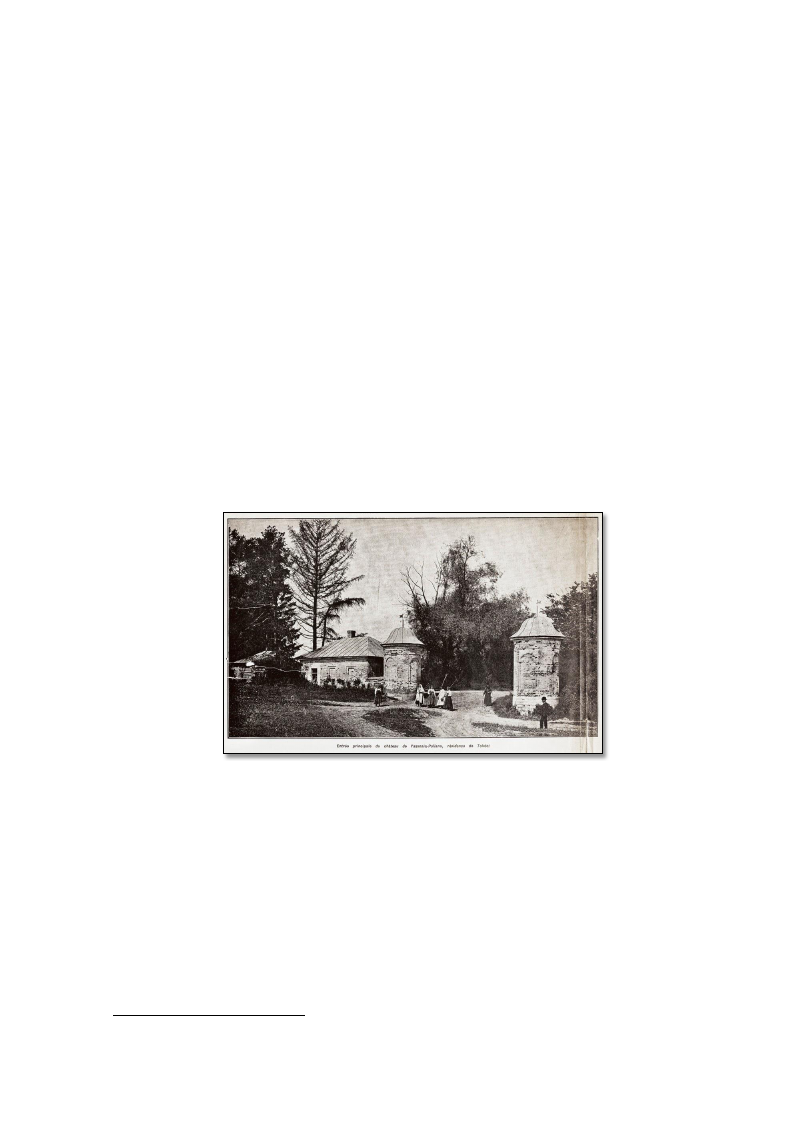
24
que está sempre por vir ou negadas como métodos anarquistas que não podem ser tomados
como referência. Abordaremos, a seguir, algumas dessas instituições.
1.2 YASNAIA POLIANA E SUMMERHILL
Yasnaia Poliana foi fundada em 1861, pelo escritor Léon Tolstoi. Ele tinha o objetivo
de proporcionar educação para os filhos dos camponeses da região de Yasnaia Poliana, onde
ele tinha nascido (Figura 1). Baseando-se no lema Educar para libertar, ele propunha uma
escola em que o professor não era encarado como uma figura autoritária aos olhos dos
pupilos, as lições de casa eram deixadas de lado e não havia chamada ou lista de presença ou
provas. Estudar deveria ser compreendida como uma atividade lúdica e prazerosa, trazendo
diversão para crianças e adultos.
Figura 1 – Escola de Yasnaia Poliana
Fonte: Site Les Amis de Leon Toltoi1
Trata-se de um ensino baseado na liberdade do aluno, dando a este o direito de
escolher o que e como aprender, empoderando-o, tornando-o senhor de seu próprio processo
de aprendizagem. O professor torna-se apenas um facilitador, auxiliando e aprendendo
juntamente com o aluno, reconhecendo suas próprias limitações em relação a todo o
conhecimento que foi/é produzido ao redor do mundo.
Além de não trazerem nada nas mãos, também não precisam de trazer nada
na cabeça. Não é obrigado a lembrar-se do que fez ontem na aula. Não é
martirizado pela idéia de aula que vai ter. Leva para a escola apenas a sua
1 Disponível em: < http://amisleontolstoi.com/images/>. Último acesso: 20 dez. 2014.
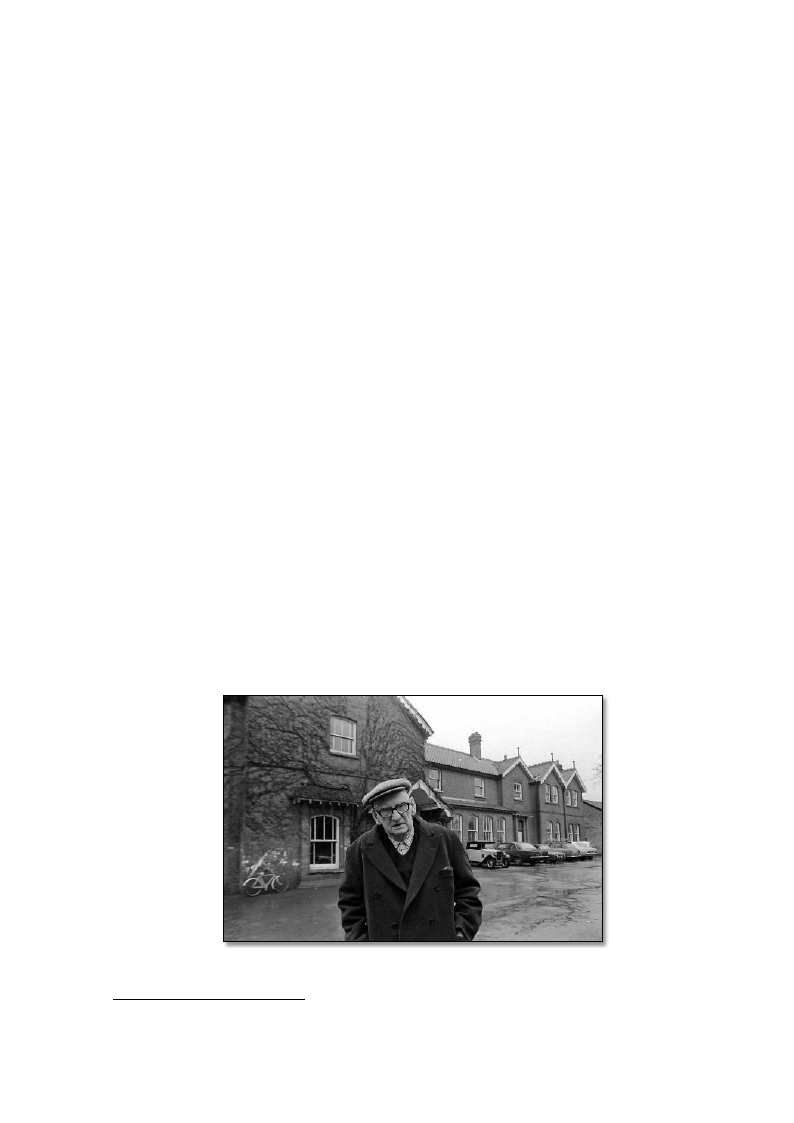
25
natureza aberta e a certeza de que hoje encontrará na escola tanta alegria
como ontem. Só pensa na aula quando esta começa. Não se repreende
ninguém por chegar atrasado, isso não acontece, à exceção dos mais velhos
que têm de fazer algum trabalho em casa. E quando ficam livres, correm
para a escola (TOLSTÓI, 1862, s/p)
É importante destacar que essa experiência emerge numa zona de exclusão, entre (e
voltada para) os camponeses. Ao longo dessa pesquisa, foi possível constatar que as
experiências que envolvem escolas públicas pioneiras são realizadas, majoritariamente, em
zonas semelhantes. Ou seja, o apagamento social e político dessas áreas é, de certa forma, o
adubo necessário para que novas propostas educacionais sejam colocadas em prática e se
efetivem. Quando elas emergem e ganham visibilidade, já estão estabelecidas e podem
caminhar com as próprias pernas.
Outra escola que merece menção é Summerhill. Trata-se da instituição pioneira que
ganhou mais destaque ao longo da história. Fundada em 1921, na Grã-Bretanha, por
Alexander S. Neill, ela recebia crianças consideradas problemas, que tinham sido expulsas
sistematicamente dos colégios tradicionais britânicos (Figura 2). Fundamentada no lema
Aprender com liberdade, Summerhill garantia ao aluno o direito de escolher o que e como
aprender. Mas se a criança decidisse que não queria aprender nada, só brincar, também não
tinha problema. O que começou como uma escola experimental transformou-se num modelo,
“pois demonstra que a liberdade funciona” (NEILL, 1980, p. 04).
Figura 2 – A. S. Neill, fundador de Summerhill, em frente à escola
Fonte: Site Babelio2
2 Disponível em: < http://www.babelio.com/auteur/Alexander-Sutherland-Neill/44843>. Último acesso: 20 dez.
2014.

26
Uma vez que as crianças de Summerhill eram consideradas perdidas pelo sistema
educacional tradicional britânico, essa instituição passou a ser encarada como a última opção,
o que permitiu a validação de um modelo organizacional completamente diferente daquele
encontrado nas instituições tradicionais. É importante mencionar que antes de Summerhill,
Alexander S. Neill tentou aplicar o seu método de ensino numa escola tradicional da
Inglaterra. A experiência não foi bem sucedida e ele foi demitido, considerado um professor
que perturbava o sistema (NEILL, 1978).
Assim como Yasnaia Poliana era voltada para os filhos de camponeses, ou seja, para
aqueles que estavam excluídos do processo educacional, Summerhill só foi possível porque se
direcionou para as crianças e jovens excluídos do rígido sistema educacional britânico. Isso
permitiu que Neill tivesse tempo o suficiente para desenvolver suas teorias e chegar à
conclusão de que toda criança tem uma curiosidade natural e vai buscar, no momento que
julgar necessário, ajuda para compreender/conhecer o mundo.
Summerhill era uma instituição que se fundamentava nos princípios de autonomia e
da democracia, isto é, todo assunto que concernisse à comunidade, ao grupo como um todo,
era resolvido em uma Assembleia Geral, onde a voz das crianças tinha tanto peso quanto a
dos adultos.
Certa vez levantei-me, numa das sessões, e propus que criança alguma, com
menos de dezesseis anos, tivesse permissão para fumar. Argumentei: o fumo
era droga venenosa, o fumar não correspondia a um verdadeiro desejo da
criança, não passava de uma tentativa de parecer adulto. Argumentos
contrários foram lançados de todos os lados. Fêz-se a votação e fui batido
por grande maioria.
O que se seguiu vale a pena registrar. Depois da minha derrota, um
rapaz de dezesseis anos propôs que nenhuma criança tivesse permissão para
fumar. E defendeu seu ponto de vista de tal forma que chegou a obter
aprovação para a sua proposta. Entretanto, na assembléia semanal seguinte
um menino de doze anos propôs a anulação da nova regra sôbre o fumo
dizendo:
– Ficamos todos sentados nos gabinetes sanitários, fumando às
escondidas, como fazem os garotos das escolas estritas, e eu acho que isso
vai contra o espírito de Summerhill.
Sua fala foi aplaudida, e aquela assembléia anulou a lei. Espero ter
tornado claro que a minha voz nem sempre é mais poderosa do que a de uma
criança (NEILL, 1980, p. 41).
Summerhill ainda funciona e, atualmente, é comandada pela filha de Neill, Zoe
Readhead. Muitos dos princípios postulados por Neill, como a liberdade total às crianças,
foram deixados para trás e, atualmente, a instituição se autoconclama democrática. Em 2008,
ela ganhou as manchetes britânicas novamente, quando os alunos se mobilizaram

27
politicamente para garantir que os preceitos que fundamentam a escola não fossem alterados
por um conjunto de determinações que o governo tentava impor3.
1.3 ESCOLA DA PONTE: A INSPIRAÇÃO PORTUGUESA
Fundada no começo da década de 70, na Vila de Aves, em Portugal, a Escola Básica
da Ponte ou Escola da Ponte (Escola Básica Integrada de Aves/São Tomé de Negrelos)
enfrentou, desde o começo, os problemas típicos de muitas escolas da educação pública:
evasão escolar, degradação da estrutura física, insatisfação do corpo docente, indisciplina
generalizada, casos de violência etc. Mas, em 1976, o diretor José Pacheco, juntamente com
os professores e alunos da instituição, decidiu promover uma série de mudanças que
transformaram essa escola numa das principais referências em novas práticas educativas da
atualidade. O começo foi tímido, com muitas perguntas e poucas respostas. Entretanto, ao
longo dos anos, a Escola da Ponte foi se estabelecendo como um caso de grande sucesso.
Em 1980, veio a principal mudança que permitiu a efetivação desse modelo
organizacional. A escola ganhou um novo prédio, edificado no formato de escola de área
aberta – consequência de uma política portuguesa que construiu prédios semelhantes em todo
o país. As escolas abertas eram aquelas que não continham salas de aula. “It has fewer
internal doors and walls than a school with traditional classrooms accommodating the same
number of students”4 (MARTINHO; FREIRE DA SILVA, 2008, p. 02). O novo prédio e o
desejo de mudança dos atores educacionais foram os ingredientes que garantiram a
constituição de um novo espaço educacional.
Conforme Santos (in ALVES, 2001) aponta, a Escola da Ponte é uma comunidade
democrática e autorregulada.
Democrática, no sentido de que todos os seus membros concorrem
genuinamente para a formação de uma vontade e de um saber coletivos – e
de que não há, dentro dela, territórios estanques, fechados ou
hierarquicamente justapostos. Auto-regulada, no sentido de que as normas e
as regras que orientam as relações societárias não são injunções impostas ou
importadas simplesmente do exterior, mas normas e regras próprias que
decorrem da necessidade sentida por todos de agir e interagir de uma certa
maneira, de acordo com uma idéia coletivamente apropriada e partilhada do
3 IMAGINE a school… Summerhill. Direção: William Tyler Smith. Londres: GoDigital Studio, 2008. DVD (67
min.), color.
4 “Ela tem menos paredes e portas que uma escola com salas de aula tradicionais e acomoda o mesmo número de
estudantes” (tradução nossa).

28
que deve ser o viver e o conviver numa escola que se pretenda constituir
como um ambiente amigável e solidário de aprendizagem (SANTOS in
ALVES, 2001: p. 14-15).
Fundamentando-se nesses princípios, a Escola da Ponte se constitui como uma escola
da autonomia, em que as crianças podem desenvolver as atividades escolares conforme
julgarem necessário (Figura 3). Não se trata da liberdade inquestionável de Summerhill, mas
de um modelo democrático, que escuta, coloca em votação e permite que a criança se
constitua enquanto cidadã, agente das mudanças e transformações sociais. Trata-se, portanto,
de uma escola que contribui para que a criança se constitua como cidadã responsável pelo
papel que desempenha na sociedade.
Figura 3 – Ambiente de estudo na Escola da Ponte
Fonte: Página da Escola da Ponte no Facebook5
Entretanto, apesar de ser referência para várias escolas ao redor do mundo, a Escola da
Ponte não se exime de imperfeições. O próprio idealizador da instituição, José Pacheco,
aponta que, muitas vezes, a escola é idealizada como perfeita. “A Escola da Ponte tem um
outro lado. O lado feio. O lado da fragilidade humana e que é preciso revelar. Eu hoje no
Brasil me preocupo em desfazer o mito sem chocar as pessoas, mas mostrando o lado da
miséria humana que também fez a Ponte” (PACHECO, 2011b).
E é exatamente por reconhecer que é impossível construir uma escola perfeita, com
um sistema educacional fechado e acabado que a Escola da Ponte se constitui como uma
5 Disponível em: <http://goo.gl/C3jrBj>. Último acesso: 20 dez. 2014.

29
instituição pioneira, pautada no processo de tradução, lidando com os dilemas e empecilhos
conforme eles se apresentam à realidade da escola (PACHECO, 2011).
1.4 DESEMBARGADOR AMORIM LIMA: O PIONEIRISMO BRASILEIRO
A Escola Municipal Desembargador Amorim Lima, criada no final da década de 50,
foi assumida pela atual diretora em 1996. Foi a partir desse momento que algumas mudanças
começaram a ser implementadas com o intuito de modificar o processo educacional que, até
então, estava baseado, essencialmente, na transmissão vertical de conteúdo. A primeira atitude
da nova diretora foi pintar as portas cinzas da escola de alaranjado. Mas isso não foi tudo. “Os
incômodos não se restringiam ao cinza pálido. Uma cena quase diária atormentava a diretora:
durante os intervalos, crianças se penduravam nos ferros de grades para brincar, com gritos
estridentes. Assim, arrancar as barras de metal se tornou o objetivo seguinte” (GRAVATÁ et
al, 2013, p. 48). Esses foram os primeiros passos de uma pedagogia baseada no respeito e na
valorização da autonomia do aluno.
Em 2003, a comunidade escolar descobriu a história da Escola da Ponte e resolveu
promover uma mudança profunda no funcionamento da instituição, que colocaria muito do
modelo organizacional tradicional por terra. Foi nesse momento que os roteiros de estudo
foram desenvolvidos, as paredes foram derrubadas, criando-se dois grandes salões para
atender as crianças do Ciclo 1 e do Ciclo 2, e as aulas no quadro-negro foram substituídas
pelas pesquisas. De lá para cá, várias mudanças foram implementadas e testadas dentro e fora
dos muros da escola, como os grupos de responsabilidade, as rodas de conversa, as aulas
campo etc. Algumas funcionaram, outras não.
A valorização do trabalho cooperativo e grupal é um dos pilares de sustentação da
escola. Todo aluno possui um grupo, formado por quatro a cinco crianças, que o acompanha
ao longo da vida escolar. Conforme aponta a diretora,
“[o] grupo existe para que todos percebam as responsabilidades que
compartilham. Vejo muita gente dizendo que trabalha em grupo e ao mesmo
tempo reclama que os membros da sua equipe não fazem nada ou
contribuem pouco. Aprender a trabalhar em grupo é perceber que você
também se responsabiliza por aquele que não faz nada, que você pode
influenciá-lo” (GRAVATÁ et al, 2013, p. 48-49).
Os motivos que levaram a diretora a fomentar as mudanças realizadas na escola ao
longo dos últimos 18 anos foram semelhantes aos que estimularam as alterações promovidas
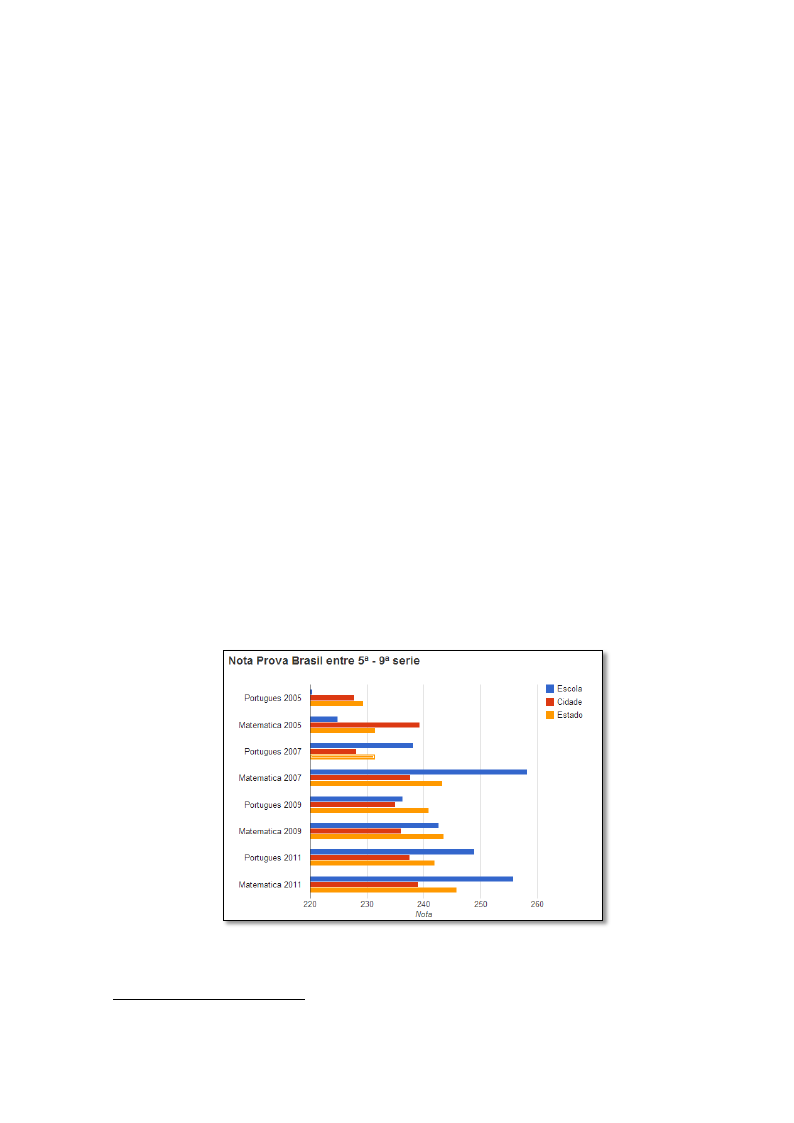
30
na Escola da Ponte: evasão escolar, indisciplina, alto índice de aulas vagas e faltas,
professores desestimulados com a profissão. A EMDAL deu seus primeiros passos em um
novo modelo educacional com o auxílio da psicóloga Rosely Sayão e do diretor da Escola da
Ponte, José Pacheco, mas logo aprendeu a andar com as próprias pernas e tem construído um
caminho tão autônomo quanto aquele que estimula os seus alunos a percorrer. Outros
profissionais também foram convidados a contribuir com esse projeto, como o pesquisador
Geraldo Tadeu Souza, pai de ex-aluno, doutor em linguística pela Universidade de São Paulo
(USP) e responsável por desenvolver os primeiros roteiros de pesquisa.
Entre 2004 e 2008 a EMDAL não informou claramente a Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo (SME/SP) sobre as mudanças que estavam sendo realizadas na
instituição. Apesar de ter o aval do órgão para testar novas possibilidades educacionais, a
escola tinha o receio de que algumas medidas, como o uso dos roteiros de pesquisa, pudessem
ser negadas. Apenas quando as modificações se efetivaram foi que a SME/SP passou a ser
informada da amplitude do novo projeto político pedagógico da escola.
Ainda que possua práticas pedagógicas diferenciadas, a EMDAL segue a risca tudo o
que está posto na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e, exatamente por isso, nenhum argumento
foi encontrado para privá-la da experiência que está vivenciando. Além disso, ao longo dos
últimos dez anos, as notas da escola na Prova Brasil têm sido cada vez maiores (Figura 4).
Figura 4 – Nota da EMDAL na Prova Brasil entre 2005 e 2011
Fonte: Site Centro de Referências em Educação Integral6
6 Disponível em: <http://educacaointegral.org.br/experiencias/proposta-pedagogica-da-emef-amorim-lima/>.
Último acesso: 20 dez. 2014.

31
Olhando-se pelo lado de fora, a Amorim Lima não possui nenhuma diferença em
relação às outras escolas tradicionais (Figura 5). Mas logo ao se entrar na instituição, é
possível notar algumas diferenças. Com paredes e portas alaranjadas, a escola possui um
pequeno jardim logo na entrada, com muitas plantas à beira do muro e em vasos (Figura 6).
Também há um mural de azulejos desenhados pelos próprios alunos, que funciona como uma
espécie de boas vindas aos visitantes (Figura 7). Todos os dias, pessoas de todos os cantos do
mundo aparecem querendo conhecer a escola pública que não segue os modelos das escolas
públicas tradicionais.
Figura 5 – Amorim Lima vista da rua
Fonte: Arquivo pessoal
Figura 6 – Jardim no pátio de entrada da Amorim Lima
Fonte: Arquivo pessoal
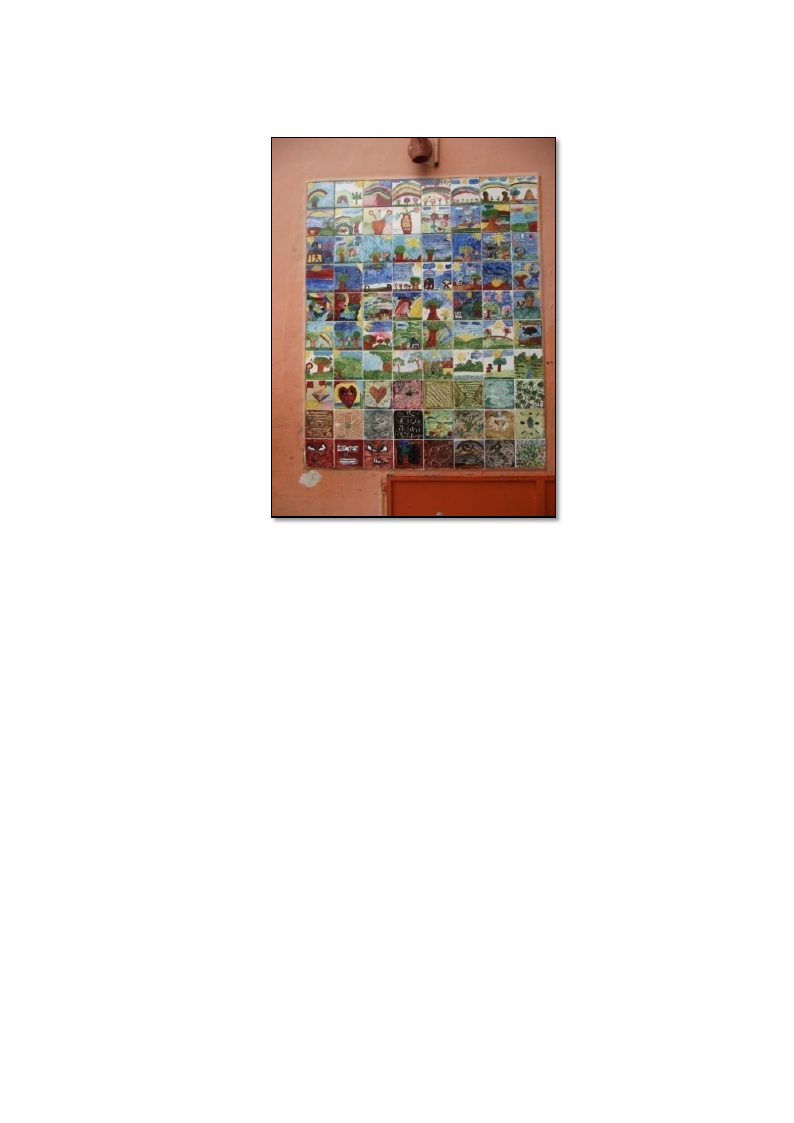
32
Figura 7 – Painel de azulejos na entrada da Amorim Lima
Fonte: Arquivo pessoal
Uma vez que a EMDAL se localiza numa região periférica da capital paulista, próxima
ao Morro do Querosene, mas rodeada de polos intelectuais, como a Universidade de São
Paulo (USP) e o Instituto Butantã, possui alunos provenientes dos mais diversos contextos
socioculturais, atendendo crianças tanto da região quanto de outros bairros da capital, que vão
para a escola por decisão da família. Em 2014, a instituição atendeu 675 estudantes do 1º ao
9º ano do ensino fundamental (Ciclo 1 e Ciclo 2). Esse quantitativo foi distribuído em 24
turmas, nos turnos matutino e vespertino (379 e 296 crianças, respectivamente), o que deu
uma média de 28 alunos/turma. Cada turno possui cinco horas de duração, com 30 minutos de
recreio. Assim, o turno matutino vai das 7h às 12h e o vespertino, das 13h às 18h. A escola
permanece aberta no período noturno para a realização de reuniões da equipe escolar e dos
pais, cursos preparatórios para o ensino médio e cursos abertos à comunidade, como capoeira.
A quantidade de professores da EMDAL varia de acordo com o ano letivo e isso se
deve, majoritariamente, a dois fatores. Primeiro, ao fato de que a instituição funciona com
professores oficialmente lotados pela SME/SP, educadores vinculados a projetos de ONG’s,
educadores colaboradores voluntários e estagiários e esse nesses três últimos casos o número
não é estável ao longo do ano. Segundo, há uma alta rotatividade dos professores oficiais que,
a cada começo de semestre, pedem transferência da escola. Em 2014, a instituição possuía 53
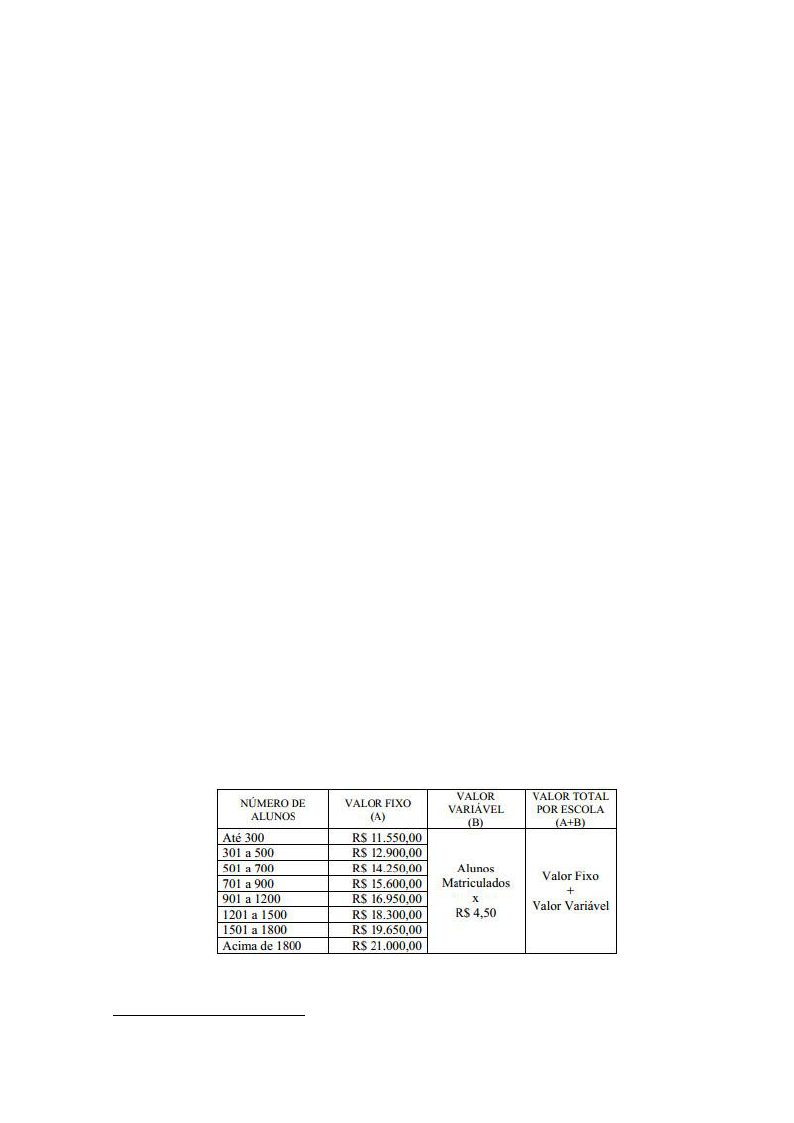
33
professores oficialmente lotados, com carga horária de trabalho variando entre 21 e 25
horas/aula, o que dá uma média de 13 alunos por professor. Apesar de esse número parecer
baixo, é necessário frisar que ele não é muito diferente daqueles registrados em outras escolas
municipais da capital paulista.
A instituição possui uma ampla área, com dois portões que dão para uma rua sem
saída, utilizada como estacionamento pelos professores. O prédio da escola se divide em dois
pavimentos, sendo que no lado esquerdo (para quem olha da rua) estão distribuídas as áreas
administrativas da escola – diretoria, coordenação, sala dos professores, secretaria e um átrio
de entrada – e do lado direito ficam laboratório de informática, cozinha, banheiros, biblioteca,
sala de artes e um pátio interno com palco e duas escadas que dão acesso aos andares
superiores, onde estão as salas de aula. Na área externa há duas quadras esportivas (uma
coberta e outra descoberta), pista de skate, horta (estava desativada durante a visita realizada à
escola), uma tenda branca doada à escola e utilizada durante evento ou como sombra para os
alunos no dia-a-dia, um parquinho, um fogão a lenha e uma oca de cob7 (feita por índios
Guarani da aldeia Morro da Saudade).
Assim como outras escolas municipais, a EMDAL recebe uma verba anual do
Governo Federal (Figura 8), determinada de acordo com o número de estudantes. Esse valor é
complementado com o auxílio da Associação de Pais e Mestres (APM), que promove,
anualmente, eventos abertos à comunidade, como quadrilha e festa da cultura, voltados para a
arrecadação de verbas. Durante essas festas, além da venda de alimentos preparados pelos
pais, a escola também comercializa produtos como camisetas, ecobags, entre outros, com
estampas criadas pelos alunos. A APM tem participação ativa na forma como o dinheiro da
escola é utilizado.
Figura 8 – Valores do Programa de Transferência de Recursos Financeiros (PRTF)
Fonte: Portaria nº 1242, de 11 de janeiro de 2014
7 Material de construção composto por terra, areia e palha.

34
1.5 SOBRE ESCOLAS PIONEIRAS E TRADICIONAIS
Esse capítulo teve como objetivo apontar as principais características de uma escola
pioneira, bem como apresentar o modelo organizacional desenvolvido por instituições que se
enquadram nessa classificação. É necessário destacar aqui que as escolas tradicionais e as
pioneiras não se constituem como modelos organizacionais antagônicos. Não devemos,
portanto, abordá-las a partir de um viés maniqueísta, que classifica uma como a culpada por
todas as mazelas do sistema educacional e a outra como a salvadora.
Na maior parte das vezes, o que ocorre é a construção de uma aura positiva em torno
das instituições pioneiras, como se elas não vivenciassem qualquer tipo de problema, o que
não é verdade. Durante a observação realizada pela pesquisadora, constatou-se que a EMDAL
possui inúmeros problemas que se assemelham aos enfrentados por algumas escolas
tradicionais (mas não por todas), como professores insatisfeitos com o modelo organizacional
da escola, alunos agressivos, pais descontentes, entre outros.
Seja tradicional, democrática ou pioneira, qualquer escola está sempre envolta em
inúmeras situações problemáticas advindas do simples fato de que ela lida com a
complexidade de indivíduos que, em essência, são bem diferentes uns dos outros. Assim, ao
focarmos nas diferenças que as escolas pioneiras possuem em relação às tradicionais, não nos
esqueçamos de que elas são apenas um recorte de uma realidade muito mais ampla e
complexa do que esse trabalho é capaz de abarcar.

35
CAPÍTULO 2
O QUE É A COMPLEXIDADE ECOLÓGICA?
“o homem está na natureza;
a natureza está no homem”
“Só o pensamento complexo nos permitirá
civilizar nosso conhecimento”
Edgar Morin
O fazer científico atual é fruto do paradigma científico da simplificação, herdeiro
direto do pensamento de René Descartes (1596-1650) e da mecânica de Isaac Newton (1642-
1727). O método cartesiano8 – desenvolvido entre os séculos XVII e XVIII – postula que um
objeto só pode ser completamente compreendido a partir de sua divisão em unidades
fundamentais de composição. Após a realização do estudo, essas unidades deveriam ser
reagrupadas, formando um todo verdadeiro. Ou seja, a partir do estudo das partes, seria
possível alcançar e compreender a essência do todo. Nesse sentido, o racionalismo científico
se constitui como um pensamento que isola, separa, recorta e reduz o objeto de estudo,
produzindo uma “inteligência cega”, um conhecimento que não conhece o objeto de fato.
Essa disjunção cartesiana auxiliou a acentuar outro aspecto do pensamento científico
moderno: a separação/oposição entre homem e animal, cultura e natureza, impedindo a inter-
relação entre essas áreas. Além disso, fez o homem crer que, apesar de ter vindo da natureza,
não estava submetido às suas normas. Ao contrário, ele teria o poder de subjugá-la, dominá-la
e conquistá-la9. O homem, assim, foi esvaziado de uma concepção natural pelo fazer
científico, passando a ser apreendido apenas como um ser moldado pela cultura ou pela
história (MORIN, 2000).
Até o final da década de 40, esse modelo científico foi predominante, quiçá o único,
sendo dividido, basicamente, em três grandes campos de estudo isolados: a biologia, a ciência
do homem e a física. A biologia se fundamentava num biologismo, focada numa concepção
de vida fechada sobre o organismo; a antropologia se submetia a um antropologismo,
concebendo o homem como um ser insular (isolado e incomunicável); e a física-química era
8 DESCARTES, René. Discurso do método. São Paulo: Abril Cultura, 1973. Col. Os Pensadores, vol. XV.
9 O filósofo inglês Francis Bacon (1501-1626) apontava que a natureza era a prostituta de todos e conclamava as
futuras gerações a “domesticar”, “ajustar”, “moldar” e “configurar” a natureza.
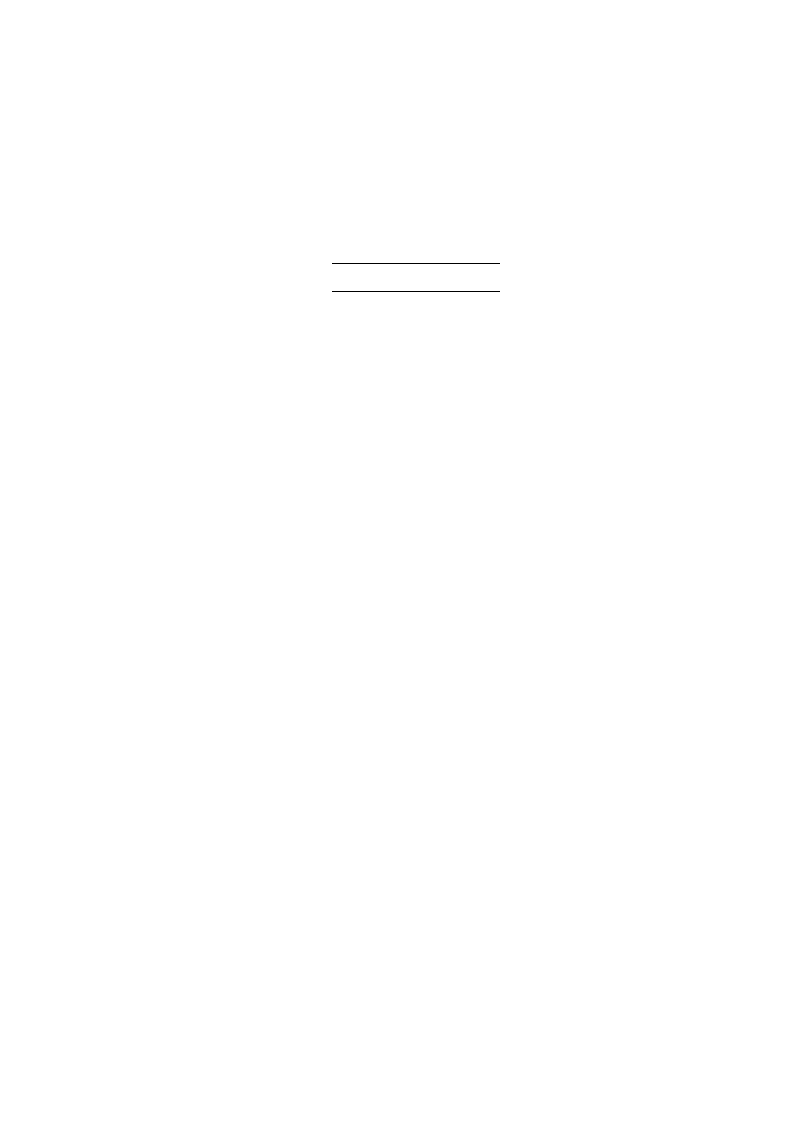
36
completamente ignorada pelas outras áreas. A partir dessa perspectiva, o homem – e a vida –
era constituído por três extratos sobrepostos, completamente separados, que não estabeleciam
qualquer tipo de vínculo entre si (Figura 9).
Figura 9 – Paradigma científico da simplificação
HOMEM – CULTURA
VIDA – NATUREZA
FÍSICA – QUÍMICA
Fonte: MORIN, 2000, p. 19
Eis que essa concepção começa a ruir no final da década de 40, quando a necessidade
de se encontrar alternativas para o reducionismo científico vigente até então abriu portas para
três importantes desenvolvimentos: (i) a cibernética, em 1948; (ii) a teoria da informação, em
1949; (iii) e a descoberta da estrutura química do código genético, em 1953.
Aparentemente desconectados, esses estudos levaram os muros epistemológicos que
separavam os campos de estudo a serem derrubados, abrindo espaço para que os extratos do
homem pudessem se comunicar entre si. O ponto crucial desse processo foi a descoberta da
estrutura química do código genético, promovendo o que pode ser chamado de uma revolução
biológica (MORIN, 2000). Se, até a década de 50, a biologia focava numa perspectiva de vida
vinculada ao organismo, a partir daquele momento, ela passava a se constituir,
essencialmente, de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, ou seja, por um aspecto físico-
químico.
Essa primeira abertura demandou uma nova maneira de compreender a organização
dos sistemas vivos – não mais matérias vivas –, o que foi proporcionado pela cibernética e
pela teoria da informação. Elas estudavam a comunicação, respectivamente, estabelecendo
uma analogia com o funcionamento das máquinas eletrônicas e lidando com os aspectos
quantitativos e calculáveis desse processo. “A aplicação da noção de máquina à célula, isto é,
à unidade fundamental de vida, já constituía por si própria um acontecimento de importância
capital” (MORIN, 2000, p. 21).
Ainda que a noção organizacional do termo tenha passado despercebida durante algum
tempo, diante do aspecto mecânico, é ela que abre espaço para o desenvolvimento de um novo
savoir-faire científico, contribuindo para a emergência do paradigma da complexidade
(Figura 10).

37
Figura 10 – Mudança do paradigma científico da simplificação para o da complexidade
HOMEM
VIDA
FÍSICA
CULTURA
Aspectos
antropomórficos
de funcionamento
dos sistemas vivos
NATUREZA
Descoberta
da estrutura
química do
código genético
QUÍMICA
Fonte: Elaborada pela autora
Entretanto, a mudança se estabelece, de fato, a partir da revolução ecológica, que
altera completamente a noção que se tinha de natureza, tanto nas ciências biológicas quanto
nas humanas. A ecologia, enquanto ciência, emerge com o objetivo de estudar as relações
entre os organismos e o meio ambiente em que eles vivem. Se antes o ser vivo evoluía em
meio à natureza, utilizando-se dela, agora os pesquisadores começavam a perceber que ele era
parte constituinte da organização complexa e da informação produzida no sistema. “[…] o
ecossistema é co-organizador e co-programador do sistema vivo que nele se integra”
(MORIN, 2000, p. 26). Dessa forma, não existe inter-relação entre sistemas isolados; os
sistemas se conectam entre si, constituindo-se simultaneamente, integrando-se em prol da
complexidade do ecossistema. A natureza, a partir desses avanços, perde o caráter amorfo e
desorganizado e passa a ser encarada como uma totalidade complexa, na qual o homem está
inserido apenas enquanto um dos sistemas que a constitui.
Além disso, é preciso considerar outros dois aspectos que contribuíram para a
implosão do paradigma da simplificação. Primeiro, a mudança na concepção de animal
permitida pelos estudos etológicos, a partir da percepção de que as relações animais não eram
regidas por reações automáticas e instintivas, mas por um comportamento organizado e
organizador, simultaneamente. Isso sem falar no reconhecimento de que os animais possuem
noções de comunicação e, até mesmo, comportamentos simbólicos10. O segundo aspecto é a
percepção de que esses animais também são regidos por aspectos sociológicos, algo que pode
ser observado em sociedades como as das formigas, dos cupins e das abelhas. Ou seja, a
10 “Na verdade, vêem-se desenvolver, quer sobre uma base analógica, quer sobre uma base digital, e
frequentemente numa combinação de ambas, comportamentos simbólicos ou rituais, não só de namoro, mas
também de cooperação, de advertência, de ameaça, de submissão, de amizade, de brincadeira. E, o que é
extraordinário, acontece muitas vezes que um comportamento significante, originado a partir de uma
determinada situação, é transportado para fora dessa situação para exprimir uma mensagem simbólica. Assim,
uma gansa cinzenta, para manifestar a um macho a sua estima, vai imitar um pedido de proteção contra um
ataque imaginário, de modo a significar: «tu és o meu senhor» (Lorenz, 1969). Em numerosas espécies de aves,
o comportamento de submissão pode exprimir-se pela abertura completa do bico, o que imita o comportamento
de dependência infantil; o comportamento de amizade pode exprimir-se pelo gesto de oferecer uma palha a um
companheiro, que é a transdução, em campo não sexual, do convite matrimonial «façamos um ninho juntos»
(Wickler, 1971). Num contexto mais geral, imitar os jovens, imitar a fêmea, pode significar um ato de submissão
ou de respeito” (MORIN, 2000, p. 26).

38
sociedade é um fenômeno natural, mapeável em qualquer organização complexa de seres
vivos. “Deste modo, as conseqüências da etologia e da sociologia animal são igualmente
mortais para o paradigma fechado do antropologismo. Chega-se à conclusão de que nem a
comunicação, nem o símbolo, nem o rito, são exclusividades humanas” (MORIN, 2000, p.
30).
Com esse desmantelamento, vários pensadores – Morin (1973), Maturana (2001),
Santos (2008), Mignolo (2003), Capra (1996), para citar apenas alguns nomes – começaram a
conclamar o que muitos não gostariam de ouvir: a ciência que divide e separa não dá mais
conta da complexidade da existência e, portanto, não traz respostas satisfatórias aos estudos
científicos. Precisa, portanto, ser substituída por outro método. “[O] todo é maior que a soma
das partes que o constituem. O todo é integração, sempre maior que tudo” (GOYA, 2008, p.
622).
Ainda assim, fazer ciência sob o jugo da complexidade não tem sido uma tarefa fácil,
mesmo para aqueles que estão dispostos. Observar o objeto a partir de uma nova perspectiva,
norteado pela complexidade intrínseca à existência do mesmo, demanda um aprofundamento
teórico e uma capacidade de se compreender as tramas de uma inter-relação. Trata-se de
reconhecer o elo inseparável que existe entre o observador e a coisa observada, o que coloca
por terra a objetividade e a neutralidade científica. O objeto nunca é dado puro e
simplesmente, está sempre inserido em um sistema e é completamente aberto, atravessado por
feixes de interações que interferem em sua constituição. Constrói e, ao mesmo tempo, é
construído pelo sistema no qual está inserido, que, por sua vez, está inserido em outro sistema
e assim sucessivamente (MORIN, 2007). A complexidade é, portanto, um campo de
problemas e não de soluções simplistas.
O pensamento complexo está em busca de um conhecimento multidimensional,
rizomático, que dê conta das inter-relações que são estabelecidas, reconhecendo a
incompletude e incerteza do mesmo (Figura 11). “[…] é animado por uma tensão permanente
entre a aspiração a um saber não fragmentado, não compartimentado, não redutor, e o
reconhecimento do inacabado e da incompletude de qualquer conhecimento” (MORIN, 2007,
p. 7).
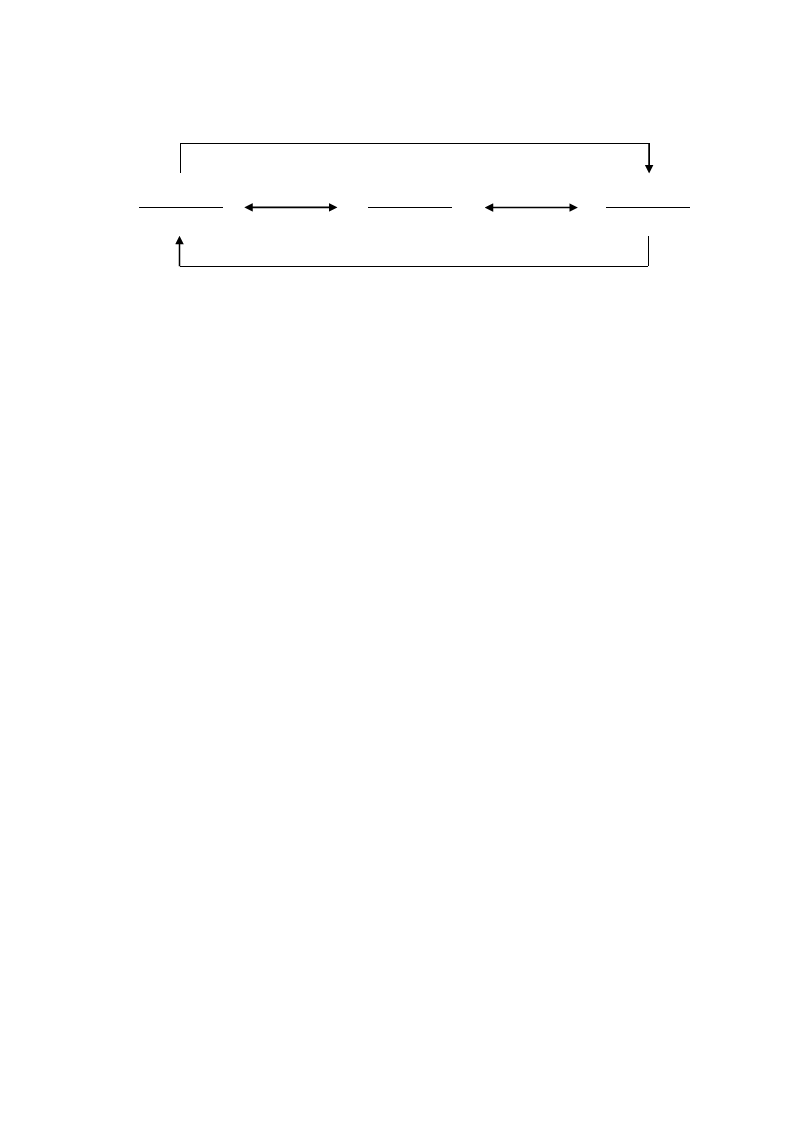
39
Figura 11 – Paradigma da complexidade
HOMEM
CULTURA
VIDA
NATUREZA
FÍSICA
QUÍMICA
Fonte: Elaborada pela autora
Integrar o homem à sua realidade tem sido um dos principais desafios da
complexidade. Há uma busca constante para vê-lo, não mais como um elemento isolado da
natureza, mas como elemento constituinte e constituído da/pela mesma. Essa possibilidade
demanda novas teorias, não daquelas que recortam e estabelecem muros epistemológicos, mas
teorias que se abrem para a complexidade dessa interação; teorias que permitam introduzir o
cultural nas ciências naturais e o natural nas ciências antropo-culturais (PENA-VEGA, 2005).
Uma vez que o objeto de estudo desse trabalho não possui um recorte definido –
afinal, como estudar a mudança das práticas educacionais apenas pela língua ou pelos
discursos –, buscou-se teorias que se constituem através de uma abertura epistemológica, pela
compreensão do homem não apenas pelo seu aspecto antropológico ou social, mas também
pelo seu aspecto físico e natural. Ou seja, teorias que integrassem os extratos do homem, que
compreendessem a interferência do espaço físico e do biológico na constituição do mesmo,
que estabelecessem um pensamento ecológico complexo por excelência, olhando para o
indivíduo como um todo constituído por inúmeras partes, sem reduzi-lo nem ao todo e nem às
suas partes.
Nesse sentido, utilizaremos como aparato teórico a Ecolinguística e a Antropologia do
Imaginário. Ambas entendem o indivíduo como um ser biopsicossocial e, a partir dessa
perspectiva, abrem-se para ver o homem além de sua própria sociabilidade, atravessando de
um paradigma da simplicidade para um paradigma ecológico da complexidade (PENA-
VEGA, 2005). É desse ponto que partiremos para compreender o indivíduo e suas interações
não apenas por recortes, mas por multidimensionalidades que deem conta da amplitude e
magnitude que é o ser humano.

40
2.1 A ECOLINGUÍSTICA
A Ecologia Linguística ou Ecolinguística é um ramo da Ecologia que se propõe a
estudar os ecossistemas linguísticos (COUTO, 2007). Esse conceito parece amplo, mas será
investigado ao longo deste capítulo, o que permitirá a compreensão da mesma. O primeiro
linguista a estabelecer a relação entre língua e meio ambiente foi Sapir (1969), durante uma
conferência realizada na Associação Antropológica Americana, em 1911, e publicada em
American Antropologist, em 1912. Para ele, o ambiente atua diretamente sobre o ser humano
e, portanto, influencia a produção linguística dos indivíduos.
Entretanto, o vínculo entre língua e ecologia só foi estabelecido, de fato, no final da
década de 60. Em 1967, é possível observar a emergência de expressões como ecologia intra-
língua, ecologia inter-língua e ecologia linguística, utilizadas por sociolinguistas durante
estudos que relacionavam a língua e a cultura no sudoeste dos Estados Unidos. Em 1970,
Einar Haugen, considerado o pai da Ecolinguística, proferiu uma palestra chamada A ecologia
da linguagem, definindo essa corrente como “the study of interactions between any given
language and its environment”11 (2001, p. 57). Mas o termo Ecolinguística, em si, só começa
a ser cunhado a partir de 1972, pelo próprio Haugen.
Naquele contexto histórico-social, os estudiosos que viriam a constituir a
Ecolinguística se aproveitaram da emergente discussão que criticava o modelo científico
simplista e pegaram carona no nascente paradigma ecológico, tendo, como objetivo,
estabelecer o vínculo entre os estudos linguísticos e a ecologia complexa. Desde a década de
70, esse campo de estudos vem angariando adeptos e se desenvolvendo a partir de várias
correntes de pesquisa, entre elas a Ecologia Linguística, a Ecolinguística Crítica, a Ecologia
da Evolução Linguística, a Linguística Ecossistêmica, etc.
Para efeitos dessa pesquisa, focaremos a atenção nessa última corrente. Desenvolvida
em solo brasileiro, especialmente no eixo Brasília-Goiânia, ela parte da noção de ecossistema
para fundamentar os estudos linguísticos. Ecossistema é um conceito central da Ecologia e foi
usado pela primeira vez por A. G. Tansley, em 1935 (OXFORD, 2003). Refere-se a um
conjunto de interações que ocorrem em uma determinada unidade geofísica habitada por
organismos vivos (PENA-VEGA, 2005) ou, como aponta Odum (2001), qualquer unidade
formada por uma comunidade interagindo com o meio ambiente físico com troca de energia
11 “o estudo das interações entre a língua e o seu ambiente” (tradução nossa).

41
entre seres bióticos e abióticos. Essas interações são resultantes das características essenciais
do ecossistema, como a abertura, a adaptação, a evolução, etc., conforme veremos a seguir.
2.1.1 Conceitos centrais
Ao contrário do que poderia parecer à primeira vista, a Ecolinguística não se apropria
dos conceitos ecológicos metaforicamente. Antes, ela percebe que as interações linguísticas
funcionam de acordo com os mesmos princípios da Ecologia e se propõe a elucidar de que
forma isso acontece. Exatamente por isso é importante destacar alguns conceitos ecológicos
essenciais para a compreensão dos ecossistemas linguísticos.
O conceito de ecossistema, apontado anteriormente, é fundamental para o
desenvolvimento dessa perspectiva, uma vez que o princípio fundamental da ecologia é
baseado na interação e na interdependência (PENA-VEGA, 2005). Qualquer ecossistema
pode ser analisado a partir de uma série aspectos, dentre os quais destacaremos: (1) holismo,
(2) inter-relações, (3) abertura/porosidade, (4) evolução, (5) adaptação e (6) diversidade.
Como veremos adiante, todos esses aspectos são responsáveis pela (auto)organização do
ecossistema.
A noção de holismo é constituinte do ecossistema, já que este pode ser entendido
como um todo formado por componentes que se relacionam entre si. É importante destacar
que as partes não definem o ecossistema, da mesma forma que um todo abstrato, aquele que
aniquila a diversidade, também não. Assim, negando a perspectiva da simplificação, o objeto,
nesse paradigma, não pode ser recortado e afastado do todo, estudado como algo aleatório.
Ele faz parte de um ecossistema que interfere nele, tanto quanto é interferido por ele. Nesse
sentido, estudar aspectos da língua, como tem sido feito ao longo do último século,
distanciando-os de todo o contexto em que eles estão inseridos, permite que os pesquisadores
cheguem a conclusões que nem sempre condizem com a realidade.
A interação (ou inter-relação) é uma característica essencial de todo ecossistema, o que
garante a existência do mesmo. Trata-se da trama que se constrói a partir das relações
estabelecidas dentro de um ecossistema. Estas podem acontecer de duas maneiras: (i) entre o
organismo e o mundo; ou (ii) entre dois organismos. A língua, por si própria, é interação, pois
só existe na medida em que permite que uma relação se estabeleça, seja com o meio, seja com
outros indivíduos.
A porosidade está vinculada ao fato de que nenhum ecossistema é completamente
isolado, ou seja, se inter-relaciona com outros ecossistemas, numa trama infinita,

42
compartilhando informações com os ecossistemas vizinhos. Assim, os ecossistemas são
porosos, difusos, vazados e fluídos, constituindo-se a partir do princípio da flexibilidade,
aberto a entrar em contato com quaisquer interferências. Isso significa que os ecossistemas
não possuem fronteiras delimitadas e que a sua delimitação é feita apenas e exclusivamente
pelo observador. Delimitar um ecossistema, entretanto, não significa isolá-lo dos outros, mas
negociar uma possibilidade de estudá-lo a partir da complexidade do mundo fenomênico.
A evolução e a adaptação são conceitos que se complementam. A primeira está
vinculada às mudanças que provocam rearranjos no ecossistema, formando novas espécies, no
caso da linguística, novas línguas e dialetos. As mudanças que forçaram o rearranjo do latim
em diversas outras línguas, como o italiano, o francês e o português, por exemplo. Já a
adaptação tem a ver com a busca de equilíbrio do ecossistema. Toda vez que algum aspecto
do ecossistema é alterado, todos os seus elementos devem se adaptar para garantir a
sobrevivência do mesmo. Quando isso não acontece, há o que os estudiosos chamam de
processo de extinção. Nesse sentido, as alterações produzidas pela chegada dos portugueses
ao território brasileiro implicaram na adaptação das línguas indígenas (e do próprio
português), em ordem de permitir que a relação entre os indivíduos fosse estabelecida.
Para finalizar, temos a noção de diversidade, que agrega toda a variedade constituinte
de um ecossistema. Cada um dos organismos que faz parte dele possui um papel essencial na
trama interacional do mesmo. Assim, quanto mais complexo, mais diversificado. A
diminuição da diversidade, por outro lado, pode levar à aniquilação do próprio ecossistema.
Ele se adapta enquanto é possível, mas eventualmente pode chegar à extinção de toda a trama
que envolve aquele ecossistema. De que maneira essa noção se aplica aos estudos
linguísticos? Toda vez que abordamos as relações estabelecidas entre línguas, estamos
falando em diversidade. Tanto os processos de extinção de línguas, quanto os de crioulização
ou pidgnização, entre outros, podem ser estudados a partir desse aspecto.
Todos esses aspectos estão vinculados à noção de organização do sistema, que garante
o perfeito funcionamento do mesmo. Qualquer ecossistema possui a capacidade de se auto-
gerir, encontrando o perfeito equilíbrio entre a entropia e a negentropia. Nesse processo,
organismos surgem, outros entram em extinção, muitos se adaptam e evoluem. Nenhum
sistema organizado pode fugir do processo de degradação e dispersão e, portanto, da
desordem. Entretanto, quando o equilíbrio é quebrado de forma drástica, o que vemos é a
completa destruição de todo um ecossistema. Isso acontece com nichos biológicos (conjunto
de condições em que uma determinada população vive e se reproduz), com átomos e, porque
não, com os ecossistemas linguísticos.

43
2.1.2 Língua é interação
Para a Ecolinguística, a língua é um feixe de interações estabelecidas com o mundo e
entre os membros de uma comunidade. Língua, aqui, não deve ser encarada como uma
“coisa”, reificada, um meio utilizado para alcançar um fim específico. A língua é interação
por excelência, é a comunicação verbal que se estabelece entre os indivíduos (COUTO,
2013). Trata-se de uma realidade biopsicossocial, uma vez que envolve aspectos mentais,
sociais e naturais, como veremos mais adiante.
Nesse contexto, há uma superação dos estudos que entendem a língua apenas como
uma forma de comunicação, sistema ou meio utilizado para alcançar algum fim. Nenhuma
dessas perspectivas daria conta da complexidade das interações linguísticas, sejam elas com o
ambiente ou em relação com outros indivíduos. Para a Ecolinguística, língua é comunicação e
referência ao mesmo tempo, pois o indivíduo se comunica referindo-se a alguma coisa e se
refere a alguma coisa comunicando-se; é sistema e é função, pois demanda uma forma para
funcionar e enquanto funciona constitui a sua própria forma. Esse processo é indissociável e,
portanto, não deveria ser abordado separadamente.
Assim, a língua está para além do que postula as correntes que se baseiam no
paradigma da simplificação. Ao fugir dessa concepção, a Ecolinguística se constitui como a
disciplina que estuda as formas de interação verbal no interior de um ecossistema linguístico,
permitindo-se abrir para os modos como os diversos elementos (naturais, sociais ou mentais)
interferem nesse processo.
2.1.3 O ecossistema linguístico
Os estudos arqueológicos avançaram bastante nas últimas décadas e têm permitido que
os linguistas vislumbrem de que maneira se deu o desenvolvimento de uma linguagem
gramaticalmente complexa entre os seres humanos modernos. De acordo com Mithen (2002),
este processo teria sido resultado, dentre outros fatores, de três aspectos essenciais:
1. Mutações genéticas que aumentaram a caixa craniana e possibilitaram o
crescimento do cérebro. Essa foi a base inicial para o desenvolvimento da fluidez
cognitiva que permitiu a evolução da linguagem.
2. Aumento da complexidade das relações sociais, o que demandou a diversificação
das formas de comunicação. A linguagem gestual e vocalizada (grunhidos e

44
sonorizações) emerge atrelada ao aspecto social de grupos humanos arcaicos.
Conforme os grupos foram crescendo em quantidade de indivíduos, as relações se
tornaram mais complexas, o que estimulou o desenvolvimento de um sistema
linguístico.
3. A grande importância que o meio ambiente passa a ter para os grupos coletores-
caçadores, interferindo de forma profunda nas relações sociais. A necessidade por
comida, a caça, demandava uma complexidade comunicativa cada vez maior,
permitindo que os indivíduos fossem capazes de localizar plantas, animais,
aspectos geográficos específicos. Como a caça demandava que as mãos estivessem
liberadas para o uso, uma nova forma comunicativa foi desenvolvida.
Essa é a base ontológica para o desenvolvimento da comunicação verbal entre os
Homo sapiens sapiens. A partir dessa perspectiva, é possível afirmar que o ecossistema
linguístico se constitui a partir de três campos distintos, que se inter-relacionam entre si: o
mental, o social e o natural. Estes também podem ser compreendidos como ecossistemas, uma
vez que são constituídos por outros sistemas, como veremos adiante.
Os primeiros estudiosos a abordarem a constituição do ecossistema linguístico foram
Jørgen Døør e Jørgen Chr. Bang. Para eles, a relação entre a língua e o meio ambiente é
dialética e, nesse sentido, o meio ambiente deve ser interpretado como ideológico, sociológico
e biológico ao mesmo tempo (DOOR; BANG, 1993). Essa escolha lexical, entretanto, não
abarca toda a complexidade do ecossistema linguístico. O aspecto ideológico, por exemplo, se
constitui tanto socialmente quanto mentalmente, o que acaba por diminuir a importância do
aspecto mental do indivíduo nesse processo.
Couto (2007), por outro lado, propõe uma divisão que aborda o ecossistema linguístico
de forma diferenciada. Para ele, este ecossistema é constituído pelos meios ambientes mental,
social e natural, sendo que cada um deles exerce uma função essencial no processo
interacional. Uma vez que a linguagem complexa emerge a partir de aspectos mentais, sociais
e naturais, a proposta de Couto (2007), em nossa concepção, possui mais propriedade para
abordar os estudos da linguística ecossistêmica.
2.1.3.1 O ecossistema natural da língua
O ecossistema natural da língua, de forma geral, é constituído por um grupo de
organismos que habita um determinado espaço interagindo entre si, com foco para as
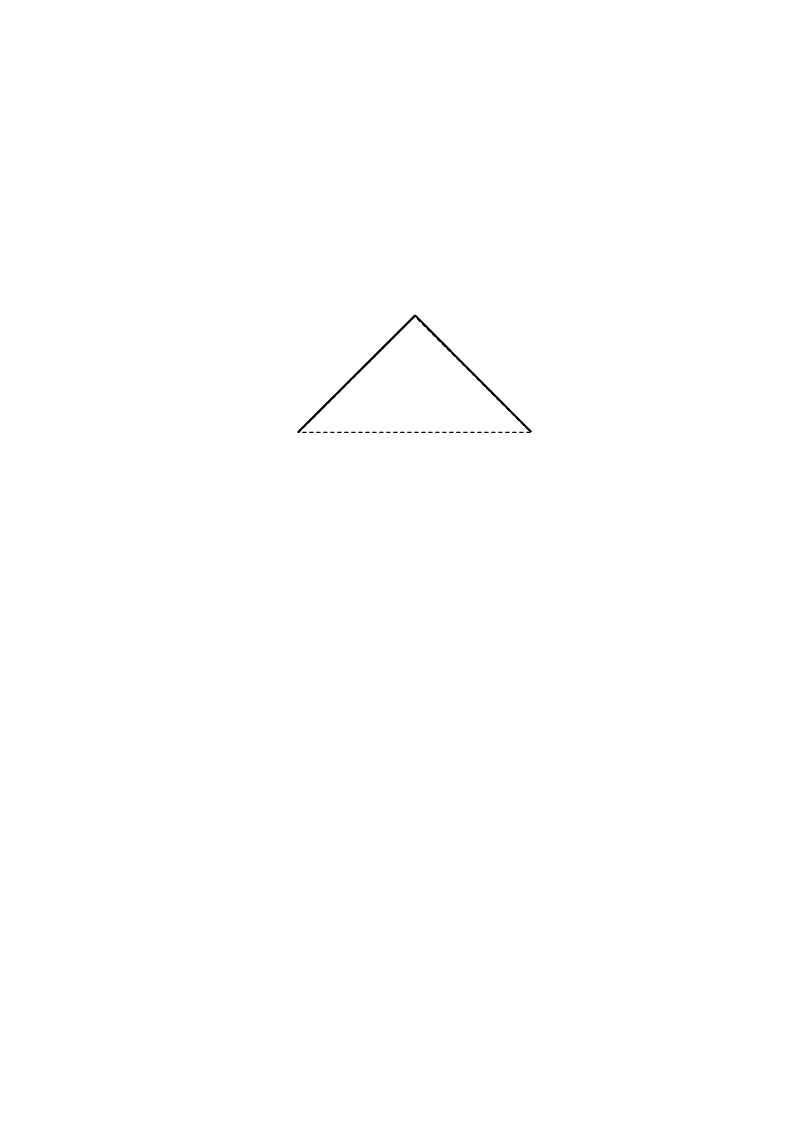
45
interações estabelecidas entre o organismo e o meio. Uma vez que a única espécie, até então
conhecida, que se relaciona por meio de uma língua (o sistema saussuriano) é a humana, o
ecossistema natural da língua está relacionado, especificamente, ao modo como o espaço
físico interfere na produção linguística. Nesse sentido, ele pode ser representado da seguinte
maneira (Figura 12), em que (P) representa um povo ou população e (A), o ambiente físico
que ele habita.
Figura 12 – Ecossistema natural da língua
L
P
A
Fonte: Elaborado pela autora
Prescindimos do uso da palavra território, como proposto por Couto (2007), devido à
enorme polissemia que acompanha esse termo. Conforme aponta Haesbaert e Limonad
(2007), território deve ser entendido como um espaço definido por uma relação de poder. “[O]
território é uma construção histórica e, portanto, social, a partir das relações de poder
(concreto e simbólico) que envolvem, concomitantemente, sociedade e espaço geográfico
(que também é sempre, de alguma forma, natureza)” (HAESBAERT; LIMONAD, 2007, p.
42).
Nesse sentido, apropriamo-nos da expressão ambiente físico, proposta por Sapir
(1969), considerando-a a partir de seus fatores físicos, que seriam os aspectos geográficos
(topografia, clima, regime de chuvas, etc.) e a base econômica da vida humana, o que inclui a
fauna, flora e os recursos minerais do solo. Ou seja, o local ou área ocupado por determinada
população. As paisagens, bem como os animais, plantas etc., são essenciais para a língua de
uma determinada população. Eles interferem na produção linguística na medida em que
constituem o ser humano e a relação que ele estabelece com o mundo. Localizar-se no mundo,
referir-se à sua posição e à posição de outros objetos ou indivíduos é uma manifestação
primordial do indivíduo. Isso sem falar no processo de nomeação, que indica a apropriação
que o humano faz daquele espaço que o rodeia.
Conforme explica Sapir (1969), o ambiente físico interfere, essencialmente, no léxico
de uma língua. Entretanto, nem tudo o que existe na natureza aparece no léxico. É preciso que
o traço ambiental em questão capture o interesse da população. Assim, é o interesse social que
determina a natureza do léxico e das influências que ele irá sofrer. Como exemplo, Sapir
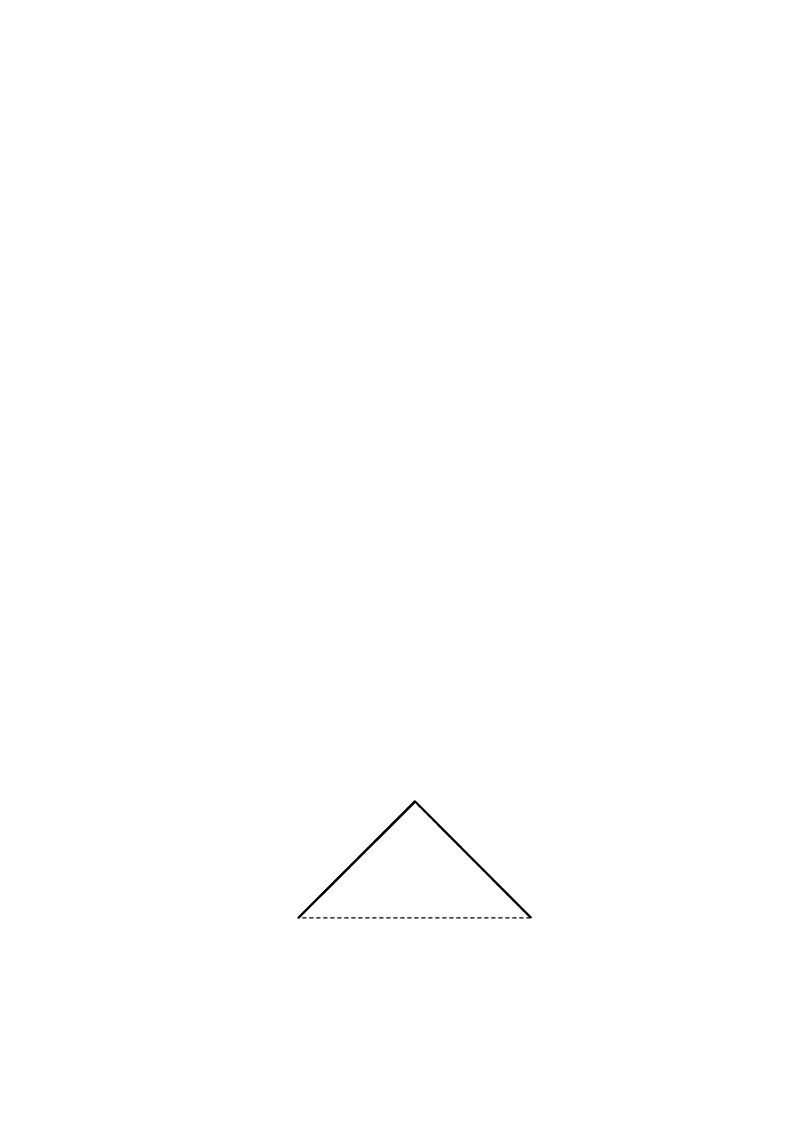
46
aponta que enquanto as sociedades capitalistas ocidentais acham indispensável distinguir o sol
da lua, muitas comunidades indígenas têm uma única palavra para os dois. “Se nos
queixarmos de que tal vaguidade não faz justiça a uma diferença essencial da natureza, o
índio bem poderá retrucar com o caráter omnium gatherum de nosso termo ‘erva’ em
contraste com o seu vocabulário muito mais preciso para plantas” (SAPIR, 1969, p. 47).
2.1.3.2 O ecossistema social da língua
O ecossistema social da língua foi o mais privilegiado ao longo da história dos estudos
linguísticos. Sociolinguística, Dialetologia, Análise do Discurso, dentre outras correntes, se
edificam nesse ecossistema. Aqui, já estamos abordando o homem não enquanto animal, que
se constitui num linguajar, em relação com um espaço físico, mas o indivíduo social em
relação com um território. Este transcende o aspecto natural para compreender tudo aquilo
que foi constituído a partir das relações.
Ao abordarmos o ecossistema social da língua, estamos, portanto, falando de uma
sociedade (S) que habita um território (T) e se utiliza de uma mesma língua (Figura 13). É
importante destacar, aqui, que o território implica uma ou diversas identidades que se
apropriam de um espaço e as identidades pressupõem uma historicidade constitutiva.
Conforme apontam Haesbaert e Limonad (2007), o espaço se transforma em território a partir
da apropriação e da dominação social. É exatamente por isso que, em nossa concepção, a
perspectiva ideológica da língua estaria, também, contida no ecossistema social e não poderia
ser compreendida apenas pelo aspecto mental do ecossistema da língua, como propuseram
Door e Bang (1993).
Figura 13 – Ecossistema social da língua
L
S
T
Fonte: Elaborado pela autora
Nesse ecossistema, podem ser estudados tanto a língua padrão, como os diversos
grupos que se constituem dentro de uma sociedade, desde que eles tenham um território que
os caracterize. Uma escola, por exemplo, pode ser compreendida como um ecossistema da
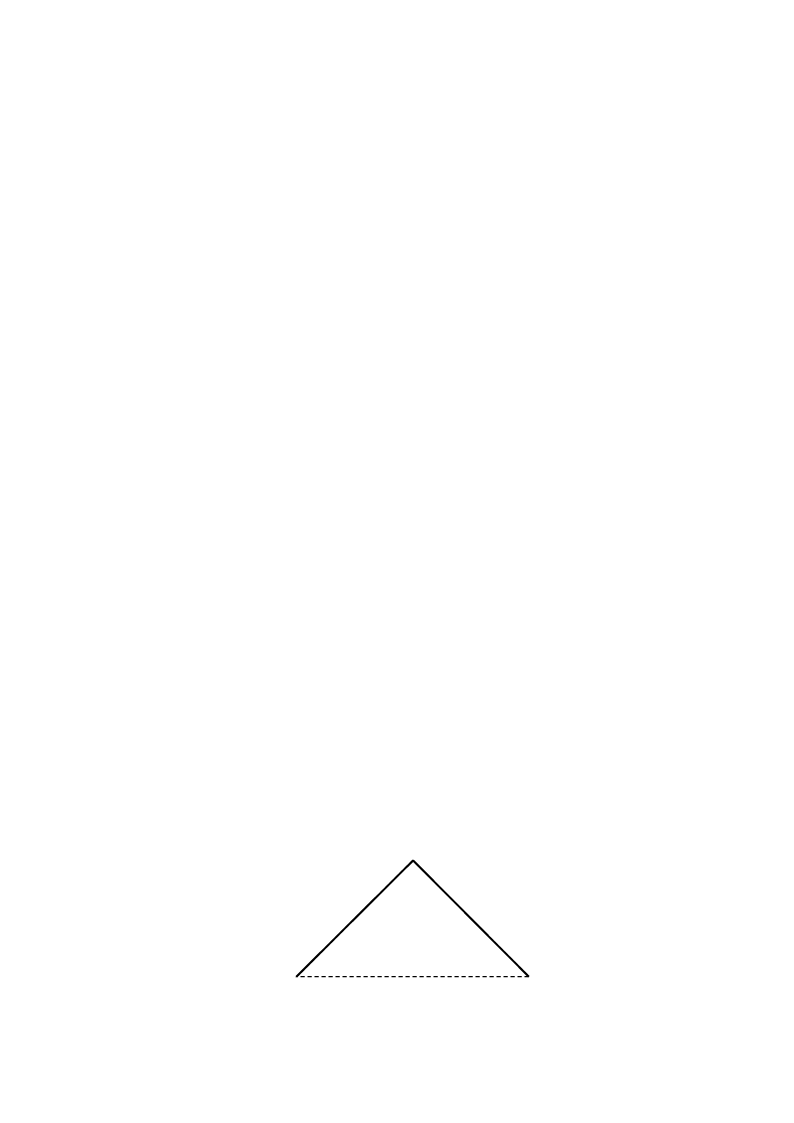
47
mesma maneira que um grupo de mulheres violentadas que se encontre toda semana na sede
de algum centro de apoio para dialogar ou uma comunidade de periferia.
É importante, também, destacar que os limites entre os ecossistemas natural e social
são tênues, o que praticamente impossibilita qualquer tentativa de separá-los. O aspecto social
interfere no natural e vice-versa. Isso se deve, em grande medida, ao fato de que o Homo
sapiens sapiens emerge num mundo onde as sociabilidades já estão estabelecidas. Assim, em
nossa linha evolutiva, somos seres naturais e sociais desde o momento em que a fluidez
cognitiva (MITHEN, 2002) se estabeleceu no Homo (ou seja, o ecossistema mental passou a
intermediar os dois). Nesse sentido, como dizer qual é o ambiente e qual é território de uma
escola, por exemplo, ou de uma comunidade de periferia? São noções que se atravessam e,
portanto, se constituem em redes de significações.
2.1.3.3 O ecossistema mental da língua
Por fim, temos o ecossistema mental da língua, ou seja, o locus em que ela, enquanto
sistema (SAUSSURE, 1995), é armazenada e processada. Está vinculado, nesse sentido, ao
cérebro – suporte físico de todas as manifestações desse sistema e, portanto, aparato corpóreo
que se conecta com o mundo exterior – e à mente, compreendida como o cérebro em
funcionamento. Não estamos, aqui, conclamando uma separação entre mente e cérebro, como
alguns poderiam pensar. Ao contrário, estamos constatando que eles funcionam em relação
um com o outro. Damásio (2011) aponta que a mente não pode ser compreendida como um
fenômeno físico, separado do biológico que a cria e sustenta.
Assim, o ecossistema mental da língua se constitui por uma mente (M), que “habita”
um cérebro (C), onde a produção linguística se estabelece (L), podendo ser representado
conforme a Figura 14.
Figura 14 – Ecossistema mental da língua
L
M
C
Fonte: Elaborado pela autora com base em COUTO, 2013.
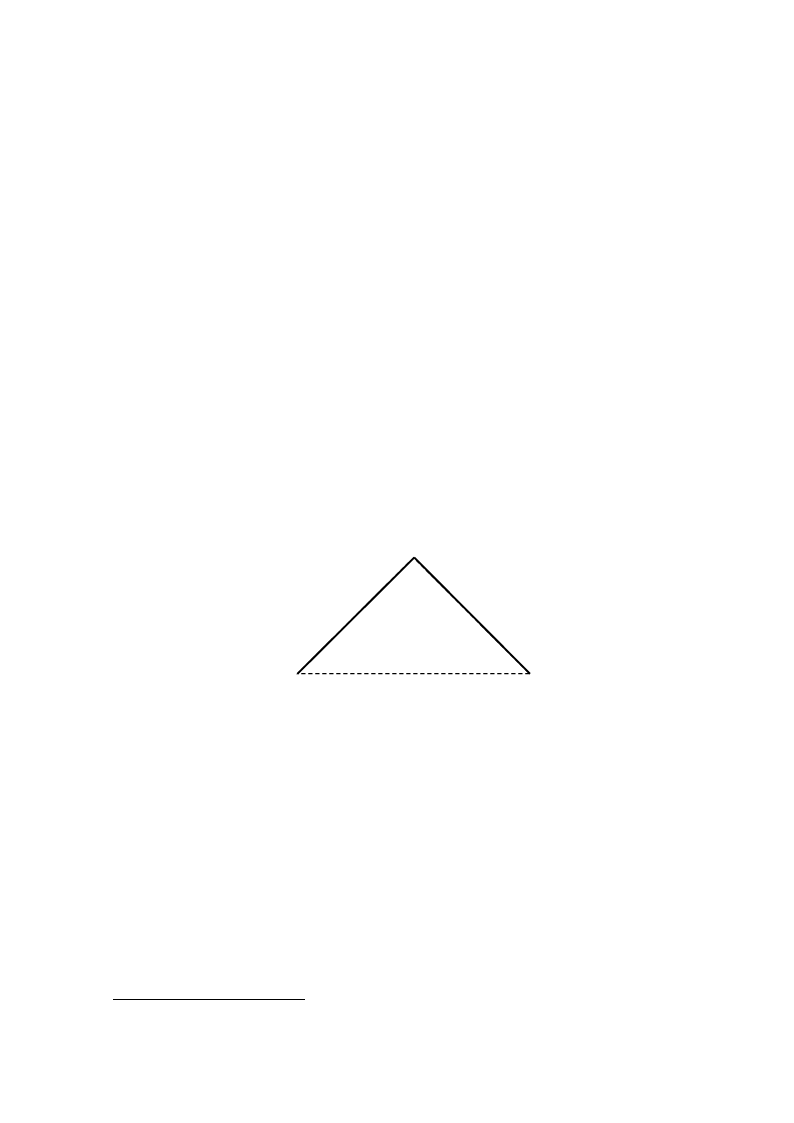
48
O meio ambiente mental vem sendo abordado por Chomsky e sua Gramática
Gerativista desde a década de 60. Também pela Psicolinguística, a Neurolinguística, a
Biolinguística, o Conexionismo, etc. Ainda assim, este é o ecossistema menos aprofundado,
devido à dificuldade de se ter acesso aos dados para análise.
2.1.3.4 O Ecossistema Fundamental da Língua (EFL)
Os ecossistemas mental, social e natural, em conjunto, formam um quarto, o
Ecossistema Fundamental da Língua (EFL) ou Ecossistema Fundacional da Língua. Essa é
uma perspectiva genérica, uma vez que cada pesquisador irá determinar qual é o EFL com o
qual deseja trabalhar. Assim, essa noção consiste de um ecossistema mental (M) que
intermedeia a relação entre um ecossistema social (S) e um ecossistema natural (N), conforme
representado na Figura 15.
Figura 15 – Ecossistema fundamental da língua
Meio ambiente
mental
Meio ambiente
social
Meio ambiente
natural
Fonte: Elaborado pela autora com base em COUTO, 2013.
É nesse ecossistema que os outros três confluem, constituindo uma visão holística da
interação linguística. Nesse sentido, o EFL pode ser entendido, genericamente, como
comunidade – de língua, de fala ou, até mesmo, de prática12.
De acordo com Couto & Couto (2013), as relações que se estabelecem dentro do EFL
são regidas por um conjunto de regras, tanto interacionais quanto sistêmicas. “Na verdade, as
regras sistêmicas (gramática) são parte das interacionais. Tanto as primeiras quanto as
segundas existem para eficácia da interação comunicativa” (COUTO, 2014, p. 31).
12 WENGER, E. Communities of Practice – learning, meaning and identity. Cambridge: Cambridge University
Press, 1998.

49
2.1.4 Análise do Discurso Ecológica (ADE)
A partir dessa perspectiva ecolinguística, ganha espaço uma nova abordagem ao
discurso, que foge ao que comumente é estudado pelas vertentes francesa e anglo-saxã da
Análise do Discurso, doravante AD. Para a Ecolinguística, abordar apenas o sócio-ideológico
– as condições de produção do discurso – contemplaria, majoritariamente, o aspecto social e,
minimamente, o mental e o natural. Assim, a ela propõe outra possibilidade de análise dos
enunciados: a Análise do Discurso Ecológica (ADE).
Segundo Couto (2014), para realizarmos uma análise que nos permita entender de que
maneira o discurso coloca (ou não) em risco as inter-relações entre indivíduos e meio(s)
ambiente(s), é necessário que coloquemos em segundo plano qualquer ideologia que não parta
de uma noção ecológica. Isso não significa negar a existência de ideologias oficiais
relativamente estáveis, ou seja, os sistemas ideológicos constituídos, tais como a arte, religião,
moral, direito, educação, etc., mas focar numa ideologia ecológica ou ideologia da vida. “O
que a ADE propõe é diferente, ela não faz apenas análise de discurso ecológico, antiecológico
ou pseudo-ecológico. Pelo contrário, ela faz análise ecológica de discurso” (COUTO, 2014, p.
31-32).
Essa noção de ideologia da vida traz em sua constituição um caráter de dinamicidade,
submetendo-se ao eterno fluxo que constitui as inter-relações estabelecidas entre os seres. É
impossível definir “vida” sem se portar como tradutor (SANTOS, 2004), uma vez que apenas
na vivência cotidiana é possível apreender o que esse termo significa para uma determinada
comunidade. Vida não é, portanto, ausência de morte, mas o equilíbrio, a manutenção da
homeostase e, por vezes, distúrbios que ampliam a complexidade do sistema. Para que um
organismo se mantenha vivo, por exemplo, milhares de células dele precisam morrer
diariamente.
Trabalhar esse conceito num aspecto micro pode até ser simples. Mas, o que fazer, por
exemplo, diante de uma etnia indígena que mata as crianças que nascem com uma doença
congênita? A partir de um viés eco, todo sistema deve ser respeitado em suas peculiaridades.
Isso significa que se esse determinado ecossistema está estável e nenhum de seus integrantes
questiona esse comportamento, interferir nele, impondo outra perspectiva ideológica, não
passaria de uma forma de colonialismo. Agora, a partir do momento em que um dos membros
da etnia começa a questionar essa atitude, um distúrbio se estabelece. É aí que o analista do
discurso ecológico ganha relevância, uma vez que possui o papel de demonstrar que existem

50
outras possibilidades para resolver situações como essa, contribuindo para que o ecossistema
dê um salto de complexidade e encontre um novo equilíbrio.
Nesse sentido, para realizar uma análise do discurso ecológica é necessário mapear em
que medida os discursos sobre o ecossistema estudado estão de acordo (ou não) com os
preceitos ecológicos. Para tanto, usa-se como categorias de análise os conceitos centrais do
ecossistema (diversidade, holismo, inter-relações, evolução, etc.), desenvolvidos
anteriormente.
2.2 ANTROPOLOGIA DO IMAGINÁRIO
Ao longo da história da sociedade ocidental, a imagem e a função imaginante foram
constantemente desvalorizadas, acusadas de serem fomentadoras de erros e falsidades. O
pensamento grego – socrático – e o Cristianismo fizeram com que a imagem fosse relegada,
desvalorizada, incapaz de dar conta da verdade. Segundo Durand (1998), é possível destacar
três momentos históricos que contribuíram para a construção do iconoclasmo: (1) o
monoteísmo e, consequentemente, a proibição de se criar qualquer imagem que almejasse
substituir o divino; (2) a escolástica medieval, que tinha, como principal objetivo, conciliar a
fé cristã com o pensamento racional da filosofia grega; (3) a fundação da física moderna por
Galileu e Descartes, que consideravam a razão como o único meio de se ter acesso à verdade.
Assim, relegada a segundo plano, considerada a “louca da casa”, a imaginação e o
imaginário foram encarados como fantasia, ilusão e, até mesmo, irracionalidade. Aquilo que
era oposto ao real e que deveria ficar restrito ao meio artístico em geral. Entretanto, a imagem
possui um papel que vai muito além daquilo que apregoam os iconoclastas. Ela representa
uma espécie de intermediária “[…] entre um inconsciente não manifesto e uma tomada de
consciência ativa” (DURAND, 1998, p. 36). Uma vez que simbolizar faz parte da própria
condição humana, esse nível de expressão possui um papel essencial, sendo a raiz de tudo
aquilo que existe para o indivíduo.
Imaginação e imaginário não podem ser entendidos como a mesma coisa. A primeira
é a faculdade de perceber, distinguir e memorizar as imagens dos objetos do mundo concreto;
o segundo é o modo como essa faculdade é operacionalizada, ou seja, o modo como as
imagens são estruturadas. O imaginário é “o conjunto das imagens e de relações de imagens
que constitui o capital pensado do homo sapiens” (DURAND, 2002, p. 18). Essa
operacionalização promovida pelo imaginário se dá por meio do trajeto antropológico do

51
imaginário, entendido como “a incessante troca que existe ao nível do imaginário entre as
pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e
social” (DURAND, 1997, p. 41). Ou seja, o imaginário é o próprio trajeto que se estabelece
no processo entre a percepção imagética e a acomodação do objeto percebido aos imperativos
pulsionais do sujeito, o que acontece ciclicamente, uma vez que, ao perceber algo, o indivíduo
já se encontra acomodado ao meio objetivo.
A partir dessa concepção, é possível perceber que o imaginário não está determinado
pelo aspecto biológico ou social, mas que se constitui no entremeio deles. Ou seja, não há
uma problemática ontológica acerca da origem do imaginário. “Assim, o trajeto antropológico
pode indistintamente partir da cultura ou do natural psicológico, uma vez que o essencial da
representação e do símbolo está contido entre esses dois marcos reversíveis” (DURAND,
1997, p. 42). De acordo com Couto (2012), Durand escolhe o termo trajeto com o intuito de
privilegiar o processo em que o indivíduo, diante de todas as imagens que já recebeu ao longo
de sua vida, escolhe e combina algumas delas e não outras. Nesse sentido, o imaginário se
constitui como um sistema complexo, auto-organizador, que funciona de acordo com a
dinamicidade do pensamento do indivíduo.
Foi em W. Becherev que Durand buscou apoio para sustentar sua teoria e
classificação. A reflexologia da Escola de Leningrado apontou a existência de dois reflexos
dominantes no recém-nascido: o postural e o deglutivo. Posteriormente, uma terceira
dominante foi acrescentada ao esquema, a copulativa. Conforme aponta Durand (1997), as
dominantes têm um caráter imperialista, uma vez que são inatas e agem como um princípio de
organização do imaginário. A dominante de posição se dá na tentativa de colocar o corpo na
posição vertical, levantar a cabeça e ter noções sobre a horizontalidade e a verticalidade. A
dominante deglutiva ou de nutrição se manifesta no reflexo de sucção e na perfeita orientação
de cabeça do recém-nascido em busca de alimento. A dominante copulativa está vinculada ao
reflexo sexual, possuindo um determinado ciclo e movimentos rítmicos. A partir dessa
perspectiva, é possível chegar à conclusão de que todo o corpo tem participação na
constituição das imagens. É, portanto, no nível da integração das dominantes reflexas que as
representações se integram e que os grandes símbolos se constituem.
2.2.1 Regimes do imaginário
A partir do estudo das dominantes reflexas, Durand (1997) percebeu que as imagens
poderiam ser agrupadas em dois grandes grupos distintos e estabeleceu os regimes das
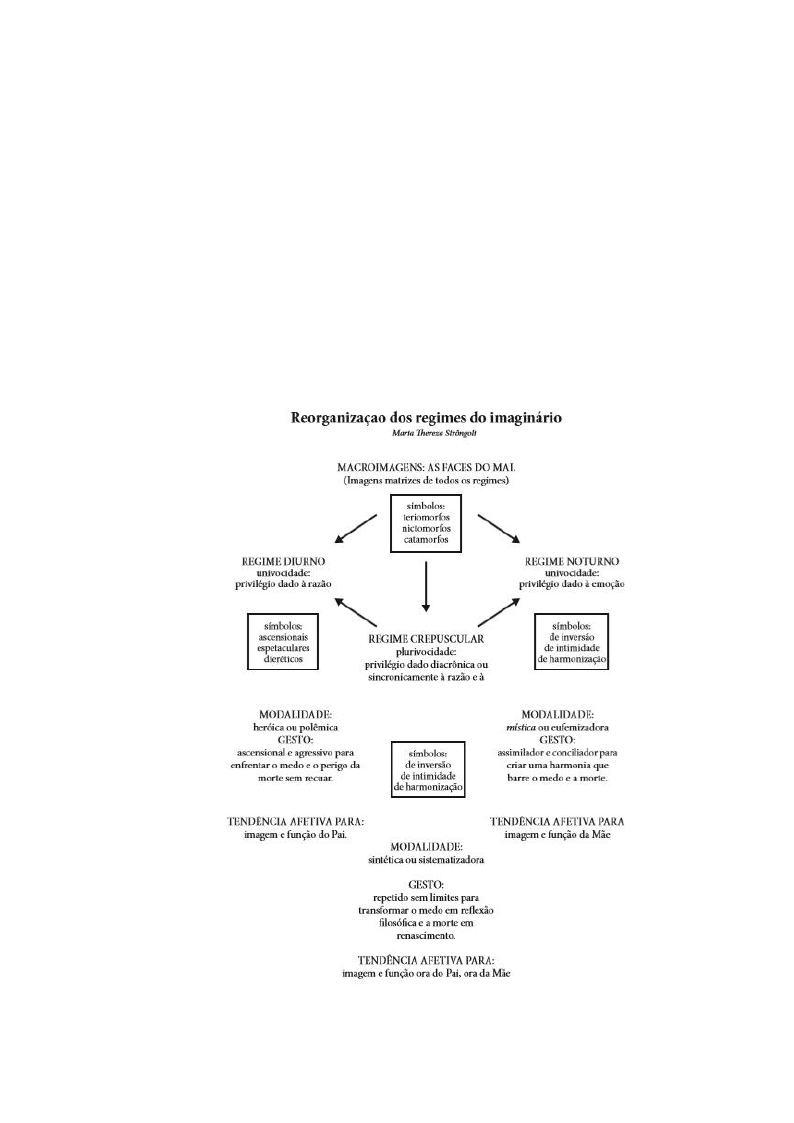
52
imagens, por meio dos quais os indivíduos organizam e dinamizam o universo. O regime
diurno, caracterizado pela luz, agrupa símbolos que se relacionam à ascensão e à queda. O
regime noturno, caracterizado pela noite, relaciona-se com a busca da harmonia dos opostos,
da eufemização e da intimidade. Posteriormente, Strôngoli (1997, 2000, 2014) postulou, com
o aval de Durand, a existência de um terceiro regime, o crepuscular, que se relaciona com o
movimento cíclico do tempo. Cada regime possui seus próprios símbolos, modalidades,
gestos e tendências afetivas, conforme esclarece Strôngoli (2014) no diagrama abaixo (Figura
16).
Figura 16 – Regimes do Imaginário
Fonte: STRÔNGOLI in COUTO et al., 2014, p. 81

53
O Regime Diurno se organiza em torno das imagens de ascensão, heroicas, que
enfatizam as situações opostas ou de contradição; ao passo que o Noturno enfatiza as imagens
místicas, de complementação ou harmonização. O Regime Crepuscular condensaria as
imagens da síntese, cíclicas ou rítmicas, que ora indicariam algo, ora o contrário. É importante
destacar que os regimes não podem ser entendidos como agrupamentos rígidos de imagens,
uma vez que as estas podem agregar diversos sentidos. Assim, a água, por exemplo, pode se
inserir em qualquer um desses regimes, de acordo com os aspectos que apresenta e os sentidos
que estão impregnados nela.
2.2.2 Schèmes, arquétipos, símbolos e mitos
A percepção de que existe uma memória da experiência da humanidade, revelada a
partir da semelhança entre as imagens e os mitos de diversas culturas, permitiu a Jung (2007)
propor o conceito de inconsciente coletivo, estruturado pelos arquétipos e fundamentado nos
schèmes. Estes são anteriores às imagens e estabelecem o vínculo entre os gestos
inconscientes (dominantes reflexas) e as representações; aqueles são as imagens primeiras, de
caráter coletivo e inato, que se expressam em imagens simbólicas e coletivas (PITTA, 2005).
Ou seja, os schèmes formam um esqueleto dinâmico e funcional da imaginação que será
preenchido pelos arquétipos de acordo com o contato com o meio natural e social.
Indo um pouco mais adiante na teoria durandiana, temos o símbolo, entendido como
a tradução dos arquétipos dentro de um contexto social específico, ou seja, caracteriza-se por
uma polissemia inesgotável. Assim, os arquétipos podem se vincular às mais diferentes
imagens, de acordo com as determinações culturais. Enquanto isso, o símbolo é prenhe de
sentido, polivalente. “Enquanto o arquétipo está no caminho da idéia e da substantificação, o
símbolo está simplesmente no caminho do substantivo, do nome, e mesmo algumas vezes do
nome próprio” (DURAND, 1997, p. 62).
Um sistema dinâmico de símbolos, arquétipos e schèmes constitui o mito, a partir do
qual é possível verificar a dinâmica das trocas de imagens míticas. O mito é uma narrativa
dinâmica de imagens que opera ao nível das imagens naturais – sugeridas pela situação
psicofisiológica – e dos símbolos sociais. “O mito é um relato fundante da cultura: ele vai
estabelecer as relações entre as diversas partes do universo, entre os homens e o universo,
entre os homens entre si” (PITTA, 2005, p. 18). Pode ser considerado universal, na medida
em que cada sociedade apenas deriva os schémes e arquétipos naturais que o estruturam.

54
A derivação é uma das faces do mito, assim como a perenidade e o desgaste. Na
perenidade, parte do mito que se mantém inalterada durante um longo espaço de tempo.
Dependendo da comunidade, alguns mitos são mais perenes que outros. A derivação pode ser
entendida como as mudanças que ocorrem no interior dos mitos, uma vez que “[…] a
estrutura dos mitos está sempre preenchida ‘pela raça, pelo meio e pelo momento’”
(DURAND, 1996, p. 97). Ou seja, aponta as roupagens das quais os mitos se revestem, uma
vez que são, incessantemente, preenchidos por elementos diferentes. Por fim, temos o
desgaste, que ocorre quando a derivação vai longe demais, o que pode acontecer a partir do
excesso de denominação ou pelo excesso de conotação e, nesse caso, impossibilidade de
nomear. “[…] o mito, sendo sempiterno e mantendo-se numa semântica fixada de uma vez
por todas, nunca desaparece. Mas ele desgasta-se, o que significa que existem, no movimento
temporal do mito, períodos de inflação e de deflação” (DURAND, 1996, p. 97).
É no sermo mythicus, na narrativa mítica, que as imagens se atualizam, repercutem e
reproduzem as lições e os questionamentos da humanidade. O mito se constitui a partir da
repetição, ou seja, pela redundância de ideias-chave, os mitemas. Estas são a menor unidade
significante do mito, do qual podem fazer parte substantivos, atributos, verbos, etc. É a partir
do levantamento dos mitemas que se torna possível alcançar os mitos diretores de
determinados discursos. Isso se dá porque, apesar de os mitos surgirem a partir de um
discurso dilemático, eles sofrem um processo de racionalização que faz com que sua
pregnância mítica seja reduzida.
2.2.3 Tópica sociocultural durandiana
O processo de redução da pregnância mítica de um discurso foi abordado por Durand
(1983) em sua tópica sociocultural (Figura 17). Apropriando-se das teorias freudianas, ele
aponta que qualquer sociedade se estabelece a partir de três níveis: o primeiro é o nível
fundador, o isso psicóide, constituído a partir do inconsciente coletivo e com o qual se devem
relacionar os mitos; o segundo é o nível actancial, o ego societal, formado pelos atores do
jogo social, as funções, as hierarquias, as castas, as estratificações, etc., ou seja, é o nível da
representação social; por fim, temos o nível de máxima racionalidade, o superego, onde se
encontram os discursos unívocos, as conceitualizações, as sistematizações e as classificações.
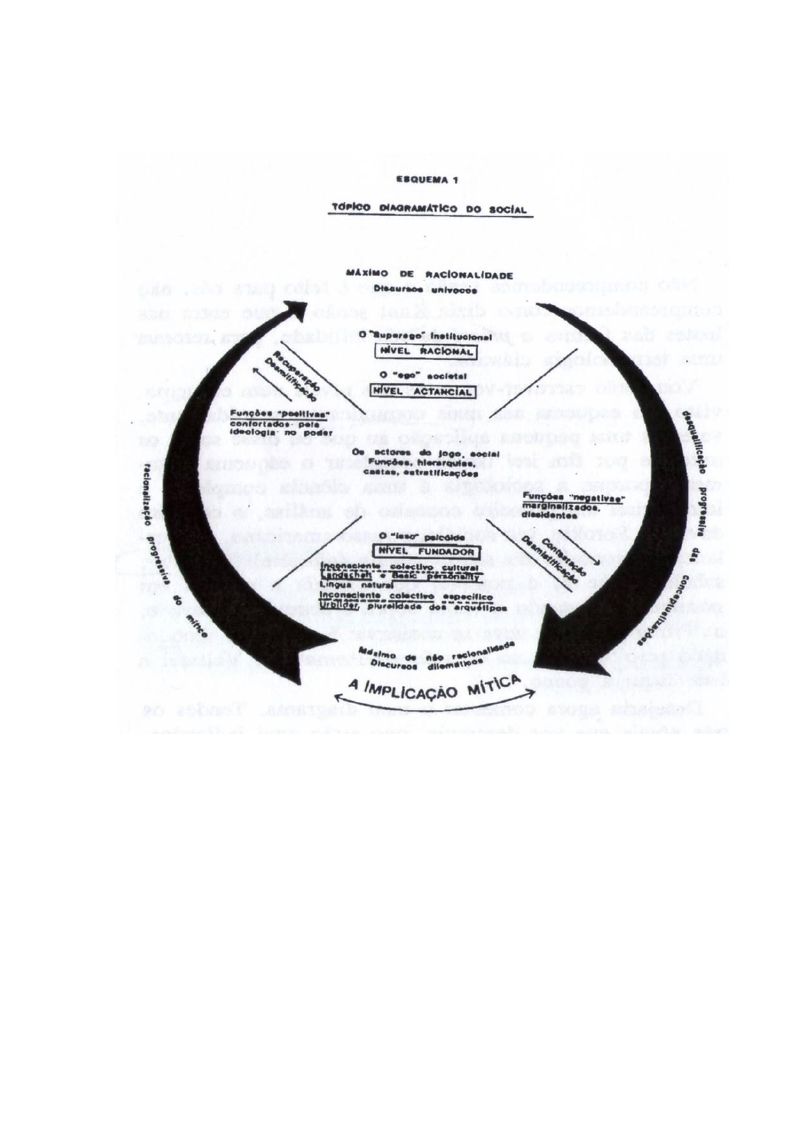
55
Figura 17 – Tópica diagramático do social
Fonte: DURAND, 1983, p. 8
A tópica cultural durandiana se movimenta ciclicamente. Dessa forma, o mito
patente de uma determinada sociedade está ancorado em outros mitos latentes, que podem
emergir (ou não) com o passar dos anos – isso acontece a partir dos processos de desgaste,
derivação e perenidade apontados anteriormente. Assim, o imaginário dominante (patente)
reprime o imaginário em potencial, impedindo que ele venha à tona. “Como observamos nas
tensões sistêmicas dos elementos da tópica, tanto o imaginário oficial codificado e manifesto
quanto o seu oposto, o imaginário recalcado, ‘selvagem’ e latente, necessitam de uma
dinâmica que responda pela mudança” (DURAND, 1998, p. 99).

56
A essa dinâmica, Durand deu o nome de bacia semântica, onde se encontram latente
os sentidos e significados que damos ao mundo. A bacia semântica é dividida em seis fases:
escoamento, divisão das águas, confluências, nome do rio, organização dos rios, deltas e
meandros. O escoamento se constitui por pequenas correntes descoordenadas e antagônicas
onde se formam novos imaginários, novas mudanças estruturais. A divisão de águas ocorre
quando os escoamentos se unem, opondo-se aos estados imaginários precedentes. As
confluências se dão quando diversas correntes fluem para um leito principal, consolidado, em
busca de apoio para ser reconhecida. O nome do rio se dá quando um personagem real ou
fictício ou um elemento simbolizador se mitifica e passa a caracterizar a bacia semântica
como um todo. Na organização dos rios, há uma consolidação teórica dos fluxos imaginários
devido aos exageros dados pelos “segundos fundadores” a certas características da corrente. A
última etapa, deltas e meandros, ocorre quando a corrente se desgasta, satura-se, deixando-se
penetrar por novos escoamentos anunciadores de uma outra bacia semântica. Todo esse
percurso dura, em média, entre cento e cinquenta e cento e oitenta anos.
Uma duração justificada, por um lado, pelo núcleo de três ou quatro
gerações que constituem as informações “à boca pequena”, o “ouvi dizer
que” família entre o avô ou o mais velho e o neto, ou seja numa continuidade
de cem a cento e vinte anos à qual acrescenta-se, por outro lado, o tempo da
institucionalização pedagógica de cinquenta a sessenta anos, que permite ao
imaginário familiar, sob a pressão de eventos extrínsecos (a usura da “bacia
semântica”, as profundas mudanças políticas, as guerras etc.), se transformar
num imaginário mais coletivo e invadir a sociedade ambiental global
(DURAND, 1998, p. 115-116).
2.2.4 Mitodologia durandiana
O método de análise do imaginário desenvolvido por Durand é composto por duas
técnicas de investigação: a mitocrítica e a mitanálise. A mitocrítica analisa uma obra ou um
texto a partir das redundâncias que remetem aos mitos diretores em ação. “O mito decompõe-
se em alguns ‘mitemas’ indispensáveis que lhe conferem sincronicamente o sentido
arquetípico, mas, diacronicamente, ele é apenas constituídos pelas ‘lições’ […]
circunstanciadas por esse acolhimento, essa leitura muito particularizada” (DURAND, 1996,
p. 155). O método da mitocrítica se constitui de três etapas para decompor os mitemas: (i)
relacionam-se as recorrências simbólicas; (ii) examinam-se as situações e as combinatórias de
situações; (iii) localiza-se as diferentes lições do mito (FERREIRA-SANTOS; ALMEIDA,
2012).
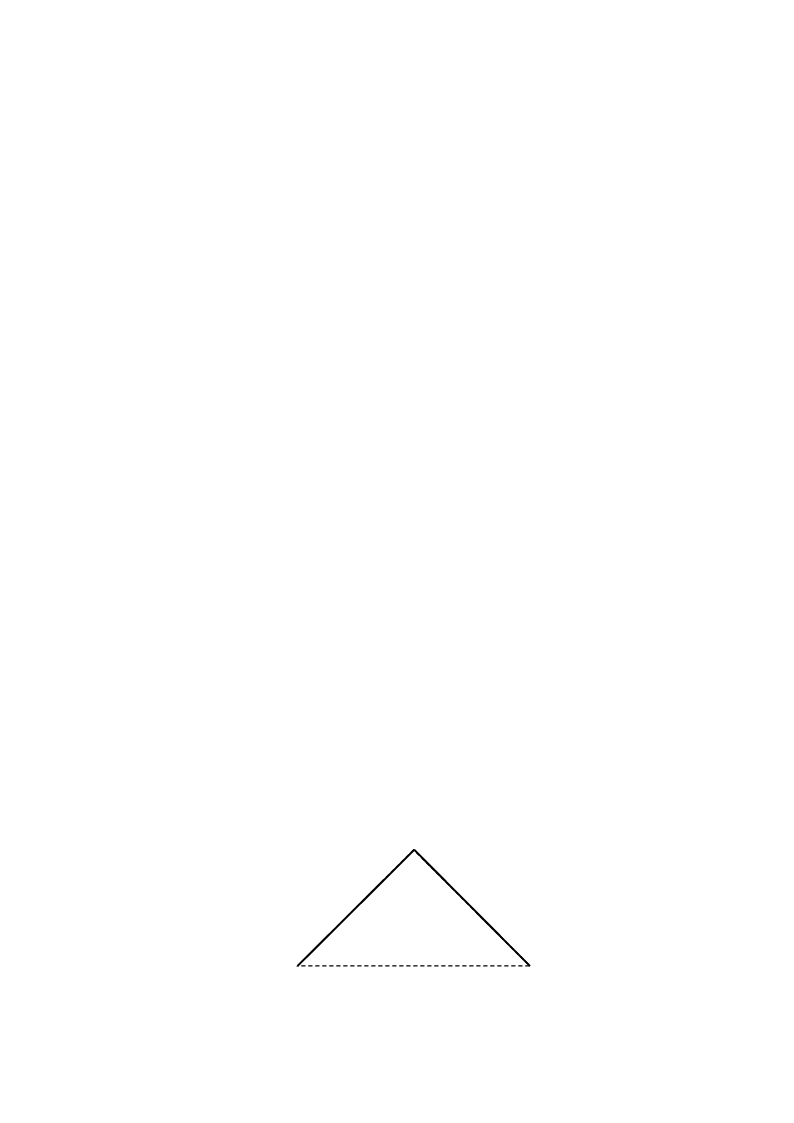
57
A mitanálise, por outro lado, vai situar os resultados da mitocrítica em um contexto
sociocultural definido, numa tentativa de delimitar os mitos diretores de momentos históricos
e grupos sociais. “Empreende-se uma mitanálise analisando as diferentes manifestações –
artísticas, ideológicas, organizacionais – do fenômeno social, o que possibilita estudar as
relações entre o individual e o coletivo, tanto no nível patente quanto latente das recorrências
míticas” (FERREIRA-SANTOS; ALMEIDA, 2012, p. 112).
2.3 ECOLINGUÍSTICA E IMAGINÁRIO: RELAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS
Ainda que aparentemente desconexas, a ecolinguística e a antropologia do imaginário
são teorias que possuem um profundo vínculo epistemológico. De acordo com Silva (2014), a
relação entre elas se estabelece pelo fato de que ambas partem da mesma base estrutural – a
relação corporal que o ser humano estabelece com o seu meio – para compreender como o
homem conhece e significa aquilo que o circunda.
Conforme apontado no início desse capítulo, tanto a Ecolinguística quanto a
Antropologia do Imaginário entendem o indivíduo como um ser biopsicossocial. A primeira
se ocupa das relações entre língua e meio ambiente e se constitui pelos meio ambientes
natural, mental e social. A antropologia do imaginário, por sua vez, parte de uma lógica
semelhante e estuda o modo como o indivíduo significa e constrói símbolos, imagens
primordiais e mitos a partir da relação que estabelece com os meios social e cósmico (Figura
18), sendo que este último pode ser compreendido como o meio ambiente natural trabalhado
pela Ecolinguística.
Figura 18 – Trajeto antropológico do imaginário
Pulsões
subjetivas
Intimações do
meio social
Fonte: Elaborado pela autora
Intimações do
meio cósmico

58
Entretanto, as duas teorias se distanciam à medida que possuem focos diferenciados. A
Ecolinguística está voltada para o meio ambiente natural da língua, “numa preocupação de
voltar a esse movimento originário da relação do homem com o seu meio ambiente físico”
(SILVA, 2014, p. 228). A antropologia do imaginário, por outro lado, foca no meio ambiente
mental, entendendo que este seria composto, essencialmente, por símbolos, resultantes da
nossa capacidade de nos apropriamos e moldarmos os estímulos externos que nos afetam.
[…] na antropologia do imaginário o símbolo, ou imagem, que é seu objeto
de análise mínimo, é compreendido como uma inscrição na língua humana
desse “vínculo afetivo-representativo que liga um locutor ao alocutário e que
os gramáticos chamam ‘o plano locutório ou interjetivo’” (Durand 2002: 31),
e que ocorre como evento na interação, no diálogo face a face. Nessa
perspectiva, o símbolo seria esse rastro mais primitivo, ou mais
representativo do evento em si, dessa relação entre locutores reais, ou entre
pessoas e o mundo a sua volta, que na língua aparece apenas como
representação (SILVA, 2014, p. 227).
Nesse sentido, ao invés de se antagonizarem, essas teorias se complementam e podem
contribuir para a compreensão das relações ecossistêmicas que o ser humano estabelece com o
meio que os circunda. Ao entenderem o ser humano como um ser biopsicossocial e partirem
de uma perspectiva ecossistêmica, essas teorias recusam uma concepção ontológica, onde um
aspecto seria considerado a origem de determinado fenômeno.
Tendo esse referencial como suporte, torna-se impossível ordenar o movimento
estrutural da mudança realizada na escola analisada, estabelecendo se este foi primeiro social
e depois mental ou primeiro natural e depois social. Essa ordem, na verdade, possui pouca
relevância para o estudo realizado aqui. Afinal, a partir de uma concepção da complexidade
ecológica, foi a integração de todos os meios ambientes que permitiu que um modelo
organizacional diferente se estabelecesse e funcionasse na EMDAL.
Além disso, conforme veremos no próximo capítulo, a partir do referencial teórico
aqui apresentado, seremos capazes de determinar em que medida a escola pioneira em questão
se constitui como uma instituição de ensino ecossistêmica, ou seja, pautada nos princípios da
Ecologia Profunda e com práticas e discursos que se fundamentam nos conceitos centrais de
um ecossistema.

59
CAPÍTULO 3
A CONSTITUIÇÃO DE UMA ESCOLA ECOSSISTÊMICA
Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades
para a sua própria produção ou a sua construção.
Paulo Freire
A partir do arcabouço teórico desenvolvido até aqui, esse capítulo tem, como principal
objetivo, analisar em que medida as práticas desenvolvidas pelas escolas pioneiras podem ser
encaradas como ecossistêmicas, ou seja, se pautam nos princípios da comunhão e da
interação, buscando promover relações mais harmoniosas dos indivíduos entre si e com o
meio ambiente físico onde se encontram. Para tanto, selecionamos seis práticas principais que
diferenciam a EMDAL das escolas tradicionais. São elas: a área aberta, o trabalho com
roteiros, os estudos de grupo, as rodas de conversa, a participação dos pais e a realização
social do trabalho. Como é possível perceber, esses métodos não são exclusivos da EMDAL,
mas aqui se constituem como regra enquanto possuem um caráter de exceção nas escolas
tradicionais.
Nesse sentido, analisaremos de que forma as práticas discursivas colocadas em
circulação pela escola evidenciam os aspectos ecológicos trabalhados no capítulo anterior.
Para tanto, tomaremos como fundamento teórico a Análise do Discurso Ecológica (ADE) e os
estudos da Antropologia do Imaginário. Conforme apontamos anteriormente, a ADE se
apropria dos conceitos centrais da Ecolinguística e os utiliza como categorias de análise dos
discursos colocados em circulação. Uma vez que a EMDAL conclama formas diferenciadas
de inter-relações, buscou-se analisar de que modo os enunciados colocados em circulação
evidenciam tal fato. Com a Antropologia do Imaginário, por meio do estudo dos regimes das
imagens, pretendeu-se dar conta dos aspectos ecológicos vinculados ao meio ambiente mental
dos atores educacionais.
Para realizarmos essa análise, recorremos ao Projeto Político Pedagógico (PPP) –
aprovado em 2005 e em vigor desde então –, ao diário de campo da pesquisadora e às
imagens/fotografias coletadas ao longo da pesquisa. O objetivo aqui foi mostrar de que forma
as práticas discursivas se organizam com o intuito de proporcionar a constituição de relações
diferenciadas dentro desse ambiente, enaltecendo o respeito à criança, à diversidade, à
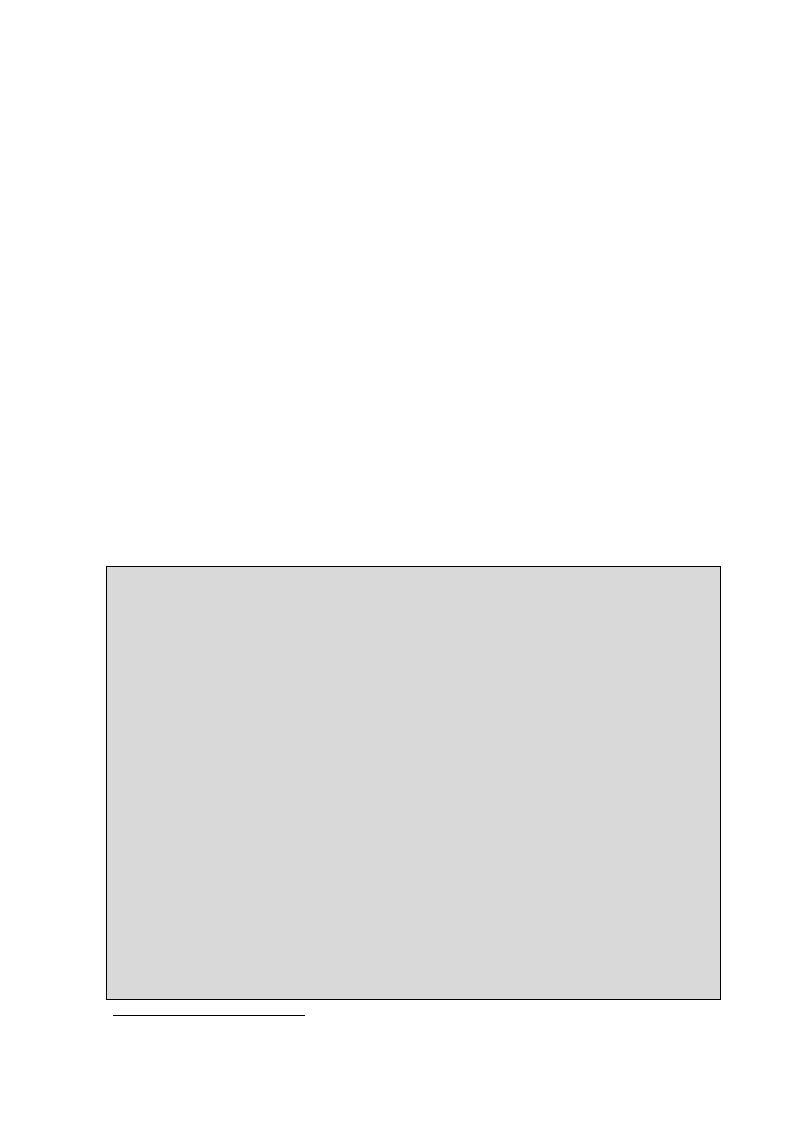
60
personalidade e o incentivo à busca pela autorrealização de todos os atores educacionais. Esse
último aspecto fica evidente a partir da análise do mito diretor dessa instituição, conforme
veremos adiante.
3.1 PRINCÍPIOS DE UMA ESCOLA ECOSSISTÊMICA
Uma escola ecossistêmica deve ter uma visão englobante e de longo prazo, tal como
apregoa a Ecologia Profunda, proposta por Naess (1973), focando na autorrealização de seus
educadores/educandos. Deve defender a autonomia dos indivíduos e o respeito às diferenças,
combatendo qualquer tipo de discriminação. Em suma, deve agir em defesa da vida e ser
contrária ao sofrimento dos seres vivos, conforme foi apontado anteriormente, nos
fundamentos teóricos da Análise do Discurso Ecológica. Nesse sentido, enquadra-se nos
princípios da Plataforma do Movimento da Ecologia Profunda (Quadro 1), proposta por Naess
& Sessions (1984).
Quadro 1 – Princípios da Ecologia Profunda
Princípios da Plataforma do Movimento da Ecologia Profunda13
1. O bem-estar e o florescimento da vida humana e da não humana sobre a terra têm valor em si
próprios. Esses valores são independentes da utilidade do mundo não humano para propósitos
humanos;
2. A riqueza e a diversidade das formas de vida contribuem para a realização desses valores e são
valores em si mesmas.
3. Os humanos não têm nenhum direito de reduzir essa riqueza e diversidade, exceto para satisfazer
necessidade humanas vitais.
4. O florescimento da vida humana e das culturas é compatível com uma substancial diminuição na
população humana. O florescimento da vida não humana exige essa diminuição.
5. A interferência humana atual no mundo não humano é excessiva, e a situação está piorando
rapidamente.
6. As políticas precisam ser mudadas. Essas políticas afetam estruturas econômicas, tecnológicas e
ideológicas básicas. O estado de coisas resultante será profundamente diferente do atual.
7. A mudança ideológica é basicamente a de apreciar a qualidade de vida (manter-se em situações de
valor intrínseco), não a de adesão a um sempre crescente padrão de vida. Haverá uma profunda
consciência da diferença entre grande (big) e importante (great).
13 (COUTO, 2012, p. 55-56).
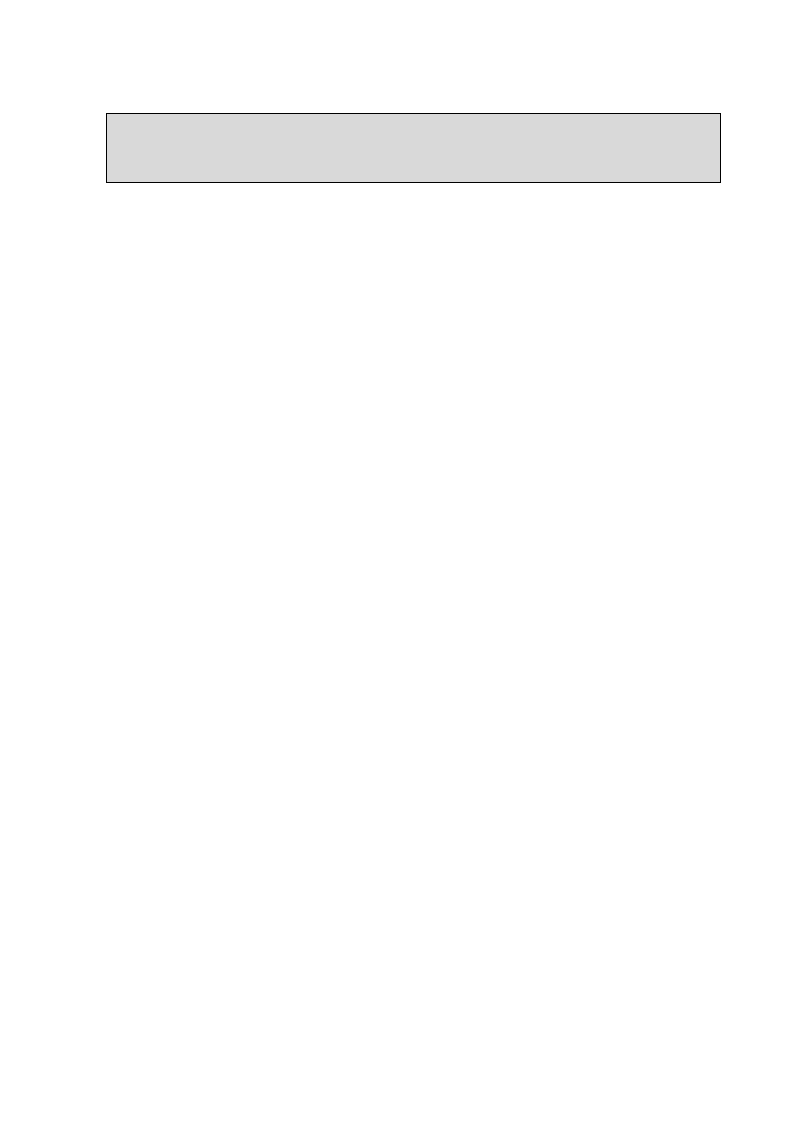
61
8. Aqueles que subscrevem os pontos precedentes têm a obrigação de tentar implementar, direta ou
indiretamente, as mudanças necessárias.
Assim, é possível dar um passo importante na compreensão de como os indivíduos que
fazem parte da EMDAL constroem para si uma realidade baseada na noção da
autorrealização, ou seja, a realização do eu como parte de um todo, sendo que este todo é
formado tanto pelos seres humanos quanto pela natureza. Essa perspectiva só é possível na
medida em que o indivíduo tem a possibilidade de se identificar plenamente consigo mesmo
(meio ambiente mental), com o outro (meio ambiente social) e com a natureza (meio ambiente
natural), no que poderia ser compreendido como uma comunhão cósmica.
Vejamos, a seguir, como determinadas práticas desenvolvidas pela EMDAL permitem
que essa escola possa ser categorizada como ecossistêmica.
3.1.1 Escola de área aberta
A primeira diferença que um visitante percebe ao caminhar pela EMDAL é a
distribuição do espaço escolar. As salas dos alunos estão dispersas por todo o prédio,
inclusive em frente à sala da diretora. Esse modelo arquitetônico é semelhante às escolas de
área aberta de Portugal, nas quais essa instituição se inspirou. O prédio da EMDAL possui
três andares. No térreo estão as salas de informática, artes, algumas salas de aula, a sala dos
professores, a coordenação, a diretoria, a biblioteca, além do refeitório, de um grande pátio
onde são realizados encontros com pais, professores, etc., e de uma pequena área coberta
reservada para as aulas de percussão.
A partir do pátio coberto, tem-se acesso às escadas que levam ao primeiro andar. Lá
estão as salas de aula do 1º ano, o laboratório – local onde os alunos realizam experimentos
ou participam de algumas oficinas – e o salão ocupado pelos demais alunos do Ciclo 1 (2º, 3º
e 4º anos). Esse espaço foi formado a partir da derrubada das paredes que separavam três salas
de aula, abrindo uma área para que os alunos pudessem unir as mesas e trabalhar em grupo.
Mais um lance de escada e o visitante chega ao último andar, onde estão o grande
salão, que abriga os alunos do Ciclo 2 (5º ao 9º ano), e uma sala onde são realizadas oficinas
como as de Português, Matemática, Atualidades, Grego, Latim, etc. O grande salão foi
formado a partir da derrubada de paredes que separavam quatro salas, formando um grande
espaço que permite que os alunos também se reúnam em grupos.
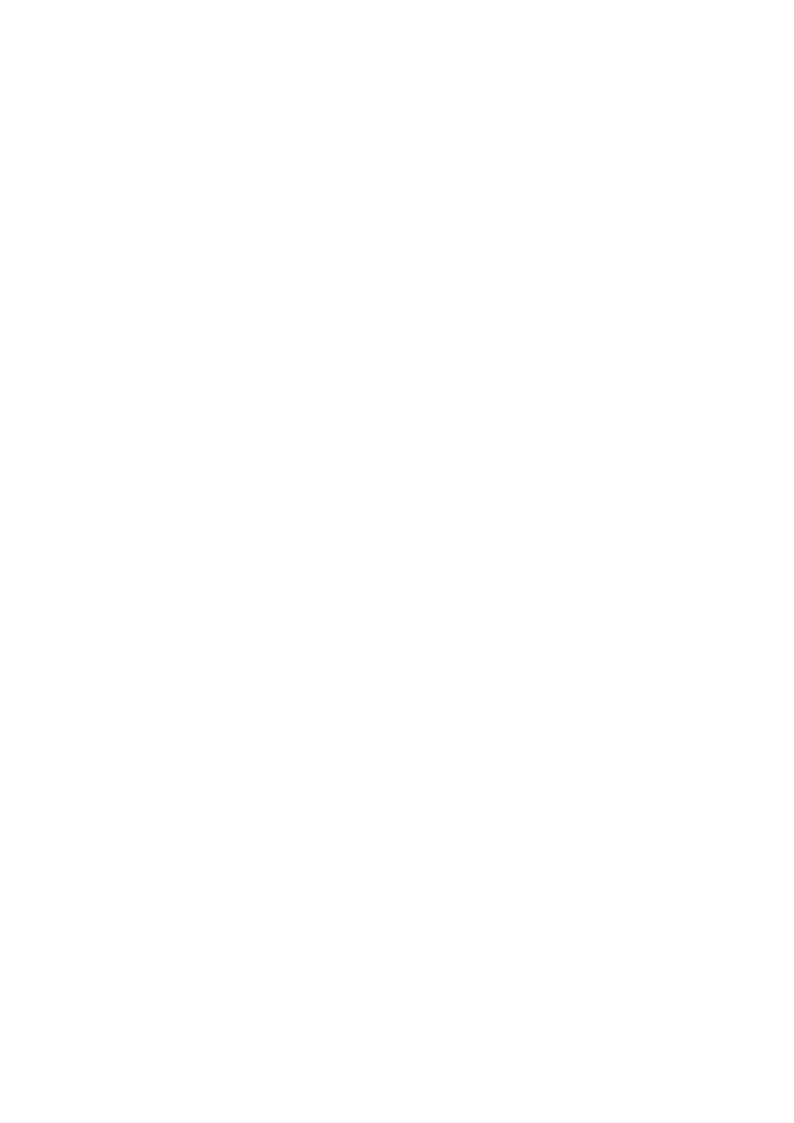
62
Além das mudanças estruturais, a diretora também fez outras alterações que
transformaram a escola. Quando ela chegou à EMDAL, a escola era toda cinza e cheia de
grades espalhada pelos pátios. Com o intuito de modificar essa perspectiva, ela pintou as
portas e janelas da escola com a cor laranja e retirou todas as grades, permitindo que as
crianças tivessem livre acesso a todas as áreas da escola.
No aspecto simbólico, a cor da escola exerce um papel importante. O cinza é um
símbolo da morte, do pó que permanece depois que algo é queimado. Também pode ser
considerado um símbolo da ressurreição, uma vez que está vinculado à purificação e ao
renascimento, já que a Fênix renasce das cinzas. A cor laranja, por outro lado, é um meio-
termo entre as cores amarelo e vermelho e representa o equilíbrio entre o espírito e a libido
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 1988, p. 27). “Esse equilíbrio, segundo tradições que
remontam ao culto da Terra-Mãe, era buscado na orgia ritual, que devia conduzir à revelação
e à sublimação iniciatórias”. Trata-se, portanto, de uma cor que estabelece um chamado para o
rito de iniciação, para a morte que traz o renascimento da Fênix, uma ave que possui a
plumagem com as cores do fogo: amarelo, alaranjado e vermelho.
A derrubada das paredes e das grades da EMDAL foi essencial para a constituição de
uma instituição de ensino ecossistêmica. Primeiro, porque permitiu que as interações entre os
constituintes desse ecossistema fluíssem de forma mais dinâmica. Se todos os alunos do Ciclo
2 estão dentro de uma mesma sala, eles têm mais possibilidades de interação do que se
estivessem dentro de salas separadas. Além disso, há uma troca maior entre todos os atores
educacionais da instituição, a derrubada das grades possibilitou que todos os espaços da
escola pudessem ser alcançados. Não há mais áreas restritas ou proibidas. Até mesmo a sala
da diretora pode ter a porta aberta a qualquer momento por um estudante.
Essa derrubada também foi responsável pelo aumento da complexidade das interações
estabelecidas dentro da escola. Os papéis sociais dentro da escola precisaram ser repensados,
uma vez que não havia mais um único professor na sala de aula. Era necessário que eles
dividissem o mesmo espaço com outros colegas, modificando uma hierarquia historicamente
estabelecida (Projeto Político Pedagógico: Recorte 1).
Projeto Político Pedagógico: Recorte 1
Se antes cabia ao professor formar-se individualmente para dar conta de uma docência expositiva e
solitária, numa relação dual com os alunos, o funcionamento deste Projeto passa a exigir: f1) uma
prática compartilhada e solidária, visto que o professor não trabalha mais intra-muros, solitariamente e
com uma turma específica; […]

63
Nessa perspectiva, os estudantes não estavam mais sujeitos a um único professor
passando o conteúdo no quadro, silenciados e metodicamente dispostos em um lugar. Ao
contrário, além de poder se relacionar com vários professores, eles tinham total liberdade para
conversar com outros colegas, inclusive com os que não faziam parte de seu grupo. Toda essa
liberdade demandou um redimensionamento tanto do papel do aluno quanto do papel do
professor nessa instituição.
3.1.2 Trabalho com roteiros
A derrubada das paredes da EMDAL promoveu uma necessidade de se repensar o
modo como currículo estava estruturado, uma vez que o trabalho com disciplinas e quadro
negro se tornou inviável no novo ambiente. Com a ajuda do assessor curricular Geraldo Tadeu
Souza, doutor em linguística pela Universidade de São Paulo (USP), a escola começou a
desenvolver roteiros de pesquisa (Anexo 2). Cada ano escolar possui um grupo de roteiros que
varia entre 14 e 20. O foco destes não está mais nas matérias (português, matemática,
ciências, etc.), mas em temas como água, ritmos da vida e energia, globalização, etc. O tema
água, por exemplo, demanda que o estudante pesquise vários livros, como os de Ciências,
Geografia e Matemática (Projeto Político Pedagógico: Recorte 2).
Projeto Político Pedagógico: Recorte 2
Cada aluno recebe ao longo do ano apostilas com roteiros de pesquisa. Cada roteiro tem cerca de 18
objetivos, ou seja, perguntas ou tarefas que devem ser respondidas ou desenvolvidas pelo estudante.
Repare que os roteiros e seus objetivos são desenvolvidos a partir dos livros didáticos recebidos pelo
estudante, e as perguntas que o estudante deve responder exigem que eles pesquisem em vários livros
ao mesmo tempo (de português, de ciências, de geografia, de história…)
Os roteiros são distribuídos para os alunos todo início de ano, juntamente com os
livros didáticos. Como os livros são alterados ao longo dos anos, os roteiros são
constantemente atualizados. Cada roteiro se caracteriza por um conjunto de objetivos que
devem ser realizados pelo aluno com a indicação das fontes de pesquisa que ele poderá
consultar, conforme o modelo abaixo:
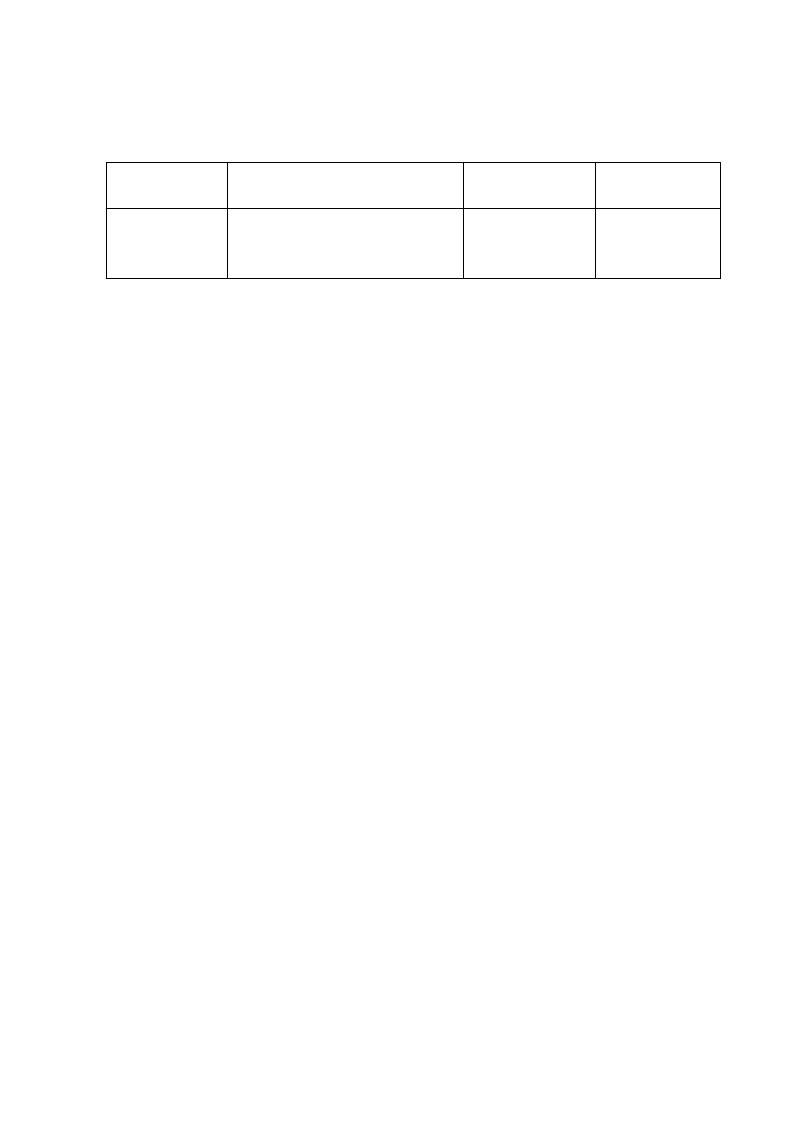
64
ROTEIRO DE PESQUISA: GLOBALIZAÇÃO
OBJETIVOS
ATIVIDADES
FONTES DE
AVALIAÇÃO DO
PESQUISA
EDUCADOR
1. Definir as • Procurar no dicionário os significados Dicionário da Língua
palavras global, das palavras global, mundial e local e Portuguesa
mundial e local.
registrá-las no caderno.
Entretanto, qualquer aluno tem a liberdade de ultrapassar os limites definidos pelos
roteiros e pesquisar conteúdos que estejam além do que é demandado.
Para ficar apto a receber o roteiro do próximo ano, o aluno deve cumprir, no mínimo,
nove dos roteiros apresentados na apostila. Nesse sentido, se ele está no sexto ano e não
consegue realizar os nove roteiros necessários, vai entrar para o sétimo ano com a mesma
apostila de roteiros. Ele só receberá os roteiros do sétimo ano quando conseguir concluir os do
ano anterior. O número nove possui um valor ritual, sendo considerado a medida de uma
gestação, “das buscas proveitosas e simboliza o coroamento dos esforços, o termino de uma
criação” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1988, p. 642). Como é o último número decimal,
anuncia o fim e, ao mesmo tempo, um recomeço, a transposição para um plano novo. Trata-
se, portanto, de um número que representa o respeito em torno do tempo necessário para se
finalizar algo e dar origem a coisas novas.
Ao concluir cada roteiro, o aluno realiza uma verificação de aprendizagem. O processo
é semelhante a uma avaliação, em que ele recebe uma série de perguntas sobre o tema em
questão. Para respondê-la, o aluno pode levar o tempo que quiser (até mais de um dia, se for
preciso) e pesquisar em quaisquer materiais que achar necessário.
O trabalho com roteiros ainda recebe algumas críticas dos pais e membros da
comunidade escolar. A principal delas é o fato de que ele ainda está demasiadamente
vinculado ao livro didático. Discussões e debates têm sido promovidos pela escola com o
intuito de repensar esse formato e buscar outras formas de se trabalhar os conteúdos
determinados pelo MEC dentro da escola.
A reorganização da forma de trabalhar o conteúdo dentro de sala de aula foi um
elemento importante para o respeito à diversidade dos indivíduos que fazem parte dessa
comunidade de participação. A liberdade de escolher os conteúdos que vão ser trabalhados e
tempo que cada um deles levará para ser trabalhado está de acordo com a perspectiva
construtivista da educação que estabelece que cada indivíduo possui um ritmo de
aprendizagem.

65
O respeito à diversidade garante novas possibilidades de interações entre os elementos
desse ecossistema. Se antes o conteúdo de geografia era padronizado para todos, agora cada
um dos estudantes aprende de acordo com seus anseios e necessidades. O próprio professor é
conclamado a aprender toda vez que o estudante coloca uma dúvida não esperada. Nesse
sentido, instaura-se um ambiente de ensino-aprendizagem, onde os conteúdos não estão
fechados e estratificados, mas se complementam a cada momento, formando redes de
interações entre o conhecimento de um aluno com o outro e deles com o professor.
Assim sendo, é possível apontar que o trabalho com roteiros, além de respeitar a
diversidade de cada um dos indivíduos que fazem parte desse ecossistema, também permite
que as inter-relações entre eles se tornem cada vez mais complexas. Para completar, esse
aspecto também permite que o ecossistema se torne holístico, na medida em que não diminui
o todo às suas partes – nem em relação aos indivíduos, nem em relação aos conteúdos – ou
vice e versa.
3.1.3 Estudo em grupo
O trabalho em equipe é valorizado constantemente dentro da EMDAL. Ao ingressar
na instituição, o aluno é integrado a um grupo, que possui, em média, quatro a cinco alunos,
com o qual deveria permanecer ao longo de todo o ensino fundamental. Entretanto, nem
sempre essa perspectiva se concretiza. Problemas de desempenho e comportamento podem
justificar a mudança do aluno de grupo, bem como a exclusão do mesmo de qualquer grupo.
Durante a visita à escola, foi observado o caso de um aluno que estava excluído de todos os
grupos por não conseguir se adequar a nenhum deles.
Estar num grupo não significa, necessariamente, fazer o mesmo roteiro que os colegas.
Cada criança tem autonomia para escolher a atividade que deseja fazer. Nesse sentido, o
grupo possui o papel de acolher as dúvidas, ajudar conforme a possibilidade e estabelecer um
vínculo de equipe entre os colegas. Não foi observado, durante a visita à escola, qualquer tipo
de atividade competitiva que pudesse estabelecer animosidade entre os grupos.
Como o trabalho desenvolvido no grande salão é, basicamente, o de pesquisa e
desenvolvimento dos roteiros, os grupos podem ser formados por alunos de qualquer um dos
anos do Ciclo 2. A idade não se transforma em impedimento para a aquisição do conteúdo e
há a crença de que os alunos de anos mais adiantados podem ajudar os mais novos e, dessa
forma, ter a oportunidade de rever o conteúdo aprendido anteriormente.
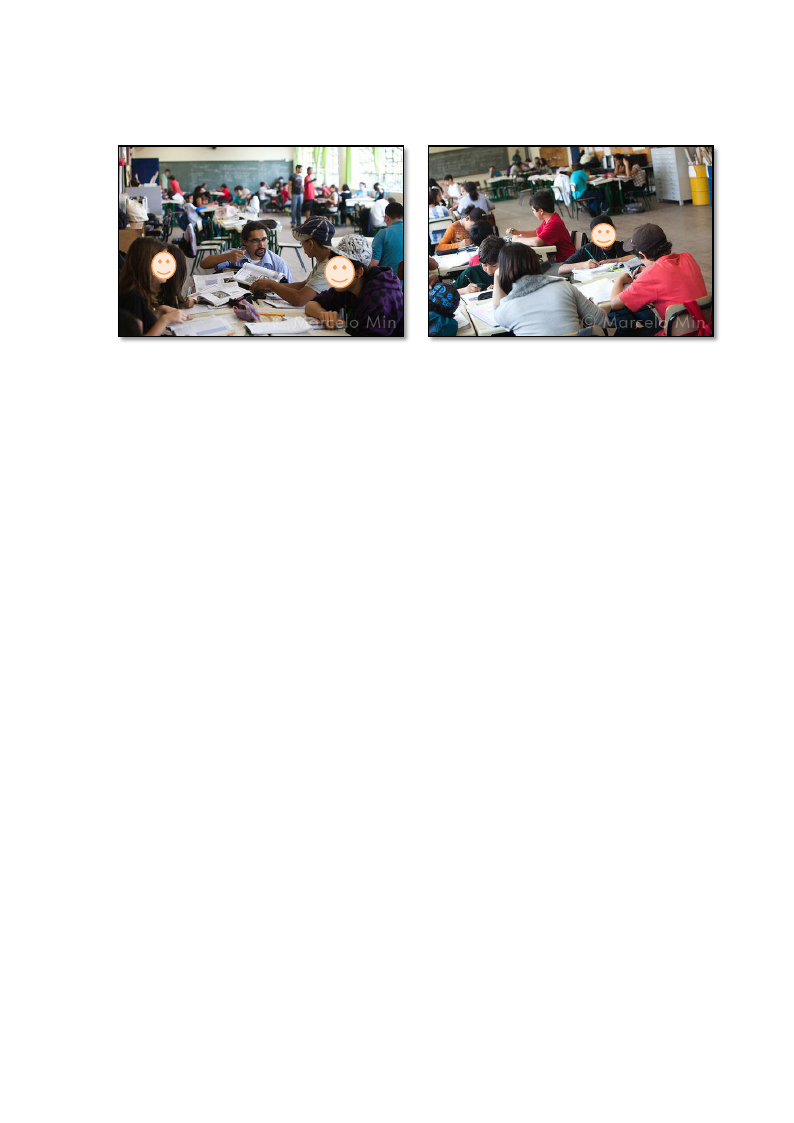
Figura 19 – Trabalho em grupo
66
Figura 20 – Trabalho em grupo
Fonte: Marcelo Min/Fotogarrafa
Fonte: Marcelo Min/Fotogarrafa
A autonomia em relação ao conteúdo também permite que os alunos não fiquem
dependentes da figura do professor. Frequentemente, eles estão em busca de outras
possibilidades de adquirir o conhecimento pretendido, como pesquisas em livros da biblioteca
ou na internet. Até mesmo os visitantes podem ser evocados para resolver alguma dúvida ou
ajudar na confecção de algum trabalho/atividade.
Projeto Político Pedagógico: Recorte 3
Esses alunos sentam-se em mesas de quatro lugares para realizarem as suas pesquisas em grupo e
responderem, individualmente, seus objetivos (dos roteiros). Não há aulas expositivas (a não ser as
aulas de matemática, inglês e de oficina de texto). Os professores – cerca de cinco ou seis – circulam
pelo salão para ajudar os alunos em suas dúvidas e explicar alguns conceitos se isso se fizer
necessário. É importante saber que não necessariamente os alunos sentados juntos em uma mesa estão
desenvolvendo as pesquisas de um mesmo roteiro. Isso acontece porque cada aluno decide a ordem em
que quer começar fazer os roteiros. Assim, um estudante pode ter escolhido começar pelo roteiro
Biografia e o outro colega de mesa pode ter escolhido começar o ano pelo roteiro Corpo Humano, por
exemplo.
Essa organização dos alunos em grupos de estudos é outra particularidade da EMDAL
que permite que a instituição possa ser considerada ecossistêmica. Isso se deve ao fato de que
o grupo permite que constituição de pequenos ecossistemas dentro do ecossistema escolar.
Além disso, estimula as inter-relações entre os membros da instituição.
O número cinco é um elemento simbólico interessante na constituição ecossistêmica
dessa escola. Considerado excepcional, uma vez que simboliza a união, o centro e o equilíbrio,
é o número de dedos nas mãos, dos sentidos, de elementos da natureza (na perspectiva chinesa).
Também é considerado o número da união harmônica no yin e yang. Nesse sentido, constitui-se
como um fator de integração entre os elementos, já que permite que o equilíbrio entre eles se
estabeleça.
O trabalho em grupo também permite a adaptação e a evolução dos membros desse
ecossistema. Isso se deve ao fato de que trabalho em equipe envolve aprender a lidar com o

67
ritmo, a forma de pensar e as expectativas de outros indivíduos (adaptação). Desse modo, ao
aprender a conviver em equilíbrio com os outros, o indivíduo desenvolve e amadurece formas
de interagir socialmente, dentro e fora da escola.
É necessário destacar que existe uma diferença essencial entre os grupos de estudos
das EMDAL e os que são constituídos na maior parte das escolas tradicionais. Em grande
medida, os últimos são temporários, ou seja, grupos que se estabelecem com um fim
específico (realizar um trabalho, fazer uma atividade, discutir um tema) e logo depois são
desfeitos. No caso da EMDAL, o trabalho em grupo é a regra e não a exceção. E, como
apresenta o Projeto Político Pedagógico: Recorte 3, nem sempre os elementos do grupo estão
trabalhando no mesmo roteiro, pois cada um tem liberdade de escolher o assunto que deseja
estudar e como fazê-lo.
Apesar do Recorte 3 apontar grupos formados por quatro integrantes, durante a visita a
escola, a pesquisadora constatou que, com grande freqüência, os grupos formados possuem
cinco alunos.
3.1.4 Rodas de conversa
Todos os dias os alunos participam de rodas de conversa que duram, em média, meia
hora. Cada professor da escola é responsável por um grupo que varia de 20 a 30 alunos. Nesse
momento, os alunos têm a oportunidade de (re)pensar as suas responsabilidades perante a
escola. Os professores conclamam os alunos a opinarem sobre mudanças, novas
possibilidades de aprendizagem, ideais para solucionar problemas da escola.
No período em que a pesquisadora realizou a visita a escola, estava havendo uma
discussão em torno dos grupos de responsabilidade. Cada aluno deveria escolher um grupo
para fazer parte: organização dos banheiros, guia de visitas, controle das quadras, etc. Na
oportunidade, os alunos foram informados sobre a importância desses grupos para a escola e o
motivo pelo qual eles estavam sendo implementados.
Durante as rodas, os alunos também elegem os temas das festas culturais que a escola
realiza. Estes acabam por nortear todas as atividades que são realizadas no ano letivo. Em
2013, a festa cultural foi sobre o Mundo Antigo: Grécia e Roma. Ao longo do ano, diversos
assuntos vinculados a esse tema foram desenvolvidos, inclusive aulas de grego e latim para os
alunos do Ciclo 1 e do Ciclo 2.
No momento da roda, os alunos também têm a liberdade de pontuar os seus anseios
para o professor tutor, como briga entre os colegas, dificuldade de lidar com as crianças que

68
possuem necessidades especiais, preconceitos, incompatibilidade com professores, etc. Como
várias rodas são formadas em toda a escola, eles ocupam os mais diversos espaços: quadras,
salas, pátios, entre outros (Figura 21 e Figura 22).
Figura 21 – Roda de conversa realizada na EMDAL
Fonte: Site Leandro Brandão Projects14
As rodas também são estendidas para um aspecto macro, pois esse modelo inspira
todas as reuniões da escola. Reunião com pais, professores, comunidade, todas seguem o
princípio das rodas utilizadas todos os dias com os alunos.
Figura 22 – Roda de pais e professores da EMDAL
Fonte: Página da Amorim Lima no Facebook15
O trabalho com rodas de conversa propicia o desenvolvimento de dois aspectos
essenciais do ecossistema: as inter-relações e a abertura/porosidade. O primeiro aspecto se dá
14 Disponível em: <http://goo.gl/tWMBL8>. Último acesso: 20 dez. 2014.
15 Disponível em: <http://goo.gl/ZkpRWq>. Último acesso: 20 dez. 2014.

69
pelo fato de que, na roda, o aprendiz estabelece mais uma forma de relação com os colegas e
com os professores. Aprende a ouvir os colegas e a compartilhar anseios provenientes do
convívio social. Dessa forma, fortalece os laços comunitários e, consequentemente, o
ecossistema como um todo.
O aspecto da abertura/porosidade se dá na aprendizagem de ouvir e reconhecer o
outro, se abrir para o diálogo e para os conselhos de outros indivíduos, além de aprender a se
compadecer com os problemas dos colegas. Crianças com necessidades participam ativamente
de todas as atividades da escola e também são respeitadas e ouvidas durante as rodas de
conversa.
Simbolicamente, a roda possui um caráter de perfeição sugerido pelo círculo, mas
também de imperfeição, pois remete ao mundo da criação contínua (CHEVALIER;
GHEERBRANT, 1988, p. 783). “Simboliza os ciclos, os reinícios, as renovações (CHAS,
24). […] é um símbolo privilegiado do deslocamento, da libertação das condições de lugar e
do estado espiritual que lhes é correlativo (CHAS, 431)”. Nesse sentido, a roda representa a
eterna mudança que se estabelece a partir do seu uso. Sempre repensar, sempre se libertar,
sempre se deslocar.
3.1.5 Participação dos pais
A participação dos pais na instituição foi uma das primeiras mudanças que a diretora
promoveu na EMDAL. Logo em 1996, quando ela entrou na instituição, recebia a reclamação
de muitas mães em relação às brigas durante o intervalo. A falta de funcionários – na época
havia apenas três funcionários responsáveis pela alimentação e limpeza da escola – impedia
que medidas efetivas contra esse problema fossem adotadas. Assim, a diretora pediu às mães
que viessem para a escola durante o recreio para ajudar a cuidar das crianças. Um grupo de
dez mães se mobilizou e deu início a uma série de discussões sobre como os pais poderiam
colaborar mais fortemente com a escola.
A mudança de pensamento é concreta e palpável: a mãe preocupada com a
educação do seu filho passa a se interessar pela educação das crianças e
jovens que estão ao redor. “Aquilo que o pai mais diligente e sensato deseja
para o seu próprio filho, a comunidade deverá desejá-lo para todas as
crianças que crescem no seu seio”, refletiu o educador John Dewey em seu
livro A escola e a sociedade. E a frase de Dewey lida com a tensão
permanente entre os caráteres público e privado, destacando o
comportamento daqueles que passam a valorizar o que é de todos em vez de

70
buscar apenas o que se restringe só a alguns (GRAVATÁ et al, 2013, p. 47-
48).
Logo, os pais estavam inseridos em todas as discussões relativas ao modelo
organizacional da escola. Foi durante uma reunião com os pais que a diretora passou um
vídeo sobre a Escola da Ponte e questionou que tipo de escola eles queriam que os filhos
deles tivessem. Com o apoio dos pais, a escola passou por diversas mudanças ao longo desses
quase vinte anos.
Atualmente, vários pais fazem parte da vida escolar da EMDAL. Foram eles os
responsáveis pela organização da biblioteca, da sala de informática, do jornal escolar, das
festas realizadas ao longo do ano letivo, entre outros. Todos os anos, eles se mobilizam para
realizar uma reunião de boas vindas aos novos pais, com o intuito de apresentar o projeto
político pedagógico da escola e compartilhar experiências.
Durante a visita da pesquisadora à escola, foram testemunhados dois momentos que
representam o vínculo entre a escola e os pais. Logo no primeiro dia, uma mãe foi levar o
filho na escola e passou na sala de informática para consertar um dos computadores. No dia
anterior, o filho dela havia estragado o leitor de CD/DVD e ela assumiu total responsabilidade
pelo fato. O segundo momento está relacionado a um pai que chegou para conversar com a
diretora sem marcar horário. Ele esperou no pátio da escola por quase uma hora antes de ser
recebido. Foi compartilhar com a instituição suas preocupações em relação ao filho, um pré-
adolescente que estava se envolvendo com drogas, e pedir apoio da escola para lidar com o
assunto.
Mais um aspecto da EMDAL que está de acordo com o conceito de
abertura/porosidade do ecossistema. A escola deixa de ser um espaço fechado às
interferências externas e passa a se abrir para a participação dos pais dos alunos e da
comunidade, conforme aponta o Projeto Político Pedagógico: Recorte 4.
Projeto Político Pedagógico: Recorte 4
Sendo que uma tal intencionalidade educativa, apoiada nos valores da solidariedade e da
democraticidade, só se realiza e produz sentido se fortemente apoiada pela totalidade dos agentes
envolvidos, deve-se buscar, sempre mais, a participação e o apoio dos pais e da comunidade na vida da
escola, preservadas as atribuições elencadas neste Projeto e melhor formuladas no Regulamento
Interno, que regerá sua correta aplicação.
A abertura para que todos possam tomar parte nas decisões tomadas pela escola
aproxima o ecossistema escolar do ecossistema bairro, permitindo que o estudante possa
compreender as relações que se estabelecem entre ambos e reconheçam a importância das
inter-relações para a manutenção do modelo organizacional da escola. Tanto os pais como os
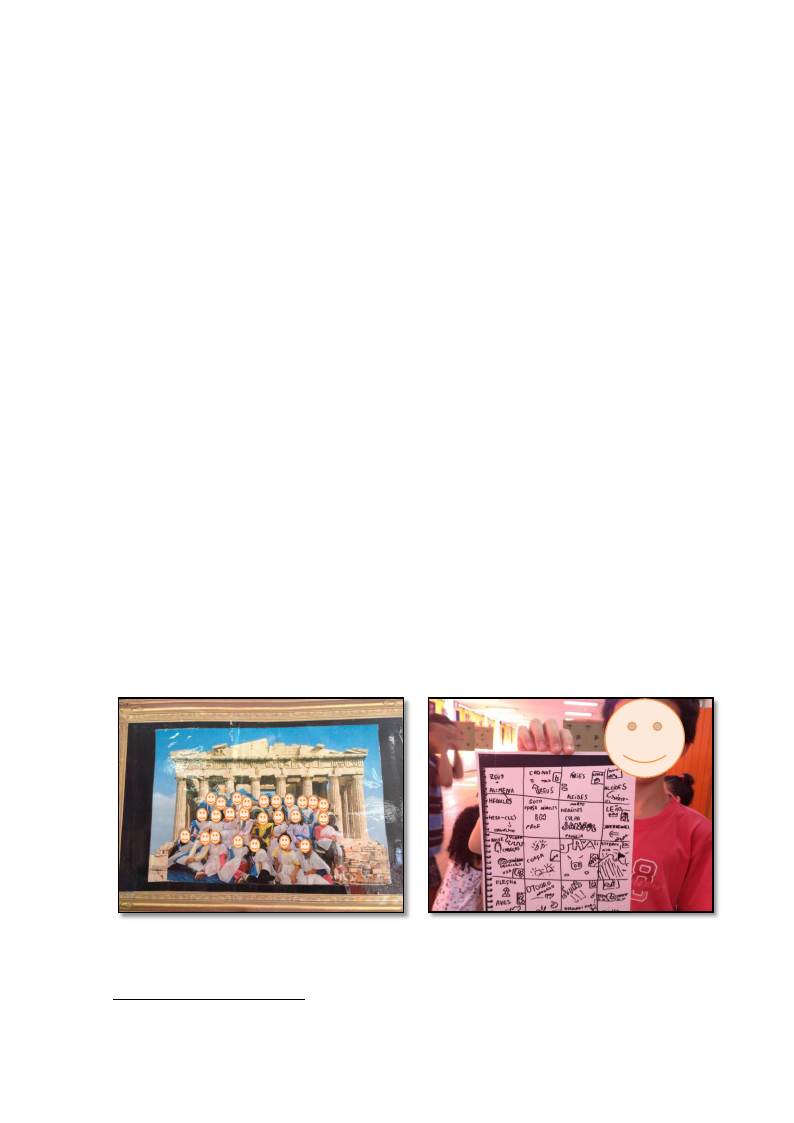
71
membros da comunidade participam das festas da EMDAL, contribuindo para a realização
social do trabalho das crianças.
3.1.6 Realização social do trabalho
Quase todas as atividades desenvolvidas dentro da EMDAL são voltadas para um
objetivo comum. Ainda que os roteiros tenham, como intuito primário, permitir que os
estudantes tenham acesso aos conteúdos determinados pelo MEC, eles não tomam todo o
tempo dos estudantes. Uma boa parte do período que eles possuem dentro da escola é
investido na realização de projetos que serão apresentados na Festa da Cultura, realizada no
mês de outubro.
Todos os anos, a diretoria define, em conjunto com todos os atores educacionais, um
tema que será desenvolvido pelos estudantes. Em 2013, esse tema foi o Mundo Antigo:
Grécia e Roma. Antes da realização da festa, os alunos entram em contato com diversos
conteúdos relativos ao tema escolhido e cada professor desenvolve um projeto, à sua escolha,
com o grupo de alunos pelo qual é responsável.
No ano em que a pesquisadora visitou a escola, os alunos estavam tendo aulas de
grego e latim (possíveis devido a uma parceria com a Universidade de São Paulo), fazendo
concurso de desenhos para estampar as camisetas e ecobags que seriam vendidas durante a
festa, ensaiando peças teatrais e organizando todo o material que seria apresentado durante o
evento (Figura 23, Figura 24, Figura 25 e Figura 26).
Figura 23 – Fotonovela para explicar as epopeias Figura 24 – Trabalhos de Hércules em menu de game
Fonte: Página da Amorim Lima no Facebook16
Fonte: Página da Amorim Lima no Facebook17
16 Disponível em: <http://goo.gl/3Xw0Rd>. Último acesso: 20 dez. 2014.
17 Disponível em: <http://goo.gl/c4vjEB>. Último acesso: 20 dez. 2014.

Figura 25 – Mito de Procusto e os fantasmas
72
Figura 26 – Estampas feitas pelos alunos
Fonte: Página da Amorim Lima no Facebook18
Fonte: Página da Amorim Lima no Facebook19
A realização social do trabalho da EMDAL permite o desenvolvimento de diversos
aspectos do ecossistema, desde o holismo até a diversidade. São nesses momentos que o
holismo pode ser identificado claramente, uma vez que os atores educacionais dão vida a
todos os conteúdos e inter-relações estabelecidas ao longo dos dias. O trabalho de latim, por
exemplo, não fica restrito a notas no caderno, mas ganha vida numa apresentação teatral.
A diversidade também é enaltecida, uma vez que todos os atores educacionais tomam
parte na realização social do trabalho. Não se trata apenas de decorar falas para apresentar,
mas de contribuir com suas particularidades, trazendo para o grupo aquilo que possui de
melhor. Tem estudantes/professores que sabem cantar, outros que desenham, pintam e assim
por diante. As crianças que possuem necessidades especiais também participam de todo o
processo.
A abertura/porosidade está vinculada à abertura da escola para a comunidade. Em
geral, a EMDAL promove festas para divulgar todo o trabalho realizado pelos alunos ao longo
dos bimestres. Nesse momento, toda a comunidade é convidada a entrar na escola e fazer
parte do evento, trazendo contribuições e fazendo comentários, permitindo que, por meio
dessa inter-relação, o ecossistema escolar possa se adaptar e evoluir em relação ao meio que o
circunda.
18 Disponível em: <http://goo.gl/3ySYuW>. Último acesso: 20 dez. 2014.
19 Disponível em: <http://goo.gl/3IUl0i>. Último acesso: 20 dez. 2014.

73
3.2 ASPECTOS ECOSSISTÊMICOS NO DISCURSO E NO IMAGINÁRIO
Só a análise das novas práticas desenvolvidas pela EMDAL já garantiriam que ela
pudesse ser classificada como ecossistêmica. Entretanto, pretendemos ir além e mapear como
os aspectos ecológicos emergem das práticas discursivas desenvolvidas pela escola. Para
tanto, recorreremos ao PPP e aos elementos simbólicos que emergem na instituição.
Projeto Político Pedagógico: Recorte 5
Ascendermos todos – alunos, educadores, pais e comunidade – a graus cada vez mais elevados de
elaboração cultural e a níveis cada vez mais elevados de autonomia moral e intelectual, num ambiente
de respeito e solidariedade.
Ao abordar os valores que fundamentam a escola, o PPP, que tem como primeira frase
o Projeto Político Pedagógico: Recorte 5, mostra a preocupação com a integralidade, o holismo
da instituição, o que pode ser apreendido por meio do lexema todos. Não basta que alguns
estudantes alcancem os objetivos determinados pelos órgãos educacionais, mas que todos
caminhem juntos, de acordo com sua autonomia moral e intelectual, tanto aluno quanto
professores e demais agentes escolares.
Tal fato pode ser corroborado a partir da atitude da instituição diante da inclusão de
crianças com deficiências motoras, intelectuais, etc. Ao contrário do que acontece na maior
parte das instituições tradicionais, em que estas crianças sofrem com o desamparo e o fato de
não serem incluídas de fato na vida escolar, na EMDAL elas participam ativamente da
realidade da escola, são inseridas nos grupos de pesquisa e apoiadas e respeitadas pelos
colegas.
Aspectos como esse nos remete para o respeito à diversidade, amplamente estimulado
na instituição, uma vez que o diferente não deve ser excluído, mas amparado e valorizado, o
que pode ser vislumbrado na frase num ambiente de respeito e solidariedade. A
autorrealização, nesse sentido, se manifesta por todos os lados, uma vez que estas crianças
aprendem a cuidar do próximo, respeitar o outro e a si mesmas, compreendendo o papel que
cada um desempenha para o desenvolvimento de toda a trama vivencial.
Projeto Político Pedagógico: Recorte 6
Diferentemente daquela escola em que cabe ao professor ensinar, e ao aluno aprender, esse Projeto
visa um compromisso coletivo em que todos os seus agentes se engajem sempre mais num processo de
aprimoramento cultural e pessoal de todos, de forma integral, e na construção de uma intencionalidade
educativa clara, compartilhada e assumida por todos.
Projeto Político Pedagógico: Recorte 7
Sendo que uma tal intencionalidade educativa, apoiada nos valores de solidariedade e da
democraticidade, só se realiza e produz sentido se fortemente apoiada pela totalidade dos agentes

74
envolvidos, deve-se buscar, sempre mais, a participação e o apoio dos pais e da comunidade na vida da
escola […]
O Projeto Político Pedagógico: Recorte 6 apresenta o fato de que a Amorim Lima tem
consciência das diferenças que caracterizam a instituição. Tal fato pode ser apreendido por
meio da introdução advérbio de modo Diferentemente. Assim, como o próprio documento
aponta, ela se diferencia daquela escola que o professor possui, como único papel, ensinar; e o
aluno, aprender. Ou seja, se contrapõe à escola tradicional, predominante no sistema de ensino
brasileiro. Aqui, todos – pais, professores, estudantes, funcionários, voluntários, etc. – se
constituem como aprendensinantes (FERNANDEZ, 2001), ora aprendem, ora ensinam, de
acordo com suas próprias vivências, pessoais e coletivas.
Assim, a educação deixa de ser uma série de princípios e determinações impostas de
cima para baixo, sem considerar as particularidades dos indivíduos e da instituição, e passa a
ser uma perspectiva construída, compartilhada e assumida por todos. Mais uma vez, a
perspectiva da autorrealização se faz presente, com a noção de que apenas por meio da
comunhão e do trabalho coletivo é possível alcançar uma realização que perpassa não apenas
o indivíduo, mas todos aqueles envolvidos no processo educativo (Projeto Político Pedagógico:
Recorte 7). Essa perspectiva pode ser apreendida pelo uso dos vocábulos totalidade e
participação.
A Amorim Lima possui inúmeros exemplos desse fato. Um dos casos mais ressaltados
pela direção foi o início da participação dos pais na vida escolar. Diante das constantes
reclamações de que as crianças estavam sendo agredidas durante o recreio e da falta de
funcionários para lidar com tal situação, a diretora conclamou as mães a virem pra escola,
durante o intervalo, para cuidarem de seus filhos (PORVIR EDUCAÇÃO, 2013)20. Num
primeiro momento, elas focaram a atenção apenas em suas crianças, mas em pouco tempo já
estavam cuidando de todas as outras. Isso fez com que os casos de brigas e agressões
diminuíssem consideravelmente, contribuindo para a constituição de relações mais
harmônicas entre os estudantes.
Atualmente, a presença dos pais na escola é constante. Se um computador estraga,
alguém com conhecimentos em informática logo aparece para consertar. Reativar a biblioteca,
bem como ampliar o acervo da escola, também foi uma iniciativa dos pais, assim como
desenvolver um jornal escolar da instituição e criar um grupo virtual de discussão para os
20 Fala realizada na sexta edição da Série de Diálogos O Futuro se Aprende, promovido pelo Inspirare/Porvir,
Instituto Natura e Centro de Referências em Educação Integral.

75
pais. Além disso, todas as iniciativas intelectuais das crianças são amparadas e colocadas em
prática, como a recente criação de uma publicação manuscrita chamada Fanzine Rimadinho.
Projeto Político Pedagógico: Recorte 8
Uma atitude de respeito para com as diferenças culturais, raciais, de credo e quaisquer outras, de todos
e para com todos. A convicção de que cada aluno é único, pode e deve permanentemente construir e
exercer sua identidade no seio de um coletivo que não a mitigue ou aplaque. A convicção de que toda
a criança é capaz de aprender e desenvolver-se, em ritmo e forma próprios, sendo-lhe dadas as
condições para que o faça.
Outro aspecto ecológico amplamente defendido pela EMDAL é o respeito à
diversidade, de qualquer tipo que ela seja. É o que apresenta o Projeto Político Pedagógico:
Recorte 8, que aborda aspectos culturais, raciais, de credo etc. As palavras-chave desse recorte
são respeito, único e identidade. A perspectiva defendida por essa instituição é de que todos
são iguais e diferentes ao mesmo tempo e devem ser respeitados tanto em suas diferenças
quanto em suas igualdades. A diversidade, para essa instituição, também é encarada pelo
aspecto da singularidade. Por isso, o respeito à unicidade de cada um dos atores educacionais,
ressaltado na frase final do Projeto Político Pedagógico: Recorte 8 (toda criança é capaz de
aprender e desenvolver-se, em ritmo e forma próprios, sendo-lhe dadas as condições para
que o faça).
Na EMDAL, o aluno só pega o próximo caderno de roteiros quando termina o anterior
e não quando o ano letivo chega ao fim. Se ele não foi capaz de terminar os roteiros do sexto
ano, por exemplo, não será reprovado, impedido de continuar a ver novos conteúdos e
submetido a rever todos os conteúdos do ano anterior. O que foi aprendido é preservado e ele
pode, no ano seguinte, concluir os roteiros que não conseguiu fazer. O tempo do aluno é
respeitado, na medida em que cada um possui um ritmo de aprendizagem completamente
pessoal.
Outra medida da instituição que representa o respeito à diversidade do aluno é a
decisão de não manter o aluno fora do ciclo de sua idade, fato observado pela pesquisadora
durante a visita à escola. Ou seja, mesmo que a criança não seja alfabetizada, ela vai do
ensino infantil para o Ciclo 1 do ensino fundamental. Como a escola não se baseia num
sistema que privilegia o conteúdo apreendido, mas, antes, foca nas conquistas individuais de
cada criança, esses alunos podem desenvolver todo o seu potencial sem o peso da exclusão
“social” escolar proporcionada pelo fato de se ter uma idade avançada para a turma em que se
encontra.
Projeto Político Pedagógico: Recorte 9

76
A compreensão do ser humano como ser integral. A convicção de que toda a aprendizagem
significativa do mundo é também conhecimento e desenvolvimento de si, numa dialética que equipara
a elaboração intelectual à elaboração pessoal e psíquica (Pichón-Riviere).
A perspectiva apresentada no Projeto Político Pedagógico: Recorte 9 é a do holismo, ou
seja, da compreensão do ser humano como um ser integral. Nesse sentido, o foco da escola
não está na transmissão de conteúdos, mas na contribuição que ela pode oferecer para a
constituição de indivíduos integrais. Estabelece-se, portanto, como uma escola integral, apesar
de não ser de tempo integral, garantindo para seus participantes, novos tempos-espaços, mais
dignos e que possibilitam o cuidado de si. “O direito à totalidade das vivências dos corpos
exige diversificar espaços, priorizar novos e outros espaços físicos, nas políticas, nos
recursos” (ARROYO in MOLL et al., 2012, p. 44).
Foi partindo dessa perspectiva que a diretora retirou as grades que separavam o pátio
das quadras e derrubou as paredes de várias salas, formando dois grandes salões que abrigam
os alunos do Ciclo 1 e do Ciclo 2. Repensar os espaços é uma atitude constante dentro da
Amorim Lima. As aulas não ficam restritas às salas de aula ou aos muros da escola. Ao longo
do ano letivo, as crianças desenvolvem atividades que envolvem conhecer o bairro e os
moradores da região. A instituição escolar, frequentemente encarada como um reduto de
exclusão, com altos muros e grades, se transforma aqui, abrindo as portas para receber a
comunidade para cursos, eventos e voluntariado.
Modifica-se, assim, o modo como os indivíduos se relacionam com o local. O que se
vê, frequentemente, no que concerne ao espaço escolar, é um sentimento de topoclastia
(MARQUES, 2005), que está associado à vontade de destruir o lugar ou o desejo de não
envolvimento ou criação de vínculos com aquele espaço. Assim, o crescimento da evasão
escolar é apenas um dos resultados dessa relação.
A EMDAL, por outro lado, conseguiu ir da topoclastia à topofobia e desta à topofilia.
Enquanto a topofobia é “a aversão ao lugar”, porém, relacionada ao desejo de recuperá-lo ou,
até mesmo, dar-lhe uma nova função mais humanizada” (MARQUES, 2005, p. 19); a
topofilia pode ser entendida como “um sentimento construído através da experiência íntima
com o lugar, do fortalecimento de vínculos comunitários e da compreensão do outro”
(MARQUES, 2005, p. 18). E é exatamente porque os atores educacionais estabelecem uma
relação topofílica com o espaço escolar que eles contribuem para a constituição de uma escola
integral, que permite que os indivíduos que fazem parte dela se integralizem tanto na relação
com o outro quanto na relação com o espaço.
Projeto Político Pedagógico: Recorte 10

77
[…] perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus
elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente;
O Recorte 10 nos remete, novamente, para a noção de autorrealização. Trata-se do
incentivo ao respeito à natureza, entendendo o ser humano como parte integrante do meio em
que vive. Tal aspecto pode ser percebido por meio dos vocábulos integrante e interações.
Assim, ser integral é se entender como um todo não apenas em relação ao outro (outros), mas
também em relação ao meio ambiente natural.
No aspecto simbólico, a noção de integração também se faz presente. Conforme
apontado anteriormente, o imaginário pode ser divido em três regimes de imagens: o regime
diurno, caracterizado pela luz e com imagens que se relacionam à ascensão e à queda; o
regime noturno, caracterizado pela noite e vinculado às imagens místicas; e o regime
crepuscular, que se relaciona com o movimento cíclico, rítmico ou de síntese.
Os elementos simbólicos trabalhados ao longo da análise das práticas desenvolvidas
na EMDAL remetem para o regime do imaginário crepuscular, que se pauta pela necessidade
de equilibrar as imagens diurnas e noturnas e mobiliza símbolos cíclicos ou rítmicos. Assim, a
mudança cinza/alaranjado estabelece a morte e renascimento, bem como o alaranjado, por si
só, se vincula à noção de equilíbrio. O mesmo ocorre com o número nove, que anuncia o fim
e o recomeço, o número cinco, que implica integração, e com a roda, que representa um
eterno repensar e criar, o ciclo eterno da mudança.
Essa perspectiva também pode ser apreendida a partir da análise do painel de azulejos
produzido pelos alunos para enfeitar a entrada da escola (Figura 7). A imagem mais frequente
nas pinturas é a de uma árvore. A árvore é o símbolo da vida, que “serve também para
simbolizar o aspecto cíclico da evolução cósmica: morte e regeneração. Sobretudo as
frondosas evocam um ciclo, pois se despojam e tornam a recobrir-se de folhas todos os anos”
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 1988, p. 84). Assim, a escola se constitui como um espaço
de mortes e regenerações, de busca pela integração do indivíduo e suas partes, uma vez que a
árvore põe em comunicação os três níveis do cosmos: o subterrâneo, a terra e o céu.
A noção de autorrealização, por sua vez, está presente no mito diretor da instituição.
Conforme apontamos anteriormente, o mito é uma narrativa dinâmica de imagens que
repercute e reproduz os questionamentos na humanidade. A tópica cultural durandiana se
movimenta ciclicamente e o mito patente de determinada sociedade está ancorado em mitos
latentes que podem emergir ou não. Segundo Sanchez Texeira (2000), o mito patente da
modernidade é o de Prometeu.
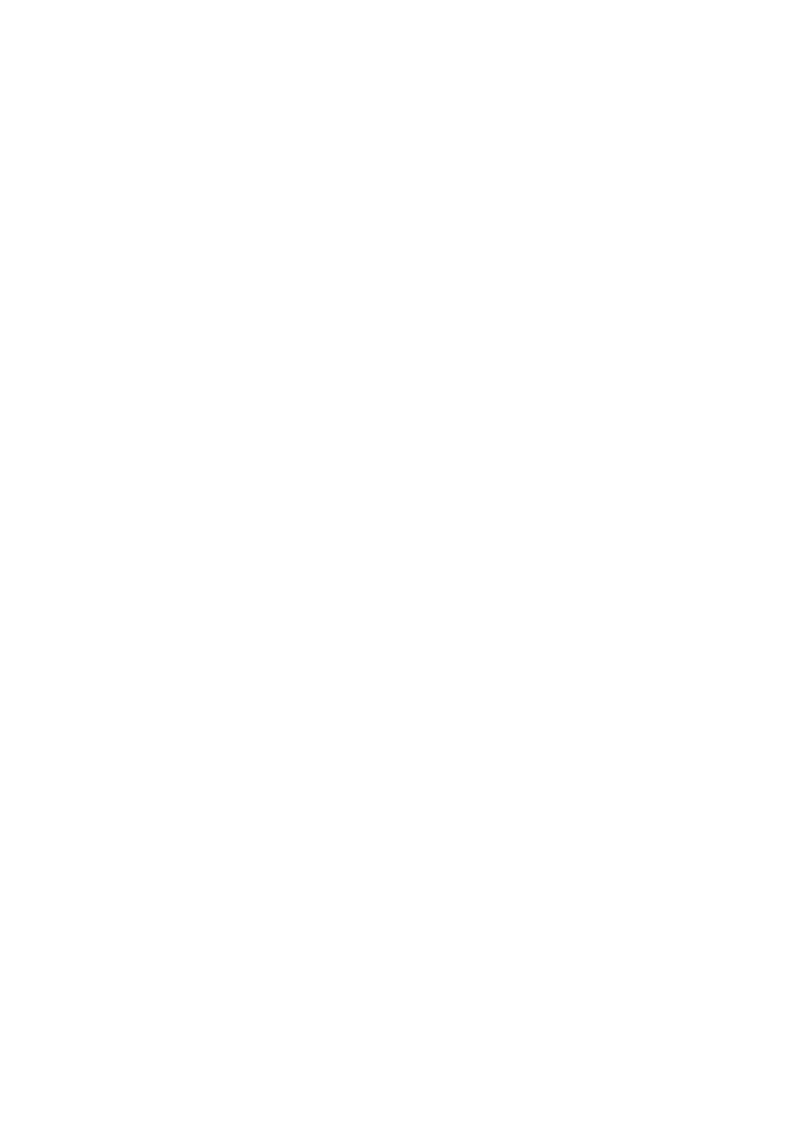
78
De acordo com G. Durand (1976), os mitemas do mito de Prometeu são:
transgressão divina, revolta contra o espírito, pensamento previdente que
representa o princípio de conscientização e fé na capacidade e nas
potencialidades humanas. São seus atributos: civilizador, benfeitor da
humanidade, previdente, prudente, filantropo, altruísta, solidário, triunfante,
altivo, desobediente, revolucionário, generoso, corajoso (SANCHEZ
TEXEIRA, 2000, p. 49).
Esse mito tem sofrido uma interferência constante do mito de Hermes, estabelecendo
um embate entre ambos. Hermes é o mensageiro dos deuses e guia das almas dos mortos para
o reino de Hades. Carrega consigo um caduceu, um bastão com duas serpentes entrelaçadas e
adornado com asas na parte superior.
Uma vez que a escola é o último recanto da sociedade a sofrer alterações profundas, o
imaginário educacional permanece, predominantemente, baseado em Prometeu. Numa análise
superficial entre o mito e a estruturação da escola tradicional, é possível estabelecer a relação
entre o professor e o deus, uma vez que ele detém um elemento (conhecimento) que deve ser
passado adiante para garantir a superioridade do homem (alunos) frente aos outros animais.
Para alcançarmos o mito diretor de uma instituição, é necessário mapearmos as ideias-
chave redundantes, ou seja, os mitemas que a fundamentam. A partir da leitura do Projeto
Político Pedagógico da Escola Municipal Desembargador Amorim Lima, da análise das
práticas pedagógicas e das demais práticas discursivas observadas pela pesquisadora, é
possível chegar a um mito diferente. Para essa instituição, a individualidade exerce um papel
importante na construção de um novo savoir-faire educacional. Tal tema se configura como o
mitema predominante que orienta o texto e, portanto, a práxis dos atores educacionais dessa
instituição: a educação enquanto percurso de aprendizagem individualizado e de conquistas
pessoais.
Esse mitema é repetido exaustivamente ao longo do PPP da Amorim Lima, ganhando
um caráter de ideia-força. Aparece em expressões que se referem aos estudantes, como cada
aluno decide; autonomia moral e intelectual; aprimoramento pessoal; percurso intelectual
próprio; deve construir e exercer sua identidade; aprender e desenvolver-se em ritmos
próprios; conhecimento e desenvolvimento de si; elaboração pessoal e psíquica;
conhecimento ajustado de si mesmo. A repetição desse mitema promove uma mudança
significativa no imaginário da instituição, levando os atores educacionais a buscarem uma
práxis diferenciada, onde cada indivíduo é atendido em suas singularidades. O professor não
tem mais o papel de transmitir o conhecimento. Agora o objetivo dele é acompanhar o aluno
em seu percurso único (mais orientar que explicar), garantindo que este possa encontrar o
crescimento pessoal, buscar o autoconhecimento, através da sua aprendizagem.

79
Se antes cabia ao professor formar-se individualmente para dar conta de uma
docência expositiva e solitária, numa relação dual com os alunos, o
funcionamento deste Projeto passa a exigir: […] f3) a mudança de foco na
relação com os alunos, visto que a exposição de conteúdos passa a dar
lugar ao incentivo constante à pesquisa, à orientação quanto o melhor
uso dos Roteiros Temáticos, à solução das dúvidas que nascem dos mais
diversos e inesperados lugares (ESCOLA, 2005, p. 03, grifo nosso).
A partir dos mitemas levantados, é possível alcançar os mitologemas que predominam
no texto. O primeiro deles é o conhece-te a ti mesmo, frase que ornava a entrada do Oráculo
de Delfos, templo dedicado a Apolo, deus da luz, do sol, da verdade e da profecia. Esse local
era procurado por humanos mortais que estavam em busca de conhecimento sobre o presente
e sobre o futuro, sobre o caminho único que deveriam percorrer para alcançar determinado
objetivo.
O segundo mitologema que pode ser apreendido a partir dos mitemas mapeados é o do
labirinto, espaço onde todos os temores do homem devem ser enfrentados; um traçado
complexo, que tem, como único intuito, retardar a chegada do viajante ao desejado centro.
Trata-se, portanto, de uma viagem permeada de obstáculos, que devem ser ultrapassados em
busca de algo precioso ou sagrado. “É que o labirinto […] deve, ao mesmo tempo, permitir o
acesso ao centro por uma espécie de viagem iniciatória, e proibi-lo àqueles que não são
qualificados” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1990, p. 531). Esse mitologema está presente
na própria estrutura física da escola, onde os muros encerram o espaço da mudança e da
transformação.
É a partir dessas constatações que se torna possível elucidar o mito diretor da
EMDAL: o mito de Teseu, o herói ateniense que teve que enfrentar o labirinto do Minotauro
para libertar a sua pátria da punição infligida por Creta. Após perder uma batalha, Atenas
deveria enviar 14 jovens, a cada ano, para serem devorados pelo Minotauro. Essa punição só
teria fim após nove anos ou se algum dos jovens conseguisse derrotar a besta. Ao chegar a
Atenas, Teseu, filho do rei, se oferece para ir a Creta e derrotar o monstro. Em Creta, o herói
cativa os sentimentos da filha do rei Minos, Ariadne. Apaixonada, ela o entrega um novelo de
lã, que deve ser utilizado para que ele seja capaz de sair do labirinto. Preso apenas pelo fio de
Ariadne, Teseu enfrenta o Minotauro, derrota a fera mitológica e garante a libertação de sua
nação.
É importante destacar que a batalha pessoal e individual do herói representa um ganho
para a coletividade, outro aspecto importante do trabalho desenvolvido na EMDAL, o que
pode ser percebido por meio dos elementos simbólicos que integram, congregam os

80
elementos, conforme apontado anteriormente. A batalha individual representa, conforme
aponta o mito de Teseu, a libertação de toda uma coletividade.
Percorrer o labirinto se torna o principal objetivo do educando. Ele se transforma no
grande herói de sua jornada educativa, agindo como peregrino de um labirinto interior. Para
tanto, precisa ter coragem o suficiente para superar seus medos e ignorâncias. Não se trata
mais de esperar que um deus o entregue o fogo (o conhecimento), mas travar uma batalha de
autoconhecimento contra o Minotauro, seguro apenas pelo fino fio de Ariadne. O papel do
professor deriva: ele deixa de ser o detentor do conhecimento e passa a ser apenas um guia
frágil, que não interfere na batalha, mas apenas auxilia nos momentos de mais dificuldade.
O labirinto é o caminho de uma nova consciência, de iniciação numa nova forma de
aprendizagem. Ao chegar ao centro do labirinto, Teseu encontra muito mais que o monstro;
passa por uma mudança ontológica-existencial. O centro simboliza o princípio dessa nova
consciência, o ponto de mudança entre uma perspectiva e outra. Trata-se de uma decida ao
mais profundo interior, o que resulta numa mudança no exterior. Ao retornar, seguro pelo fio
de Ariadne, Teseu já não é mais o mesmo.
A educação, nessa perspectiva, adquire um caráter iniciático, onde o herói deve
percorrer um caminho que pertence apenas a ele, individual – afinal, mesmo que o labirinto
seja igual para todos, cada um escolhe o rumo que vai seguir.
[…] o desiderato de toda a educação, que se pretende iniciática, deveria,
seguindo os ensinamentos do labirinto, criar condições para que aprendamos
a aprender, e a melhor compreender, a profundidade que somos. Somente a
compreensão do sentido de profundidade que a imagem matricial do
labirinto comporta nos poderá ajudar a romper com as máscaras sob as quais
nos escondemos aos outros e a nós mesmos. Torna-se pois tão importante,
como urgente, romper esse muro que nos impede de aceder “à consciência
do infra-eu, espécie de cogito subterrâneo, de um subsolo em nós, o fundo
do sem fundo” (BACHELARD, 1986, p. 260). Este “fundo do sem fundo”,
lembrando o mito em Fernando Pessoa, “um nada que é Tudo”, reenviando
igualmente para o inconsciente coletivo de Jung, para a tradição de memoria
augustiniana, parece-nos bem ilustrado pelo mitologema, ou símbolo do
labirinto, que, através da sua função iniciática, conduz-nos para os
insondáveis caminhos da trans-descendência, na feliz expressão de Gaston
Bachelard (1986, p. 60). Entre a anábase e a catábase decide-se muito da
nossa formação (bildung), que acontece sempre na e pela transformação
(umbildung) do eu nos labirintos da vida, em que os fios de Ariadne estão
sempre à espreita, embora, tantas vezes, carecendo de uma pedagogia da
escolha e de um mestre que a saiba eleger (ARAUJO, 2011, p. 54).
Dessa forma, o PPP da Amorim Lima privilegia o processo de individuação do
educando. O labirinto assume o papel de imagem significativa para o herói em busca do seu
eu, do autoconhecimento. Para contribuir com a sociedade, ele precisa, antes de qualquer

81
coisa, aprender a viver consigo mesmo, se aprofundar em seu próprio ser. Trata-se da busca
de um eu-consciente que representa uma vitória para toda a comunidade. Da mesma forma
que ao vencer o Minotauro, Teseu liberta Atenas da punição infligida por Creta, o jovem que
percorre o labirinto e sai vivo dele traz consigo benefícios para toda a escola.
Uma vez que a escola pioneira privilegia o percurso iniciático, a formação de si
mesmo, o educando vai modelando a sua personalidade e o seu destino ao caminhar pelo
labirinto (metáfora do mundo e da vida). Assim, é possível afirmar que essa escola pioneira
pretende ensinar ao jovem que na vida existem provações e obstáculos que devem ser
enfrentados individualmente. Apesar dessa perspectiva individualista, a escola não se furta ao
seu papel. O professor continua ali, enquanto fio de Ariadne, guiando o educando em seu
percurso, dando o suporte necessário para que o herói passe da consciência individual, de
natureza intelectual e existencial, para se tornar um Outro, realizado com a sua conquista.

82
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O FLUXO ETERNO DAS MUDANÇAS
Há vinte anos a Escola Municipal Desembargador Amorim Lima decidiu empreender
uma mudança entre seus muros. Derrubar paredes, pintar a escola, destituir o livro didático do
seu papel central na educação das crianças, acabar com as disciplinas, (des)empoderar
professores, entre outras medidas. Cada passo dado era uma pequena alteração, algo
facilmente assimilado pelos atores educacionais, mas que contribuiria para mudanças
profundas em longo prazo. E foi exatamente isso o que aconteceu. A soma dessas
transformações permitiu que um outro tipo de instituição se constituísse, uma escola pioneira.
Ao longo dessa pesquisa, tivemos a preocupação de ressaltar como a escola analisada,
ainda que imersa em diversos problemas característicos da educação pública brasileira,
conseguia se destacar como um exemplo de instituição ecossistêmica, voltada para a
integração e autorrealização dos atores educacionais. Nosso intuito não era o de invisibilizar
as falhas que esse modelo organizacional possui, mas também não queríamos que elas
definissem o foco desse estudo.
Assim como as formas fractais demandaram que a geometria desenvolvesse todo um
novo campo que possibilitasse o seu estudo, o modelo organizacional desenvolvido nesses 20
anos pela EMDAL conclamou outras formas de se olhar para o objeto de estudo, não mais
como algo acabado, recortado e encerrado em estruturas bem definidas. O desafio, aqui,
estava em teorizar sobre a dinamicidade das mudanças que ocorreram/ocorrem ali.
Exatamente por isso nos ancoramos nos estudos da complexidade ecológica e nas teorias
desenvolvidas pela Ecolinguística e pela Antropologia do Imaginário.
A proposta inicial dessa pesquisa se pautava por verificar se as mudanças nas práticas
e nos discursos colocados em circulação nessas duas décadas pela EMDAL permitiam, de
alguma forma, que ela pudesse ser classificada como ecossistêmica. A partir da análise das
novas práticas educacionais, do Projeto Político Pedagógico e dos elementos simbólicos que
emergiram na instituição, foi possível constatar que a mesma se fundamenta em princípios
concernentes com a Ecologia e com a Ecologia Profunda, desenvolvida por Naess & Sessions
(1984), isto é, enaltece o respeito e o equilíbrio entre todos os seres vivos, preserva a
diversidade de todas as formas de vida e preza por uma mudança ideológica que aprecia uma
vivência com mais qualidade e desapego.

83
Ficou constatado que a EMDAL reconhece a sua realidade, respeita o seu corpo
discente e docente e se porta como uma verdadeira questionadora das práticas educacionais
vigentes nas escolas tradicionais, estabelecendo-se como um modelo organizacional
recomendável para todas as instituições que buscam uma perspectiva ecossistêmica, voltada
para o respeito às diferenças, às inter-relações e à integralidade do ser humano. Concluímos,
também, que as mínimas mudanças nas práticas pedagógicas já foram o suficiente para
constituir um novo savoir faire educacional, afinal, as grandes transformações realizadas por
essa escola foram no intuito de transformar algo que é esporádico e temporário nas escolas
tradicionais em uma regra.
Os aspectos ecossistêmicos da EMDAL também puderam ser mapeados no campo
simbólico, uma vez que essa instituição possui um mito diretor diferente do das escolas
tradicionais. Não mais pautada na transferência de um conhecimento (mito prometéico), essa
instituição se baseia na busca por um processo de individuação (mito de Teseu), em que cada
jovem é estimulado a fazer o seu próprio percurso e combater os seus monstros mitológicos.
A constatação de que um novo mito diretor rege essa escola se torna relevante na
medida em que confirma o discurso da mudança patente dessas instituições. Se a mudança no
imaginário se constata, é possível afirmar que ela se reflete nas práticas educativas. Afinal,
como Durand (1996) apontou, o mito é uma narrativa que tem como principal objetivo
orientar a ação e o projeto de vida dos sujeitos influenciados por ele. Projeto esse que, na
EMDAL, se pauta pelo constante enfrentamento do desconhecido.
Ficou claro, também, ao longo da análise realizada, que para que as mudanças como as
permeadas por essa escola se efetivem é necessário que elas abarquem os meios ambientes
mental, social e natural simultaneamente. De nada adianta derrubar paredes se a divisão em
turmas continuar existindo. Não há sentido em pintar a escola de outra cor se as paredes e
grades continuarem de pé. Em suma, o que se pretende apontar, aqui, é que a mudança deve
se dar em toda a trama ecossistêmica e não apenas em determinados nós dela.
Concluir essa pesquisa, em meio a uma perspectiva teórica que se fundamenta na
complexidade ecológica, transforma-se num tortuoso desafio. Como fazer recortes se cada
mudança, cada símbolo, cada enunciado analisado abre espaço para inúmeras outras
transformações? Nesse sentido, é importante destacar que os elementos analisados nesse
trabalho são um pequeno recorte de um amplo ecossistema que permanecesse em constante
transformação. Um outro pesquisador que adentre a Escola Municipal Desembargador
Amorim Lima em dois ou três anos pode encontrar práticas completamente diferentes das
apontadas aqui. Isso não significa, entretanto, que o modelo organizacional desenvolvido por

84
essa escola se provou ineficiente, mas simplesmente que ele evoluiu, adaptou-se. Diante dos
princípios da complexidade ecológica, uma perspectiva que muda não deveria causar qualquer
tipo de espanto no pesquisador. Mas aquela que permanece inalterada durante séculos, esta
sim deveria provocar pânico.

85
REFERÊNCIAS
ALLABY, Michael. Oxford Dictionary of Ecology. Oxford: Oxford University Press, 2003.
ALVES, Rubem. A escola com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir.
Campinas (SP): Papirus Editora, 2001.
ARAÚJO, Alberto Felipe. Estará o discurso pedagógico receptivo a mitanálise? In:
SANCHEZ TEIXEIRA, M. C.; PORTO, M. R. S. (Orgs.). Imaginário, cultura e educação.
São Paulo: Plêiade, 1999.
ARAUJO, Alberto Felipe; SILVA, A. M. Mitanálise e interdisciplinaridade: subsídios para
uma hermenêutica em educação e em ciências sociais. Braga (Portugal): Universidade do
Minho, 1997.
BAKHTIN, M. Para uma filosofia do ato. São Carlos: Pedro & João Editores, 2010.
BIDERMAN, Maria Thereza Camargo. Léxico e vocabulário fundamental. Alfa, São Paulo, v.
40, p. 27-46., 1996.
CAMPOLINA, L. O. Inovação educativa e subjetividade: a configuração da subjetivação
histórico-subjetiva implicada em um projeto inovador. Tese de doutorado. Brasília: UNB,
2012.
CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São
Paulo: Cultrix, 1996.
CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário dos símbolos: mitos, sonhos,
costumes, gestos, formas, figuras, cores, números. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998.
COUTO, Elza Kioko Nakayama Nenoki. Ecolinguística e imaginário. Brasília: Thesaurus,
2012.
COUTO, Hildo Honório. Ecolinguística: estudo das relações entre língua e meio ambiente.
Brasília: Thesaurus, 2007.
COUTO, Hildo Honório. O que vem a ser ecolinguística, afinal? Cadernos de Linguagem e
Sociedade, v. 14, n. 1. Brasília: Thesaurus, 2013.
COUTO, Hildo Honório. Linguística Ecossistêmica Crítica ou análise do discurso ecológica.
In: COUTO, Elza Kioko N. N.; DUTRA-CINTRA, Ema Marta; BORGES, Lorena Araújo de
Oliveira. Antropologia do Imaginário, Ecolinguistica e Metáfora. Brasília: Thesaurus, 2014.
COUTO, Hildo Honório. O tao da linguagem: um caminho suave para a redação. Campinas
(SP): Pontes Editores, 2012.
DAMÁSIO, Antônio. E o cérebro criou o homem. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

86
DØØR, Jørgen; BANG, Jørgen Chr. Eco-Linguístics: a framework. 1993. Disponível:
<http://www.jcbang.dk/main/ecolinguistics/Ecoling_AFramework1993.pdf>. Último acesso:
03 fev. 2014.
DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário: introdução à arqueologia
geral. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
DURAND, Gilbert. Campos do imaginário. Lisboa: Instituto Piaget, 1996.
DURAND, Gilbert. Mito e sociedade: a mitanálise e a sociologia das profundezas. Lisboa: A
Regra do Jogo, 1983.
DURAND, Gilbert. O imaginário: ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem. Rio de
Janeiro: Difel, 1998.
ESCOLA Municipal Desembargador Amorim Lima. Projeto Político Pedagógico. São Paulo,
2005.
FERNANDEZ, Alicia. O saber em jogo: a psicopedagogia proporcionando autorias de
pensamento. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001.
FERREIRA-SANTOS, M; ALMEIDA, R. Aproximações ao imaginário: bússola de
investigação poética. São Paulo: Képos, 2012.
FOUCAULT, Michel. A hermenéutica do sujeito. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes,
2010.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 2004.
FOUCAULT, Michel. O sujeito e o poder. In DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. Michel
Foucault, uma trajetória filosófica: para além do estruturalismo e da hermenêutica. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 1995.
GOYA, Will. Meio ambiente ou ambiente inteiro? Fragmentos de cultura, Goiânia, v. 18, n.
7/8, p. 619-623, jul./ago. 2008.
GRAVATÁ, André; PIZA, Camila; MAYUMI, Carla; SHIMAHARA, Eduardo. Volta ao
mundo em 13 escolas. São Paulo: Fundação Telefônica/A. G., 2013.
HAUGEN, Einar. The Ecology of language. In FILL, Alwin Frank; MÜHLHÄUSLER, Peter.
The ecolinguistics reader. Language, ecology and Enviroment. London: Continuum, 2001.
LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Métodos de coleta de dados: observação, entrevista
e análise documental. In: Pesquisa em educação: Abordagens qualitativas. São Paulo: EPU,
1986. p. 25-44.
MARQUES, Adilson Santos. Nas trilhas indeléveis de Hermes: topofilia, memória e ação
cultural. São Carlos: Editora BN, 2005.
MATURANA, Humberto. Cognição, ciência e vida cotidiana. Belo Horizonte: UFMG, 2001.

87
MITHEN, Steven. A pré-história da mente: uma busca das origens da arte, da religião e da
ciência. São Paulo: Editora UNESP, 2002.
MOREIRA, H; CALEFFE, L. Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador. Rio de
Janeiro: Lamparina, 2008.
MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 3ª edição. Porto Alegre: Sulina, 2007.
MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2007.
MORIN, Edgar. O paradigma perdido: a natureza humana. 6ª ed. Lisboa: Publicações
Europa-América, 2000.
NAESS, Arne. The shallow and the deep, long-range ecology movement. A summary.
Inquiry, 16:1, p. 95-100, 1973.
NAESS, Arne; SESSIONS, George. Basic principles of Deep Ecology. Ecophilosophy, v. 6,
p. 3-7. 1984.
NEILL, Alexander Sutherland. Liberdade na escola. São Paulo: Ibrasa, 1969.
NEILL, Alexander Sutherland. Um mestre contra o mundo. São Paulo: IBRASA, 1978.
NEILL, Alexander Sutherland. Liberdade sem medo. São Paulo: IBRASA, 1980.
ODUM, Eugene. Fundamento de Ecologia.Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.
OLIVEIRA, Marina Rodrigues de. Autonomia e criatividade em escolas democráticas: outras
palavras, outros olhares. Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ, 2012.
PACHECO, José. Escola da Ponte: formação e transformação da educação. 4ª ed. Petrópolis
(RJ): Vozes, 2011a.
PACHECO, José. O lado obscuro da Ponte. São Paulo: 2011b. Folha de São Paulo, São
Paulo, 07 mar. 2011. Caderno Saber. Entrevista concedida a Felipe Caruso. Disponível em:
<http://goo.gl/mw3dkC>. Último acesso: 20 dez. 2014.
PARO, Vitor. Educação como exercício do poder: crítica ao senso comum em educação. São
Paulo: Cortez, 2010.
PENA-VEGA, Alfredo. O despertar ecológico: Edgar Morin e a ecologia complexa. Rio de
Janeiro: Garamond, 2005.
PITTA, Danielle Perin Rocha. Iniciação à teoria do imaginário de Gilbert Durand. Rio de
Janeiro: Atlântica Editora, 2005.
PORVIR EDUCAÇÃO. Série de Diálogos Educação Integral – Ana Elisa Siqueira.2013.
Disponível em: < http://youtu.be/BKRI95LU31o>. Acesso em: 03 mai. 2014.

88
RICOEUR, Paul. Du texte à l´action: essais d’herméneutique II. Paris: Du Seuil, 1986.
SABBA, Cláudia Georgia. A busca pela aprendizagem além dos limites escolares. Tese de
doutorado. São Paulo: USP, 2009.
SANCHEZ TEIXEIRA, Maria Cecília. Discurso pedagógico, mito e ideologia: o imaginário
de Paulo Freire e Anísio Teixeira. Rio de Janeiro: Quartet, 2000.
SANDIN ESTEBAN, M. P. Pesquisa qualitativa em educação: fundamentos e tradições.
Porto Alegre: AMGH, 2010.
SANTOS, B. S. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. In:
SANTOS, B. S. (Org.). Conhecimento prudente para uma vida decente: ‘um discurso sobre
as ciências’ revisitado. São Paulo: Cortez, 2004.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 5ª ed. São Paulo: Cortez,
2008.
SAPIR, Edward. Língua e meio ambiente. In: Lingüística como ciência. Rio de Janeiro:
Livraria Acadêmica, 1969.
SAUSSURE, Ferdinand. Curso de Lingüística Geral. São Paulo: Cultrix, 1995.
SERRANO, G. P. Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. Madrid: Editorial La
Muralla, 1998.
SIVA, Samuel Sousa. A relação epistemológica entre a Antropologia do Imaginário e a
Ecolinguística. In: COUTO, Elza Kioko N. N.; DUTRA-CINTRA, Ema Marta; BORGES,
Lorena Araújo de Oliveira. Antropologia do Imaginário, Ecolinguistica e Metáfora. Brasília:
Thesaurus, 2014.
STRÔNGOLI, Maria Thereza. Imaginário e narratividade. In: Anthropologias – Imaginário e
complexidade, vol. 1, n. 2, 1997.
STRÔNGOLI, Maria Thereza. Do signo ao símbolo: as figurativizações do imaginário. In:
DEL PINO, Dino (org.). Semiótica: olhares. Porto Alegre: EDIPUC-RS, 2000.
STRÔNGOLI, Maria Thereza. Encontros com Gilbert Durand – Cartas, depoimentos e
reflexões sobre o imaginário. In: PITTA, Danielle Perin Rocha. Ritmos do Imaginário.
Recife: Editora Universitária da UFPE, 2005.
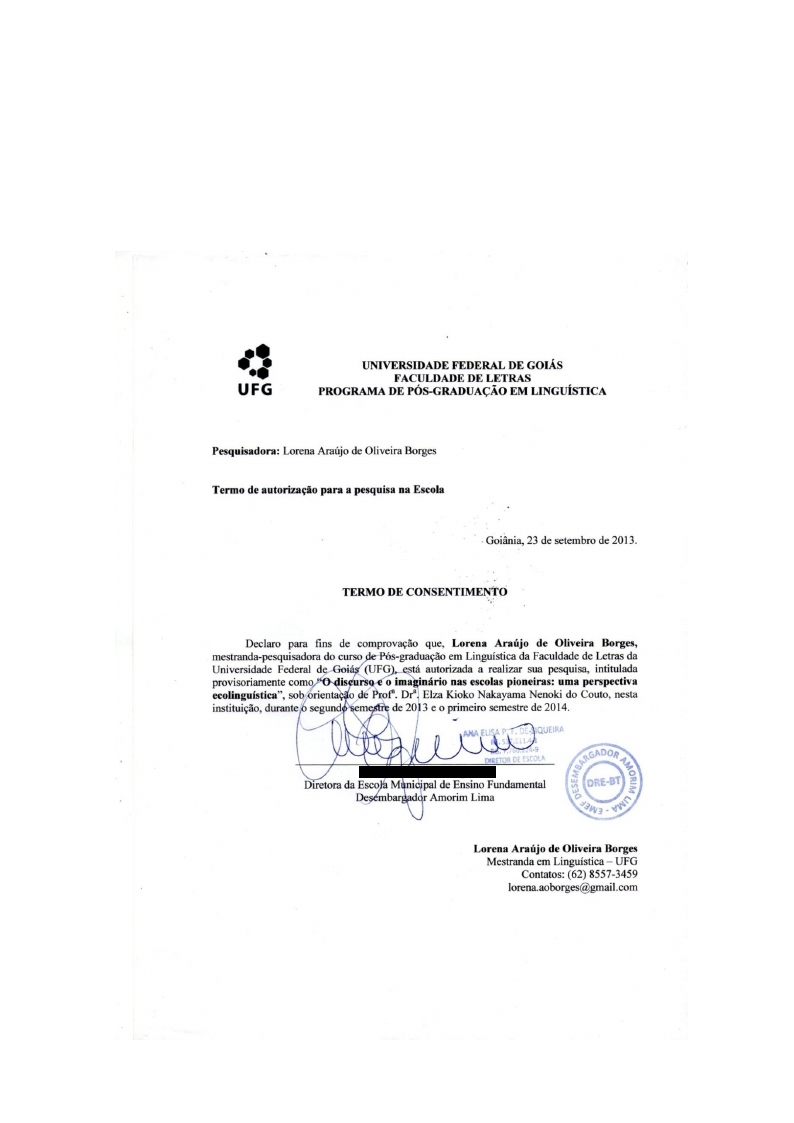
89
APÊNDICES
APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO

90
ANEXOS
ANEXO 1 - PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO EMEF AMORIM LIMA
I – Dos primórdios do Projeto
Da derrubada das grades à derrubada das paredes
Como você leu na História da EMEF DEsembargador Amorim Lima houve um grande
processo catalisado pela diretora Ana Elisa Siqueira, com a colaboração de pais, professores e
alunos para que o atual Projeto Pedagógico fosse aplicado. Abaixo, você lerá quais são os
principais valores que fundamentam o projeto, inspirado no percurso realizado na Escola da
Ponte, em Portugal. Mas um pequeno resumo pode ser apresentado da seguinte forma:
- No Amorim, cada aluno tem um educador tutor. Esse educador é responsável pela avaliação
do progresso do estudante. Normalmente, cada professor da escola é responsável por cerca de
20 alunos por período. E, uma vez por semana, o tutor tem um encontro de cinco horas com
seus tutorandos. Nos demais dias, se o tutorando tiver problemas pode procurar o seu tutor. E,
de maneira geral, eles também se encontram no “Salão”, que você conhece abaixo.
- Cada aluno recebe ao longo do ano apostilas com roteiros de pesquisa. Cada roteiro tem
cerca de 18 objetivos, ou seja, perguntas ou tarefas que devem ser respondidas ou
desenvolvidas pelo estudante. Repare que os roteiros e seus objetivos são desenvolvidos a
partir dos livros didáticos recebidos pelo estudante, e as perguntas que o estudante deve
responder exigem que eles pesquisem em vários livros ao mesmo tempo (de português, de
ciências, de geografia, de história…).
- Dois grandes grupos de salas de aula tiveram suas paredes literalmente derrubadas. Assim,
criaram-se dois grandes salões. Em um “Salão” ficam os alunos do Ciclo I e no outro os
alunos do Ciclo II. Esses alunos sentam-se em mesas de quatro lugares para realizarem as
suas pesquisas em grupo e responderem, individualmente, seus objetivos (dos roteiros). Não
há aulas expositivas (a não ser as aulas de matemática, inglês e de oficina de texto). Os

91
professores – cerca de cinco ou seis – circulam pelo salão para ajudar os alunos em suas
dúvidas e explicar alguns conceitos se isso se fizer necessário. É importante saber que não
necessariamente os alunos sentados juntos em uma mesa estão desenvolvendo as pesquisas de
um mesmo roteiro. Isso acontece porque cada aluno decide a ordem em que quer fazer os
roteiros. Assim, um estudante pode ter escolhido começar pelo roteiro Biografia e o outro
colega de mesa pode ter escolhido começar o ano pelo roteiro Corpo Humano, por exemplo.
- Quando acaba de preencher o seu roteiro, o aluno escreve um portfólio, com tudo que
aprendeu com aquele roteiro e entrega para o tutor, que avalia se ele pode receber a apostila
seguinte, com os demais roteiros. Não há provas. O progresso do conhecimento é avaliado
pela qualidade dos portfólios e pela participação do aluno na escola.
II _ Dos valores que fundamentam o projeto
Ascendermos todos – alunos, educadores, pais e comunidade – a graus cada vez mais
elevados de elaboração cultural e a níveis cada vez mais elevados de autonomia moral e
intelectual, num ambiente de respeito e solidariedade, é o objetivo que fundamenta o Projeto
EMEF Desembargador Amorim Lima.
Para tanto, a prática diária deve apontar:
Para a elevação do grau de compromisso com a realização deste Projeto, por parte de
todos os segmentos da escola, nos limites de suas atribuições definidos no Regulamento
Interno que o integra e dele é parte.
Diferentemente daquela escola em que cabe ao professor ensinar, e ao aluno aprender,
esse Projeto visa um compromisso coletivo em que todos os seus agentes se engajem
sempre mais num processo de aprimoramento cultural e pessoal de todos, de forma
integral, e na construção de uma intencionalidade educativa clara, compartilhada e
assumida por todos.
Esta intencionalidade educativa, calcada nos valores da autonomia, solidariedade,
democraticidade e responsabilidade deve ditar o funcionamento organizacional e
relacional da escola, preservando e reforçando o papel do professor e dos educadores, e

92
tendo o Conselho Pedagógico como responsável direto pela formulação e implantação das
práticas pedagógicas que a sustentarão _ sempre em consonância com o Projeto
Pedagógico aprovado pelo Conselho de Escola. Reconhece-se, no escopo desse Projeto, o
papel de educadores à totalidade dos trabalhadores e trabalhadoras da escola, no âmbito de
suas funções específicas.
Sendo que uma tal intencionalidade educativa, apoiada nos valores da solidariedade e da
democraticidade, só se realiza e produz sentido se fortemente apoiada pela totalidade dos
agentes envolvidos, deve-se buscar, sempre mais, a participação e o apoio dos pais e da
comunidade na vida da escola, preservadas as atribuições elencadas neste Projeto e melhor
formuladas no Regulamento Interno, que regerá sua correta aplicação. Reconhece-se a
importância do trabalho dos diversos agentes implicados na melhoria da EMEF
Desembargador Amorim Lima ligados não formalmente a ela, seja na forma de
voluntariado, seja sob a forma de apoio institucional e financeiro.
Para a elevação dos graus de autonomia de todos os envolvidos neste Projeto: e1) do
ponto de vista da autonomia intelectual, outorgando sempre mais ao aluno o domínio
sobre os processos e meios de aprendizagem, auxiliando-o a encontrar e desenvolver os
meios que lhe possibilitem construir e viver um percurso intelectual próprio; e2) do ponto
de vista da autonomia moral, devem ser sempre aprimorados os mecanismos que
favoreçam e estimulem, por parte dos alunos, a assunção de mais responsabilidades no
sentido do melhor funcionamento da escola e da mais eficaz implantação deste Projeto,
visto que a mesma só se dá frente a um coletivo no qual se inscreve e na medida em que
também se assuma e respeite as diretrizes e os projetos traçados por este mesmo coletivo.
Se antes cabia ao professor formar-se individualmente para dar conta de uma docência
expositiva e solitária, numa relação dual com os alunos, o funcionamento deste Projeto
passa a exigir: f1) uma prática compartilhada e solidária, visto que o professor não
trabalha mais intra-muros, solitariamente e com uma turma específica; f2) uma formação
diversificada e múltipla, no sentido de poder acompanhar e incentivar a transversalidade
curricular pretendida, sem contudo abrir mão de seu conhecimento mais aprofundado em
uma área específica; f3) a mudança de foco na relação com os alunos, visto que a
exposição de conteúdos passa a dar lugar ao incentivo constante à pesquisa, à orientação
quanto o melhor uso dos Roteiros Temáticos, à solução das dúvidas que nascem dos mais

93
diversos e inesperados lugares; f4) o descentramento do papel do professor como detentor
de saber para um papel de colaborador na construção de saber, visto que lhe cabe, neste
novo funcionamento, mais orientar que explicar, mais pesquisar que ensinar. Sendo, pois,
variadas e profundas as demandas que a implantação deste Projeto dirige aos professores,
devem os agentes todos que dão suporte à sua implantação comprometer-se no esforço de
propiciar, aos educadores de forma geral, e aos professores especificamente, uma
formação continuada de qualidade, voltada à sua prática diária e às suas questões mais
prementes.
Uma atitude de respeito para com as diferenças culturais, raciais, de credo e quaisquer
outras, de todos e para com todos. A convicção de que cada aluno é único, pode e deve
permanentemente construir e exercer sua identidade no seio de um coletivo que não a
mitigue ou aplaque. A convicção de que toda a criança é capaz de aprender e desenvolver-
se, em ritmo e forma próprios, sendo-lhe dadas as condições para que o faça.
A compreensão do ser humano como ser integral. A convicção de que toda a
aprendizagem significativa do mundo é também conhecimento e desenvolvimento de si,
numa dialética que equipara a elaboração intelectual à elaboração pessoal e psíquica
(Pichón-Riviere).
Pautando-se num critério de democraticidade e transparência cada vez mais elevados,
deverão as diversas forças que compõem este Projeto, em seus diversos âmbitos,
comprometer-se a um esforço constante de esclarecimento de suas ações e atitudes, frente
ao coletivo da escola. Sendo este um projeto educacional coletivo, caberá aos diversos
segmentos que o compõem a tarefa de manifestarem suas convicções e justificarem suas
ações de forma clara e coerente, logicamente sustentadas. Os diferentes lugares de poder
que tomam os detentores de diferentes saberes e diferentes fazeres, no escopo deste
Projeto e salvaguardados em seu Regulamento, não devem servir de pretexto à atitude
autoritária, arrogante, isolada, por parte de nenhum de seus membros. Os canais de
diálogo e de divulgação, no âmbito dos diversos segmentos do Projeto, serão melhor
explicitados no seu Regulamento Interno.
III _ Das bases conceituais do Projeto, da aprendizagem e do currículo.

94
O Projeto Pedagógico EMEF Desembargador Amorim Lima é um projeto único, nascido do
esforço de uma comunidade específica e voltado a suprir as demandas e anseios desta
comunidade. Para tanto, está construindo estratégias, encontrando soluções e criando os
dispositivos pedagógicos que julga melhor se adequarem ao universo de seus alunos e
educadores, no sentido de alcançar seus objetivos de forma plena e eficaz. É, portanto, um
projeto que em tudo se apóia e em tudo coerente com o propugnado na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Brasileira (LDB).
As grandes linhas pedagógicas do Projeto são absolutamente consonantes com aquelas que os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) indicam como objetivo a se esperar dos alunos do
ensino fundamental, e cuja importância justifica reiterar:
compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de
direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de
solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o
mesmo respeito;
posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais,
utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas;
conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e
culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e
pessoal e o sentimento de pertinência ao País;
conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como
aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer
discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de
etnia ou outras características individuais e sociais;
perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus
elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio
ambiente;

95
desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas
capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção
social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania;
conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um
dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua
saúde e à saúde coletiva;
utilizar as diferentes linguagens _ verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal _ como
meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das
produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e
situações de comunicação;
saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e
construir conhecimentos;
questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para
isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica,
selecionando procedimentos e verificando sua adequação.
No esforço de adequação e observância aos fundamentos aqui relatados, o Projeto propugna
uma série de transformações dos dispositivos pedagógicos anteriormente praticados na escola.
Estas transformações, já implantadas, em fase de implantação e em fase de projeto, podem ser
assim definidas:
No sentido de aumentar a implicação dos alunos no processo de aprendizagem, melhor
favorecer o desenvolvimento de seus graus de autonomia e ainda, no sentido de melhor
adequar o currículo objetivo aos ritmos e predisposições individuais, o Projeto privilegia o
trabalho de pesquisa. A aula expositiva deixa de ser o instrumento preferencial de
transmissão e aquisição de saber, passando a ser um recurso utilizado pontualmente: 1)
seja nos momentos em que o grau de autonomia não permita, ainda, a vinculação a um
projeto de pesquisa; 2) seja nos momentos em que os educadores entendam que uma
explanação possibilite um avanço no processo, esgotados todos os outros recursos; e 3)
seja, finalmente, nas ocasiões em que características momentâneas do Projeto em

96
implantação não permitam adequar a prática pedagógica aos princípios que a
fundamentam.
O trabalho de pesquisa é norteado por Roteiros Temáticos de Pesquisa, concebidos
segundo a Teoria dialógica da linguagem do Círculo de Bakhtin, e apoiado nos livros
didáticos e paradidáticos, num contexto predominantemente grupal. Apesar de usar tais
livros de forma particular e não seqüencial, privilegiando uma transversalidade temática, e
apesar de não se restringir a eles, o Projeto reconhece o Programa Nacional do Livro
Didático como uma outra sua importante base prática e conceitual, além da sustentação
em uma Política Pública Federal.
De implementação gradativa a partir de 2004, e abrangendo a totalidade dos alunos desde
o início de 2006, o dispositivo extingue as três classes de cada série, dividindo os alunos
em 21 grupos de 5 membros cada.
Além do acompanhamento grupal e individual em sala, são os alunos acompanhados mais
de perto por um tutor que, ao ater-se a um grupo menor de alunos, preferencialmente
durante todo o período de formação escolar, pode orientá-los com olhar mais atento e
agudo, indicando e corrigindo rumos. Sendo a busca da autonomia um valor matricial do
Projeto, e somente podendo ela fundar-se numa cada vez mais aprofundada auto-
avaliação, caberá ao espaço da tutoria auxiliar os professores a implantar e fomentar a
auto-avaliação, numa gradual tomada de consciência, por parte dos alunos, de suas
capacidades e de suas dificuldades.
Dados os fundamentos aqui apresentados, é pretensão do Projeto oferecer, além de uma
adequada formação intelectual e cognitiva, um aprimoramento artístico, físico, estético,
enfim voltado às mais diversas formas de manifestação expressiva do ser humano, num
clima de valorização do amadurecimento das relações interpessoais sem a banalização dos
afetos. O trabalho dos arte-educadores assume, pois, lugar de grande importância,
devendo as diversas forças que compõem o coletivo esforçar-se por viabilizar, segundo
critérios do Conselho Pedagógico, a sua sustentada e permanente presença na escola _ seja
empenhando-se em incluí-los no escopo do quadro funcional estável, seja buscando os
recursos que possibilitem a manutenção de um contrato autônomo.

97
É reconhecida e valorizada, no âmbito deste Projeto, a importância das novas tecnologias
no que concerne ao acesso e à construção do conhecimento. A utilização de tais
ferramentas tecnológicas _ notadamente a informática _ deve pois sempre mais se integrar
ao trabalho diário de pesquisa e produção em sala de aula.
A EMEF Desembargador Amorim Lima possui importante acervo de mais de 18.000
volumes. Reformada, e em processo de completa informatização, a sala de leitura
transformou-se em biblioteca circulante, expandindo o acesso a seu acervo à toda a
comunidade.
Além do já citado, são bases conceituais do projeto, entre outras:
1) As contribuições de Jean Piaget quanto à formação dos conhecimentos e quanto às
autonomias moral e intelectual;
2) A imensa contribuição do grande educador Paulo Freire _ em primeiro lugar como fonte de
referência de toda a pedagogia que se pretenda libertária; em segundo por ter contribuído
fortemente na criação dos avançados parâmetros normativos da educação brasileira atual _
sem os quais seguramente este Projeto teria muitas mais dificuldades em ser implantado; e
3) Cabe ressaltar a importância, para a existência deste Projeto, daquele outro implantado na
pequena Vila das Aves, em Portugal, sob o nome Fazer a Ponte. Além de nos mostrar que “a
utopia é possível”, como bem o disse o professor José Pacheco, a Escola da Ponte é uma fonte
permanente de inspiração e reflexão, pois que soube, em seus quase 30 anos, ir criando
mecanismos e dispositivos pedagógicos coerentes com seus valores e princípios _ e que são
os mesmos que nos animam. Sabemos bem que uma coisa é ter princípios, outra bem diversa
é aplicá-los. Nesse sentido a Ponte, em sua generosa proposição de fazer públicos sua história,
seu trajeto, suas dificuldades e seu estágio atual, é fonte importantíssima de consulta e
interlocução.
Aprovado na Reunião Extraordinária do Conselho de Escola de 10 de agosto de 2005, com
modificações posteriores.
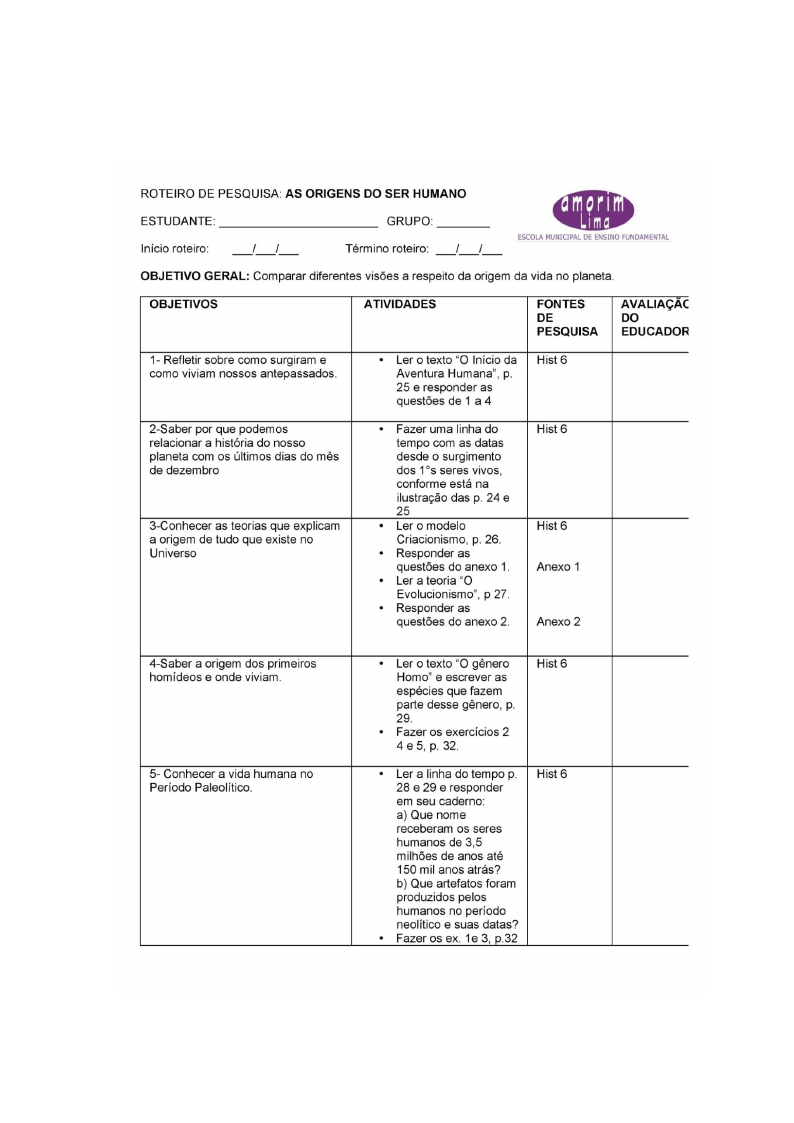
98
ANEXO 2 – ROTEIROS DE PESQUISA DA EMDAL
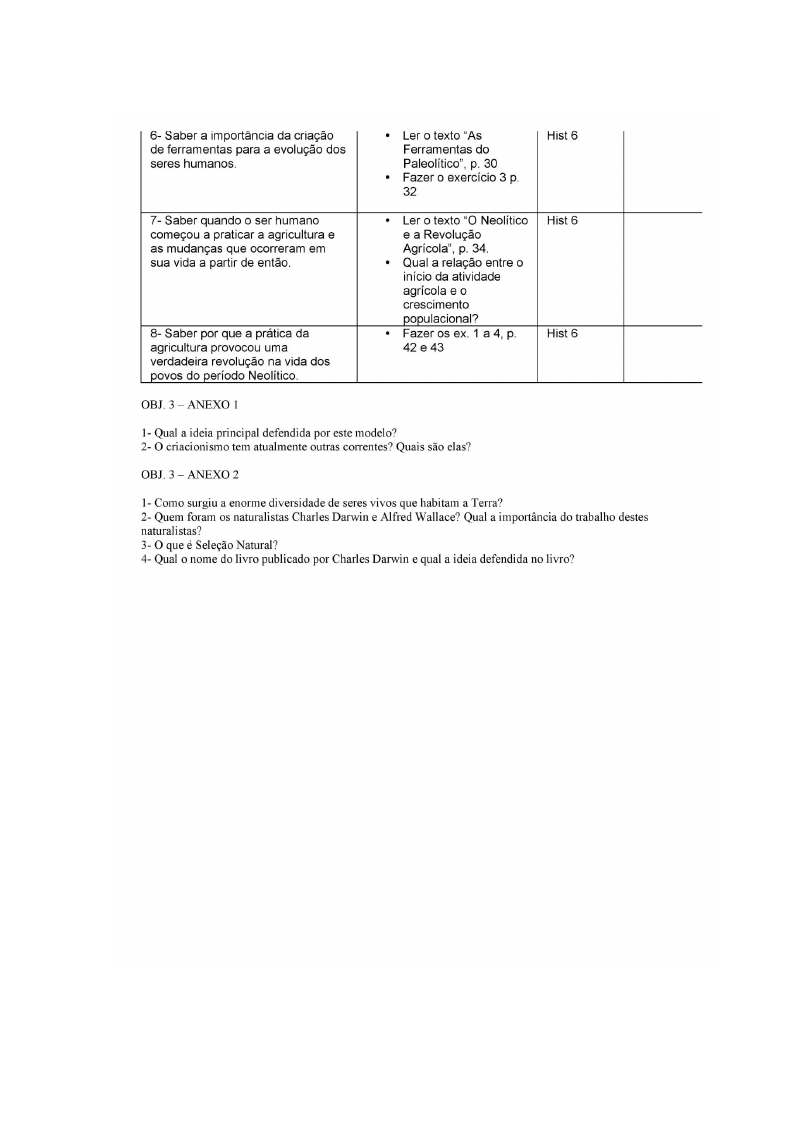
99
