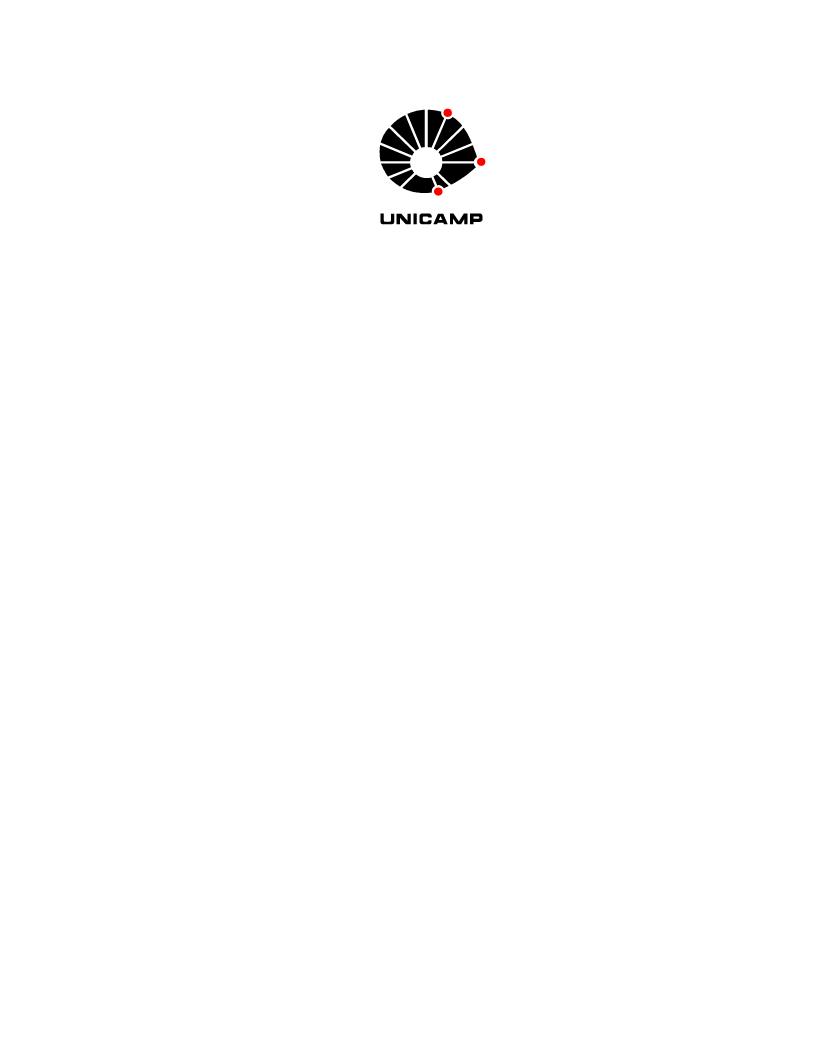
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH
Programa de Doutorado em Ambiente e Sociedade - NEPAM
As Vertentes Terapêuticas em Ilhabela:
Transformações Socioambientais,
Processos Saúde-Doença e Relações Ser Humano-Natureza
Aluna: Silvia Miguel de Paula Peres
Orientadora: Sônia Regina da Cal Seixas
CAMPINAS
Dezembro, 2009
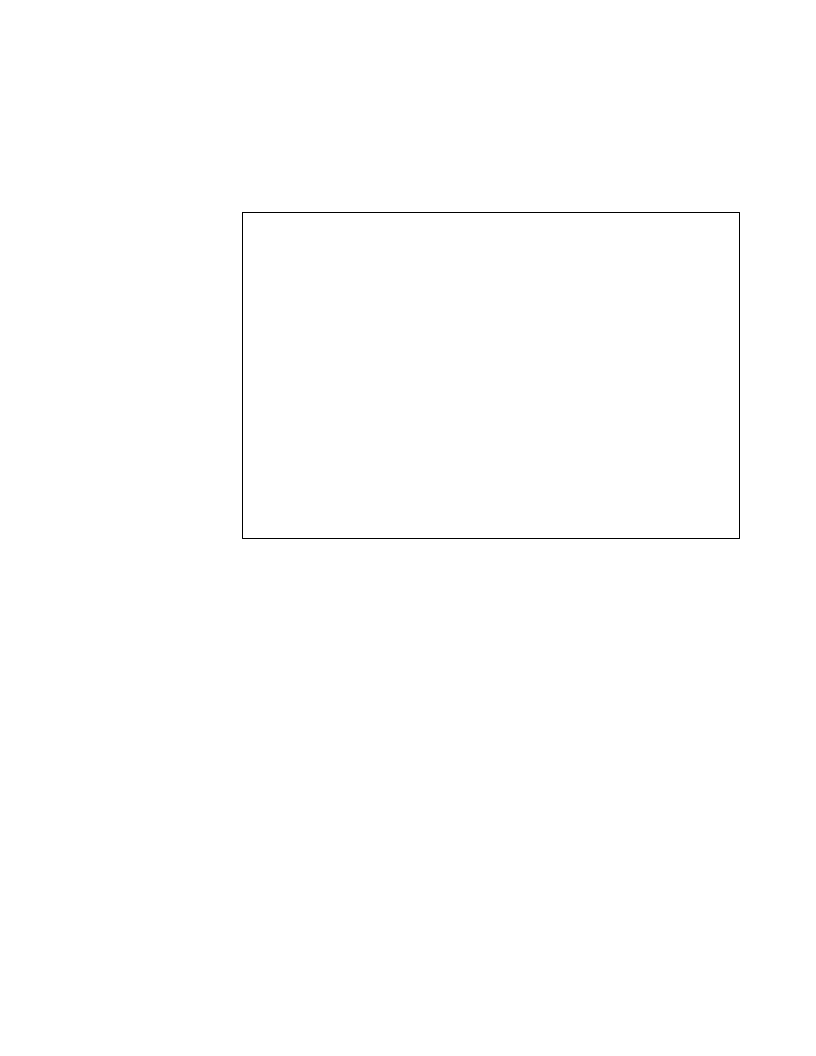
2
FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA
BIBLIOTECA DO IFCH - UNICAMP
Por Sandra Ferreira Moreira CRB nº 08/5124
P415v
Peres, Silvia Miguel de Paula
As vertentes Terapêuticas em Ilhabela, SP : Transformações
Socioambientais, Processos Saúde – Doença e Relações Ser
Humano - Natureza / Silvia Miguel de Paula Peres. - - Campinas,
SP : [s. n.], 2009.
Orientador: Sônia Regina da Cal Seixas.
Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas,
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas.
1. Urbanização. 2. Degradação ambiental . 3. Meio
ambiente . 4. Homem-Influência sobre a natureza. 5. Saúde
ambiental. 6. Natureza - Poder de cura. I. Seixas, Sônia Regina
da Cal. II. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas. III.Título.
Título em inglês: Therapeutic Aspects in Ilhabela, SP : Socio-Environmental
Transformation, Health-Disease Processes and Human
Beings-Nature Relations.
Palavras chaves em inglês (keywords) :
Urbanization
Degration Environmental
Environment
Nature effect of man
Environmental health
Nature - Healing power of
Área de Concentração: Aspectos Sociais de Sustentabilidade e Conservação
Titulação: Doutorado em Ambiente e Sociedade
Banca examinadora:
Daniel Joseph Hogan, Elda Rizzo de Oliveira, José
Geraldo Wanderley Marques, João Luiz de Moraes
Hoeffel, Leila da Costa Ferreira, Paulo Inácio de Knegt
López Prado, Marko Synésio Alves Monteiro.
Data da defesa: 18/12/2009
Programa de Pós-Graduação: Ambiente e Sociedade NEPAM – IFCH
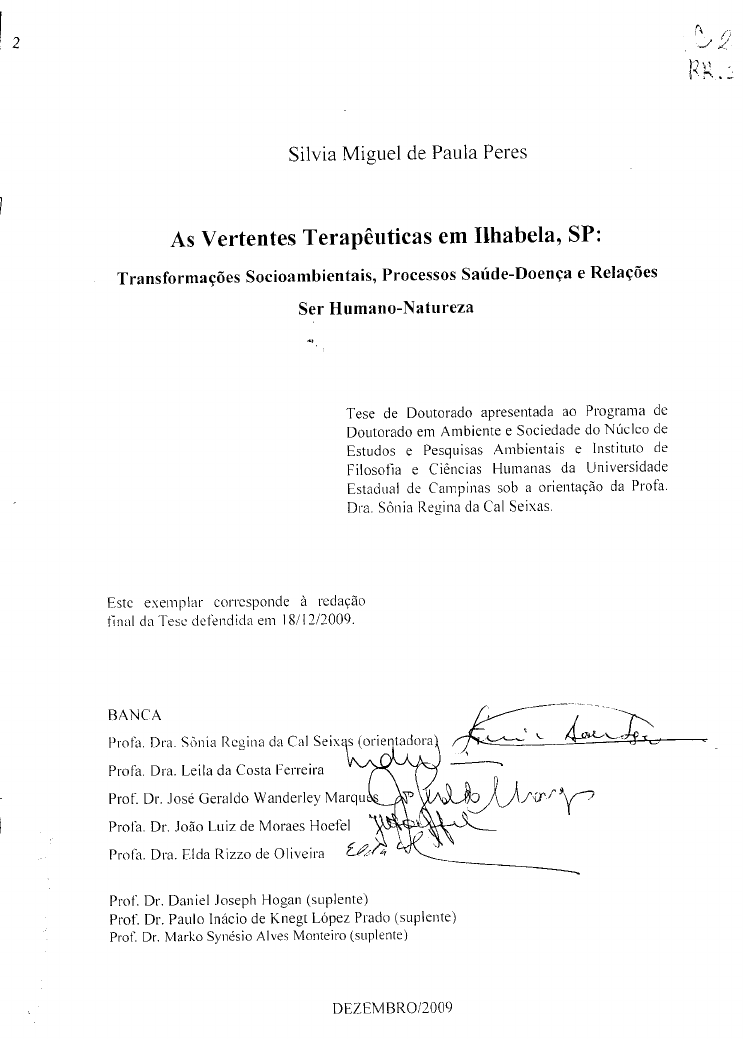

4
Agradecimentos
Aos meus pais, Silvio e Maria Thereza, por tudo, e também, pela paciência, compreensão e
interesse que tiveram durante o período em que desenvolvi este trabalho.
Aos meus irmãos, Alice e Ricardo, pelas conversas e discussões travadas no nosso cotidiano,
provocando uma efervescência que acirrou o desafio intelectual de realizar esta pesquisa.
À minha família inteira, composta de muitos médicos, que me fez questionar, desde o início da
minha vida acadêmica, os limites desta análise sobre doenças.
À minha orientadora, Profa. Dra. Sônia Regina da Cal Seixas, por ter acreditado desde o início
no meu projeto de pesquisa para o doutorado, e por tê-lo compreendido em sua essência.
Também agradeço a sua dedicação durante todos esses anos, em virtude de sempre que
solicitada, não ter poupado esforços para me atender e, acima de tudo, me dando apoio
institucional e muita força, que foram cruciais para o desenvolvimento e conclusão deste
trabalho. Indispensável para a realização das viagens de campo foi o auxílio financeiro
concedido pelo seu projeto “Ambiente, subjetividade e complexidade: um estudo sobre a
depressão no litoral norte paulista” (FAPESP, n. 04/10685-1).
À Profa. Dra. Leila da Costa Ferreira e ao Prof. Dr. Paulo Inácio de Knegt López Prado, pelas
ricas sugestões que fizeram durante o exame de qualificação.
Ao Prof. Dr. José Geraldo Wanderley Marques, por compor a pré-banca, a banca e pela atenção
dispensada à leitura minuciosa desta tese, resultando em contribuições essenciais para o
amadurecimento da sua versão final.
Ao Prof. Dr. João Luiz de Moraes Hoeffel, por compor a pré-banca, a banca e ler a tese com
atenção, mas principalmente, por ter estado sempre onipresente nesses anos de trabalho, me
proporcionando um clima de confiança, amizade e carinho.
À Profa. Dra. Elda Rizzo de Oliveira, por ter sido minha orientadora na iniciação científica e no
mestrado, por já ter me ensinado muito nessa vida, e por me “acudir” até hoje nos momentos em
que as dúvidas conceituais se constituem como obstáculo ao desenvolvimento do raciocínio.
Agradeço-te também por fazer parte da banca examinadora.
Ao Prof. Dr. Daniel Joseph Hogan, por ter aceitado fazer parte da banca de defesa desta tese.
A todos os terapeutas do setor público e privado entrevistados na parte urbanizada de Ilhabela,
que se mostraram prontos para contribuir respondendo com seriedade as questões propostas por
esta pesquisa. Aos terapeutas caiçaras, por terem me ensinado com a maior paciência a sua
lógica singular de interpretação das doenças.
Aos funcionários da Prefeitura de Ilhabela, da Secretaria de Obras, da Secretaria do Meio
Ambiente, da Secretaria da Saúde, do Centro de Apoio Psico-Social e do Programa Saúde da
Família, à Simone (enfermeira da Vigilância Epidemiológica), à Mariana (diretora do cadastro
urbano e receitas da Prefeitura de Ilhabela) e à Carolina (diretora do Parque Estadual de
Ilhabela), que me atenderam e me deram atenção sempre que solicitados.

5
Ao seu Dito Dória (diretor das comunidades tradicionais de Ilhabela), por ter se colocado à
disposição para resolver qualquer problema referente ao trabalho de campo nas comunidades,
também por ter deixado o espaço da sua sala aberto para a realização de algumas entrevistas.
Agradeço-te, principalmente, por ter me levado à primeira viagem ao lado oceânico da ilha
principal e me apresentado aos caiçaras, me abrindo o caminho.
À Milena, querida amiga, que também me auxiliou nas primeiras viagens a campo, ensinando-
me a organizar toda infra-estrutura necessária para a ida às comunidades.
À Marina, amiga de infância, que me ajudou a realizar as traduções para o inglês referentes ao
resumo da tese.
Aos meus alunos e colegas da Faculdade Salesiana Dom Bosco Piracicaba, pelas questões
instigantes do cotidiano da minha prática como professora universitária, que enriquecem o
universo da pesquisa.
A todos os camaradinhas da Escola de Capoeira Raiz de Angola, e ao meu Mestre Zequinha, por
me ensinar a transformar a dor em um instrumento de libertação.
A todos os meus amigos (que são muitos), entre eles Dani Pedroso, Dani Vitti, Julia, André,
Luciana, Helga, Maria Clara, Tubarão, Paulinha, Caio, Wesley, Camila, Mileni, Pingo, Jubileu,
Lampião, Maristela, Milani, David, Marcelo, Andréia, Patrícia, Paula e Lica, pela paciência que
tiveram comigo, pelo ouvido atento aos meus desabafos e por tudo o que passamos juntos nesses
últimos anos, que ressoou em mim num profundo interesse em compreender as complexas
manifestações da natureza humana.
Ao meu amor Rangel, por ser esse companheiro incondicional, que literalmente me tranqüilizou
por estar ao meu lado nos trabalhos de campo e em todas as etapas da elaboração desta tese,
amenizando as pequenas tensões do dia a dia.
À minha amada filha Luna, que ilumina a minha existência desde o seu nascimento, e que me
desafia constantemente a viver e a experimentar um sentimento de identificação com a matriz
criadora.

6
As Vertentes Terapêuticas em Ilhabela, SP:
Transformações Socioambientais, Processos Saúde-Doença e
Relações Ser Humano-Natureza
Resumo
Esta tese discute os processos saúde-doença a partir de enfoques diferenciados, ligados às
vertentes terapêuticas atuantes no município de Ilhabela, SP. A maneira como cada terapeuta
articula o conhecimento adquirido à sua prática de curar, traz a tona a questão da pluralidade
cognitiva, reveladora de heterogêneas dimensões do ambiente incorporadas na saúde. Nesse
aspecto, as vertentes terapêuticas se movimentam no interior de um amplo campo analógico que
emerge das infinitas relações entre o ser-humano e a natureza, buscando soluções e metodologias
das mais variadas para se alcançar a eficácia do tratamento, transcendendo a relação de causa e
efeito linear. A partir do conceito de corporalidade, que remete à concepção do corpo como um
feixe de relações que ultrapassam a cisão natureza/cultura, esta pesquisa se abre para a conexão
do corpo com seu hábitat, pelo conceito de saúde ecossistêmica, buscando integrar à
compreensão da saúde humana, a esfera socioambiental. Almejando contribuir para o debate
aberto pelas discussões atuais em saúde e ambiente, a tese procurou dar conta da elaboração de
uma dimensão orgânica – traduzida pelos processos históricos de urbanização e de degradação
ambiental em Ilhabela, associados aos padrões saúde-doença mais evidenciados no município –
até alcançar a dimensão simbólica – que remete às analogias recuperadas pelas diferentes
vertentes terapêuticas – para, dessa maneira, pensar os processos de cura como resultado de uma
interação saudável do ser humano com seu meio, abrindo perspectivas para a discussão da
sustentabilidade a partir desses pressupostos.
Palavras-chave: processos saúde-doença; vertentes terapêuticas; urbanização; degradação
socioambiental; sistemas de cura; pensamento analógico; sustentabilidade.

7
Therapeutic Aspects in Ilhabela, SP:
Socio-Environmental Transformation, Health-Disease Processes and
Human Beings-Nature Relations
Abstract
This thesis discusses the processes of health and disease from different methodological
approaches related to therapeutic aspects in Ilhabela, SP. The way each therapist articulates their
knowledge to their practice of healing, brings up the question of cognitive diversity, evidence of
heterogeneous dimensions of the environment in health. The therapeutic aspects move within a
broad field that emerges from the analog infinite relations between human beings and nature,
looking for solutions to a variety of methodologies to achieve the effectiveness of treatment,
going beyond the relationship of cause and linear effect. Based on the concept of corporality,
which refers to the conception of the body as a series of relationships that go beyond the
separation of nature/culture, this research opens the connection to the body with its habitat, the
concept of ecosystem health, seeking to integrate the understanding of human health, the socio-
environmental sphere. Willing to contribute to the debate initiated by the current discussions in
health and environment, this thesis was focused for the development of an organic dimension -
translated by historical processes of urbanization and environmental degradation in Ilhabela,
associated with health and disease patterns more evident in the city - to reach the symbolic
dimension - referring to the analogies recovered by the different therapeutic elements- in this
way, think the healing process as a result of a healthy interaction of human beings and their
environment, opening up the discussion of sustainability from these assumptions.
Key words: health-disease processes, therapeutic aspects, urbanization, socio-environmental
degradation, healing systems, analogical thinking, sustainability.

8
Sumário
I. Introdução
10
II. A Questão do Adoecer Humano e das Terapias de Cura
13
III. Objetivos
15
IV. Hipótese
15
V. Justificativa
16
VI. Bases Teóricas
17
VII. Metodologia
20
VIII. Os Entrevistados
21
IX. Operadores Cognitivos
26
Capítulo 1 – A História de Ilhabela e seus Desdobramentos
29
1.1 Memórias
29
1.2 O Início da Colonização
32
1.3 A Cultura Caiçara
37
1.4 A Constituição do Parque Estadual de Ilhabela
42
1.5 O Turismo e o Processo de Urbanização do Litoral Norte
46
1.6 As Conexões entre a Saúde e o Ambiente
57
1.7 Considerações
70
Capítulo 2 – A Pluralidade dos Ambientes Terapêuticos e a
73
Saúde da População
2.1 Os Diferentes Ambientes Terapêuticos
82
2.1.1 O Sistema Público
83
2.1.2 O Sistema Privado
87
2.1.3 O Sistema Popular
89
2.1.4 O Debate Atual e as Ofertas em Saúde
93
2.2 Os Terapeutas como Migrantes
94
2.3 A Percepção sobre as Mudanças Ambientais
99
2.4 Os Indicadores e as Representações de Doenças
107
2.5 Considerações
130
Capítulo 3 – O Adoecer nas Diferentes Vertentes Terapêuticas: 133
A Riqueza das Analogias
3.1 As Analogias do Lado Urbanizado
135
3.2 As Medicinas Caiçaras
159
3.2.1 As Conexões entre o Mundo Natural e o Sobrenatural
174

9
3.3 As Relações Afetivas com o Ambiente Construído:
190
A Questão da Eficácia Terapêutica
3.4 As Interações entre os Sistemas e os Problemas enfrentados:
199
Perturbações que Afetam a Organização da Estrutura
3.4.1 Os Itinerários Terapêuticos e Algumas Estórias que Fogem 213
dos Padrões Convencionais
3.5 As Vertentes Terapêuticas na Perspectiva da Sustentabilidade 218
3.6 A Saúde na Perspectiva da Integração com a Natureza
228
3.7 A Pluralidade Terapêutica e a Desordem das Estruturas
232
Considerações Finais
236
Referências Bibliográficas
242
Anexo
255
TABELAS
Tabela 1: Entrevistas de Campo - Ilhabela (2006, 2007, 2009)
24
Tabela 2: População Residente nos Municípios do Litoral Norte
48
Tabela 3: Abastecimento de água – Nível de Atendimento (Em %)
55
Tabela 4: Esgoto Sanitário - Nível de Atendimento (Em %)
55
Tabela 5: Ofertas em Saúde – Ilhabela – 2008
94
Tabela 6: Doenças Referidas em Ilhabela
109
Tabela 7: Vigilância Epidemiológica (2006)
112
Tabela 8: Doenças mais Citadas nas Entrevistas de Campo
129
Tabela 9: As Diferentes Causalidades das Doenças
137
Tabela 10: Conhecimento Medicinal dos Caiçaras
189
FIGURAS
Figura 1: Mapa de Ilhabela
30
Figura 2: Habitações do Bairro Barra Velha
52
Figura 3: Área de Risco do Bairro Barra Velha
52

10
I. Introdução
O adoecimento humano é um tema que vem sendo cada vez mais discutido pela literatura
científica atual, quando esta se propõe a explorar os impactos ambientais da vida moderna.
Estudos vêm mostrando a estreita correlação entre o aumento da poluição e da degradação dos
ambientes associados à piora dos indicadores de doenças nas diversas sociedades.
O movimento ecológico também tem contribuído bastante para o desenvolvimento desta
perspectiva de análise, quando chama a atenção para as relações entre o ser humano e seu hábitat,
que podem tanto levar a saúde quanto produzir doenças (MINAYO & MIRANDA, 2002;
CASTRO et al, 2003; AUGUSTO, 2006; FREITAS & PORTO, 2006).
Evidências empíricas indicam que os processos de urbanização a que as cidades estão
sendo submetidas, associados ao aumento das atividades industriais, vêm gerando a
contaminação e a destruição dos ecossistemas, as mudanças climáticas globais, secas e enchentes,
incêndios florestais, desertificação, como também a perda da qualidade de vida. Em outras
palavras, a exposição aos agentes nocivos gerados pelas atividades antrópicas vem produzindo
doenças e desequilíbrios tanto individuais, sociais, quanto ambientais, oriundos da degradação da
biosfera. (BUTTEL, 2000; CASTRO, 2003; AUGUSTO, 2006; FREITAS & PORTO, 2006).
Ao mesmo tempo, as publicações mais recentes (CASTRO, 2003; AUGUSTO, 2006;
FREITAS & PORTO, 2006; SABROZA, 2007) vêm apontando que os padrões epidemiológicos
têm expressado aspectos ligados ao meio onde os organismos vivem e se relacionam, criando
contextos que singularizam os quadros de adoecimento de acordo com os padrões de organização
do ambiente onde vivem os diferentes grupos populacionais. Sendo assim, as características
territorial, ecossistêmica, socioeconômica e cultural são dimensões importantes que estão sendo
incorporadas na avaliação da susceptibilidade e da predisposição a certas doenças, ou seja, as
pessoas manifestam pelas doenças que as acometem, as situações de risco decorrentes dos
processos de uso e ocupação vividos por determinada região (AUGUSTO, 2006).
Nessa discussão, a Sociologia Ambiental também se constituiu como um corpo teórico
que vem denunciando os efeitos das atuais relações tecidas entre o ser humano e a natureza. A
partir da constatação de que o aumento das atividades industriais tem causado intensa degradação
dos recursos naturais, abriu-se um campo para o questionamento das posições individuais a
respeito das mudanças ambientais, pela abordagem construcionista. Nesta abordagem, reconhece-

11
se que a realidade da degradação é o foco de muitos estudos técnicos e científicos, no entanto, as
representações individuais também estão sendo incluídas na construção de um diagnóstico que
leve em consideração a opinião dos diferentes atores envolvidos, por contemplarem percepções
que, quando vistas conjuntamente ao conhecimento especializado, constroem uma realidade mais
complexa e abrangente, por englobar diferentes aspectos a respeito dos problemas ambientais
enfrentados (HANNIGAN, 1997; BUTTEL, 2000; 2001). Para Hannigan (1997), os problemas
ambientais são representações construídas em instâncias de várias ordens, no interior de um
processo dinâmico que articula as esferas públicas e privadas da vida social (HANNIGAN,
1997).
Reconhece-se dessa maneira, que a visão construcionista contribui para que o
conhecimento se abra para perspectivas polissêmicas1 da realidade, buscando integrar as
diferentes percepções e estórias a uma leitura dos problemas mais próxima dos contextos locais.
Almejando colaborar para o debate aberto pelas discussões atuais em saúde e ambiente,
esta tese procura discutir os processos saúde-doença a partir de enfoques diferenciados, ligados às
diferentes vertentes terapêuticas atuantes no município de Ilhabela, São Paulo. Nesse aspecto, a
pesquisa se abre ao questionamento das rupturas das relações ser humano – natureza, que criam
representações singulares sobre o ambiente e constroem diferentes caminhos que levam à eficácia
ou não dos tratamentos das doenças, estes últimos, vistos como processos relativos e localizados.
As vertentes terapêuticas são identificadas nesta tese como as linhas ou correntes de
pensamento que orientam as diferentes práticas de cura. A maneira como cada terapeuta articula
seu conhecimento adquirido a sua arte de curar, associada a sua percepção singular de doença,
pode levar a questionamentos interessantes a respeito das diferentes dimensões do ambiente
incorporadas na saúde.
Nesse contexto, há perguntas que atravessam o trabalho como um todo: Qual é o
significado de adoecimento e de saúde para os diversos terapeutas atuantes em Ilhabela? A perda
da qualidade ambiental da região que essas pessoas vivem e a consequente alteração no cotidiano
de suas vidas são aspectos considerados nos tratamentos das doenças? Como articular a dimensão
orgânica (biológica, ambiental) à dimensão simbólica para se compreender o processo terapêutico
sob diferentes óticas?
1 A visão polissêmica é referente a um conjunto de significados atribuídos à realidade, ao ambiente, que estão relacionados à
história e ao contexto dos lugares e das pessoas.

12
A escolha de Ilhabela está inserida na constatação de que o município possui
particularidades relevantes em relação às transformações socioambientais recentes, advindas da
constituição do município em uma Unidade de Conservação, do turismo desordenado e do uso e
ocupação do solo que impõe aos moradores situações bastante singulares em relação ao seu viver
cotidiano. Durante a realização da pesquisa “Ambiente, subjetividade e complexidade: um estudo
sobre depressão no litoral norte paulista” (FAPESP, n. 04/10685-1), coordenada por Barbosa
(2007), foi realizada uma intensa observação sistemática, na qual foi possível identificar que
fatores objetivos da realidade do litoral norte estavam ocasionando desequilíbrios no plano da
subjetividade humana.
Neste projeto, a autora analisa as recentes transformações ambientais que a região do
litoral norte vem sofrendo, e que podem ser expressas pela perda de referências importantes para
a população nativa (caiçaras) e pelos demais moradores em relação à natureza, o aumento
progressivo e desordenado do turismo local e um significativo aumento populacional
(BARBOSA, 2007). De acordo com a autora, esse crescimento populacional suscita vários
problemas locais, tais como saneamento básico inadequado e moradia, por exemplo, decorrentes
do intenso processo de urbanização a que a região vem sendo submetida, promovendo pressões
sobre os recursos naturais disponíveis e comprometendo desse modo a sua conservação.
Por outro lado, na análise empreendida foi detectado um número expressivo de usuários
de serviços públicos de saúde que possuem diagnóstico de depressão, permitindo supor, segundo
Barbosa (2004a e 2007) que exista uma relação direta entre as transformações socioambientais da
região e a saúde dos moradores. Para ela, a vida cotidiana dos indivíduos está se tornando cada
vez mais complexa, na medida em que as pessoas vêm enfrentando desafios e medos ligados às
transformações decorrentes do (intenso) modelo de desenvolvimento assumido pela sociedade
globalizada. Augusto (2006) também ressalta que o perfil epidemiológico atual tem mostrado que
o Brasil apresenta doenças intimamente relacionadas à urbanização e a industrialização, que
impõem novos comportamentos e padrões de consumo à sociedade, e têm levado à configuração
de situações de exclusão e segregação socioeconômica refletidas em ambientes extremamente
degradados.
As estratégias de sobrevivência traduzidas pela procura por emprego, por melhores
condições de moradia, por serviços médicos, por escola, os conflitos ligados à produção e
reprodução do modo de vida, o medo da violência, todos esses fatores são, na opinião de Barbosa

13
(2007), Augusto (2006) e de muitos outros autores da Antropologia e da Sociologia (OLIVEIRA,
1998, 2007; BUCHILLET, 1991; LANGDON, 1995; ZÉMPLÉNI, 1994; LUZ, 1988, 2000,
2005; MINAYO, 2008) como uma teia que invade a subjetividade individual e, com isso, altera a
integridade física e mental dos seres humanos, transcendendo essa dualidade e manifestando-se
na forma de doenças (PERES, 2003, 2005).
II. A Questão do Adoecer Humano e das Terapias de Cura
Para trabalhar a realidade de Ilhabela, as abordagens em saúde-doença presentes nas
Ciências Sociais serão utilizadas. Nesse aspecto, estudos de antropólogos em outros grupos
culturais privilegiaram a análise das relações existentes entre ordem social, ordem biológica e
ordem do mundo. O adoecer foi tomado como representação simbólica da vida em relação social,
e sua coerência foi também encontrada no âmago da realidade sociocultural das pessoas
(BUCHILLET, 1991; ZÉMPLÉNI, 1994; LANGDON, 1995).
Do mesmo modo, é possível conceber o adoecer em sociedades contemporâneas para
além do domínio do biológico, na medida em que este pode ser articulado a outros âmbitos da
vida do ser humano, visto como um corpo simbólico, metafórico, que expressa as relações com o
meio ambiente, com a sociedade e com a sobrenaturalidade, que corresponde às crenças de cada
um (PERES, 2004; OLIVEIRA, 2007).
Como articular essas esferas para pensar a relação entre as dimensões socioambientais, o
organismo humano e as representações simbólicas dos diferentes terapeutas atuantes em Ilhabela?
Como elaborar a co-relação entre os intensos processos de degradação ambiental e a produção
das doenças neste município? Como o ambiente construído pode propiciar a existência de
diferentes vertentes terapêuticas? Como efetivamente as diversas terapias estão presentes para
além das instituições públicas de Ilhabela e para além de seu próprio âmbito epistemológico?
Como as diferentes vertentes terapêuticas podem contribuir para a transcendência das relações de
causalidade lineares, presentes tanto no setor da saúde quanto nas interpretações dos problemas
ambientais? E por fim, seria possível pensar a sustentabilidade ambiental por meio das
contribuições terapêuticas dos atores que vivem em Ilhabela?
A partir das pesquisas realizadas sobre causalidade e eficácia de cura, pluralismo e
itinerário terapêutico como em Augé (1974), Buchillet (1991), Zémpléni (1994), Langdon (1995),
Peres (2003, 2004, 2005) e Oliveira (1998, 2007), ora pela ótica da Antropologia da Doença

14
(francesa), ora pela Antropologia Médica Americana, ora pela Antropologia Simbólica (também
norte-americana) – embora as três construam horizontes cognitivos diferentes – é possível notar
uma convergência existente entre as mesmas e alguns pressupostos da presente pesquisa, por
exemplo, a própria concepção do corpo representando um feixe de relações que ultrapassam a
cisão natureza/cultura. Essa idéia abre-se para a conexão do corpo com o seu meio, ou com o seu
hábitat, configurando interpretações de doenças ligadas a uma visão ampla de ambiente.
Levando em consideração essa abertura, o ambiente de Ilhabela está sendo representado
nesta tese em três visões distintas e complementares:
O primeiro aspecto corresponde à sua dimensão biofísica e ecológica, presente em um
município insular que abriga uma extensa Unidade de Conservação com ricos ecossistemas.
Nesse caso, os processos saúde-doença serão investigados no que tange à ligação direta com as
transformações socioambientais sofridas desde as primeiras explorações econômicas coloniais até
as mais atuais, ligadas ao turismo e à urbanização.
O segundo diz respeito ao seu significado socialmente construído e apropriado pelos
terapeutas, analisado juntamente a articulação de diferentes epistemologias e tratamentos situados
no interior destas relações materiais, possibilitando uma discussão a respeito da saúde
ecossistêmica que leve em conta a contribuição dos diferentes saberes na elaboração de entradas
para se alcançar a re-ligação do ser humano ao seu ambiente reconstruído de maneira mais
saudável e sustentável.
O terceiro aspecto é referente à dimensão antropológica do ambiente, ligado às diversas
representações de natureza, de doenças e de cura, ou seja, que lógica simbólica é subjacente às
articulações dos terapeutas? Nesse ponto, as diferenças culturais entre os entrevistados revelarão
o alcance das conexões analógicas realizadas por eles no processo terapêutico, ou seja, a
pluralidade cognitiva levando a diferentes associações entre as dimensões sobrenaturais do
mundo e as dimensões orgânicas do ser. Essa abordagem é importante para se pensar a natureza e
a eficácia terapêutica de várias maneiras, num horizonte ampliado pelo reconhecimento de
saberes que nem sempre são valorizados nos meios acadêmicos, como o saber medicinal dos
caiçaras de Ilhabela.
O presente estudo trabalha com paradigmas que estão se ampliando e conduzem a
enxergar o corpo e a natureza como sistemas análogos, já que interagem. Os sintomas físicos e
biofísicos manifestam, entre outras leituras, o impacto que as transformações da vida moderna
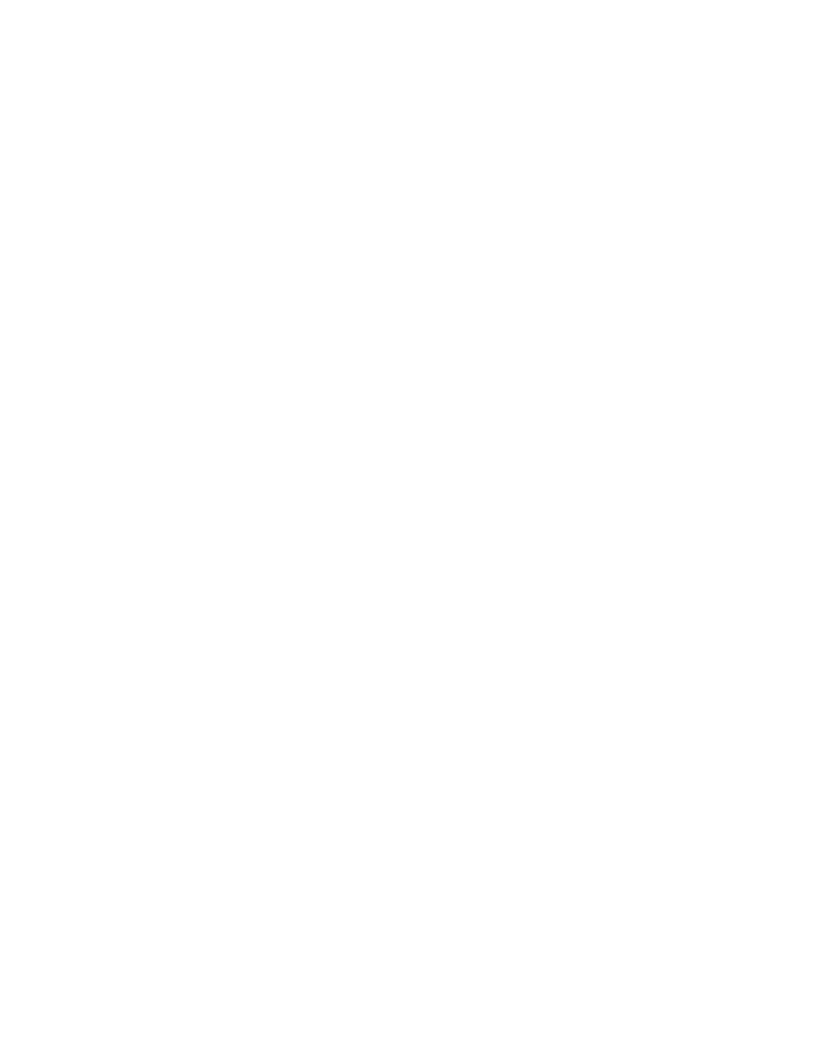
15
estão exercendo na saúde dos organismos e dos ecossistemas. Nesse aspecto, as vertentes
terapêuticas ajudam a trazer à tona questões e co-relações que correspondem as diferentes
maneiras de o ser humano interagir e representar o ambiente. Elas seriam como um veículo para
se pensar a conservação ambiental por meio do tratamento das doenças decorrentes da
degradação. Logo, as interpretações das heterogêneas vertentes terapêuticas atuantes em Ilhabela,
justificam-se como um campo de investigação que poderá contribuir para a reflexão acerca das
diversas manifestações da relação entre o ambiente e a sociedade.
III. Objetivos
O objetivo principal desta tese é o de elaborar um caminho que parte da dimensão
orgânica – traduzida pelos processos históricos de urbanização e de degradação ambiental de
Ilhabela associados aos padrões saúde-doença mais evidenciados no município - até alcançar a
dimensão simbólica - que remete à pluralidade cognitiva representada pelas diferentes vertentes
terapêuticas – para, dessa maneira, pensar os processos de cura como resultado de uma interação
saudável do ser humano com seu meio, abrindo perspectivas para a discussão da sustentabilidade
a partir desses pressupostos.
Busca-se avaliar também em que medida as diferentes vertentes terapêuticas contribuirão
para a reflexão acerca das relações de causalidade que envolve tanto as doenças humanas quanto
os problemas ambientais, verificando se as propostas e as soluções de cada ator abrirão
perspectivas para se pensar a conservação de Ilhabela a partir de várias representações e
apropriações do ambiente.
IV. Hipótese
A história de Ilhabela possui muitas semelhanças em relação aos demais municípios
brasileiros, mas também algumas diferenças, permitindo abrir espaços para análises que transitem
entre a dimensão orgânica e a simbólica. Sua totalidade é representada por dois lados
diferenciados: o lado urbanizado, voltado para o canal de São Sebastião e totalmente dependente
do turismo de alto padrão, e o lado oceânico, que abrange mais de 80% do seu território por
pertencer ao Parque Estadual, composto por uma floresta de mata atlântica remanescente e pelas
comunidades dos caiçaras, estas com acesso quase exclusivamente por via marítima.
Como a economia de Ilhabela é sustentada pelo turismo, este município atrai um número
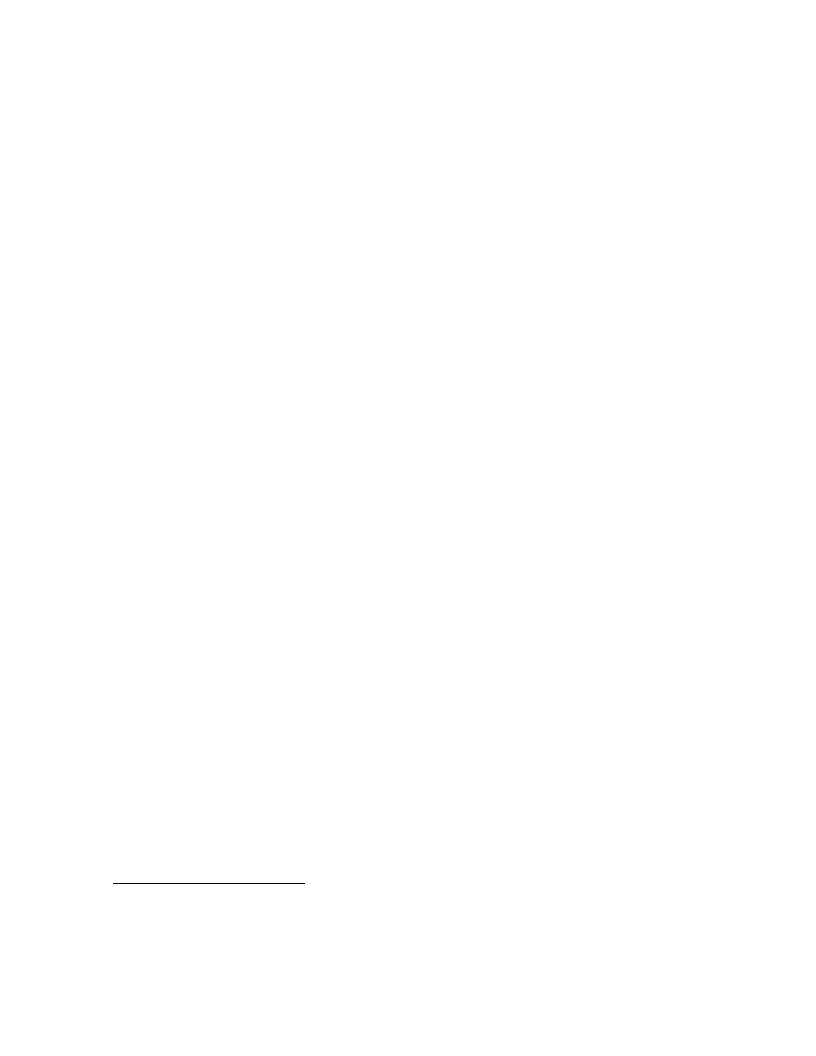
16
grande de migrantes, e curiosamente, muitos deles, são terapeutas na área da saúde vinculados às
chamadas medicinas alternativas2, que para lá se deslocam em busca de melhor qualidade de vida
e, também, de clientela. As consequências da urbanização da ilha principal também têm levado
ao aparecimento de doenças, que se colocam frente aos terapeutas como desafios, convidando-os
a articular diferentes metodologias na busca por remédios e por soluções para dar conta das
enfermidades intimamente relacionadas ao ambiente degradado.
Por essas considerações, pressupõe-se como hipótese que diferentes relações
socioambientais estão sendo construídas no contexto histórico-econômico atual de Ilhabela, a
partir de aspectos da realidade que não são totalmente excludentes. Um ambiente que se
transformou e atualmente atrai uma quantidade significativa de migrantes e turistas, manifestará
estórias terapêuticas diferenciadas.
V. Justificativa
No lado urbanizado, pode-se perceber uma enorme variedade de terapeutas que trabalham
com correntes heterodoxas das suas áreas profissionais e que migraram para Ilhabela, entre outros
motivos, para conseguirem maior adesão da sua forma de tratar as patologias entre os turistas de
final de semana e de temporadas. Alguns desses atores já se inseriram nos Programas de Saúde da
Família, trabalhando como clínicos nos centros de saúde pública, e como alternativos em
consultórios privados (essa dualidade não é tão definida na prática). Ao mesmo tempo, em
Ilhabela ainda existe um conhecimento antigo, que sobrevive nas comunidades dos caiçaras, que
manifestam uma compreensão da natureza, da fauna e da flora refletida em uma rica simbologia
dos processos terapêuticos. No entanto, esse conhecimento está em vias de se extinguir, pois lá o
modelo biomédico está avançando cada vez mais como solução recorrida pelos caiçaras nos
momentos de enfermidade.
Devido à percepção da existência de uma pluralidade cultural muito grande, optou-se pela
investigação das diferentes vertentes terapêuticas atuantes no município, para que a reflexão em
torno do adoecimento humano e suas relações com o ambiente caminhem por trilhas
multidisciplinares, construídas por encadeamentos causais mais flexíveis e originais, que
2 Medicinas alternativas são representadas por um conjunto de vertentes terapêuticas que obedecem a lógicas de pensamentos
diferentes daqueles determinados pelos parâmetros científicos da medicina biomédica. Algumas delas manifestam raízes
milenares, tais como a medicina chinesa, indiana, indígena e africana, aproximando influências tradicionais e populares em
processos facilmente apropriados pela população urbana (LUZ, 2005).

17
evidenciem novos aspectos das relações entre a natureza e a cultura e que contribuam para a
conservação ambiental.
Ao contrário de um caminho de disjunções, este trabalho tenta unir as diferentes práticas
de cura, para assim avançar em uma interpretação mais condizente com a multiplicidade das
causas que atuam no adoecimento e dos âmbitos socioambientais que o envolvem. A
modernidade impõe hoje a necessidade de se resgatar a diversidade cognitiva dos saberes e das
compreensões de ambiente, para que se aceite o processo de restabelecimento da saúde sob várias
óticas, sem determinismos ou certezas epistemológicas.
VI. Bases Teóricas
Pensar tudo isso de maneira multidisciplinar, respondendo às indagações considerando o
diálogo entre as ciências naturais e as ciências humanas também se configura como propósito
desta pesquisa. As reflexões expostas serão contextualizadas, ou seja, serão relacionadas à
dimensão histórica real que envolveu os processos de degradação socioambiental sofrido pelo
município, inserido no contexto da região do litoral norte.
A partir desse diálogo, busca-se então compreender as vertentes terapêuticas como
saberes que estão inseridos nos sistemas de saúde de Ilhabela3, compondo a sua estrutura. A
estrutura será pensada inicialmente como um modelo formal (LÉVI-STRAUSS, 1996), ou seja,
uma totalidade organizada pelas relações entre os sistemas, que se operacionalizam pelas
instituições e seus atores sociais, em um movimento dinâmico de atualização dessas relações.
Partindo de Lévi-Strauss (1996), o conceito de estrutura é primeiramente pensado como
modelo formal que ajuda a compreender: a) as analogias presentes nos saberes dos entrevistados,
advindas de diferentes ambientes; b) a constituição dos saberes como vertentes, que constroem
suas categorias de análise, assim como de doença, a partir de determinados contextos, que não
são apartados uns dos outros, mas dialogam e interagem; c) que há uma relação cognitiva
permanente entre indução e dedução; d) o ser humano e a natureza como entidades
transcendentes, isto é, compostos por materialidade e indagações do espírito (LÉVI-STRAUSS,
1996: 316). Esta operacionalização já foi realizada por Oliveira (1983) primeiramente em sua
dissertação de mestrado, que explora o universo simbólico e a prática das benzedeiras de
3 Os sistemas de saúde são representados nesta tese pelo setor público, pelo setor privado, e pela medicina popular dos caiçaras
em Ilhabela.

18
Campinas (SP), assim como também está presente em trabalhos mais recentes da mesma autora
(OLIVEIRA, 2007), ampliados pela perspectiva da Antropologia do Imaginário. Peres (2003)
trabalhou essa perspectiva em seu mestrado, ao estudar as relações entre a homeopatia e o
pensamento analógico na cidade de Piracicaba (SP), realizado sob a orientação de Oliveira (1983,
1998, 2007).
Para Lévi-Strauss, a estrutura deve ser entendida como um modelo que parte das relações
sociais, não devendo ser confundida com as próprias relações (LÉVI-STRAUSS, 1996), que seria
um meio pelo qual o pesquisador alcança a lógica profunda de uma determinada sociedade, isto é,
os princípios simbólicos que a estruturam, que atuam sobre as instituições. Sendo assim, a visão
estrutural de Lévi-Strauss permite entender a organização das lógicas simbólicas nas quais os
diferentes saberes terapêuticos realizam suas intervenções, em espaços determinados (as
instituições) e por meio dos atores sociais, que são sujeitos concretos em ação. Também permite
interpretar as relações entre os terapeutas e os sistemas de saúde atuantes em Ilhabela.
Godelier (1981) amplia esta discussão quando mostra que as contradições sociais são
partes dos sistemas, e interferem incessantemente sobre a totalidade e a organização da estrutura.
Essa questão pode ser operacionalizada na dimensão real, pelo fato de ter sido constatado no
trabalho de campo em Ilhabela o uso paradoxal de abordagens alternativas pelos terapeutas nos
centros de saúde pública, evidenciando que a pluralidade paradigmática está presente nos
sistemas que configuram as diferentes representações sobre o adoecimento. Para Godelier, as
relações entre o ser humano e o seu contexto são sempre contraditórias, heterogêneas, e as
representações sobre a realidade nascem dessas diferenças, assim como das idiossincrasias:
“O que distingue estas representações umas das outras não é somente o conteúdo de idéias,
mas uma relação diferente com a ordem social existente, uma relação que nasce das
contradições que caracterizam o funcionamento desta ordem” (GODELIER, 1981: 192).
Assim, quando se realiza a mediação entre o conceito de estrutura como modelo formal e
o de contradições (interagindo como instrumento atualizador da dinâmica estrutural) à discussão
do adoecer, percebe-se o paralelismo na coexistência dos sistemas públicos de saúde
(representantes supostamente da medicina biomédica em Ilhabela), dos sistemas privados
(representantes tanto da medicina biomédica quanto dos saberes alternativos), e dos sistemas
populares (representados aqui pelo conhecimento dos caiçaras), todos convivendo e atuando em

19
um mesmo espaço social, em um mesmo ambiente de interações e intersecções, ou seja, os
diferentes saberes não se encontram totalmente isolados e não se excluem.
Em síntese, constitui-se como base teórica a compreensão das diferentes vertentes
terapêuticas de Ilhabela em suas interações com o ambiente e a sociedade, inicialmente no
interior da visão estrutural clássica presente em Lévi-Strauss (1996). Posteriormente, será
realizado o diálogo com a visão estrutural e sistêmica presente na Ecologia (RAPPORT,
COSTANZA e McMICHAEL, 1998; COSTANZA, 2003; CABRITA, 2003) e na Antropologia
(OLIVEIRA, 2007), para que se alcance a perspectiva da saúde ecossistêmica, como um aporte
teórico que permita a reflexão a respeito da possibilidade de se criar uma relação análoga entre o
indivíduo e o meio ambiente.
Buttel salienta que os impactos da relação recíproca entre o meio ambiente e a sociedade
se situam para além das fronteiras políticas e “ocorrem numa variedade de níveis que vão do
local ou regional até o global” (BUTTEL, 2001: 13). Para Hannigan, os conceitos de natureza,
de ecologia e de conhecimento ambiental são socialmente concebidos, e justamente por isso,
passam por fusões e transformações, variando de acordo com o tempo, com a história e com o
contexto social em que se constroem essas definições. Em suma, os autores enfocam que a
natureza ou o meio ambiente são visões de mundo construídas pelos seres humanos e, por isso,
são suscetíveis a mudanças (HANNIGAN, 1997).
Pensando por esta lógica, considera-se que as contradições, os paradoxos e as
descontinuidades presentes nas relações terapêuticas podem ser interpretados como fatores de
perturbação e de mudança da dinâmica estrutural, os quais evidenciam as realidades que os atores
se defrontam, tais como os problemas sociais, as condições institucionais e ambientais que
envolvem o processo terapêutico.
Ainda assim, as vertentes terapêuticas serão avaliadas como saberes que podem contribuir
para a conservação da natureza, vista de modo ampliado pelas singularidades apresentadas. Nesse
raciocínio, os processos formadores da consciência humana que guardam não apenas uma relação
com os fenômenos considerados de ordem física (tais como o corpo visto como uma entidade
orgânica ou essencialmente biológica e a degradação ambiental, vista pelo aspecto biofísico, por
exemplo), mas também com os considerados de ordem metafísica (sofrimento psíquico,
representações simbólicas), serão articulados.

20
VII. Metodologia
Durante o período de julho de 2006 a janeiro de 2009 foram realizadas quatro viagens a
campo que compreendeu em 68 dias de trabalho. No lado urbanizado de Ilhabela, primeiramente
coletou-se dados documentais e históricos, por meio de visitas periódicas à biblioteca municipal.
Posteriormente, foram realizadas visitas à Secretaria da Saúde, Secretaria de Obras e Secretaria
do Meio Ambiente, assim como visitas às unidades básicas de saúde do Programa Saúde da
Família (PSF) e também ao Centro de Apoio Psico-Social (CAPS), conforme ensina a tradição
antropológica. Os materiais obtidos permitiram não só a elaboração da história de Ilhabela, como
também a interpretação do seu momento atual, por meio da análise dos projetos recentes que
envolvem o planejamento urbano, a conservação ambiental e a saúde da população.
Visando alcançar também as representações dos diferentes terapeutas atuantes em
Ilhabela, fez-se a opção por uma metodologia qualitativa, viabilizada por entrevistas de campo
semi-estruturadas. A intenção foi selecionar atores com formações heterogêneas, que mostrassem
o alcance da diversidade dos saberes, assim como das inter-relações presentes entre os diferentes
sistemas de saúde (público, privado e popular), para que fosse possível realizar um diálogo
aberto, que possibilitasse entradas para se pensar a sustentabilidade local.
Nesse contexto, tanto os terapeutas da parte urbanizada, quanto os terapeutas caiçaras do
lado oceânico, foram convidados a participar de entrevistas gravadas (ou não). A preocupação foi
criar um ambiente propício para que os entrevistados se sentissem à vontade para explanar suas
crenças e experiências a respeito dos processos saúde-doença e das suas práticas de cura. Nesse
aspecto, as entrevistas não foram idênticas, ou seja, apesar de existirem questões previamente
elaboradas, os entrevistados falaram livremente a respeito do que mais se familiarizavam, no
interior das próprias experiências de vida. É preciso ressaltar ainda que as falas foram editadas
nesta tese, mas, no entanto, não foram alteradas em sua expressão original. No tocante aos
depoimentos dos caiçaras, principalmente, existem momentos em que o português foi corrigido
para fins de melhor compreensão do seu conteúdo.
Para dar conta da interpretação dessa pluralidade terapêutica4, optou-se pelo uso do
conceito de analogia explorado por Godelier (1973). O pensamento analógico foi identificado por
este autor como um tipo de representação que está presente em inúmeras culturas e em diferentes
4 A pluralidade terapêutica implica necessariamente no reconhecimento da existência de diferentes significados para as doenças,
que na sua maioria, não correspondem às mesmas categorias atribuídas pela medicina biomédica.

21
épocas históricas. Por conceber a natureza como fonte de inúmeras associações simbólicas,
situadas no interior de determinadas dinâmicas estruturais, esse pensamento evidencia a
capacidade cognitiva de se articular os elementos da realidade (material e imaterial) na
operacionalização de algum projeto ou de alguma proposta.
Nesta tese, o conceito de analogia foi usado como um meio para se revelar o alcance das
representações sobre as enfermidades e os processos terapêuticos, mostrando articulações
cognitivas fundamentadas em diferentes apropriações da natureza, tornando evidente a realidade
contextual que circunda as aflições individuais e coletivas presentes no município de Ilhabela.
Dessa maneira, os representantes das mais variadas modalidades de saber em saúde prestaram
seus depoimentos, independentemente do nível de instrução e da formação acadêmica,
oferecendo uma gama de conexões entre a natureza e a cultura.
Todo o material coletado nos quatro trabalhos de campo (por meio de entrevistas, fontes
históricas, bibliografias e fontes documentais), contribuiu para a reelaboração da história de
Ilhabela até os dias atuais, do seu processo de exploração socioeconômica, passando pelo uso e
ocupação do espaço, pela degradação ambiental, pelo turismo, pela criação do Parque Estadual,
pelos grupos sociais constituídos atualmente, pelos problemas ambientais que mais afetam o
município, dando destaque às principais doenças e aos serviços de saúde oferecidos (Saúde
Pública: CAPS, Centros de Saúde e Hospital; Saúde Privada: Homeopatia; Terapia Corporal;
Aurasoma e Florais; Acupuntura, Medicina Popular: benzedeiras, parteiras e curandeiros).
Optou-se por não identificar o nome dos entrevistados e classificá-los como terapeutas,
para preservar a identidade de cada um deles e abordar a abrangência das suas representações a
respeito do processo terapêutico com maior liberdade.
VIII. Os Entrevistados
O trabalho de campo buscou abranger a realidade dual do município de Ilhabela,
representada pela coexistência entre o lado urbano, e o lado oceânico.
Foram entrevistados terapeutas que atuam exclusivamente na parte urbanizada, com
exceção de um deles, que atua como clínico geral no PSF do bairro da Armação, assim como
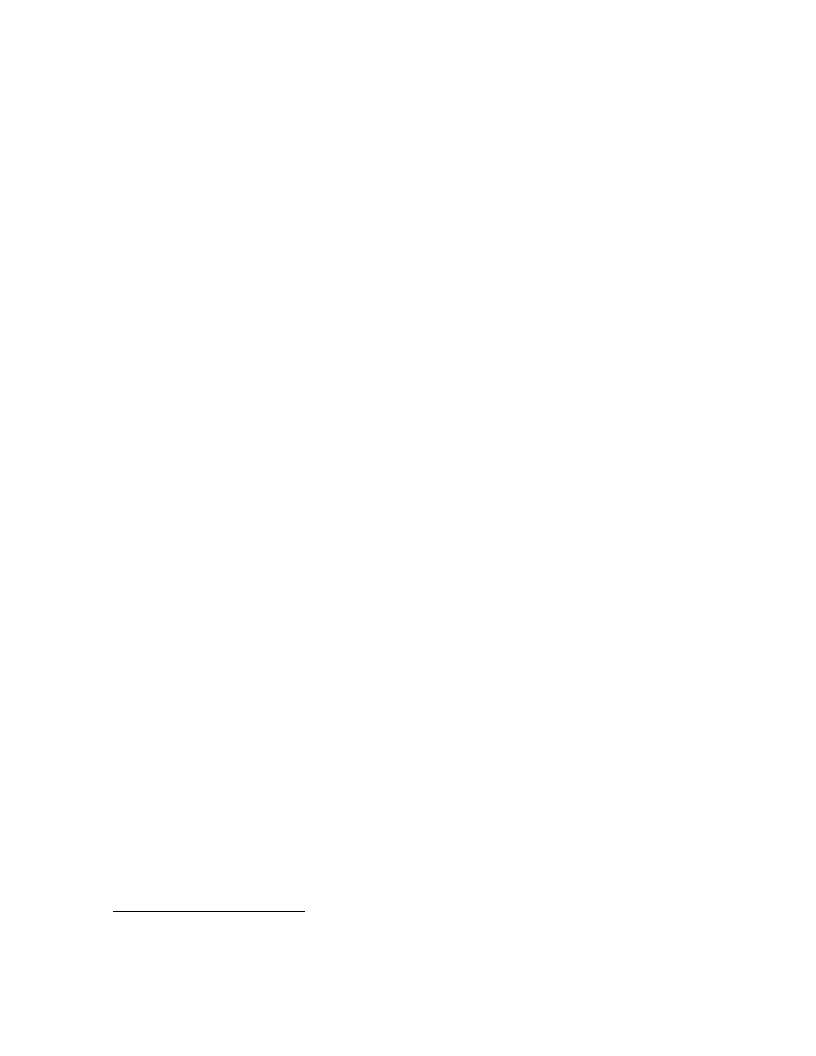
22
realiza visitas nas comunidades por meio da ambulancha5. Pelo campo foi possível perceber a
existência de atores que trabalhavam tanto no setor público, quanto no setor privado. Observou-se
também bastante entrelaçamento de especialidades entre os sistemas de saúde, por exemplo, o
único homeopata do município também possui formação em pediatria, atuando, portanto, como
pediatra no setor público (PSF e Hospital de Ilhabela) e como homeopata no setor privado. A
acupunturista também atua como clínica geral no setor público (PSF) e com a acupuntura no setor
privado. Esta intersecção será explorada pela análise dos depoimentos desses atores. As
entrevistas foram previamente agendadas e duravam aproximadamente duas horas.
O sistema de saúde denominado de setor popular está presente tanto no lado urbanizado
de Ilhabela, quanto nas comunidades oceânicas. Para esta tese, fez-se a escolha de explorá-lo por
meio do conhecimento revelado pelos caiçaras moradores das comunidades locais. O trabalho de
campo procurou entrevistar mulheres que atuam como parteiras, além dos terapeutas que lidam
com rezas, benzeções e fazem uso dos recursos locais na elaboração de remédios, constituindo
uma fitoterapia e uma zoologia popular.
Nas comunidades locais, a presença do médico não é constante, sendo muitas vezes
dificultada pelas condições do tempo e do mar. Muitos relatos evidenciaram situações de extrema
necessidade que tiveram que ser contornadas pelo uso do conhecimento local e de recursos
naturais próprios. Já é presente na literatura ecológica o reconhecimento do saber medicinal entre
pescadores locais (MARQUES, 2001; BEGOSSI et al, 2001, 2002; RAMIRES, 2008).
Nesse aspecto, considerando o saber medicinal dos caiçaras como um componente
interessante na discussão da pluralidade terapêutica e da sustentabilidade, foram realizadas três
viagens a campo na tentativa de abarcar um pouco desse conhecimento que vem sobrevivendo
mesmo diante de tantas dificuldades e tantas influências nocivas.
A primeira viagem procurou descobrir quais as principais enfermidades que eram tratadas
dentro do espaço das comunidades, e como eram tratadas, já que o acesso ao mar denotava um
caráter de incerteza quanto à procura pelo hospital ou pelo pronto-socorro do município. Já era
sabido que quando não havia maneiras de atravessar o oceano, eles se viravam, tratando do
infortúnio com o próprio conhecimento terapêutico.
5 Ambulancha é o barco que leva a equipe do sistema de saúde pública às comunidades do lado oceânico. Teoricamente a viagem
deveria ser realizada toda semana, mas depende das condições do mar para que ocorra de fato. Geralmente, nessa visita participam
enfermeiros, médicos, dentistas e psicólogos.

23
A partir desse pressuposto, a intenção foi entrevistar os atores que fossem classificados
como terapeutas pelo grupo social a que pertenciam. No entanto, a realidade manifestada pela
pequena convivência no campo, evidenciou que a maioria dos pescadores artesanais e suas
famílias possuíam o conhecimento de muitas plantas e animais que serviam como remédio para
tratar várias doenças, ou seja, todos eram um pouco terapeutas. Com o intuito de colher o material
cognitivo para se pensar as relações deles com o ecossistema, optou-se por estabelecer conversas
com aqueles que foram sendo mencionados como referência local nas práticas da cura.
As medicinas populares de Ilhabela estão denominadas neste trabalho no plural, por se
constituírem como um conjunto de saberes orientados por diferentes atuações, como os das
parteiras, das rezadeiras e das benzedeiras, bem como os dos botânicos e zoólogos locais, que
correspondem a todos os pescadores, uns mais e outros menos. Posteriormente, estabelecidos os
laços de amizade nas cinco comunidades visitadas (Mansa, Figueira, Castelhanos, Serraria e
Bonete), muitas prosas foram travadas sobre as doenças e os seus mecanismos de cura, que
revelaram o vasto campo simbólico aprendido pela relação com o mundo natural e sobrenatural.
Na primeira visita, os pescadores da praia Mansa e da praia da Figueira foram contatados,
pois conheciam o mato e faziam garrafadas para tratar da hepatite. Ocorreram longas conversas
com vários moradores, além dos entrevistados, em três dias de convivência. A segunda viagem
foi às praias da Serraria e de Castelhanos, totalizada em sete dias. Na Serraria, a benzedeira mais
velha da comunidade foi entrevistada juntamente com a sua nora, também conhecedora do mato e
filha de um famoso terapeuta (ou curador no dizer dos caiçaras). O pai de uma das mulheres
entrevistadas foi contatado na praia de Castelhanos, pois ele havia sido picado por cobra várias
vezes e se tratado sozinho, conhecia muitos remédios e cuidava das doenças dos filhos e netos (o
pai dele benzia e o avô era classificado entre eles como feiticeiro). Todos eles contaram muitas
estórias do passado, e demonstraram um pouco do enorme conhecimento da fauna e da flora,
assim como do alcance da cultura produzida e reproduzida desde há muitos séculos, advinda da
mistura entre as influências dos escravos da África, dos índios daquela região, e dos Europeus
colonizadores.
Por fim, realizou-se a viagem de uma semana ao Bonete, lugar que se constitui como a
maior comunidade de Ilhabela, onde se entrevistou um casal de idosos conhecidos como
curadores e conhecedores do ecossistema local. A senhora era uma antiga benzedeira, parteira e
ervatária e seu marido, também ervatário, era também filho de pai benzedor e neto de feiticeiro.
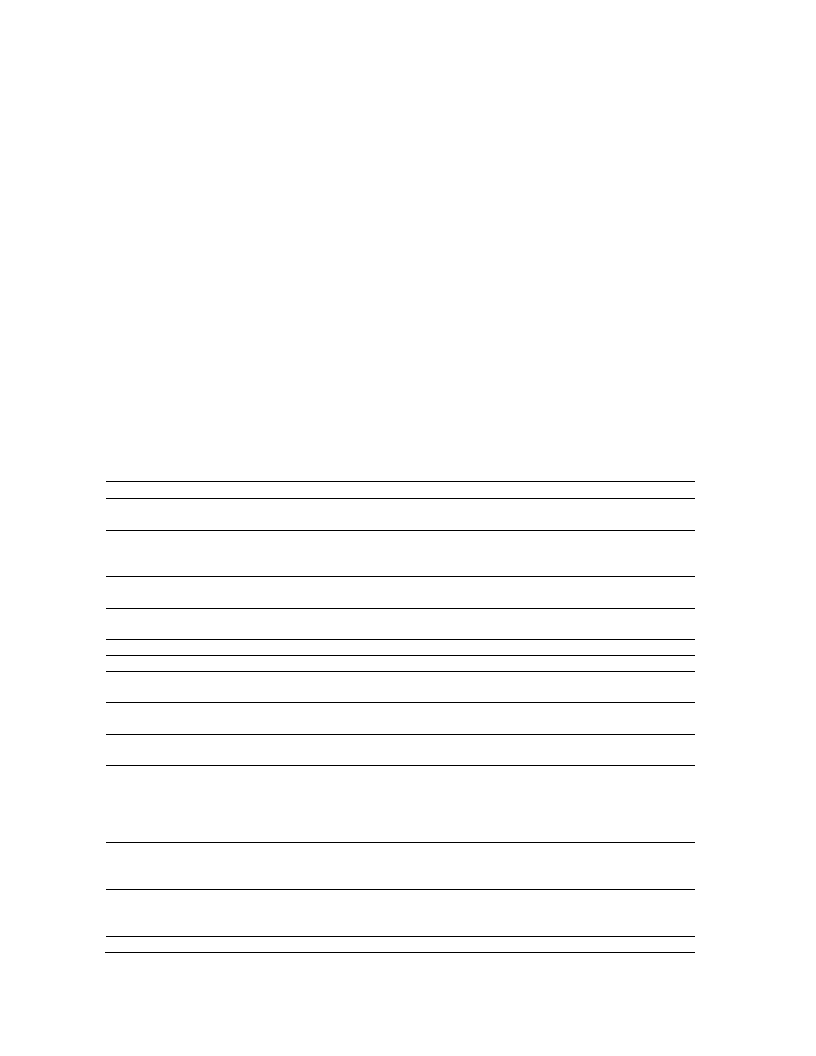
24
Pelos depoimentos colhidos, foi possível perceber que a recorrência à medicina popular
veio diminuindo com o passar dos anos, devido às influências dos hábitos modernos, e que hoje
em dia, os caiçaras procuram mais pelo médico do que antes. Mas mesmo assim, a fitoterapia
popular e o conhecimento zoológico estão presentes no seu cotidiano.
Nas comunidades as conversas não foram agendadas, como na parte urbanizada. Muitas
delas não foram gravadas, pois isso os intimidava e os deixava pouco à vontade para falar. Por
outro lado a convivência foi mais intensa, uma vez que houve participação nas atividades
desenvolvidas, como a pesca da lula, a visita ao cerco flutuante (com os pescadores) e a limpeza
do camarão (com as esposas), por exemplo. Nesses momentos é que as conversas aconteciam,
assim como ao cair da noite, quando o trabalho se encerrava, em um clima descontraído que
favorecia a exposição das suas convicções sobre as doenças e as práticas terapêuticas mais
usadas, assim como sobre o vasto conhecimento do ambiente local e das relações analógicas
realizadas.
Tabela 1: Entrevistas de Campo - Ilhabela (2006, 2007, 2009)
Classificação Localização Especialidade
1. Terapeuta Lado urbano Médico ortopedista
2. Terapeuta Lado urbano Médica infectologista
3. Terapeuta Lado urbano
4. Terapeuta Lado urbano
5. Terapeuta
6. Terapeuta
7. Terapeuta
Lado urbano
Lado urbano
Lado urbano
8. Terapeuta Lado urbano
9. Terapeuta Lado urbano
10. Informante Lado urbano
Médica sanitarista e
acupunturista
Médico homeopata e
pediatra
Médica psiquiatra
Psicóloga
Psicóloga e terapeuta
corporal
Educador físico e
terapeuta corporal
Bióloga e terapeuta
corporal
Diretor das comunidades
locais
11. Informante Lado urbano Diretora do Parque
Estadual de Ilhabela
12. Informante Lado urbano
13. Informante Lado urbano
Assistente Técnica da
Secretaria do Meio
Ambiente
Diretora do cadastro
Observações
Médico atuante como clínico geral no PSF
da vila.
Médica atuante como clínica geral no PSF
da Armação e também nas comunidades
locais.
Médica atuante como clínica geral no PSF
da vila e acupunturista no setor privado.
Médico pediatra no setor público,
Homeopata no setor privado.
Médica psiquiatra do CAPS.
Psicóloga do CAPS.
Psicóloga e terapeuta corporal do setor
privado.
Terapeuta corporal do setor privado.
Professora de ginástica postural do setor
privado.
Responsável por viabilizar todas as viagens
de campo, assim como o contato com os
caiçaras do lado oceânico da ilha. É também
caiçara e forneceu informações importantes
sobre a história de Ilhabela.
Forneceu informações importantes sobre o
Parque Estadual de Ilhabela e os projetos
ambientais recentes
Forneceu informações a respeito dos
principais projetos ambientais que estão
sendo viabilizados pela prefeitura
Esta funcionária é arquiteta e faz mestrado
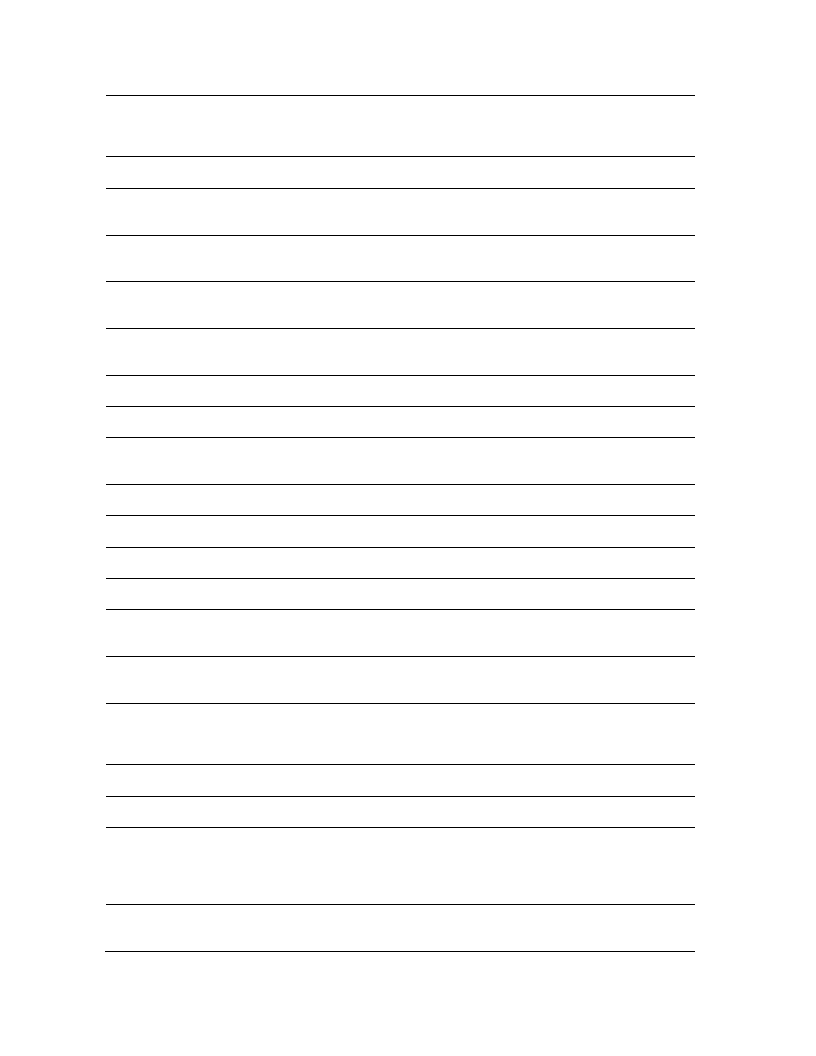
25
14. Informante Lado urbano
15. Informante Lado urbano
16. Terapeuta Lado urbano
17. Informante Ilha de
Búzios
18. Terapeuta Praia Mansa
19. Terapeuta
20. Terapeuta
21. Terapeuta
22. Terapeuta
23. Terapeuta
24. Terapeuta
25. Terapeuta
26. Terapeuta
27. Terapeuta
28. Terapeuta
Praia Mansa
Praia dos
Castelhanos
Praia dos
Castelhanos
Praia dos
Castelhanos
Praia dos
Castelhanos
Praia da
Serraria
Praia da
Serraria
Praia da
Serraria
Praia da
Serraria
Praia da
Serraria
29. Terapeuta
30. Terapeuta
31. Terapeuta
Praia da
Figueira
Praia da
Figueira
Praia do
Bonete
32. Terapeuta Praia do
Bonete
urbano e receitas da
Prefeitura de Ilhabela
Coordenadora do PSF
Enfermeira da vigilância
epidemiológica
Benzedeira e ervatária
Professora da escola da
comunidade
Pescador artesanal e
Ervatário
Pescador artesanal e
Ervatário
Pescador artesanal e
Ervatário
Benzedeira e ervatária
Pescador artesanal e
Ervatário
Esposa de pescador
artesanal e ervatária
Benzedeira e ervatária
Esposa de pescador
artesanal e ervatária
Pescador artesanal
Esposa de pescador
artesanal e ervatária
Esposa de pescador
artesanal, parteira e
Ervatária
Esposa de pescador
artesanal
Pescador artesanal
Benzedeira, parteira e
ervatária
Ervatário
na Unicamp sobre o planejamento urbano
de Ilhabela. Forneceu informações no
tocante aos projetos ligados ao controle da
expansão territorial
Forneceu informações a respeito da história
e da organização do PSF em Ilhabela.
Forneceu informações sobre as doenças de
notificação por agravo; assim como as fotos
das ocupações precárias em Ilhabela.
Caiçara da praia da Serraria, vive hoje no
bairro da Armação, onde benze seus
familiares e amigos próximos.
Professora da 1ª a 4ª série na ilha de Búzios,
forneceu informações sobre a saúde e a vida
dos caiçaras na ilha.
Pescador que faz as garrafadas para
hepatite, conhecedor do mato, contou várias
histórias dos antepassados.
Pescador que conhece o mato e sabe fazer
garrafadas para hepatite.
Antigo pescador que conhece o mato e sabe
fazer remédios com as plantas.
Antiga benzedeira, deixou de benzer por ter
se tornado evangélica. Conhece as plantas
locais e faz remédios naturais.
Pescador antigo, conhecedor do mato,
contou várias histórias dos antepassados.
Evangélica, conhecedora do mato.
Benzedeira mais antiga da praia da Serraria.
Esposa de pescador artesanal, conhecedora
do mato.
Pescador artesanal, conhece o mato e
contou várias histórias sobre os ventos de
Ilhabela.
Esposa de pescador, conhecedora do mato
que também contou histórias sobre a
natureza de Ilhabela.
Filha de um curador famoso entre todas as
comunidades de Ilhabela, herdou os
conhecimentos do pai e revelou importantes
aspectos da terapêutica caiçara.
Caiçara que levou picada de cobra e se
curou com os remédios locais.
Pescador artesanal, filho de benzedeira e
erveira, conhece o mato e as plantas nativas.
Benzedeira, parteira e erveira extremamente
respeitada pelos caiçaras, deixou de benzer
por ter se tornado Evangélica. Contou várias
histórias dos antepassados e a respeito da
terapêutica dos nativos.
Caiçara antigo, conhecedor do mato, neto e
filho de feiticeiro e benzedor. Contou várias
histórias dos antepassados.

26
IX. Operadores Cognitivos
A questão norteadora pela qual a tese percorre todo o seu caminho teórico toca na
pluralidade cognitiva (representada pelas diferentes vertentes terapêuticas) na sua relação com
contexto singular da história de Ilhabela. Essa heterogeneidade é compreendida dentro das
transformações ambientais, por meio do reconhecimento de que elas propiciaram muitas
maneiras de se enxergar e de se tratar o fenômeno do adoecimento. Por sua vez, os processos
terapêuticos estão sendo vistos como aberturas possíveis para se entender as abordagens de
intervenção na perspectiva da sustentabilidade ambiental, pensada de maneira análoga ao corpo,
pelo conceito de corporalidade6.
É importante ressaltar que a estrutura é uma totalidade elaborada pela pesquisadora, como
resultado da interpretação do seu trabalho. Isso significa que seu formato é bem pessoal, e que os
temas selecionados para a discussão da questão central da tese, ou seja, as relações entre as
vertentes terapêuticas e a sustentabilidade de Ilhabela, são passíveis de outras leituras.
É necessário destacar ainda que a compreensão do fenômeno da cura não se trata de uma
dimensão estática, de uma finalização definitiva do processo saúde-doença. A cura será analisada
como um momento, uma situação alcançada em que a pessoa possa voltar a levar sua vida da
melhor maneira possível, retornar à sociedade, dentro da singularidade de cada caso.
Lévi-Strauss (1996), contribui para essa discussão quando fundamenta seu conceito de
eficácia simbólica. Para ele, existe uma relação de continuidade entre as representações e as
experiências vividas, isto é, as experiências são coerentes ao seu significado, que difere de cultura
para cultura. É um círculo que se auto-alimenta, ou seja, as experiências da realidade
fundamentam a criação das representações simbólicas e estas representações dão sentido e
significado à realidade.
Esta reflexão permite a compreensão das vertentes terapêuticas dentro da sua coerência
própria, ligada ao ambiente, à realidade vivida e à consciência de cada um, respeitando as
diversidades cognitivas e culturais. Dessa maneira, as diferentes terapias não podem ser julgadas,
então, como verdadeiras ou falsas, objetivas ou ilusórias, nas diversas situações em que a doença
6 Nesta tese o fenômeno do adoecer humano será compreendido pelo conceito de corporalidade, vista como um espaço onde se
expressam as relações do ser com o seu universo simbólico, construído a partir da interação com o ambiente ao seu redor
(BUCHILLET, 1991; ZÉMPLÉNI, 1994; LANGDON, 1995). Nesse aspecto, a corporalidade é um conceito antropológico que
faz alusão ao corpo como um organismo transcendente, ou seja, que se abre a outras conexões, tais como as relações sociais e
simbólicas, naturais e sobrenaturais (OLIVEIRA, 1998; PERES, 2003).

27
é tomada por parâmetros de análise que não sejam os da sociedade ocidental, representada pelo
paradigma da medicina biomédica (BUCHILLET, 1991).
Para que se entenda a diferença entre o modelo biomédico em relação às outras vertentes
terapêuticas, por exemplo, é preciso aceitar que todos os saberes se constituem sob diferentes
realidades sociais, e recobrem, de maneira heterogênea, aspectos da doença ligados à
compreensão das suas causas.
Após a leitura de autores que evidenciaram a relação: crescimento da biomedicina e, num
aspecto mais generalizado, mostraram que a procura por outras vertentes terapêuticas vem
crescendo consideravelmente no Brasil (MARTINS, 1999; IBÁÑEZ & MARSIGLIA, 2000,
LUZ, 2005), tornou-se uma condição para a realização da pesquisa de campo, o diálogo com as
diferentes maneiras de diagnosticar e tratar as patologias.
Para isso, a cultura será conceituada como um macro campo cognitivo, isto é, como
linguagem de saberes (LÉVI-STRAUSS, 1970) e como emergência de complexidades (MORIN,
1973), ressaltando o seu caráter dinâmico e heterogêneo7 (GEERTZ, 1989; LANGDON, 1995).
Ressalta-se também a contribuição dos autores da Sociologia Ambiental, tais como Hannigan
(1997), Buttel (2000; 2001), e da Sociologia Contemporânea, tais como Beck, (1998) e Giddens
(1991, 2002, 2005), que de uma forma geral vêm alertando os cientistas sociais no tocante à
relação entre os problemas ambientais globais e os dilemas modernos, pela maneira como eles se
inserem na vida das pessoas, gerando sensações e sentimentos de insegurança.
A singularidade dessa compreensão transcende a questão da oferta dos sistemas de saúde
e estruturam redes complexas de interações e de simbolizações sobre a existência humana, sobre
o meio ambiente, sobre as próprias doenças e os caminhos para se voltar a ter uma vida saudável,
dentro de vários níveis de compreensão. Este trabalho trata-se apenas de uma leitura da
pesquisadora, que busca abrir perspectivas para a diversidade de análises com enfoque na
pluralidade terapêutica como estratégia para se pensar a sustentabilidade ambiental.
7 É preciso destacar que as correntes da Antropologia representadas pelo Lévi-Strauss e Geertz são diferentes, sendo que o
primeiro vê a realidade dentro da dinâmica estrutural e o segundo pensa a cultura como um texto, suscetível a inúmeras leituras.

28

29
CAPÍTULO 1
A HISTÓRIA DE ILHABELA E SEUS DESDOBRAMENTOS
Neste capítulo, a preocupação central é a de esboçar mais profundamente a História de
Ilhabela, abarcando os primeiros processos de uso e ocupação do território, a cultura caiçara, a
criação do Parque Estadual, até a constituição do seu momento atual, a partir das problemáticas
que emergem da recente urbanização turística a que vem sendo submetida.
1.1 Memórias
O município de Ilhabela é um arquipélago, ou seja, é constituído por várias ilhas que
compõem a sua totalidade. São as ilhas de São Sebastião, Búzios, Vitória, as ilhotas dos
Pescadores, Sumítica, Serraria, Cabras, Figueira, Castelhanos, Lagoa e Enchovas, com uma área
de 348 Km2.
Possui uma estória riquíssima em lendas e mistérios, que remontam ainda a épocas
antigas, anteriores à colonização do Brasil. A região do seu entorno é também conhecida pelo
grande número de naufrágios (Fig. 1), fornecendo fundamentos históricos e culturais para
trabalhos acadêmicos e para atividades de turismo subaquático, auxiliados pelas operadoras de
mergulho atuantes na ilha principal (SIMÕES, 2005).
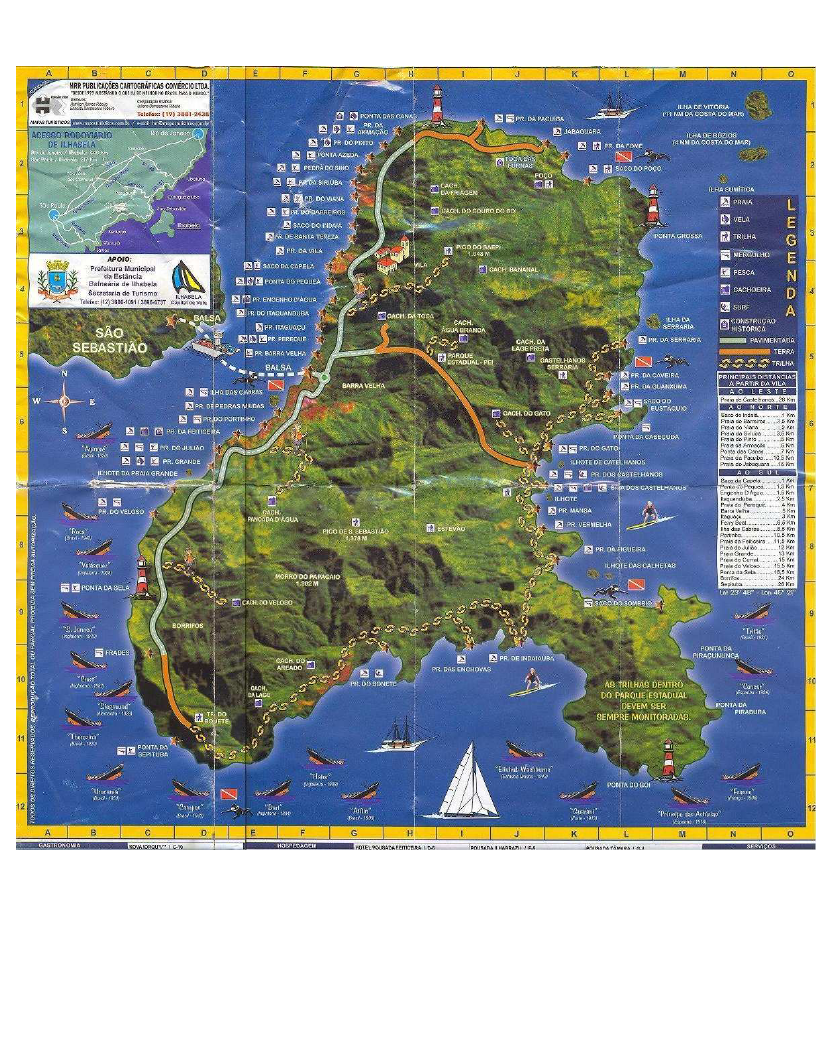
30
Figura 1. Mapa de Ilhabela. Retirado de http://www.trilhaecia.com.br/mapas (consultado em 10/08/09).

31
A história de Ilhabela está inserida no contexto das transformações socioambientais
ocorridas no litoral norte8 de São Paulo. Esta região é caracterizada como uma área de mata
atlântica que foi, desde os primórdios da colonização do Brasil, alvo de interesses econômicos
voltados para o uso dos seus recursos naturais (DEAN, 1995; LUCHIARI, 1999; BARBOSA,
2007).
Begossi (2001) ressalta que a mata atlântica foi explorada durante os cinco séculos de
ocupação, estando presente em toda costa brasileira desde a região sul até o nordeste. Essa
floresta é extremamente valorizada pelo alto grau de endemismo e pela biodiversidade.
Lewinsohn (2001) denota várias definições para esse conceito, tais como o fato de representar a
organização da vida em vários níveis heterogêneos. Para o autor, é fundamental a atenção na
organização das interações estabelecidas nos diversos tipos de ambientes, uma vez que permite
visualizar a preservação da estrutura das relações, assim como do funcionamento dos processos
vivenciados conjuntamente pelos diferentes organismos, populações e ecossistemas.
Oliveira (2007 b) atenta para o fato da história ambiental da mata atlântica estar sempre
vinculada à presença humana, que vem deixando a sua marca visível e invisível no decorrer dos
séculos, cuja presença é negligenciada pelas ciências biológicas e ecológicas, ignorando no
estudo das suas estruturas e do funcionamento dos seus sistemas o papel da interação ser
humano-ambiente. O autor considera de sumo valor a inclusão da dimensão humana na Ecologia
de Florestas, ultrapassando desse modo a interpretação exclusivamente natural desse ecossistema.
Tanto pela dimensão humana quanto biológica, é imprescindível compreender o papel do
bioma da mata atlântica, visto como o local de onde brotam novas e antigas idéias a respeito de
um dos mais ricos ecossistemas do planeta, sendo prioritário o interesse pela sua conservação em
todo mundo.
Por ser um arquipélago situado na região do litoral norte do estado de São Paulo, Ilhabela
foi então ocupada pelos portugueses, piratas e corsários (europeus e argentinos) interessados em
explorar o pau-brasil (Caesalpinia echinata), como também em saquear e dominar o respectivo
espaço no início da época colonial (SIMÕES, 2005).
Porém, existem evidências de que Ilhabela foi habitada em um período histórico remoto,
anterior à colonização. Segundo Simões (2005), oito dos sítios arqueológicos encontrados nas
8 Região que compreende o canal de Bertioga até São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. Possui uma área de 161 km
de extensão, 164 praias, 17 ilhas, uma variedade de recursos hídricos, regiões costeiras e mangues (BARBOSA, 2007).

32
ilhas de São Sebastião, Búzios e Vitória, expressaram um modo de vida denominado de
acampamento concheiro, que remonta a uma época em que os indivíduos não dominavam a
agricultura e a produção de cerâmica, vivendo da pesca e da coleta de alimentos.
A produção de cerâmica também foi identificada em dois sítios arqueológicos pré-
coloniais encontrados, e pesquisas laboratoriais levantaram a hipótese de que duas tribos
indígenas do tronco lingüístico Macro-Jê poderiam ter vivido naquela região. Por outro lado, não
foram encontrados vestígios da família lingüística tupi-guarani em Ilhabela, apesar de essas tribos
terem vivido por muito tempo nas regiões litorâneas entre São Paulo e Rio de Janeiro (SIMÕES,
2005).
De acordo com Luchiari (1999), os índios que habitavam a região do Litoral norte na
época da colonização eram os Tupinambás, que por sua vez se relacionavam com os Tupiniquins,
originais da região de São Vicente. As tensões entre as duas tribos começaram a existir devido a
estratégias dos colonizadores franceses e portugueses, que incitavam conflitos entre os grupos
indígenas para melhor viabilizarem sua apropriação do espaço como fonte econômica de
recursos.
Para Simões (2005), a tensão entre as tribos Tupinambás (ou Tamoio) e Tupiniquins
gerava um antagonismo que as mantinham afastadas umas das outras, sendo que o único local
neutro estabelecido entre elas para negociações era a ilha de São Sebastião (Ilhabela),
denominada por eles de Maembipe ou Meyembipe, que no idioma tupi quer dizer “local de troca
de mercadorias e resgate de prisioneiros” (SIMÕES, 2005).
Por outro lado, a disputa entre as duas tribos foi amenizada pela Confederação dos
Tamoios, uma forma de organização voltada para o boicote dos estabelecimentos portugueses
próximos ao porto de Santos, visando assim retardar a colonização portuguesa da Capitania de
Santo Amaro, dentro da qual se localizava Ilhabela (CALVENTE, 1997; LUCHIARI, 1999;
SIMÕES, 2005).
1.2 O Início da Colonização
Os interesses pela mata atlântica iniciaram-se com a vinda de viajantes naturalistas da
Europa, tais como Spix, Martius e Darwin, que ficaram maravilhados com a densa floresta, com a
rica biodiversidade e com os abundantes recursos hídricos. Por outro lado, ela oferecia grande
variedade de matérias-primas que foram exploradas pela colonização, como o pau-brasil

33
(Caesalpina echinata), cuja serragem era aproveitada para a produção de tinturas vermelhas,
muito valorizadas pela Europa na época. O interesse pelo pau-brasil foi tão grande, que em 1600
essa espécie já havia desaparecido das costas brasileiras (TONHASCA Jr, 2005).
Sua exploração não diminuiu depois da independência do Brasil, quando esta espécie foi
usada como moeda de troca para viabilizar os empréstimos realizados com os bancos ingleses.
No século XIX, surge um corante artificial que tingia os tecidos de vermelho, e era mais viável
economicamente que a extração do pau-brasil. Devido à perda do seu valor econômico, a cana de
açúcar ganhou espaço como principal recurso econômico, seguida pelo café e as demais espécies
da fauna e da flora da floresta, que sempre serviram como fonte de renda para muitos grupos
sociais, tanto brasileiros como estrangeiros (TONHASCA Jr, 2005). Raimundo (2007) aponta
ainda para a exploração econômica de minerais, de animais marinhos, terrestres (ou partes deles)
e também de vegetações pelos colonizadores, ressaltando que essas atividades deixaram marcas
profundas nas paisagens da região.
Nessa perspectiva, o litoral norte começou a ser efetivamente ocupado quando se
estabeleceram os primeiros sesmeiros no canal de São Sebastião, para desenvolver a atividade
comercial canavieira (SIMÕES, 2005), assim como os primeiros jesuítas, que visavam apaziguar
as revoltas indígenas por meio da catequização (LUCHIARI, 1999). Luchiari (1999) destaca que
as atividades desenvolvidas pelas empresas canavieiras portuguesas foram movidas por interesses
mercantis externos, ligados ao contexto europeu da época, e pressupunham inicialmente a
apropriação do espaço (para exploração dos recursos naturais) e da mão de obra indígena e
escrava para a realização de seus empreendimentos.
Calvente (1997) chama a atenção para o fato de Ilhabela ter representado um ponto
estratégico para o desembarque de escravos, sendo que o primeiro senhor de engenho a se
estabelecer no arquipélago foi proprietário de dois engenhos de açúcar e de um navio negreiro,
priorizando o comércio de escravos trazidos de Angola como principal fonte de renda (SIMÕES,
2005: 21). Esta força de trabalho era numerosa no litoral norte, pois em muitos casos, os escravos
que lá aportavam para serem comercializados pelo interior do estado, chegavam adoecidos por
causa da longa e penosa viagem de travessia do oceano no interior do navio negreiro. Calvente
(1997) também salienta que vários quilombos foram criados em Ilhabela, como resistência à
dominação a que estavam sendo submetidos.
Durante o século XVIII, a Vila de São Sebastião (onde hoje se localiza a município de

34
São Sebastião) alcançou a condição de município, tendo crescido e se desenvolvido com rapidez.
Luchiari (1999) destaca que a economia da região circulava em torno do cultivo da cana de
açúcar, do arroz, da mandioca e da pesca à baleia, que a autora diz ter dado origem às armações.
A praia da Armação em Ilhabela se constituía no local onde as baleias eram levadas para serem
desmembradas (SIMÕES, 2005). Simões (2005) destaca um grande aumento populacional nesse
período. Contudo, o arquipélago de Ilhabela teve a sua ocupação demográfica ocorrida de forma
mais lenta (SIMÕES, 2005).
Em 1805, Ilhabela foi elevada à condição de vila, que se chamaria Vila Bela da Princesa,
em homenagem à dona Maria Teresa Francisca de Assis, filha mais velha de D. João VI e de D.
Carlota Joaquina (SIMÕES, 2005). O mesmo autor relata que no final do século XVIII sua
população contava com cerca de três mil moradores, que viviam da produção de aguardente e da
agricultura, uma vez que o ciclo do açúcar já sinalizava a sua decadência.
Diante da crise, o café foi substituindo a cana como nova atividade econômica. Essa
cultura fez com que a região explorasse a capacidade do solo ainda mais intensamente, abarcando
as encostas da Serra do mar, provocando um movimento de ocupação que iria do interior do
estado de São Paulo até o porto de Santos (LUCHIARI, 1999; RAIMUNDO, 2007). A produção
do café também contava com a mão de obra escrava, que cuidava de todo o processo, desde a
plantação até o ensacamento. Porém, o uso do trabalho escravo era realizado de forma
clandestina, em virtude de ter sido proibido pelos poderes internacionais. O autor salienta que o
lado oceânico de Ilhabela era utilizado para desembarcar negros contrabandeados, citando como
exemplo a Baía dos Castelhanos (SIMÕES, 2005).
As atividades da lavoura e do café proporcionaram a Ilhabela um período de oitenta anos
caracterizado por enorme crescimento econômico, intensificando as atividades comerciais e
culturais e enriquecendo os fazendeiros locais. A população da Vila Bela da Princesa já alcançava
a casa dos dez mil habitantes. No entanto, a produção cafeeira não era realizada dentro de uma
preocupação com a conservação da Mata Atlântica, e ocasionou uma intensa degradação
ambiental.
Pádua (2002) salienta que a colonização no Brasil foi marcada por formas de usos e
ocupações do território extremamente predatório, em virtude dos representantes dos diversos
segmentos econômicos não possuírem nenhuma preocupação com a conservação ambiental.
Segundo o autor, a prática da lavoura baseava-se, por exemplo, na queima da floresta. Nessa

35
atividade, os senhores de terra plantavam sobre as cinzas da biomassa florestal, desgastando o
solo rapidamente. Pádua (2002) chama atenção para o círculo vicioso de queima e plantio, muito
presente na época colonial, que levava os produtores a requisitarem sempre novas terras à Coroa
portuguesa a fim de dar continuidade ao processo de produção, prejudicado pelo esgotamento do
solo. As atividades do pastoreio, como também as atividades mineradoras, também foram
realizadas tendo como base tecnologias rudimentares, que desviavam os cursos dos rios e
extirpavam a vegetação das áreas de encostas. A exploração da cana de açúcar, por sua vez, fez
com que se queimassem grandes proporções de mata atlântica primária, para serem usadas com
lenha para alimentar as fornalhas das caldeiras dos engenhos.
De acordo com o documento fornecido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de
São Paulo, havia na época do café em Ilhabela cerca de 225 fazendas, que segundo Simões
(2005), se estendiam até a altitude de 600 metros. Para este autor, foram trezentos anos de
atividades econômicas agrícolas que degradaram os solos e a floresta nativa, incluindo as ilhas de
Búzios e de Vitória como áreas que também sofreram grandes prejuízos ambientais. A perda da
biodiversidade só não foi maior devido ao relevo da Serra de Ilhabela, que alcança 1379 metros
de altitude e garantiu a preservação de muitas espécies. No entanto, as marcas que foram
deixadas pelos séculos de exploração são visíveis até os dias atuais.
Nesse contexto, a produção do café perdurou, trazendo grande crescimento econômico e
desenvolvimento para a região do litoral norte durante todo o período em que os portos de São
Sebastião e Ubatuba cuidavam da exportação deste produto. Porém, a partir do ano de 1877,
foram construídas duas estradas de ferro que ligariam São Paulo e Rio de Janeiro. Este
empreendimento provocou um abalo no circuito cafeeiro do litoral, enfraquecendo-o
economicamente. Para contribuir ainda mais com a assinalada crise, na região do Vale do Paraíba
ocorria uma produtividade maior, com facilidade de transporte e escoamento, o que fez com que
o preço do café caísse bastante, inviabilizando a produção dos fazendeiros do litoral norte
(SIMÕES, 2005). Com a abolição da escravatura ocorrida em 1888, muitas fazendas que se
localizavam na Vila Bela da Princesa foram abandonadas.
Esse fenômeno acabou levando à falência os estabelecimentos comerciais de Ilhabela e,
segundo Simões (2005), em dois anos, mais de cinco mil pessoas, na sua maioria ex-escravas,
partiram de lá. O restante da população permaneceu vivendo da produção agrícola, da pesca e da
caça, configurando o modo de vida que hoje é chamado de caiçara (CALVENTE, 1997). A

36
atividade da lavoura era árdua devido ao solo empobrecido pelos séculos de exploração
indiscriminada. Os caiçaras cultivavam produtos para a subsistência tais como a mandioca, o
milho, o feijão, a banana, a batata-doce, o café, o fumo e a cana de açúcar, esta última produzida
para o comércio da cachaça que começou a prosperar no início do século XX, como alternativa à
crise cafeeira (SIMÕES, 2005).
Simões destaca que a produção anual da aguardente alcançou os 500 mil litros,
transportados em pipas por grandes canoas que desembarcavam no porto de Santos. Mas essa
produção, apesar de sustentar o município de Vila Bela depois do colapso cafeeiro, também
entrou em decadência com a crise de 1929, crise do capitalismo americano que gerou
consequências em todo o mundo (SIMÕES, 2005).
Em 1934, o município de Vila Bela foi anexado ao de São Sebastião pelo interventor
federal no Estado de São Paulo, Armando Salles de Oliveira, devido ao fato de não possuir
arrecadação financeira suficiente para sua gestão. Essa atitude gerou uma revolta da população e,
sete meses depois Vila Bela volta a ser reconhecida como um município. Em 1938 o nome de
Villa Bella é mudado para Vilabela pelo interventor Adhemar Pereira de Barros. Em 1940 o
presidente Getúlio Vargas alterou o nome novamente e Vilabela passou a chamar-se Formosa.
Esse procedimento imposto pela ditadura de Getúlio também não agradou a população, que
organizou um movimento contra essa nomenclatura que perduraria por quatro anos. Em 1945,
Formosa passa finalmente a se chamar Ilhabela, pelo Decreto-Lei estadual nº 14.334, medida
tomada pelo governo estadual em resposta à reivindicação da população (SIMÕES, 2005).
Após a crise do café, mesmo sobrevivendo de atividades econômicas como o comércio da
cachaça, tanto Ilhabela quanto a região do litoral norte esteve alheia aos projetos urbanos de
desenvolvimento e de modernização nacionais. Sua produção passa a ser novamente praticada
para satisfazer as necessidades de subsistência daqueles que lá permaneceram, e que ocupavam as
poucas áreas de planícies nos arredores das encostas com suas pequenas roças. Para Luchiari
(1999), esse foi o momento em que as matas se regeneraram, tornando-se o que é hoje o bioma
característico do Parque Estadual de Ilhabela.
No final do século XIX, toda a região passa novamente a viver de sistemas produtivos
voltados para a subsistência, motivo pelo qual durante a primeira metade do século XX, as
pessoas que lá residiam se mantiveram mais isoladas da vida urbana, sobrevivendo da lavoura, da
pesca e reinventando padrões culturais para representar existência naquele espaço (LUCHIARI,

37
1999; RAIMUNDO, 2007).
Fica claro a partir das reflexões expostas acima, que os ciclos econômicos determinaram
de certa maneira as diferentes formas de uso e ocupação do solo no litoral norte após a
colonização. Nos momentos em que as atividades comerciais ligadas aos interesses da produção
agrícola prosperavam, houve grande crescimento demográfico e intensos processos de
degradação ambiental, em virtude da produção das monoculturas de cana e café terem sido
realizadas sem a preocupação com a conservação dos ecossistemas locais. Porém, nos momentos
de crise econômica, as pessoas se mudavam daquela região, onde apenas permaneciam aqueles
que conseguiam sobreviver dos recursos locais que o ambiente poderia oferecer para a
sobrevivência, possibilitando inclusive que muitas florestas renascessem.
O fato de a floresta ter sido sempre vista como uma fonte de recursos econômicos fez com
que a mata atlântica fosse sempre alvo de exploração sistêmica no decorrer da história do Brasil,
ocasionando a diminuição de quase a totalidade da sua área original, restando apenas 10% dessa
cobertura florestal para a preservação. Atualmente, apesar da proteção institucional veiculada
pela Constituição do país, a floresta continua ameaçada pelas atividades ilegais como a
exploração de madeira, o tráfico de animais e plantas e a urbanização desordenada, que ocasiona
entre outros impactos, a contaminação dos rios e dos lençóis freáticos (TONHASCA Jr, 2005).
1.3 A Cultura Caiçara
O modo de vida caiçara é visto como um conjunto de crenças, conhecimentos e práticas
que podem ser compreendidos historicamente a partir dos processos exploratórios que
envolveram a ocupação do litoral brasileiro no início da colonização (ADAMS, 2000; DIEGUES,
2004). Dependendo sempre da economia gerada pela grande produção agrícola da época colonial,
esses grupos sociais permaneceram no litoral nos momentos em que as crises do açúcar e do café
promoviam grandes êxodos populacionais (LUCHIARI, 1999).
Para se compreender a dinâmica da vida caiçara atualmente é necessário inseri-la no
contexto histórico e econômico que permeou o litoral norte no início do século XX,
acompanhando as transformações que delinearam alterações no seu comportamento e nas
respectivas relações com a natureza (ADAMS, 2000; SANCHES, 2004; DIEGUES, 2004).
De acordo com Adams (2000), a vida nas comunidades litorâneas foi estruturada de modo
a satisfazer as necessidades domésticas da família. Para isso, era preciso gerar excedentes
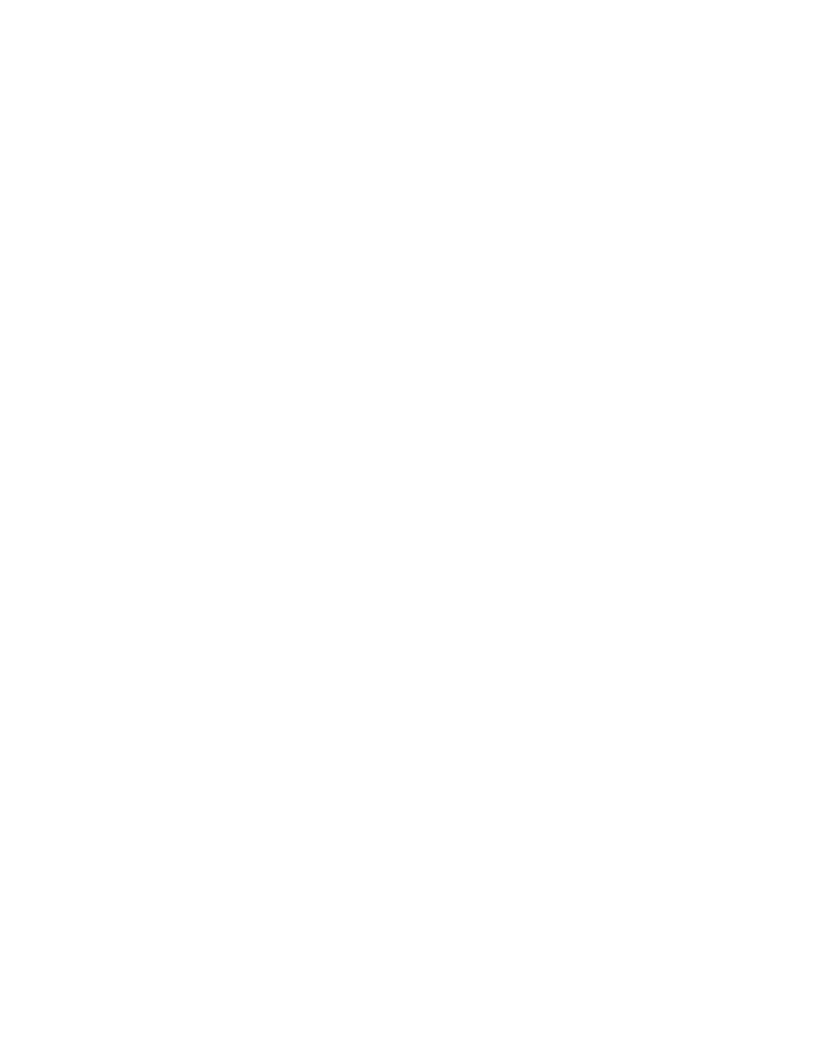
38
econômicos para se comprar insumos externos (tais como ferramentas, pólvora, vestuário, sal,
mantimentos), garantido assim que a vida não fosse totalmente auto-suficiente e isolada
geograficamente dos centros urbanos. Nos momentos de crise, eles sobreviveram da agricultura,
da caça e da pesca artesanal, intensificando as relações sociais por meio dessas atividades no
decorrer do tempo. Os vínculos de parentesco foram fortalecidos, acentuando cada vez mais a
unidade dos grupos caiçaras, levando à conformação de sistemas socioculturais denominados
genericamente pelos pesquisadores de comunidades locais (LUCHIARI, 1999; ADAMS, 2000).
Eles se identificavam pela praia onde viviam com seu grupo, e construíam suas casas de
maneira desordenada, com paredes de pau-a-pique e telhado de sapê, sendo que o piso interno da
residência era de terra batida e a casa apresentava pequena quantidade de móveis (CARVALHO,
1940 apud ADAMS, 2000). O sertão era o lugar reservado para o cultivo do roçado, permeando
as florestas remanescentes, onde caçavam e retiravam lenha, ervas medicinais e madeira, usadas
pelas famílias no cotidiano. A diversão nas comunidades era caracterizada por festas religiosas,
procissões, danças, e os trabalhos comunitários garantiam a integração dos grupos no interior de
uma rica simbologia folclórica (ADAMS, 2000).
As abordagens mais recentes (LUCHIARI, 1999; ADAMS, 2000; SANCHES, 2004,
DIEGUES, 2004) os identificam a partir da grande variedade étnica e sociocultural, devido ao
fato de serem produto da miscigenação entre o colonizador europeu, o negro e o índio.
Pertencendo aos segmentos menos favorecidos da sociedade, esse grupo se organizou em
algumas localidades do litoral brasileiro, onde o trabalho agrícola foi realizado mutuamente e as
relações de compadrio garantiram a sobrevivência e criaram especificidades culturais que
apontam para interessantes reflexões sobre a natureza e a cultura.
Diegues (1996) evidencia que os caiçaras desenvolveram ao longo do tempo um grande
conhecimento a respeito dos ecossistemas locais, dos ciclos biológicos, criando uma simbologia e
uma linguagem específica. Na sua concepção, as relações estabelecidas no interior de ambientes
como estuários, mangues, restingas e lagunas, resultou na constituição de um território muito
rico, reconhecido tanto do ponto de vista da diversidade biológica quanto da cultural (DIEGUES,
2004: 23).
Para Diegues (1996, 2004), a diversidade cultural é bastante expressiva no litoral
brasileiro, e pode levar a importantes questionamentos. O autor destaca, por exemplo, que o
conhecimento desenvolvido pelos caiçaras denota um potencial de resiliência no tocante a

39
capacidade de adaptação, manifestando comportamentos, valores e crenças específicas, na busca
por alternativas ou por soluções dos problemas enfrentados. Os saberes locais expressam relações
antigas, e guardam informações que foram sendo aproveitadas desde a colonização do litoral,
constituindo-se como um dos patrimônios históricos e culturais que o arquipélago de Ilhabela
ainda conserva nos dias de hoje (CALVENTE, 1997; MALDONADO, 1997; PIRRÓ &
MATTOS, 2002).
Pesquisas em torno do conhecimento e das tradições (culturais e naturais) presentes entre
os caiçaras vêm sendo realizadas desde a década de 1940 (MUSSOLINI, 1946, 1980), tanto em
Ilhabela quanto em outras regiões litorâneas do Brasil (CARDOSO, 1996, 2004; MERLO, 2000,
2004, MELO, 2004; RIMOLI, 2006, PAES, 2006; CORRÊA & NOGUEIRA, 2006). Em
Ilhabela, destaca-se o trabalho de Mussolini (1946) que abrange o ritual do cerco da tainha na
década de 1940, e de Maldonado (2004), ao abordar todo o processo social, material e simbólico
que circunda a construção da canoa, desde a escolha da madeira, do local mais apropriado, até os
mecanismos cognitivos que orientam a sua fabricação no arquipélago. O texto de Corrêa &
Nogueira (2006) também se constitui como uma memória, atualizando estórias e lendas
envolvendo o imaginário caiçara, que atribui significado para os nomes de diversas praias e
lugares do município insular.
Diegues (2004) ressalta que os caiçaras sempre conviveram com mudanças decorrentes de
situações de instabilidade econômica ou ambiental, inclusive migrando de praia ou de localidade
para melhor desempenhar a atividade pesqueira. Adams (2000) afirma que a condição de
isolamento desses grupos sociais foi relativizada nos meios acadêmicos, sendo reconhecida como
maior nos momentos de decadência econômica, quando a agricultura de subsistência assumia o
papel de garantir a sobrevivência das comunidades diante dos infortúnios.
A pesca foi ganhando mais importância na vida litorânea no decorrer dos anos, e, segundo
Diegues (2004), passou a ser cada vez mais designada para fins comerciais entre 1910 e 1920,
quando os barcos de Santos passaram a comprar o pescado do litoral de São Paulo, e as primeiras
traineiras apareceram na região do Rio de Janeiro e da Ilha Grande. A partir de 1920, foi criado
um mercado da pesca na região de Santos, e as comunidades passaram a vender o seu pescado
por um preço já estabelecido. Mussolini (1980) destaca que no início do século XX, os imigrantes
japoneses introduziram novas técnicas de pescaria no litoral norte, como o cerco flutuante, e
instalaram pequenas indústrias de salga para produzir o iriko (peixe seco oriundo da dieta

40
japonesa), participando do mercado de Santos como armadores.
Para Adams (2000) essas transformações no universo pesqueiro se constituíram como um
marco importante para a vida dessas pessoas, uma vez que promoveu mudanças nos sistemas de
valores, alterando o cotidiano do grupo, que passou a se relacionar mais intensamente com o mar,
por meio da pesca seletiva. A partir de então, a condição de pescador artesanal foi se tornando
preponderante sobre as atividades agrícolas desenvolvidas. A esse respeito, Diegues (2004)
salienta que:
Hoje se pode dizer que, com o abandono quase completo da agricultura na maioria das
áreas caiçaras, a pesca é sua principal atividade econômica, à qual se juntam o turismo,
os serviços e o artesanato. Essa preponderância da pesca hoje é um elemento
fundamental para explicar mudanças profundas no modo de ser caiçara, uma vez que essa
atividade representa uma dependência crucial em relação à economia urbana de mercado
(DIEGUES, 2004: 33).
Assim como Diegues (2004), Adams (2000) chama atenção para os antigos relatos
científicos sobre a vida caiçara, que remetiam à agricultura uma importância fundamental para a
reprodução material e econômica das famílias. No entanto, Adams (2000) relata que em trabalhos
acadêmicos mais recentes, o caiçara é mais caracterizado como pescador e grande conhecedor do
ambiente marítimo, tendo a agricultura um papel de menor importância na vida das comunidades.
Por outro lado, Cardoso (1996) afirma que no litoral norte os pescadores que vivem em
ambientes mais afastados, como ilhas e praias distantes, ainda desenvolvem a pesca de maneira
associada à atividade agrícola, no entanto, em lugares onde o turismo e a urbanização já se
encontram presentes, o pescador foi transformando seus meios de produção, tornando a pesca
uma atividade mais sofisticada, em que a “propriedade familiar vai dando lugar à propriedade
individual dos instrumentos de trabalho” (CARDOSO, 1996: 18).
De acordo com Cardoso (1996) e Adams (2000), em Ilhabela esse fenômeno levou ao
abandono da agricultura pela comunidade do Sombrio e em várias outras, sendo que atualmente
são poucas as comunidades que cultivam o roçado. Desse modo, a pesca artesanal passou a ser o
principal meio de sustento econômico, revelando-se como um dos elementos fundamentais que
compõe a identidade do caiçara do litoral norte, sendo essa característica tão forte e explícita, que
alguns pesquisadores optaram por também denominar esses grupos de pescadores artesanais
(DIEGUES, 2004; BEGOSSI, 2004; BARBOSA; 2004 e 2007; RAMIRES, 2008).
Ferreira (2004) e Adams (2000) chamam atenção para a valorização ingênua dessa

41
cultura, e relativizam a representação de certo modo romântica a respeito das comunidades dos
pescadores, denominadas também de tradicionais, isoladas, primitivas, entre outras
classificações.
Ferreira (2004) enfatiza o papel político dessas denominações. Apoiada em diversas
abordagens, ela assinala o perigo da essencialidade dessa visão que os toma como tradicionais,
considerando que esse olhar idealiza e aparta a realidade dessas pessoas da dinâmica cultural, que
está sempre em transformação. Ferreira (2004) também ressalta os limites de se delinear
trabalhos científicos a partir desse enfoque influenciado pelo mito do bom selvagem, uma vez que
os caiçaras do litoral paulista, por exemplo, sempre estiveram vinculados à economia de
mercado. Esse pensamento se confirma em Ilhabela.
Para Adams (2000), a grande questão sobre o isolamento socioeconômico desses grupos,
ou sobre as tradições que são passadas de pai para filho e que guardam uma grande riqueza
cultural, passa pelo conhecimento adquirido e pela simbologia acerca do ecossistema local, que
não são estáticos no tempo. Para a autora, os saberes e as práticas se transformam junto às
necessidades específicas e as grandes mudanças econômicas e socioculturais globais. Ela ressalta
que muitos estudos científicos nacionais têm contribuído para disseminar a idéia do mito do bom
selvagem, enxergando nas comunidades locais os verdadeiros agentes de conservação ambiental,
vivendo em total harmonia com a natureza.
Adams (2000) não desconsidera que esses grupos possuam técnicas de manejo que
contribuam para a sustentabilidade ambiental, em virtude das áreas onde vivem estarem mais
preservadas, porém, assim como assinala Sanches (2004), não se pode afirmar categoricamente
que o caiçara contribua de maneira efetiva e incondicional para a diversidade ecossistêmica nos
locais onde vivem. Para Adams (2000) e Sanches (2004), essa confirmação dependeria de
estudos ecológicos com embasamento empírico adequado para comprovar a relação de coerência
com o meio ambiente local, estudos que também seriam contextuais e datados.
Na realidade, essa questão que também envolve o aspecto da sustentabilidade ambiental,
será trazida para este trabalho no momento em que serão analisados os recursos medicinais e as
relações analógicas utilizadas em algumas comunidades de Ilhabela, na tentativa de se
compreender as diferenças cognitivas terapêuticas que relacionam o ser humano à natureza no
interior de universos simbólicos diferentes. Sendo assim, a realidade das comunidades locais que
vivem no lado oceânico de Ilhabela, apesar de guardar elementos semelhantes às transformações

42
vividas pelo meio urbano no Brasil, é singular em muitos aspectos.
Porém, é necessário reconhecer o aspecto dinâmico dessas culturas, uma vez que sempre
receberam influências externas e se transformaram no decorrer da sua própria história de
interação com o ambiente local (LUCHIARI, 1999; ADAMS, 2000; SANCHES, 2004;
DIEGUES, 2004).
Essa consideração é importante, para que os estudos acadêmicos não recaiam na redução
do conhecimento e das práticas desses grupos sociais a uma representação estática da natureza,
ou então recaiam a uma classificação etnocêntrica, na qual o conhecimento científico se coloca
acima do saber dos caiçaras. Uma coisa é considerá-los dentro do mito do bom selvagem, onde
todos os costumes são contemplados de maneira ingênua e acrítica. Outra coisa é valorizar um
conhecimento simbólico que se insere em uma outra construção de natureza, que se relaciona
diferentemente com o meio ambiente e que envolve saberes que foram transmitidos de geração a
geração e são resultado da mistura de várias culturas, oscilando de acordo com as necessidades
de sobrevivência e com os ciclos econômicos.
1.4 A Constituição do Parque Estadual de Ilhabela
Mesmo sendo submetida a todos os tipos de exploração desde a cana de açúcar, ao café e
à cachaça, e tendo grande parte das suas áreas devastadas pelas respectivas atividades
econômicas que não se preocupavam com a sustentabilidade e a conservação do ambiente para as
gerações futuras, a floresta de Ilhabela conseguiu se recuperar, em parte, mesmo tendo perdido
muitas das suas principais riquezas no decorrer dos séculos.
No intuito de preservar a vegetação da Mata Atlântica, de restinga, os campos de
samambaias, os animais em extinção (como a jacutinga e o macuco), as espécies endêmicas
(como o cururuá), foi criado o Parque Estadual de Ilhabela, em 20 de janeiro de 1977, pelo
Decreto Estadual 9.414, medida que visava a recuperação dessas áreas degradadas e a
preservação dos ecossistemas sobreviventes à exploração colonial. Esta Unidade de Conservação
é administrada pelo Instituto Florestal da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, possui uma área
de 27.025 hectares e compreende cerca de 80% da área total do município (MALDONADO,
1997; SIMÕES, 2005).
A definição dos seus limites territoriais é feita por cotas altimétricas de 100m e de 200m,
e também é delimitada pela proximidade com áreas da Marinha (que inclui as ilhas de Búzios e

43
de Vitória, estas habitadas, e vários ilhotes e lajes). Para Maldonado, o caráter insular deve ser
evidenciado nas discussões sobre a sua conservação, seu manejo e sua cultura, por ser uma
característica que a difere da maioria dos municípios do país (MALDONADO, 1997).
A constituição do Parque aconteceu por preocupações puramente biológicas e biofísicas,
ou seja, o reconhecimento da existência de comunidades locais naquele território foi totalmente
ignorado pelas instituições governamentais:
Em nenhum momento, durante o processo de criação desse parque, as comunidades
foram consultadas ou mesmo informadas dos objetivos da criação do PEIB e das
consequências da legislação restritiva sobre o seu modo de vida tradicional, ou seja,
foram marginalizadas e tratadas como inimigas da natureza e do PEIB 9.
A gestão dessa Unidade de Conservação não estimulou o diálogo com as comunidades,
uma vez que os caiçaras foram considerados como depredadores do ambiente10. Restrições no
tocante à extração dos recursos naturais e a prática da agricultura cercearam os antigos moradores
de reproduzir seu modo de vida (MALDONADO, 1997).
Nesse contexto, as políticas públicas conservacionistas que orientaram a manutenção do
Parque Estadual de Ilhabela criaram rupturas profundas nas relações dos moradores com o
ambiente, uma vez que antigas práticas de uso dos recursos tiveram que ser abolidas
(CALVENTE, 1997; MALDONADO, 1997; PIRRÓ & MATTOS, 2002).
De acordo com Ferreira et al (2001) além das restrições impostas aos caiçaras, a
constituição das Unidades de Conservação também não abarcou os direitos dos grupos sociais
que viviam nesses locais:
As Unidades de Conservação (UCs) propostas no Brasil não levaram em consideração a
questão da legitimidade do padrão de políticas de conservação adotado, seja no âmbito
federal, seja no estadual. Elas foram resultado de um processo arbitrário de tomada de
decisões, cujos atores partiam da suposição de que a conservação de remanescentes
florestais não seria um direito reivindicado pelas coletividades que vivem e moram nos
limites territoriais de suas esferas de atuação. (FERREIRA et al, 2001: 117)
No momento de implementação das UCs no Brasil, os grupos locais foram obrigados a se
9 Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Instituto Florestal. Subsídios para o Plano de Manejo do Parque Estadual
de Ilhabela: Inserção das Comunidades Caiçaras, 2005.
10 Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Instituto Florestal. Subsídios para o Plano de Manejo do Parque Estadual
de Ilhabela: Inserção das Comunidades Caiçaras, 2005.

44
posicionar politicamente para tentar garantir um espaço na discussão, visando conquistar os
devidos direitos sobre o uso do território, sendo “inusitadamente lançados a uma situação de
ator” (FERREIRA et al, 2001: 117). Nesse caso, o termo comunidades tradicionais revela uma
intenção política de se agregar os grupos que vivem em ambientes protegidos para obterem
representatividade junto aos órgãos do governo, e muitas vezes essa denominação acaba juntando
em uma mesma classificação heterogeneidades, ignorando também as singularidades culturais
inerentes a toda organização social (FERREIRA et al, 2001).
Calvente (1997) acredita que a constituição do Parque veio amenizar os impactos
ambientais, em virtude de representar um limite para a crescente especulação imobiliária. Por
outro lado, segundo a autora, o Parque também representou uma perda do território para os
caiçaras, que tanto na parte urbana quanto nas comunidades locais do lado oceânico da ilha,
tiveram a atividade da pesca dificultada pelo turismo e pela criação da Unidade de Conservação.
Ao analisar o relatório de Inserção das Comunidades Caiçaras elaborado pela Secretaria
do Meio Ambiente, percebeu-se que nele foram identificadas 17 comunidades residentes em
Ilhabela, porém essa delimitação é controversa, pois outra bibliografia contabiliza o número de
13 comunidades (MALHEIROS et al, 2005) e também um documento fornecido pela Diretoria
das Comunidades Tradicionais contabiliza 19 comunidades (Prontuário de Comunidades
Tradicionais, documento obtido junto à chefia de Seção de Pesca e Agroindústria, 2005).
Fez-se a opção de explorar o relatório da Secretaria do Meio Ambiente em virtude deste
documento possuir um maior detalhamento para a reconstrução da realidade socioambiental dos
moradores do lado externo da ilha.
Nessa perspectiva, de acordo com o relatório foram contabilizadas 12 comunidades que se
localizam na área de entorno do PEIB (Parque Estadual de Ilhabela), e por isso, sofrem algumas
restrições referentes ao uso dos recursos florestais, de acordo com a Lei nº 4771/65, que instituiu
o Código Florestal, e do Decreto Federal nº 750/1993, fundamentando normas gerais para a
conservação da mata Atlântica11.
As cinco comunidades restantes: Ilha da Vitória, Porto do Meio e Guanxuma da Ilha de
Búzios, Saco do Sombrio, Praia da Figueira e Saco das Tocas, se localizam no interior do Parque
e sofrem ainda mais limitações, regulamentadas pelo Decreto Estadual nº 9.414/77 de criação do
11 Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Instituto Florestal. Subsídios para o Plano de Manejo do Parque
Estadual de Ilhabela: Inserção das Comunidades Caiçaras, 2005.

45
PEIB, que proíbe a construção de novas habitações e prevê a futura desapropriação dessas áreas.
Vale a pena também ressaltar que esse processo gerou uma situação de conflito entre os
agentes governamentais e os moradores locais no litoral de São Paulo (FERREIRA et al, 2001), e
o caso de Ilhabela não foi diferente, como aponta Maldonado (1997).
O relatório de Inserção das Comunidades apresenta uma tabela (que pode ser vista nos
anexos da presente tese) a respeito das relações entre as comunidades e a gestão do Parque, que é
heterogênea e varia muito de grupo a grupo de localidades. Nessa tabela é possível visualizar
com maior detalhamento as singularidades de cada comunidade no tocante às limitações
referentes às questões fundiárias, de relacionamento, de uso dos recursos, entre outras.
Desde a constituição do Parque Estadual de Ilhabela, o relacionamento da administração
com as comunidades é caracterizado por tensões geradas por momentos de intensa fiscalização e
momentos de ausência de diálogo. A desinformação dos moradores sobre legislação ambiental e
às restrições a que foram submetidos também foi um fator decorrente da falta de uma
comunicação mais clara nos 12 primeiros anos de vigência dessa Unidade de Conservação12.
Sendo assim, os caiçaras que vivem nas áreas de conservação não podem mais cultivar o
roçado, extrair madeira para a construção das canoas e nem caçar no interior do Parque Estadual.
Porém, foram estas práticas que proporcionaram a subsistência desses grupos locais, e fizeram
parte da criação dos elementos culturais que reafirmaram as relações tecidas com a natureza,
dotada de símbolos e rituais que não impediram o renascimento da floresta em grande parte da
ilha. Segundo Calvente (1997) e Maldonado (1997), não foram essas atividades que mais
degradaram o município de Ilhabela, e sim, a atividade do turismo, que está aumentando
gradativamente desde 1960 e ocorre sem o devido planejamento para que se conserve o ambiente
visitado.
Em síntese, o município apresenta algumas peculiaridades, tais como o fato de ser um
arquipélago de acesso exclusivo por via marítima, ter a maior parte da sua área composta pelo
Parque Estadual de Ilhabela e possuir comunidades de caiçaras que se espalham ao longo das três
ilhas que o compõem.
Contudo, a realidade de Ilhabela vem se transformando nos dias atuais devido ao processo
de urbanização a que vem sendo submetida, que traz como consequência impactos na sua
distribuição territorial, dividindo-a em duas realidades distintas: O lado da ilha voltado para o

46
oceano, que é o lugar onde vivem as comunidades dos caiçaras e onde se situa o Parque Estadual;
e o lado urbanizado, que usufrui de todos os recursos da vida urbana, tais como luz elétrica, ruas
asfaltadas, centros de saúde, hospital, comércio, bancos, restaurantes, hotéis e pousadas.
As particularidades apresentadas demonstram que o município vem se configurando em
um lugar onde a convivência entre antigas formas de vida e novas influências têm trazido
mudanças na distribuição dos espaços de moradia, caracterizados pela presença, inclusive, de
áreas de favelização. Esse processo é visto por Merlo (2000) como oriundo da globalização, que
abre perspectivas para a expansão do turismo e para o contato com modos de vida que exercem
maior influência na sociedade, levando ao aumento do consumo e de hábitos denominados de
mais modernos.
Assim, Ilhabela é hoje um município que possui uma infra-estrutura urbana semelhante às
municípios do continente, e por se constituir como um território turístico vem recebendo um
grande fluxo de visitantes nas épocas de temporadas, o que movimenta a economia local e traz
sustento de forma direta ou indireta para a maioria dos moradores.
1.5 O Turismo e o Processo de Urbanização do Litoral Norte
Luchiari (1998) e Raimundo (2007) relacionam o início da atividade turística ao
nascimento da sociedade urbana industrial, que impôs a dualidade trabalho-descanso à mão de
obra assalariada que estava se consolidando. Com muita luta e pressões sindicais, os
trabalhadores conquistaram o direito a férias remuneradas, o que estimulou a criação do tempo
destinado ao lazer em oposição ao tempo dedicado ao trabalho. Assim, o turismo foi sendo
incorporado às camadas populares, inserindo-se no contexto do mundo do trabalho.
Desse modo, o século XX presenciou um grande aumento de inovações tecnológicas,
levando o trabalhador a usufruir mais do tempo dedicado ao lazer, também ligado à idéia da
reposição de energias para voltar ao trabalho. Esse fenômeno proporcionou uma alteração na
imagem da natureza, que passou a ser valorizada enquanto paisagem e lugar de descanso. O mar
por sua vez deixou de ser visto como um ambiente assustador e misterioso, passando a ser um
local valorizado para tratar algumas doenças, ou seja, as praias passaram a ser valorizadas pela
medicina pelo seu aspecto curativo (RAIMUNDO, 2007).
12 Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Instituto Florestal. Subsídios para o Plano de Manejo do Parque Estadual
de Ilhabela: Inserção das Comunidades Caiçaras, 2005.

47
Para Cardoso (1996), as vilas e os povoados costeiros passaram a ser valorizados pelo seu
potencial imobiliário, uma vez que os empreendedores viam nesses locais uma ótima
oportunidade para expansão turística. As praias eram primeiramente descobertas pelo setor e,
posteriormente à compra de suas terras, aguardava-se a infra-estrutura para viabilizar seu acesso
por transporte, assim como as condições adequadas para se efetuar a urbanização do local, tarefa
essa designada ao Estado.
Luchiari (1998) explicita que a prática do turismo alcançou as camadas assalariadas após
1950 e passou a fazer parte da vida urbana, onde “a alienação do trabalho encontra
prolongamento na alienação do turismo”. Moura (2005) também ressalta a aptidão por locais
que apresentassem condições socioculturais diferentes daquele vivido pelo turista no seu
cotidiano.
No litoral norte, essa atividade econômica ocasionou uma intensa transformação no
ambiente (CARDOSO, 1996; LUCHIARI, 1998; RAIMUNDO, 2007). Durante a década de 1960
foi construída a Rodovia dos Tamoios, que faz a ligação entre o Vale do Paraíba e a município de
Caraguatatuba; em 1975 foi aberta a Rodovia Rio-Santos e, em 1982, a Rodovia Mogi-Bertioga,
facilitando assim o acesso das pessoas ao litoral norte e estimulando as atividades turísticas como
fonte de renda nos municípios praieiros. A inauguração da balsa em 1959 também contribuiu
imensamente para a criação desse novo ciclo econômico em Ilhabela, trazendo consigo uma nova
dinâmica urbana como também grandes transformações territoriais.
A partir da década de 1970, a consolidação do turismo como uma prática da vida moderna
e também como fonte de renda para novos empreendimentos foi a principal causa do processo de
intensa urbanização sofrido pelo litoral norte (CALVENTE, 1997; LUCHIARI, 1999; MOURA,
2005; RAIMUNDO, 2007). A valorização de suas terras provocou um intenso movimento de
especulação imobiliária em toda região. Moura (2005) destaca os interesses econômicos do
turismo como agentes de transformação da paisagem urbana de Ilhabela, em virtude dos edifícios
históricos terem sofrido reformas no intuito de satisfazer as necessidades do mercado, que impõe
novas formas de uso e representação dos elementos do espaço.
Cardoso (1996) salienta que esse processo desestruturou a vida do caiçara, pois junto com
ele veio a introdução de elementos que anteriormente não faziam parte do cotidiano dos
moradores locais, tais como os “loteamentos, cercamentos de áreas públicas, aterros,
desmatamentos, privatização dos recursos naturais, proibição do acesso ao mar, expulsão dos
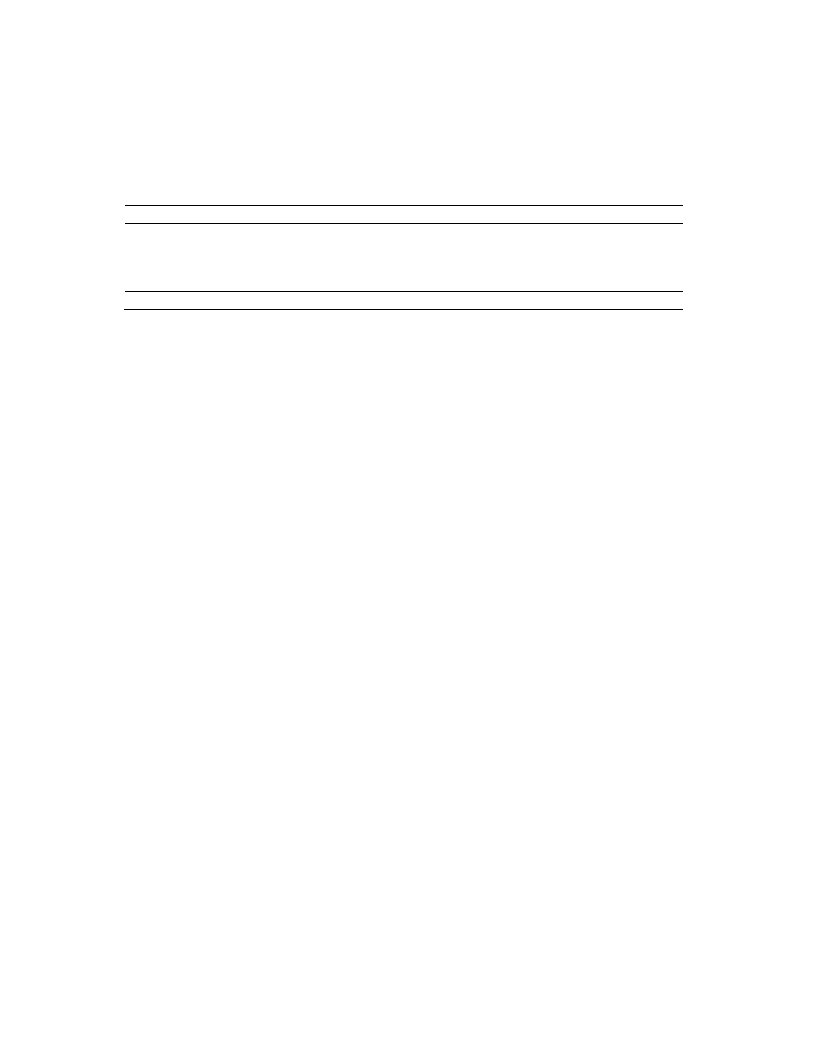
48
moradores, grilagens, entre outros” (CARDOSO, 1996: 22). Como consequência, esta região
vem atualmente sofrendo um intenso crescimento populacional.
Tabela 2: População Residente nos Municípios do Litoral Norte
1950
1960
1970
1980
1991
2000
2007
Ilhabela
5066 5119 5707 7800 13538 20836 23886
São Sebastião
6033 7476 12016 18997 33890 58038 67348
Ubatuba
7941 10294 15203 27139 47398 66861 75008
Caraguatatuba
5429 9819 15073 33802 52878 78921 88815
Total
24469 32708 47999 87738 147704 224656 257064
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Após a inauguração da balsa (1959) e das rodovias Tamoios (década de 1960), Rio-Santos
(década de 1970) e Mogi-Bertioga (década de 1980), houve um intenso aumento populacional na
região, sendo muito mais significativo ainda nos municípios do continente. Já em Ilhabela, a
escalada do número de habitantes acontece somente na década de 1970 (37% de aumento). Nos
vinte anos entre 1950 e 1970, São Sebastião e Ubatuba dobraram de população, enquanto
Caraguatatuba triplicou. Considerando que em 1950 os quatro municípios apresentavam números
de habitantes bem próximos entre si, a particularidade de ser um município insular pode ter
dificultado o incremento populacional em Ilhabela, uma vez que entre os anos de 1950 e 2007,
sua população cresceu 371%, enquanto em Ubatuba o aumento foi de 844%, em São Sebastião de
1.016% e em Caraguatatuba de 1.536%.
Nesse aspecto, Hogan chama atenção para as relações socioeconômicas que estão
subjacentes ao aumento da dinâmica demográfica, para que não prevaleça a visão
neomalthusiana que analisa esse fenômeno de forma linear, ou seja, da pressão dos números
referentes ao aumento populacional sobre os recursos naturais necessários para abastecer essa
demanda. Para este autor, é preciso desempacotar as relações que transcendem a dualidade:
mudança populacional e mudança ambiental, nos níveis local e global (HOGAN, 2001).
As transformações socioambientais que ocorreram a partir da colonização estão sendo
intensificadas pelas atividades do turismo alienado, e o ambiente natural tem sido analisado como
resultado do intenso processo de exploração e degradação. No caso de Ilhabela, os interesses
econômicos se impuseram levando a construção de hotéis e pousadas à beira mar, casas de
veraneio, comércio, todos descartando seus esgotos na praia, sem nenhuma preocupação com o
tratamento ou com a qualidade da água.

49
Calvente (1997) atenta para o fato de o espaço ser visto pelos proprietários de hotéis,
pousadas, restaurantes, etc., como uma fonte de renda, preocupação que não inclui totalmente a
sua conservação ou a sua preservação. A autora destaca os desequilíbrios oriundos da
transformação do ambiente natural em mercadoria, já que essa concepção vem ocasionando um
deslocamento populacional significativo. Em média, o litoral norte recebe cerca de um milhão e
meio de turistas por temporada, produzindo uma enorme circulação de capital e impactos
ambientais em grandes escalas.
Em toda a região, essa atividade econômica proporcionou novos empregos. Nas épocas de
alta temporada, por exemplo, abriam-se oportunidades para trabalhos em bares, hotéis e
restaurantes, assim como de vendedores ambulantes, sendo que nas baixas temporadas, os
empregos se concentravam nas necessidades da construção civil, como pedreiros, encanadores,
ou como caseiros das segundas residências (YAZIGI, 2001 apud RAIMUNDO, 2007).
Esse fenômeno fez com que antigas formas de sobrevivência (como a pesca, por exemplo)
fossem gradativamente abandonadas por parte da população caiçara que vivia em áreas de
interesses imobiliários, levando muitos nativos a se desfazerem de seus antigos locais de moradia,
transferindo-se para outras áreas, contribuindo dessa maneira para a configuração de regiões de
favelização (CARDOSO, 1996; CALVENTE, 1997; LUCHIARI, 1998; MOURA, 2005;
RAIMUNDO, 2007).
Calvente (1997) situa essa análise no contexto de Ilhabela demonstrando que, de acordo
com pesquisas realizadas nos bairros da Armação, Curral e Saco da Capela, devido à valorização
das terras localizadas à beira mar, estas foram vendidas pelos caiçaras e, desde então, esses locais
foram intensamente transformados pela construção de casas de veraneio muradas, que fechavam
as praias ou então deixavam apenas uma pequena passagem de servidão para o acesso a elas.
No lado urbanizado, os caiçaras foram gradativamente perdendo o seu espaço perto do
mar, e passaram por um processo de proletarização, sendo aproveitados economicamente como
mão de obra barata, ao mesmo tempo em que a necessidade do consumo aumentava com a
introdução de novos hábitos e com a exposição a uma quantidade cada vez mais crescente de
bens simbólicos oferecidos. Ilhabela passou a ser freqüentada pelo turista de maior poder
aquisitivo, de alto padrão, que procurava lugares onde pudesse ter mais privacidade, e segundo a
autora, essa privacidade passou a ser a característica mais procurada nos municípios insulares
(CALVENTE, 1997).
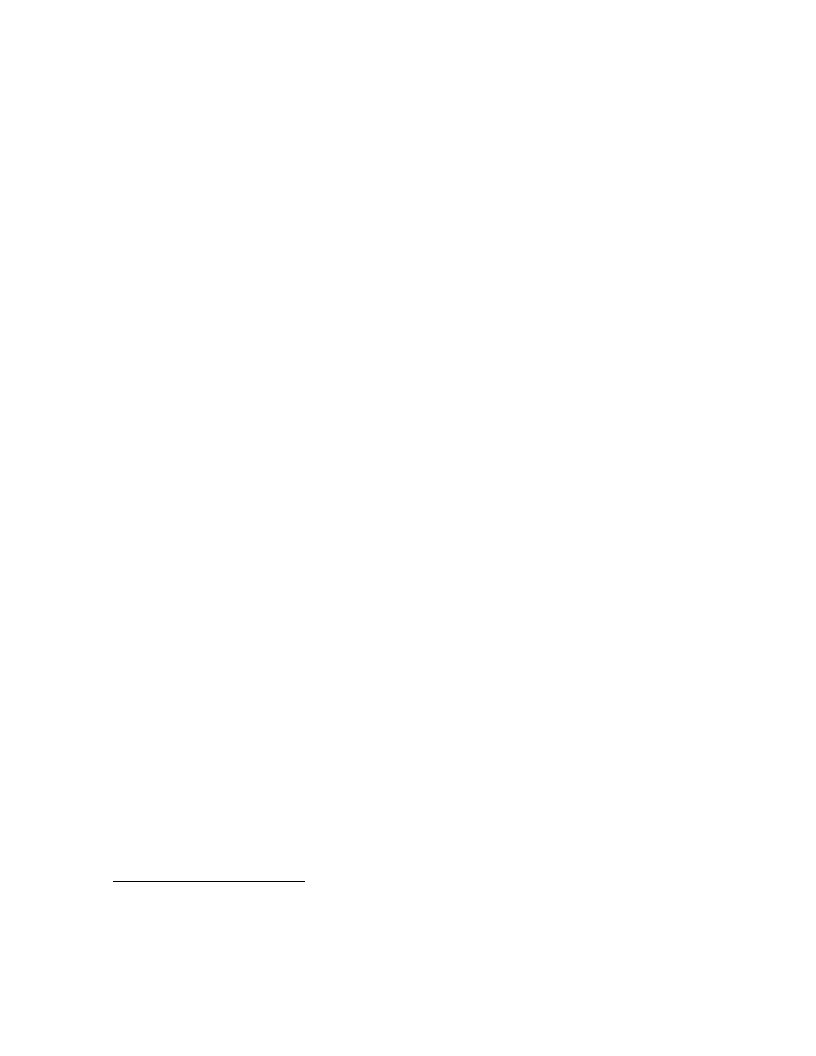
50
Por outro lado, a construção de casas de veraneio para os segmentos sociais mais
favorecidos também vem provocando casos de total êxodo das terras do lado oceânico, como foi
o caso da Praia das Enchovas, Praia de Indaiatuba e Saco das Tocas, sendo que algumas das
famílias foram absorvidas como caseiras das propriedades privadas que se apossaram desses
locais, enquanto as outras famílias restantes mudaram de localidade13.
O aumento do turismo em Ilhabela também levou a uma maior demanda por profissionais
atuantes na área da construção civil e no corte de pedras de granito, elevando o número de
moradores oriundos de outras regiões do Brasil.
Nesse contexto, a população migrante vem crescendo significativamente na zona urbana
de Ilhabela, e vem ocupando as áreas de favelização de maneira desordenada, causando grandes
impactos socioambientais. Esse grupo social é constituído por pessoas oriundas de regiões pobres
do país, sendo a sua maior parte do Nordeste e do norte de Minas Gerais.
A ocupação das áreas de risco em Ilhabela repercutiu na deterioração de muitas das suas
áreas verdes pelo uso inadequado do espaço, pela ausência de distribuição de ruas, pelas
construções de moradias precárias, sem luz, água tratada e redes de esgoto, que contribuem para a
contaminação do solo e da água dos córregos e das cachoeiras que deságuam no mar, poluindo e
prejudicando a qualidade das praias.
As famílias de pescadores que vivem do outro lado da ilha, também captam água para uso
doméstico diretamente das cachoeiras, rios e córregos que se situam nas proximidades das casas,
por meio de mangueiras plásticas. Também não contam com serviços de esgotamento, nem de
destino para os resíduos sólidos14. Dados obtidos junto à diretoria do Parque Estadual de Ilhabela
e documentos da Prefeitura Municipal e da Secretaria da Saúde apontam para os principais riscos
a que esse grupo social está exposto, por exemplo: todas as comunidades locais apresentam
carência quanto à infra-estrutura sanitária. Malheiros et al (2005) destacam que o sistema mais
usado nas residências caiçaras é o da fossa negra, que se constitui em um buraco sem nenhuma
proteção adequada, que pode contaminar as águas subterrâneas.
Os caiçaras também descartam seus esgotos diretamente no mar e nos córregos que
passam perto das residências, como no caso da praia da Serraria, local visitado durante a pesquisa
13 Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Instituto Florestal. Subsídios para o Plano de Manejo do Parque
Estadual de Ilhabela: Inserção das Comunidades Caiçaras, 2005.
14 Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Instituto Florestal. Subsídios para o Plano de Manejo do Parque
Estadual de Ilhabela: Inserção das Comunidades Caiçaras, 2005.

51
de campo. Nesta comunidade, foi detectado o esgoto jogado no riozinho que passa na frente das
casas, onde as crianças nadam e brincam o dia todo, criando o risco de se contaminarem por
verminoses, hepatite e outras doenças infecto-contagiosas e parasitárias de veiculação hídrica.
Uma pesquisa realizada pelo próprio PSF para buscar a compreensão da realidade vivida
pelos moradores do município, no interior do processo de urbanização desordenada, chegou à
conclusão de que esses fatores externos vêm prejudicando a qualidade de vida das pessoas, já que
estas passaram a viver de maneira precária, sem condições sanitárias e de higiene15. O maior
bairro de Ilhabela (Barra Velha), por exemplo, conta com 8.000 moradores vivendo em
condições precárias.
15 Oficina de Territorialização do Município de Ilhabela - Programa Municipal de Saúde da Família, 1999.
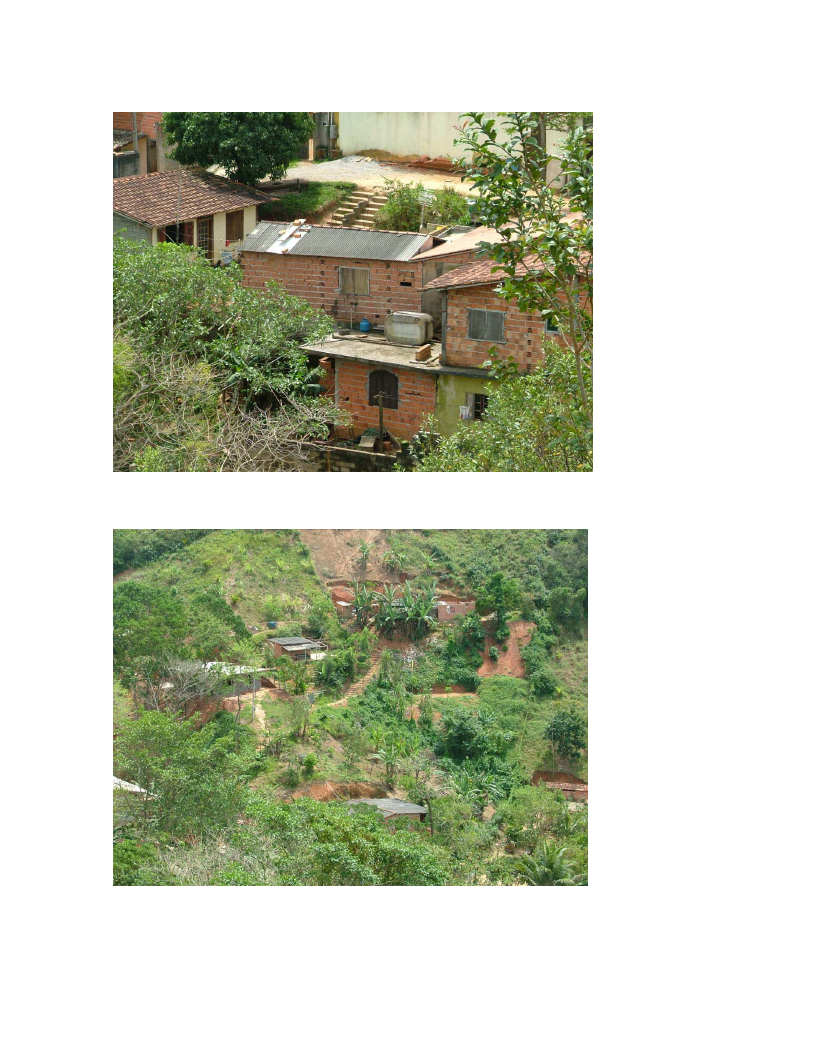
52
Figura 2. Habitações do Bairro Barra Velha. Retirada de SANTOS et al, 2005.
Figura 3. Área de Risco do Bairro Barra Velha. Retirada de SANTOS et al, 2005.

53
Moura (2005) considera mais complicado o caso da disputa por terras em Ilhabela do que
no restante da região, pelo fato de ser um arquipélago e ter a maior parte do seu território
pertencente ao Parque Estadual, restando apenas 2% de sua área para a expansão urbana. O
mesmo autor salienta que esse problema foi acentuado pela existência de leis territoriais
altamente restritivas, advindas do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) e do Plano
Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC) promulgados em 1988. Ilhabela está inscrita nesses
dois planos de preservação costeira, nacional e estadual, cujo intuito é administrar, planejar e
proteger a exploração dos ecossistemas litorâneos, e ao mesmo tempo, proporcionar mais
qualidade de vida à população residente, sem comprometer as gerações futuras. Foi devido ao
Plano Estadual que Ilhabela passou a pertencer à região do litoral norte, da qual fazem parte os
municípios de São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba e Bertioga.
Essa situação é ambígua, uma vez que por um lado, limita o crescimento fundiário, devido
à existência da Unidade de Conservação e de leis que restringem a expansão urbana, mas por
outro lado, faz com que o preço das terras que restaram se eleve desproporcionalmente,
dificultando sua disponibilidade para os segmentos menos favorecidos (MOURA, 2005).
Nessa perspectiva, tanto o deslocamento (da praia para o morro) vivido pelo caiçara,
quanto o deslocamento (de município, de estado) vivido pelo migrante, resultam na conformação
de áreas de favelização como única saída de moradia para esses segmentos sociais. Essa
problemática remete ao questionamento do predomínio da economia do turismo, sobre o destino
e a localização das moradias de muitas pessoas que passaram a viver no litoral norte.
Moura (2005) afirma que a atividade do turismo exerce total influência nas dinâmicas de
uso e ocupação do solo em Ilhabela atualmente, e vem gerando conflitos ligados à pressão
fundiária, como também à batalha dos caiçaras pelos direitos à propriedade da terra.
Por sua vez, o consequente processo de urbanização e desterritorialização vêm
provocando impactos nas identidades individuais, causando vulnerabilidades em vários âmbitos
(individual, social e ambiental) uma vez que obriga as pessoas a se adaptarem a novos modos de
vida e a reproduzirem relações com a natureza que estão degradando a saúde, tanto humana
quanto ambiental.
Ilhabela convive nos dias de hoje com três grupos sociais, que diferem entre si: os
caiçaras que vivem nas comunidades e ocupam a região desde a colonização, os migrantes, que se
constituem em número maior e iniciaram o processo de ocupação na década de 1980 e os

54
veranistas ou população flutuante, que estão presentes em épocas de temporadas em um número
superior a população residente16. Maldonado (1997) relata que os bairros do lado urbano de
Ilhabela atualmente mesclam a presença de migrantes e caiçaras, assim como veranistas, em
diferentes graus.
Esses grupos se constituem como demanda para os serviços de saúde, tanto pública
quanto privada. E revelam realidades heterogêneas, que se diferenciam por classe social, por
escolaridade, e por diferentes representações sobre o mundo, nascidas das histórias de vida que
criam diferentes maneiras de se relacionar com o ambiente reconhecido.
Para Ojima e Hogan (2008), a falta de planejamento urbano tem levado os segmentos
sociais menos favorecidos a ocupar as áreas de subvalorização imobiliária, agravando os conflitos
de origem socioespacial.
Não somente em Ilhabela, mas todo o litoral norte enfrenta problemas com relação ao
aumento das áreas de favelização decorrentes da segregação urbana. Existe nessa região uma
grande quantidade de pessoas vivendo em áreas ilegais de modo inapropriado, sem infra-estrutura
alguma, ocupando esses espaços justamente por não poderem pagar por moradias em locais
permitidos pelo planejamento urbano, como aponta o relatório de Barbosa (2007):
Em Ubatuba, grande extensão da faixa litorânea foi tomada por condomínios fechados, e
nos morros ainda cobertos por Mata Atlântica é possível perceber grandes casas
surgindo, e, em paralelo a esse movimento, uma parte da população se desloca para
bairros como o Ipiranguinha, Santana, áreas menos controladas pelos grupos
imobiliários, as quais acabam sendo a única alternativa de moradia tanto para antigos
moradores, como para os novos trabalhadores que chegam (BARBOSA, 2007).
Os processos de invasão acabam criando alternativas sanitárias problemáticas, como a
captação de água em lugares onde não existe a cobertura da SABESP, acentuando dessa maneira
as consequências ambientais associadas ao descaso dos poderes públicos com relação à
distribuição da população no espaço onde busca-se preservar. Esta situação social ocasiona, em
termos ambientais, três problemas: o primeiro deles é com relação ao abastecimento de água, o
segundo com a coleta de esgotos e o terceiro quanto ao tratamento de esgotos (Hogan et al,
2001).
16 Oficina de Territorialização do Município de Ilhabela - Programa Municipal de Saúde da Família, 1999.
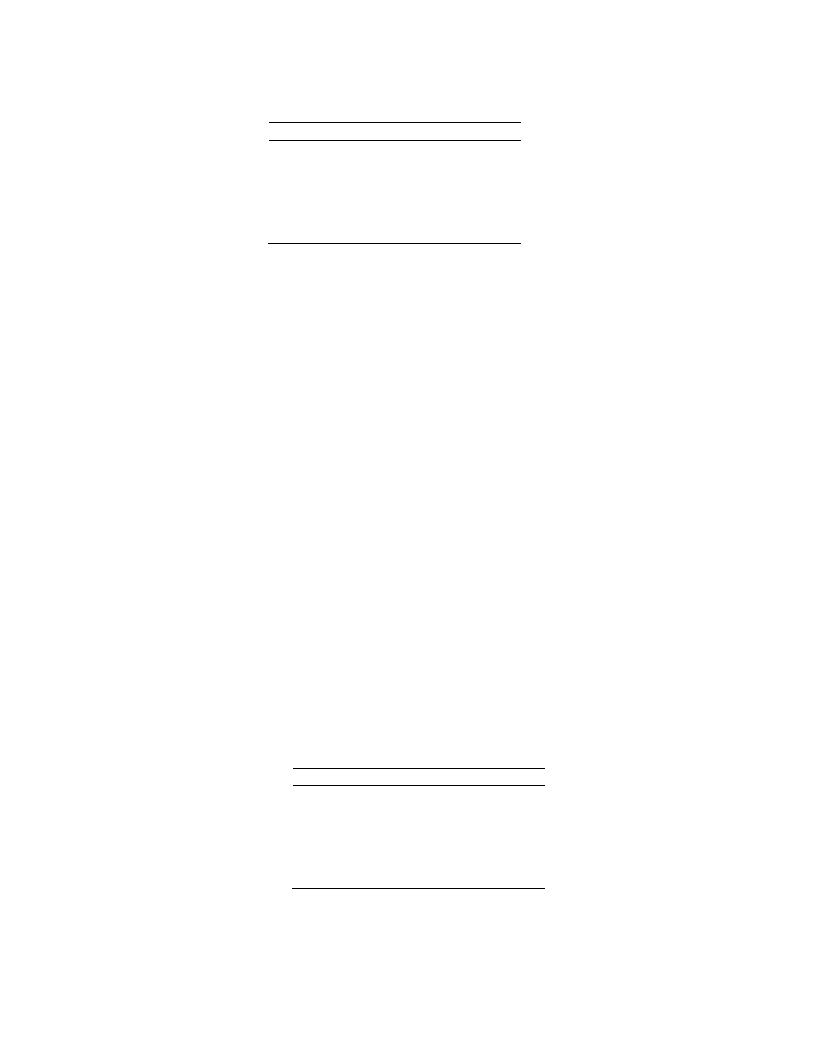
55
Tabela 3: Abastecimento de água – Nível de atendimento (em %)
Localidade
1991 2000
São Paulo
98,97 99,42
Caraguatatuba
93,82 96,87
Ilhabela
63,12 75,70
São Sebastião
79,12 71,55
Ubatuba
79,36 76,20
Campinas
96,92 97,30
Fonte: Elaboração própria com base em dados da
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE).
Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião são os municípios que menos possuem cobertura de
abastecimento público de água, em contrapartida ao intenso crescimento populacional
evidenciado anteriormente (Tab. 3). Na tabela 3, identifica-se que no ano 2000 a cobertura ainda
não atingia a totalidade da população do litoral norte, em crescimento contínuo, evidenciando a
situação de dificuldade dos serviços públicos em acompanhar o processo de urbanização.
Em Caraguatatuba, percebe-se que restariam 3,13% para que se abarcasse o total de
residências com abastecimento público. Em Ilhabela, 24,3%, em São Sebastião, 28,45% e em
Ubatuba 23,8%. Este problema se generaliza em diferentes proporções. De acordo com Barbosa
(2007), cerca de quatro mil famílias que residem no Parque Estadual da Serra do Mar, encontram-
se em áreas irregulares (já que a Unidade de Conservação é de proteção integral), ou seja,
vivendo sem condições adequadas.
Tanto na área urbanizada de Ilhabela, quanto nas áreas ocupadas pelas comunidades
locais, esse problema convive ao lado da questão já citada da emissão direta de esgoto não tratado
nos rios e córregos que deságuam no mar, como nos afirmam Maldonado (1997), Calvente
(1997), Pirró & Mattos (2002) e Malheiros et al (2005).
Tabela 4: Esgoto Sanitário - Nível de atendimento (Em %)
Localidade
São Paulo
Campinas
Caraguatatuba
Ilhabela
São Sebastião
Ubatuba
Fonte: Fundação SEADE.
1991
87,09
85,39
30,50
1,53
33,01
21,41
2000
89,01
86,45
23,86
2,31
36,48
22,79
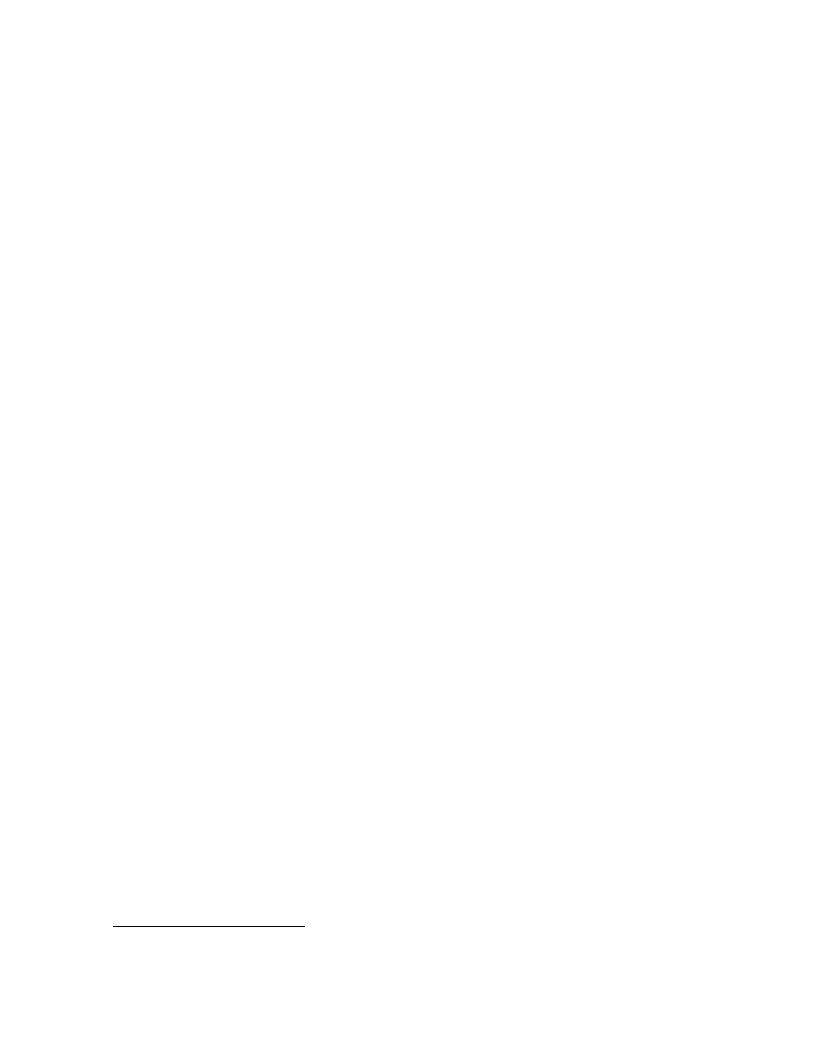
56
Evidencia-se pela tabela 4 que Ilhabela quase não possui sistemas de coleta de esgotos. E
tampouco o litoral norte possui uma rede coletora eficiente, já que os dados mostram grande
diferença entre essa região e os municípios de Campinas e São Paulo. A situação do lixo também
é um fator importante a ser considerado, pois a intensidade do impacto ambiental depende da
maneira com que os órgãos públicos encaminham o processo de coleta seletiva e o descarte em
aterros regulamentados.
Na região litorânea, os domicílios concentrados nas áreas de favelização ou em invasões,
costumam descartar seus dejetos em fossas que não se encontram em condições adequadas, e o
esgoto é em muitos casos deixado a céu aberto.
Conforme dados do SIAB17 referentes a Ilhabela, das 7.542 famílias cadastradas no
Programa Saúde da Família, 82,5% possuem abastecimento de água ligado à rede pública; 2,82%
possuem rede de esgoto para o destino das fezes e da urina e 95,64% despejam os dejetos em
fossas. Por meio de outra fonte de dados, a SABESP de Ilhabela, foi detectado que em 2006 o
município contava com 8.075 ligações de água abrangendo 9.247 economias. No entanto,
somente 546 ligações de esgotos abarcam 684 economias (SABESP – Ilhabela – 2007), o que
confirma os dados do quadro.
Nesse aspecto, concorda-se com a posição de Raimundo (2007), quando este autor levanta
a questão do turismo como um instrumento que condiciona e subordina as outras atividades
econômicas, assim como as diferentes formas de uso e ocupação do espaço no litoral.
A população flutuante também é considerada hoje como um aspecto significativo, uma
vez que o turismo de massa (existente em grandes temporadas) e o movimento pendular e
temporário (deslocamento de pessoas que vão trabalhar nos municípios, mas não residem) geram,
em nível local, consequências ambientais, em virtude de aumentar a poluição do ar pelo uso de
transportes, por exemplo (HOGAN, 2001).
O movimento pendular leva a um aumento no uso dos recursos naturais e também
dificulta a ação do poder público em sanar as dificuldades decorrentes do grande fluxo de pessoas
nestas regiões. O padrão de distribuição espacial desse movimento, ou da concentração das
pessoas, é extremamente necessário para a criação de uma perspectiva ambiental de
sustentabilidade (HOGAN, 2001).
17 SIAB – Sistema de Informação de Atenção Básica: Consolidado das Famílias Cadastradas no Programa Saúde da Família do
ano de 2007.

57
Durante o trabalho de campo em Ilhabela, identificou-se um percentual de médicos,
psicólogos e outros profissionais prestadores de serviços que realizam esse tipo de movimentação
por todo litoral norte, usando automóveis próprios para o deslocamento e contribuindo para a
poluição da região.
A transformação intensa do ambiente litorâneo gerou impactos ambientais profundos,
assim como mudanças definitivas na paisagem que alteraram as suas características originais,
transformando-a em uma configuração eminentemente urbana. A vida social tanto em Ilhabela
como nos demais municípios do litoral norte vem se adequando cada vez mais a estrutura e a
organização das grandes cidades brasileiras e reproduzindo toda gama de problemas gerados pelo
estilo de vida das metrópoles.
1.6 As Conexões entre a Saúde e o Ambiente
O estilo de vida das grandes cidades se constitui como um dos fatores que mais causam
impactos atualmente, gerando problemas socioambientais em várias ordens e dimensões, entre
elas, a saúde (HOGAN et al, 2001; MARANDOLA, 2005).
Nos municípios do litoral norte, as consequências da urbanização vêm assumindo
enormes proporções, como exemplo, a intensa degradação da mata atlântica, a favelização e a
emergência de doenças ligadas ao stress da vida moderna, à poluição e à perda da qualidade de
vida. Esses fatores abrem para a reflexão do impacto exercido pelas transformações
socioambientais na saúde da população.
Marandola (2005) chama atenção para o caráter ambíguo da cidade, que por um lado
oferece condições estruturais que supostamente deveriam levar o ser humano a um maior
conforto ou uma maior satisfação em sua vida, mas, por outro, tem levado as pessoas ao stress e
ao desconforto com relação ao próprio cotidiano.
A elevada demanda por energia, o modelo industrial como base produtiva, a poluição
atmosférica, a emissão de gases que geram o efeito estufa e afetam a camada de ozônio, revelam-
se como desafios a serem enfrentadas nos próximos anos e séculos, por levarem o meio ambiente
e a sociedade a graus de desgaste nunca antes experimentados. Nos países de periferia,
principalmente, o caso se torna ainda mais grave, em virtude do alto índice de pobreza, de
degradação e de exclusão social fazerem parte da realidade da maioria da população (HOGAN et
al, 2001).

58
Nesse contexto, diversas áreas da ciência estão debatendo os efeitos da vida na cidade;
entre elas encontram-se as sociologias de Lash (1997), Beck (1997, 1998), Buttel (2000) e
Giddens (1997, 2002, 2005). Esses autores vêm destacando a questão do risco, em virtude dele
ter se tornado um conceito que classifica o grande perigo enfrentado por todos os indivíduos de
forma generalizada, causando sensações de imprevisibilidade com relação ao futuro.
Marandola (2005) também cita as contribuições da geografia, das ciências da saúde, das
ciências da terra, da psicologia, engenharia e economia para se pensar essas questões. A
demografia também vem discutindo as perspectivas abertas por esses autores (HOGAN et al,
2001, 2005, 2006; MARANDOLA, 2005) ao questionar a dimensão da vulnerabilidade e também
do risco, que assumem grandes proporções quando associados a realidade vivida pelas grandes
metrópoles, com seus excessos populacionais e sua má distribuição biofísica, econômica,
populacional, ambiental, que por sua vez também geram efeitos em grandes dimensões, tais como
a contaminação do solo, da água e do ar, exposição a agentes químicos, intoxicação e doenças.
Nesse caso, o caminho teórico que se abre vem explorando a grande complexidade desses
problemas, uma vez que a própria cidade expõe uma distribuição populacional e de serviços
desigual, excludente, ao mesmo tempo em que gera resíduos socioambientais decorrentes desse
alto nível de desenvolvimento realizado sem a devida consciência a respeito da sua organização,
distribuição, conservação e/ou manutenção para o futuro (MARANDOLA, 2005).
As áreas urbanas de maior concentração populacional, por exemplo, que geralmente são
espaços onde se agrupam os segmentos menos favorecidos da sociedade, configuram ambientes
de favelização e de risco, evidenciando a não inclusão social ao modo de vida dominante,
desenvolvido, configurando uma situação que revela aspectos importantes da vulnerabilidade
socioambiental das cidades (HOGAN et al, 2001).
De acordo com Hogan et al (2001), somente pequenos grupos sociais usufruem dos
benefícios da urbanização e do desenvolvimento industrial no Brasil. As situações de exclusão
social e econômica vêm acarretando processos de stress ambiental e padrões socioespaciais, que
caracterizam a vulnerabilidade dos ambientes e dos serviços urbanos. Essas dimensões devem ser
incorporadas às análises científicas, já que o autor entende a questão “como um processo que
envolve tanto a dinâmica social quanto as condições ambientais”.
Hogan (2006) elabora o conceito de vulnerabilidade expondo o seu caráter
multidimensional e não delineado por disciplinas científicas de forma isolada. O autor esboça a

59
necessidade de ampliar a abordagem do conceito por temáticas que abarquem as diferentes
relações entre o ambiente e a sociedade. A discussão sobre a cidadania e a justiça social, por
exemplo, devem necessariamente passar pela correlação com a dimensão da pobreza e da
degradação ambiental, já que ambas crescem proporcionalmente ao processo de urbanização.
Estudos recentes estão incluindo a dimensão da vulnerabilidade nos trabalhos que exploram os
riscos ambientais e socioeconômicos enfrentados pela sociedade atual (MARANDOLA E
HOGAN, 2005).
Nessa perspectiva, as relações entre a saúde individual e a saúde do ambiente vêm se
constituindo como um tema bastante discutido nos meios acadêmicos, sendo ampliadas também
pela influência de outras áreas de estudos científicos sobre o tema. A medicina sanitarista, por
exemplo, tem contribuído para inserir nas interpretações das causalidades das doenças as
dimensões sociais e ambientais, quando se associa o adoecimento a fatores como
comportamentos alimentares, hábitos cotidianos, infra-estrutura sanitária e situações de miséria
(LUZ, 2005).
A epidemiologia também vem associando diversas áreas do conhecimento como sua base
teórica e conceitual na explicação das doenças coletivas. Ela vem incorporando desde a
abordagem clássica das ciências sociais, como também a demografia, a história, a geografia, e as
novas tendências dos estudos sociológicos e antropológicos na elaboração de uma causalidade
mais abrangente para interpretar as doenças que acometem as grandes camadas populacionais
(LUZ, 2005). Nesse mesmo contexto, Sabroza (2007) ressalta que os padrões epidemiológicos
estão sendo pensados atualmente como provenientes de sistemas socioambientais vulneráveis.
Nas suas palavras:
Ao contrário dos riscos, que, nos estudos epidemiológicos, se referem aos agrupamentos
de indivíduos, a vulnerabilidade socioambiental é um conceito aplicado a níveis de maior
organização: os grupos sociais e seus contextos socioambientais. E a redução da
vulnerabilidade, ou o aumento da resiliência, pressupõe maior capacidade de organização
e mobilização para a utilização dos recursos disponíveis e o incremento dos graus de
informação dos sistemas, viabilizando projeções e análises de cenários futuros. Esta
vulnerabilidade seria, então, um importante conceito sintetizador, integrando relações
estruturais globais existentes nas sociedades com os níveis locais onde se concretizam as
situações de risco (SABROZA, 2007: 230).
A questão ambiental é dessa maneira inserida na dimensão da saúde, que se apropria
também de conceitos como vulnerabilidade, organizações, estruturas, sistemas, resiliência, que

60
podem por analogia servir tanto à abordagem do organismo individual quanto para a abordagem
das questões ambientais. As visões disciplinares associam-se ao contexto local e global, dando
uma dimensão ao problema do adoecimento que abre para várias perspectivas de análise,
permitindo que o conhecimento seja pluralizado.
Nessa perspectiva, a ecologia de Rapport, Costanza e McMichael (1998) considera que a
degradação dos ecossistemas representa um risco crescente para a saúde das populações
humanas. Estes autores elencam os riscos toxicológicos (resultantes da bio-acumulação de
substâncias tóxicas como mercúrio, chumbo, entre outros), e também outros impactos menos
conhecidos, mas potencialmente nocivos à saúde das pessoas que vivem em ambientes não
saudáveis.
Para dar conta da necessidade de se integrar à compreensão da saúde humana a saúde da
natureza, o governo canadense criou o conceito de enfoque ecossistêmico, apresentado na
Conferência Mundial de Saúde, ocorrida em 1986 em Otawa, no documento denominado A New
Perspective oh the Health of Canadians, ou também conhecido como Modelo Lalonde (BUSS,
2000). Visando enfrentar questões financeiras, técnicas e políticas advindas do assistencialismo
presente até aquele momento no país, o documento se fundamentou na crítica à visão
exclusivamente biomédica de doença:
A reorientação dos serviços de saúde na direção da concepção de promoção da saúde,
além do provimento de serviços assistenciais, está entre as medidas preconizadas na
Carta de Ottawa. Fica claramente proposta a superação do modelo biomédico, centrado
na doença como fenômeno individual e na assistência médica curativa desenvolvida nos
estabelecimentos médico-assistenciais como foco essencial da intervenção. O resultado
são transformações profundas na organização e financiamento dos sistemas e serviços de
saúde, assim como nas práticas e na formação dos profissionais (BUSS, 2000: 171).
Todo o sistema público de saúde do Canadá foi reformulado incorporando os aspectos
biofísicos dos ambientes, a dimensão social, a dimensão individual e psíquica tendo como
referência os diferentes modos de vida e as heranças genéticas. Esse documento foi
extremamente importante, por reconhecer a necessidade de criação de novas estratégias políticas
para se buscar a saúde em várias dimensões, que abrangem desde os ecossistemas quanto do ser
humano (GOMEZ & MINAYO, 2006).
McMichael et al, (2003) salientam que a partir de então, o conceito de saúde
ecossistêmica foi bastante incentivado nos últimos dez anos por uma visão interdisciplinar.

61
Essa nova construção epistemológica só foi possível a partir da crítica à ciência normal,
elitizada e cercada de pressupostos positivistas, funcionalistas e fisicalistas que prejudicam a
amplitude de análises que requerem um encadeamento menos fragmentado e mais aberto às
possibilidades transdisciplinares (FUNTOWICZ e RAVETZ, 1997, PORTO et al, 2004;
FREITAS & PORTO, 2006).
Minayo (2008) contribui para a análise a respeito da influência do funcionalismo e do
positivismo nas ciências da saúde, abrindo perspectivas para a crítica da teoria estrutural
sistêmica, realizada também por Leff (2002) e Funtowicz e Ravetz (1997) no tocante a sua
perspectiva ambiental e por Durand (2002) e Oliveira (2007) no tocante a sua dimensão
antropológica. Nesse sentido, Minayo (2008) considera que o funcionalismo é uma das dimensões
mais desenvolvidas pelo positivismo metodológico, presente tanto na Antropologia (representado
pelos trabalhos de Malinowski e Radcliffe-Brown) quanto na Sociologia (Merton e Parsons). Essa
abordagem parte do princípio da organização da estrutura social e cultural como uma totalidade
que se auto-organiza.
Sendo assim, essa visão prevê que os sistemas sociais sejam organizados por elementos
que se inter-relacionam, sendo a análise centrada no tocante à importância de cada dimensão para
o funcionamento do sistema total, atribuindo sentido à composição da sua estrutura. Pensando a
sociedade e a cultura a partir desses princípios auto-reguladores, entende-se que os fenômenos ou
problemas que atuem no sentido de perturbar essa ordem (que se restabelece a todo o momento),
são considerados como desvios ou disfunções que são eliminados ou absorvidos pelos próprios
mecanismos de controle social, como os presentes nas instituições (MINAYO, 2008).
Na área da saúde, o funcionalismo se manifesta na visão da doença como um desvio da
normalidade da estrutura corporal, que deve ser logo recolocada em seu lugar, a partir da
medicalização do sintoma, considerado como causa, e não como efeito da desordem. Isso justifica
o fato do remédio servir como agente equilibrador da desordem funcional do sistema, que no caso
é o corpo da pessoa (MINAYO, 2008). Essa visão sobre o corpo representado como uma estrutura
composta de sistemas que se auto-organizam a partir das perturbações é análoga à visão de
ecossistema presente na episteme ecológica (RAPPORT et al, 1998; COSTANZA, 2003).
Lewinsohn (2001) e Cabrita (2003) concordam sobre a possibilidade de se denominar de
ecossistema uma gota d’água, como também uma floresta de dimensões quilométricas, colocando
em evidência a dificuldade de se estabelecer limites para essa definição. Apesar dessa
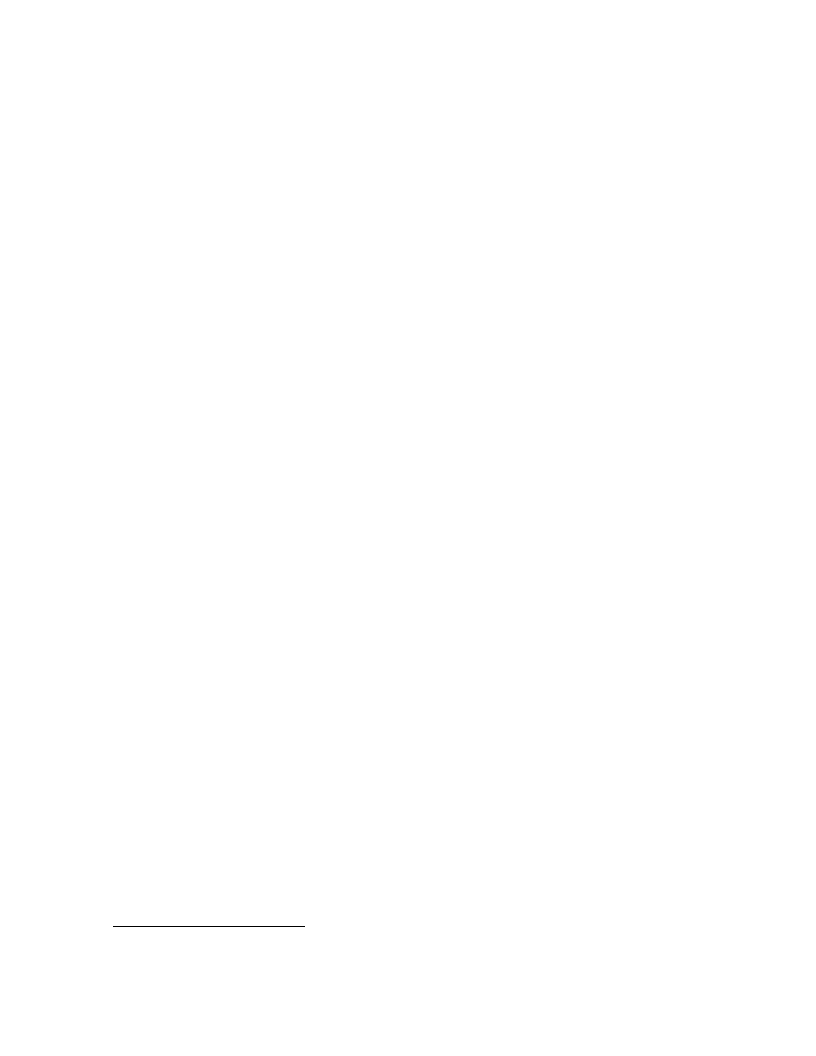
62
dificuldade, a pesquisa ecológica com ecossistemas aplica-se em qualquer escala, e converge para
o estudo das relações entre as comunidades de seres vivos e o ambiente onde elas vivem. Essas
relações são vistas como um sistema integrado entre os elementos bióticos (vivos) e abióticos
(tais como a luz, temperatura, umidade, nutrientes), em um fluxo contínuo que é nutrido por
trocas de energias, materiais e alimentos, delimitando a quantidade e a distribuição espacial das
espécies. De um modo geral, as energias são perdidas no decorrer das cadeias alimentares, em
uma transferência denominada de nível trófico. O estudo dos diferentes níveis tróficos dos
ecossistemas possibilita a compreensão das relações de interação entre os seres vivos, e de que
maneira os recursos do ambiente, ou do hábitat são aproveitados ou transformados (CABRITA,
2003).
Para McMichael et al (2003), há atualmente um crescente reconhecimento de que as
mudanças ambientais globais ocasionem sérios problemas na saúde das populações, e que a
epidemiologia contribuiu bastante para essa constatação, em virtude de ter apresentado algumas
doenças, tais como a AIDS e o aumento das doenças infecciosas, como decorrentes de situações
coletivas degradadas18.
De acordo com Rapport, Costanza e McMichael (1998), existem evidências já
acumuladas a respeito dos ecossistemas não terem mais a capacidade de suprir as necessidades
humanas como no passado, devido ao stress provocado pelas pressões das demandas econômicas.
Estudos realizados em diferentes ecossistemas de floresta, marinhos, campos áridos, entre
outros, mostraram que:
O stress resultou em empobrecimento biótico, produtividade ameaçada, composição
biótica alterada em favor das espécies oportunísticas, resiliência reduzida, crescente
existência de doenças, reduzida oportunidade econômica e riscos à saúde animal e
humana (RAPPORT et al, 1998: 397).
Existe uma relação direta e proporcional entre a degradação ambiental e o aumento das
vulnerabilidades na saúde humana:
Em termos de doenças relacionadas a vetores, resistência a antibióticos, poluição do ar,
destruição da camada de ozônio e outras condições que são consideradas como
desequilíbrio do ecossistema relacionado à condição humana (RAPPORT et al, 2001:
157).
18 O autor cita como exemplo a importância de fenômenos populacionais ligados às condições de vida, práticas culturais e
escolhas tecnológicas.

63
No plano epistemológico, o conceito de saúde ecossistêmica vem contribuir para a
construção de uma visão integradora do conhecimento, apontando para a transcendência tanto do
paradigma clássico de interpretação da natureza quanto da doença. A própria visão de
ecossistema como algo conceitual e pré-definido é revisitada, e aberta para as concepções dos
diferentes atores pertencentes ao local (GOMEZ & MINAYO, 2006).
Freitas & Porto (2006) ressaltam as contribuições da teoria dos sistemas para se estudar as
relações de continuidade entre os problemas que ocorrem com o ser humano e com a natureza.
Atualmente, vários estudos da física quântica e da biologia contemporânea vêm postulando
teorias tendo como base a interação. Os sistemas vivos são vistos por estes estudos como dotados
de capacidade auto-organizativa, subordinados por patamares de complexidade que envolve
muitos âmbitos de análise (AMORIM, 2000). Na Antropologia, esses estudos estão ligados aos
processos de estruturação da consciência humana e também às forças míticas que modelam as
representações e as interpretações dos sentimentos (MORIN, 1973, DURAND, 2002).
A partir da reflexão sobre as diferentes vertentes terapêuticas em Ilhabela, esta tese
procurará estender a análise para a transcendência da dimensão estrutural adaptativa, presente no
pensamento antropológico, sociológico e ecológico, e se alcançar o estruturalismo figurativo ou
imaginal (ligado a antropologia do imaginário) proposto inicialmente por Durand (2002) e
desenvolvido por Oliveira (2007). Nesse aspecto, as entrevistas realizadas em Ilhabela tornarão
evidente que as representações sobre as doenças e sobre o ambiente são extremamente variáveis,
e se encontram bem longe da estrutura formal de representação dos ecossistemas, da sociedade e
do corpo. Por outro lado, as representações dos terapeutas estão ao mesmo tempo inseridas nos
sistemas de saúde atuantes em Ilhabela, que por sua vez compõem o padrão de organização
estrutural criado pela pesquisadora.
Para que se compreenda o alcance da visão sistêmica da realidade, é preciso reconhecer
que a noção de padrão engloba um conjunto de relações que, juntas, conformam um sistema. Isso
significa que, qualquer ser presente na natureza partilha da condição unitiva de ser parte de um
sistema abrangente de auto-organização, dinâmico e heterogêneo, por ser um ente que só existe
no interior de relações (ou padrões) objetivas e subjetivas (AMORIM, 2000). A visão sistêmica
da natureza considera que sistemas menores se situam dentro de sistemas maiores, em relações de
interação que abrem os fenômenos para a complexidade, para a instabilidade, distanciando-se das

64
certezas epistemológicas vigentes nas disciplinas científicas desenvolvidas isoladamente
(GOMEZ & MINAYO, 2006).
A esse respeito, Costanza (2003) salienta a questão da imprevisibilidade dos sistemas, que
geralmente operam longe do equilíbrio, em um processo constante de adaptação às diversas
condições e descontinuidades que envolvem as relações de interação. Nesse aspecto, o autor
destaca que o equilíbrio dos sistemas é múltiplo e variável.
Na dimensão humana, os ecossistemas são entendidos na perspectiva das relações com a
sociedade, como sistemas naturais que dão suporte à vida na Terra pelos serviços prestados, tais
como fornecimento de alimentos, água, reciclagem de nutrientes, controle biológico, entre outras
funções que viabilizam a existência. No entanto, as ações humanas têm prejudicado no decorrer
dos séculos a qualidade desses serviços, prejudicando ao mesmo tempo, a qualidade de vida das
pessoas (CABRITA, 2003).
Caso ocorra uma alteração ambiental em larga escala como mudança climática,
degradação da terra e perda de biodiversidade, consequentemente ocorrerá uma diminuição na
capacidade de suporte de vida dos sistemas da biosfera. Rapport, Costanza e McMichael (1998)
exemplificam citando que as alterações ambientais prejudicam a produtividade de
agroecosistemas, e podem colocar o ser humano diante de doenças infecciosas que afetarão
também a natureza (RAPPORT et al, 1998: 398-399). Em suas palavras:
A saúde da população humana deveria então ser compreendida dentro de estruturas
ecológicas como uma expressão da capacidade de suporte de vida do ambiente.
Consequentemente, a saúde da população se torna um critério importante de
sustentabilidade – aquele que, com o tempo, sinaliza se estamos satisfatoriamente
sustentando os domínios social e ecológico (RAPPORT et al, 1998: 398).
A saúde humana para Rapport, Costanza e McMichael também é dinâmica, uma vez que
depende do suporte ecológico oferecido pelos ecossistemas saudáveis, em outras palavras,
depende da boa relação entre o ser humano e o meio ambiente. Os autores lembram que o
ambiente é o hábitat humano, e por isso deve ser valorizado como fonte de sobrevivência e de
saúde (RAPPORT et al, 1998: 399).
Segundo Pignatti (2004), a expansão das fronteiras agrícolas, o intenso desmatamento e a
urbanização são fatores determinantes das transformações socioambientais e de muitas doenças
no Brasil. Sabroza (2007) contribui para esta afirmação, quando salienta que as doenças também
vêm se transformando no decorrer dos anos no país, na mesma proporção em que grandes fluxos

65
populacionais se deslocam do campo para a cidade. Ele cita que houve um aumento das doenças
cardiovasculares e das mortes por causas externas nas áreas urbanas.
Ibáñez & Marsiglia (2000) salientam que, apesar do quadro de morbimortandade ter
mudado bastante no século XX, uma vez que aumentou a expectativa de vida da população
global, os avanços são provenientes de atitudes nas áreas de nutrição, habitação, saneamento
básico e educação, associado ao setor tecnológico da medicina que desenvolveu novos
medicamentos. A autora cita como exemplo a diminuição significativa dos casos de pólio,
difteria, tétano, tuberculose, febre tifóide, a erradicação da varíola, como adventos que foram
controlados por medidas sanitárias específicas, tais como as aplicações em grande escala de
soros, vacinas e medicamentos antimicrobianos.
Por outro lado, como consequência das alterações ambientais ligadas as formas de uso e
ocupação do solo, assim como os desdobramentos relacionados às alterações nos modos de vida
das populações, têm-se o aumento das doenças crônico-degenerativas e metabólicas, como o
câncer, por exemplo (IBÁÑEZ & MARSIGLIA, 2000). Os respectivos autores também citam
como causas ambientais de doenças o aumento do uso de agentes químicos e físicos (eles citam a
bomba atômica como maior expoente), que interferem nos mecanismos biomoleculares dos
organismos, nas patologias genéticas e neoplásicas (IBÁÑEZ & MARSIGLIA, 2000: 70).
O Brasil é o terceiro maior consumidor de agrotóxicos do mundo, e o uso abusivo desse
tipo de produto vem provocando a poluição das águas, além de contaminar os alimentos, gerando
problemas de saúde para os consumidores, assim como para os trabalhadores expostos a essas
substâncias (MOURA, 2004). Leroy (2002) contribui para essa análise ao construir sua crítica ao
modelo de latifúndio produtivista que caracteriza a agricultura brasileira, enfatizando que a
monocultura promove a concentração de terras e de rendas, consome quantias abundantes de
água e de energia e vem causando impactos ao ecossistema e à saúde humana pelo uso intensivo
de agrotóxicos. Preocupada em acompanhar os setores mais modernos da agricultura mecanizada
desenvolvida pelos países centrais, a produção de alimentos alcançou no Brasil níveis de
produtividade altíssimos, sem, no entanto, resolver o problema da fome no mundo.
Nessa perspectiva, para Pignatti (2004), a degradação ambiental está diretamente
relacionada ao aumento de doenças infecciosas, como por exemplo, a encefalite pelo vírus Rocio,
resultante de alterações ambientais no vale do Ribeira, situado na região de São Paulo. Para ela,
existem correlações muito próximas entre o desenvolvimento econômico, as condições

66
ambientais e as doenças emergentes, uma vez que as relações produtivas vêm propiciando o
surgimento de várias enfermidades. Vários exemplos de doenças advindas dos impactos da
degradação foram citados por Pignatti (2004), dando destaque para as decorrentes da poluição da
água, do ar, do solo, da precarização das relações de trabalho e do ambiente doméstico. Para a
autora, é muito importante a criação de políticas públicas integradas que priorizem medidas
voltadas à promoção da saúde que incluam cada vez mais as dimensões ambientais. O risco que a
sociedade corre atualmente é o das novas doenças alcançarem as grandes camadas populacionais
concentradas nas periferias das cidades, podendo alcançar populações inteiras, como por
exemplo, a febre amarela urbana.
O descontrolado processo de destruição do meio ambiente tem preocupado as camadas
dirigentes tanto em nível internacional quanto nacional, e segundo Freitas & Porto (2006), várias
propostas foram surgindo nesses últimos anos, tais como a criação das Unidades de Conservação,
a constituição do Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde, que busca investigar
possíveis causas e gerar atitudes preventivas para que se controle, por exemplo, a qualidade do ar,
a produção de resíduos sólidos, a exposição a substâncias perigosas e os acidentes naturais.
Também houve a publicação da Agenda 21 na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento (Rio 92) em nível nacional, regional e local, que veio desse modo
a preencher, com novos projetos, as necessidades de se modificar o modelo de desenvolvimento
vigente no mundo globalizado (FREITAS & PORTO, 2006).
Nessa perspectiva, o diagnóstico regional realizado pela equipe da Agenda 21 do litoral
norte (2006), levantou alguns temas importantes para se discutir a sustentabilidade da região onde
Ilhabela se insere.
Uma das questões priorizadas no relatório foi a necessidade de se criar parcerias entre as
instâncias do governo federal, estadual, municipal, e a sociedade civil para viabilizar a gestão dos
recursos naturais e culturais do arquipélago, que engloba a preocupação com a distribuição dos
resíduos sólidos, com a qualidade das águas (saneamento básico e balneabilidade), com o uso e a
ocupação do solo, com o controle das atividades turísticas, da dinâmica demográfica, da
conservação das áreas protegidas e da atuação sobre as áreas degradadas. O relatório também
enfatizou a preocupação com a manutenção da cultura dos caiçaras, com a redução da
desigualdade social, com a geração de emprego e renda, mostrando dessa forma que a

67
sustentabilidade da região envolve dimensões variadas da complexidade socioambiental e
exprime o grande desafio a ser enfrentado pelos governos locais e pela sociedade.
Considera-se importante destacar também, que as principais doenças ambientais da região
do litoral norte destacadas pelo documento foram: cólera, dengue, esquistossomose, hepatite
viral, leishmaniose, leptospirose, malária e acidentes com animais peçonhentos. As causas
ambientais relacionadas a estas doenças estão intensamente relacionadas aos processos de
migração e ocupação desordenada, a ausência de tratamento das águas e dos esgotos domésticos,
assim como à distribuição dos resíduos sólidos, que contaminam os locais onde há maior
concentração populacional (Diagnóstico Regional do litoral norte, 2006).
Alguns projetos estão sendo executados pela Prefeitura de Ilhabela em parceria com
algumas instituições públicas e privadas na tentativa de sanar ou de controlar os problemas
socioambientais mais graves apresentados pelo município. Nesse sentido, com relação a
distribuição dos resíduos sólidos, a área destinada à disposição dos resíduos de Ilhabela foi
utilizada por 18 anos, sendo encerrada em 2004. A partir de então, os resíduos sólidos orgânicos
passaram a ser exportados para um aterro localizado no município de Tremembé, e a prefeitura se
comprometeu a recuperar a área onde se situava o lixão de Ilhabela. A coleta seletiva é realizada
no município, e os materiais coletados vão para uma associação de antigos catadores (Associação
Centro de Triagem de Materiais Recicláveis de Ilhabela). Em visita à prefeitura no mês de janeiro
de 2009, foi possível constatar que a município estava sem um local regulamentado para
depositar o lixo orgânico.
Foi entrevistada no trabalho de campo de 2009 a diretora de Cadastro Urbano e Receita da
Prefeitura, e ela colocou em evidência o fato da prefeitura não possuir uma Secretaria de
Planejamento. Essa secretaria está em vias de ser estruturada, em função de o governo federal ter
criado no ano de 2008 um decreto e também leis para viabilizar a regularização fundiária,
passando a responsabilidade para os municípios. Em Ilhabela foi criada a Divisão de Habitação
que é um setor subordinado à Secretaria de Obras, para cuidar das questões habitacionais que
envolvem o município. Atualmente estão mapeando os núcleos de ocupação desordenada, em
virtude de esse projeto ser direcionado a populações de baixa renda. O governo federal fornece
verbas para os projetos habitacionais, o governo estadual oferece apoio técnico (topógrafos,
arquitetos) e cada município oferece um projeto para regularizar o local. Ilhabela está inscrita
nesse programa do governo, mas ainda não possui um projeto, ele está em vias de ser produzido.

68
Nessa mesma conversa, a diretora destacou o problema da venda de ocupações nas áreas de
encostas a preços elevados, destacando também que as residências de luxo, os hotéis e as
pousadas tão características do município, possuem um sistema compacto de tratamento de
esgoto chamado Misuno, que joga a água no mar sem ser totalmente tratada. Nesse sentido, as
propriedades que são classificadas como detentoras de tratamento de esgoto, não estão adequadas
ainda às necessidades de preservação do arquipélago.
Em entrevista com a assistente técnica da Secretaria do Meio Ambiente do município no
trabalho de campo de 2007, foi salientado um Projeto de Recuperação e Despoluição das
Cachoeiras, que tem por objetivos o diagnóstico da situação de cinco sub-bacias do município de
Ilhabela, através da localização das contribuições de esgoto nas cachoeiras, quantificação e
localização das APPs (Áreas de Proteção Permanentes) degradadas, elaboração de projetos
executivos com soluções de esgoto e plano de monitoramento das áreas cadastradas, além da
capacitação de funcionários para a execução do plano de monitoramento elaborado, realização de
oficinas educativas, visando a conscientização ambiental da população e interlocução com o
ministério público. Nesta entrevista também foi mencionado o Projeto Cuide de Ilhabela
Brincando, de Educação Ambiental, no qual as crianças aprendem brincando a separar os
resíduos sólidos produzidos em sua casa designando a destinação adequada dos materiais.
Durante o trabalho de campo de 2009, foi entrevistada a diretora do Parque Estadual de
Ilhabela, e nessa conversa ela deu destaque para o Projeto Bela Ilha, uma parceria entre a
Prefeitura e o Parque Estadual, financiado pela empresa privada Sagatiba, para implantação de
sistemas de abastecimento de água e esgoto nas comunidades locais de Ilhabela. Segundo o seu
depoimento, praticamente todas as comunidades locais do lado oceânico não possuem qualidade
da água adequada para o consumo, e as moradias dos caiçaras em muitos casos não possuem
banheiro, como no caso da ilha de Vitória. Sendo assim, serão 13 as comunidades contempladas
pelo projeto, que envolve um trabalho de Educação Ambiental realizado antes, durante e após a
instalação de redes de tratamento de água e esgotos, visando atuar no âmbito das práticas com
relação ao uso do banheiro e da conscientização com relação à preservação da qualidade
ambiental ligada a esse comportamento. Será contemplada uma comunidade por vez. Na praia
Mansa o projeto já foi concluído, e a ilha de Vitória será a próxima, pois a ordem é de acordo
com a qualidade da água.

69
Também foi destacada na entrevista a criação em outubro de 2008 de novas Áreas de
Proteção Ambiental marinhas em todo litoral do Estado de São Paulo, com o objetivo de proteger
os recursos pesqueiros que estão diminuindo, e também proteger algumas atividades, como a
pesca artesanal e as atividades de subsistência. O projeto está em andamento e ainda carece de
regulamentações e zoneamento para se delimitar os usos de cada área. Para a diretora do Parque,
a criação das APAs marinhas é extremamente importante para Ilhabela assim como para toda
região litorânea, pelo fato de se regulamentar, por exemplo, as atividades de mergulho, de caça
submarina, as pescas de arrasto, a pesca industrial, que têm impactado negativamente os recursos
pesqueiros do ecossistema marítimo.
Nessa perspectiva, estão sendo desenvolvidas políticas em âmbito nacional, estadual e
municipal que envolvem parcerias entre os governos e a sociedade, no tocante à preservação
ambiental e à promoção de qualidade de vida para a população. No entanto, os problemas
socioambientais possuem dimensões globais e as tentativas de solucioná-los ainda não
amenizaram o quadro caótico em que se encontram os países periféricos, tais como o Brasil. O
município de Ilhabela e a região do litoral norte refletem essa realidade, porém ligada às questões
que emergem do contexto local.
Freitas & Porto (2006) consideram essencial que os estudos científicos busquem
compreender as medidas tomadas pelas diversas instâncias para enfrentar tanto os problemas de
ordem ambiental quanto de ordem social, ou seja, “tratando das pessoas quanto das áreas
contaminadas” (FREITAS & PORTO, 2006: 26).
Os mesmos autores consideram importante que os estudos interdisciplinares se integrem
na fundamentação da complexidade que envolve as relações entre as diferentes dimensões
causadoras dos problemas em saúde e ambiente. As consequências desses problemas, que
ocorrem nas esferas macro e micro, levantam também características e qualidades heterogêneas,
que devem ser pensadas nas perspectivas da prevenção e da solução, a curto e a longo prazo,
levando em consideração as necessidades dos ecossistemas e dos grupos sociais locais. Para eles,
as abordagens científicas devem incorporar a pluralidade epistemológica, pois ela levaria a
recortes baseados em escalas temporais e espaciais distintas, incorporando as incertezas a respeito
de processos marcados pela vulnerabilidade socioambiental, vista em amplos sentidos (FREITAS
& PORTO, 2006)

70
Desse modo, a vulnerabilidade de Ilhabela pode ser reconhecida pela exclusão social, pela
falta de planejamento urbano e de oportunidades de inserção cultural, pela existência de áreas
degradadas, de áreas em situação de risco, de contaminação, pela ausência de saneamento básico,
pelo estímulo à urbanização turística.
1.7 Considerações
Este primeiro capítulo buscou estudar a história de Ilhabela e traçar algumas das
principais questões que envolveram o seu passado e que abrem caminhos para a compreensão do
seu momento atual. As atividades econômicas do período colonial e as consequências
socioambientais das explorações agrícolas se colocaram como elementos fundamentais, no
tocante ao entendimento do processo de degradação a que o arquipélago vem sendo submetido há
séculos. A criação da Unidade de Conservação foi abordada por ser uma questão significativa no
tocante à sustentabilidade do ecossistema remanescente. Dependendo da maneira como a gestão
desta unidade é encaminhada, as relações sociais e ambientais vão sendo afetadas, desencadeando
rupturas e descontinuidades.
Esta abordagem também mostrou os impactos da urbanização no município, submetendo-
o a um intenso crescimento populacional, não acompanhado de planejamento. A valorização
territorial de Ilhabela foi vista como uma consequência desse processo, e tem gerado exclusão
socioeconômica e aumento de ocupações clandestinas e precárias, o que prejudica a sua
conservação.
De acordo com o diálogo teórico realizado em saúde e ambiente, foi possível perceber as
conexões entre os ecossistemas e os organismos individuais, traduzidos para a sociologia como
os grupos sociais em sua relação com o contexto local. Essa relação tem trazido situações de
vulnerabilidade, designadas agora ao estado de degradação socioambiental expresso pelas
doenças mais presentes entre os moradores de Ilhabela. A proposta dessa discussão é a de entrar
no debate ambiental pela porta das doenças, que manifestam entre outras questões, as
consequências dessa interação do ser humano com a natureza.
Nesse raciocínio, pode-se perceber que a história de Ilhabela até os dias atuais mostra o
surgimento de questões e problemas que propiciam a produção de certos padrões de
enfermidades. Resta saber como esses problemas se manifestam na corporalidade de seus
moradores, e como os diferentes terapeutas entrevistados interpretam as situações de doença mais

71
acometidas no município.
Essa proposta é endossada por Minayo, quando salienta que a área da saúde exige
abordagens qualitativas, exatamente por ser representada de maneira heterogênea pelos diferentes
grupos e segmentos sociais, assim como expressar diferentes sentidos e elencar diferentes
elementos na construção de cada significado de adoecimento. Esses elementos evidenciam as
particularidades ambientais, sociais, culturais e biológicas, no interior de subjetividades
(MINAYO, 2008).
Para se pensar a resiliência ambiental de Ilhabela, seria preciso articular níveis estruturais
maiores, porém, é possível realizar um debate na área da saúde que contribua para o
desenvolvimento desse conceito. Nesta tese, a estrutura elaborada pela pesquisadora abarca as
relações entre os sistemas de saúde, recheada pelos atores (que são os terapeutas que participam
das relações estabelecidas nesses sistemas) e pelas suas representações, oriundas de diferentes
ambientes construídos.

73
CAPÍTULO 2
A PLURALIDADE DOS AMBIENTES TERAPÊUTICOS E A
SAÚDE DA POPULAÇÃO
A saúde é uma área compartilhada por muitos campos de análise científica, por diferentes
segmentos, assim como por diversidades sociais. De acordo com Minayo (2008), as formas de
lidar com as doenças e os infortúnios revelam como os grupos sociais expressam suas
particularidades culturais, biológicas e ambientais para lidarem com seus medos, ou no dizer da
autora, seus fantasmas (MINAYO, 2008: 30).
Minayo (2008) considera que o conceito sócio-antropológico de saúde engloba as
dimensões biológicas, estruturais, políticas, históricas, culturais e simbólicas da realidade que o
circunda, ou seja, a saúde é um conceito abstrato permeado por diferentes correlações e
dimensões. Considerando seu aspecto humano e existencial, ela se torna um bem vivenciado e
compreendido por todos, o que remete diretamente a sua dimensão contextual. As abordagens são
inúmeras, tais como a biomédica, a das ciências sociais, das terapias alternativas, da
epidemiologia, da saúde coletiva, da ecologia, entre outras. Cada área do conhecimento contribui
de forma específica na elaboração da pluralidade cognitiva que envolve os espaços sociais onde
os saberes sobre a saúde se inserem.
Scliar (2007) elabora uma trajetória a respeito de como as idéias sobre a saúde e as
doenças perpassaram por diferentes culturas em momentos históricos distintos, tais como a idéia
de doença ligada à maldição e ao pecado presente nas concepções mágico-religiosas, a idéia da
doença como uma punição divina presente entre os hebreus, e a crescente racionalidade que
começa a aparecer nas interpretações de Hipócrates na medicina grega, relacionada aos humores
do corpo.
Os trabalhos de Luz (1988, 2005), Ibáñez & Marsiglia (2000), Oliveira (1998, 2007) e
Minayo (1994, 2008) propõem a fundamentação histórica e social da discussão acerca do modelo
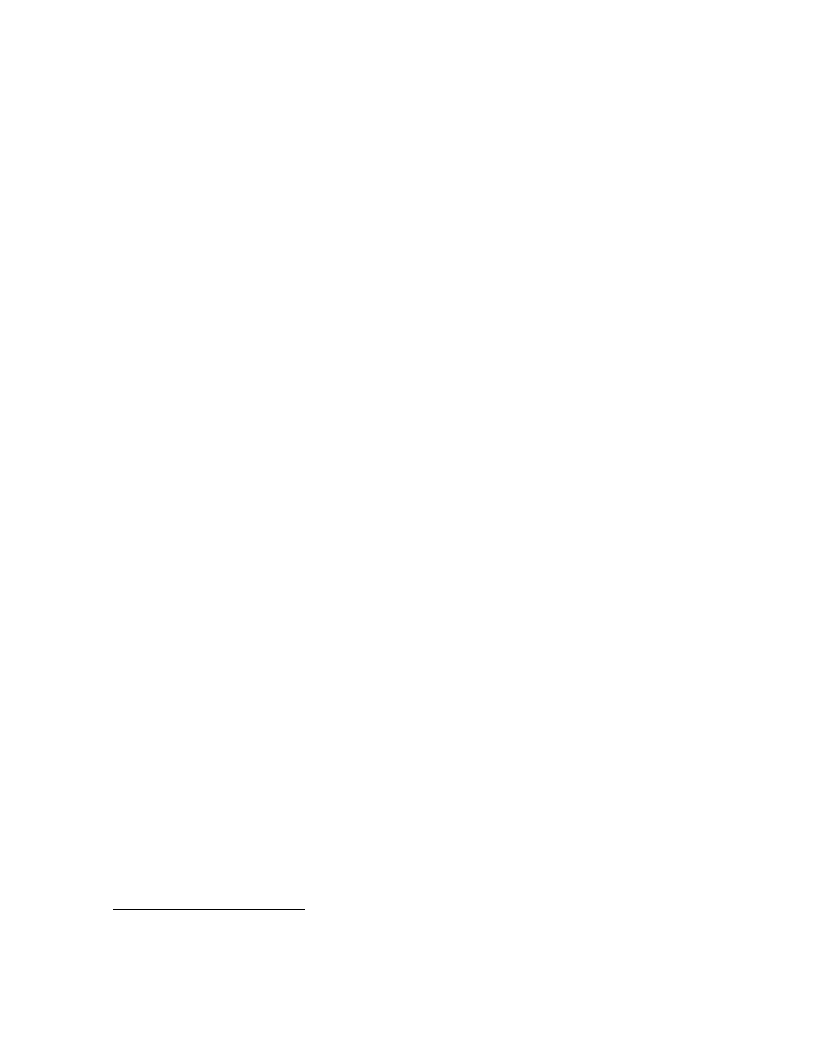
74
biomédico, em virtude de ser um processo de criação de um universo epistemológico que será
analisado nesta tese mediante o seu relacionamento com outras epistemologias19, a ele associadas
ou não, presentes nas representações dos entrevistados na pesquisa de campo.
O modo como o modelo biomédico se articula a outros saberes em Ilhabela, revela a
possibilidade de criação de continuidades nas relações do ser humano com o universo ao seu
redor, reconstruídas por meio dos processos terapêuticos partindo de uma visão polissêmica20 de
doença, assim como de natureza e de ambiente nos dias de hoje. Essa discussão está presente nas
Ciências Humanas com enfoque na área da saúde, em que o modelo biomédico é visto
teoricamente como um paradigma que orienta as representações sobre doença, mas que na prática
em Ilhabela é atualizado pelos terapeutas, que o associam a outros conhecimentos para dar conta
da amplitude de dimensões exigidas pela complexidade socioambiental do município.
Para se entender os parâmetros seguidos pela epistemologia biomédica, é imprescindível
trazer para o debate alguns elementos do processo histórico de construção da sociedade moderna,
que delinearam os horizontes explorados por esse saber, no momento em que começaram a se
disseminar certas idéias que configuraram, no decorrer desses séculos, a chamada racionalidade
moderna; racionalidade esta que construiu as estruturas sociais, políticas e econômicas da
sociedade industrial capitalista (LUZ, 1988; HAZARD, 1989; TARNAS, 1999).
Vários filósofos e pesquisadores que se destacaram nesse período, tais como Descartes,
Galileu, Bacon, Newton, passaram a investigar a realidade a partir de certos preceitos que foram
aos poucos se distanciando daqueles pregados pelas instituições religiosas, principalmente no que
se refere à visão daquilo que se convém chamar de natureza, assim como também de
conhecimento (TARNAS, 1999).
Como um processo, estas idéias ainda estão em movimento nos dias atuais, e se
formalizam institucionalmente como ciências acadêmicas e experimentais. A biologia, a química,
a matemática, a história, a sociologia, a antropologia, entre outras disciplinas científicas, se
consolidaram como áreas do conhecimento sobre o mundo, e se legitimaram socialmente como as
únicas capazes de explicar, verdadeiramente, os fenômenos da natureza, via universidades e
órgãos de pesquisa (GULBENKIAN, 1996).
As idéias e representações que estão por trás dos trabalhos acadêmicos na área médica,
19 Ou outras racionalidades, no dizer de Luz (1988, 2005).
20 No caso de Ilhabela, a visão polissêmica está ligada as diferentes representações dos terapeutas a respeito das doenças, dos
processos terapêuticos e dos ambientes.

75
por exemplo, evidenciam uma forma específica de se compreender o mundo, a natureza, o corpo,
a vida e o ser humano. Isto quer dizer que pela forma com que são desenvolvidas as pesquisas
sobre as doenças, por exemplo, pode-se perceber como os médicos interpretam as dimensões da
existência mencionadas anteriormente (LUZ, 1988).
Durante a transição para a modernidade, Descartes impulsionou o crescimento de uma
mentalidade racional que acreditava que a prática do exercício intelectual levaria a análises mais
exatas dos fenômenos naturais, ou seja, ele situou o sujeito cognocente como orientador das
formulações sobre o mundo. As idéias de Descartes a respeito da separação entre o mundo
interior (cognitivo) e o mundo exterior foram aprofundadas por Bacon, que acreditava na
superioridade dos cálculos matemáticos para se traduzir os fenômenos do universo físico, natural,
que agora já não se projetava enquanto resultado de representações antropomórficas, já que estas
haviam sido eliminadas pela ciência e pelo exercício do pensamento racional (TARNAS, 1999).
A esse respeito, filósofos como Baruch Espinosa, David Hume e Immanuel Kant se
identificavam com a idéia de que a natureza era um fim em si mesma, destituída de intenções ou
propósitos elevados, ou seja, ela não era mais vista como um ser inteligente ou pensante,
(THOMAS, 1989). Essas características pertenceriam apenas aos seres humanos. Esses
pensadores influenciaram na emancipação da idéia de natureza como algo essencialmente
material, passando a ser representada como um universo físico desprovido de características
subjetivas, de inteligência, de espírito (TARNAS, 1999).
Essa discussão é importante não apenas para fundamentar a história da constituição da
medicina biomédica ocidental (do modelo biomédico), mas também para relacionar esse processo
à consolidação de uma idéia específica de natureza, ou de meio ambiente, desprovida de
cognição, ou de sentimento, que permeia o universo epistemológico das pesquisas atuais em
biologia, ou em ecologia. Na realidade, o que se procura ressaltar é que houve historicamente um
processo de naturalização dos fenômenos tanto corporais (identificados como doenças) quanto
ambientais (identificados como degradação).
No século XVIII, Hazard (1989) destaca que a ansiedade pela construção de uma História
Natural tomou conta dos meios intelectuais da Europa, orientando a intensa busca por diferentes
espécies, visando conhecê-las e catalogá-las já dentro do preceito racionalista de ambiente
(HAZARD, 1989). Darwin foi um desses cientistas apaixonados que embarcou em viagens
buscando investigar a natureza, tendo contribuído para o desenvolvimento da idéia de

76
movimento, quando preconizou que a evolução biológica das espécies era resultante do acaso e
da seleção natural (TARNAS, 1999).
De acordo com Illich (1975), Tarnas (1999), Ibáñez & Marsiglia (2000) e Luz (1988,
2005), este foi o momento em que o corpo humano passou a ser investigado na sua exterioridade,
ou seja, à parte do ser que o habita, como um objeto sujeito à exploração, sendo dissecado e
analisado por pessoas interessadas em entender o mecanismo do seu funcionamento. Pela
influência de Descartes e de Galileu, as circulações líquidas e sólidas do organismo passaram a
ser interpretadas como sendo oriundas da ação de forças mecânicas e também das leis da física,
resultando em um olhar racionalista orientado pela metáfora da máquina (LUZ, 1988; HAZARD,
1989; TARNAS, 1999).
Canguilhem (2000), em sua clássica obra denominada “O Normal e o Patológico”,
explora a influência de Claude Bernard para o deslocamento do olhar médico do doente para a
doença, partindo tanto da anatomia quanto da fisiologia humana. A noção da doença como uma
entidade exterior ao corpo, ao ser humano, trouxe a necessidade de se identificar no meio
científico todos os males que atingiam o organismo, daí o surgimento da Patologia como um
sistema de classificação de doenças, que conduziu a medicina a uma disciplinarização do seu
saber. As doenças passaram a ser vistas como entidades universais e classificadas por nomes,
com identidade própria, e a cura cada vez mais foi sendo vista como a supressão dos sintomas
biofísicos presentes nessa classificação. Metáforas bélicas como intrusão, ataque, contágio,
combates passaram a ser utilizadas para se fazer referência ao adoecimento do corpo/coisa. Só o
corpo ou a sua parte adoece, a pessoa e o seu contexto de vida não teriam nada a ver com isso
(LUZ, 1988; LAPLANTINE, 1991).
Essa visão biológica das doenças foi também estimulada pelas teorias de Pasteur, em
meados do século XIX, ligadas à descoberta dos microorganismos como agentes provocadores de
doenças, via contaminação ou contágio. Surge nessa época a relação de causa e efeito linear,
sendo a doença interpretada como o efeito da invasão de algo externo, como as bactérias, por
exemplo, o que prejudicaria de maneira objetiva a integridade da estrutura física (LUZ, 1988,
2000; IBÁNEZ & MARCIGLIA, 2000; PERES, 2003).
Latour (2001) indaga a respeito da existência dos micróbios antes de Pasteur, chamando
atenção para os fatores que envolvem a emergência de certos preceitos científicos na sociedade.
O autor busca evidências para justificar a perenidade dos pensamentos e das idéias, tais como a

77
dos micróbios, que para ele depende da forma como são exploradas, alimentadas, misturadas
pelas conexões que são realizadas em torno delas e do uso político e institucional a partir do seu
surgimento. Desse modo, a relação causal aparece enquanto potencializadora das descobertas,
pois ela articula a existência dos sentidos dados aos eventos, que ganham abrangência social na
interpretação do mundo pela maneira como é realizada a articulação.
Hoje em dia, as idéias de causalidade linear e estritamente biológica ganharam força,
como consequência desse processo histórico de rupturas com as dimensões subjetivas que
compõem o organismo, onde as partes do corpo são investigadas e interpretadas separadamente
por algumas especialidades da ciência médica dominante (IBÁNEZ & MARCIGLIA, 2000).
Laplantine desenvolve sua Antropologia da Doença (1991: 50-51), partindo do que considera
como a idéia atual que permeia os horizontes do pensamento biomédico, que é a classificação
universal de doença. Para ele, a Biomedicina se guia em sua terapêutica por um especifismo
etiológico (causas específicas biológicas), por um anatomismo fisiológico (funções dos órgãos) e,
por um essencialismo médico (doença como essência).
Dessa maneira, o modelo biomédico se emancipou num processo de cortes
epistemológicos e ontológicos, sua busca incessante por drogas logo se sofisticou, e transformou-
se no que é hoje a imensa Indústria Farmacêutica, grande aliada da ciência das doenças e da
economia de mercado, desvinculada do compromisso com a saúde (LUZ, 1988; FORMAGIO E
BARBOSA, 2004). Atualmente, quando ocorrem casos que fogem dos padrões explicativos para
a cura, ou o agravamento de sintomas que não constam nos quadros nosológicos da ciência
dominante, essas questões são ignoradas, reinterpretadas, ou classificadas como anomalias,
idiossincrasias, ou reações psicossomáticas (TESSER & LUZ, 2002).
Recentemente, as discussões acadêmicas vêm identificando as concepções biomédicas
como altamente especializadas, porque operam a partir de uma grande recorrência a técnicas de
diagnose e à hospitalização, deixando de lado conexões subjetivas e ambientais no processo de
cura (IBÁÑEZ & MARSIGLIA, 2000). As práticas terapêuticas foram condicionadas ao
conhecimento da doença, o que levou a biomedicina a tecnificar seus procedimentos e a se
desumanizar, o que para Tesser & Luz (2002) levou à perda do seu próprio potencial curativo.
O tratamento pela intervenção contrária com medicamentos substituiu o modelo
hipocrático de cura natural; as pesquisas buscaram na botânica e na mineralogia, elementos que
exercessem atuação química sobre o organismo, ou sobre a parte afetada pela doença (LUZ,

78
1988).
Esta crescente materialização dos fenômenos da existência fez com que a questão da vida
não fosse mais discutida no âmbito do pensamento biomédico. A saúde passou a ser vista como o
pleno funcionamento da máquina/corpo, e as doenças representadas como entidades inimigas ao
organismo. As pesquisas em torno das doenças tomaram grande fôlego, e distanciaram-se das
pesquisas da saúde (ILLICH, 1975; LUZ, 1988; OLIVEIRA, 1998, 2007).
Mesmo durante o mencionado processo de criação da sociedade industrial, as medicinas
que antigamente eram dominantes, atualmente são chamadas de míticas ou de mágicas
(conhecimento tradicional), religiosas (conhecimento da Idade Média) e filosóficas (presentes nas
sociedades escravistas da Antiguidade), o que confere um poder de superioridade à medicina
contemporânea, devido a sua cientificidade. Ibáñez & Marsiglia (2000) salientam que, mesmo
quando uma medicina ou um conhecimento se torna hegemônico, ele não exclui a permanência
dos outros saberes, em virtude dos enfoques sobreviventes serem direcionados a outras
dimensões da realidade, que não as trabalhadas pela visão hegemônica (IBÁÑEZ &
MARSIGLIA, 2000).
Durante o século XVIII, ocorreu uma abertura da discussão em torno da medicina social,
que ganhou força devido à preocupação em relação às consequências da urbanização e da
proletarização geradas pela Revolução Industrial. A medicina social emergiu da idéia de que a
saúde seria resultante das condições de vida e das condições ambientais, e por esse motivo, para
dar conta dos problemas coletivos, era reconhecida na Europa a necessidade de políticas
socioambientais voltadas para melhor organização dos bairros, das cidades, articuladas a
problemática do saneamento básico (GOMEZ & MINAYO, 2006; SCLIAR, 2007).
Um estudo pioneiro realizado pelo médico John Snow (1813-1858) na Inglaterra a
respeito do cólera, apontava para a emergência da epidemiologia e da estatística como
instrumentos de interpretação dos indicadores das doenças que envolviam os diferentes grupos
sociais. Em Paris, uma análise a respeito da mortalidade nos diferentes bairros foi publicada pelo
médico Villermé (1782-1863) chamando atenção para as diferenças entre os níveis de renda da
população como fatores condicionantes das enfermidades (SCLIAR, 2007).
No entanto, essa discussão acabou perdendo o impulso no final do século XIX até o
século XX, em função da revolução bacteriana e das utopias que esse movimento acabou
gerando, como por exemplo, a idéia de que as doenças infecciosas seriam sanadas pela

79
imunização, ou de que o desenvolvimento da ciência das doenças associado à descoberta de
novos agentes químicos, levaria a medicina a não mais misturar questões políticas e ideológicas
aos processos saúde-doença vividos pela sociedade (GOMEZ & MINAYO, 2006).
Como consequência, no aspecto ambiental as atitudes dos sanitaristas passaram a centrar-
se em medidas profiláticas de saneamento e controle de vetores, os discursos higienistas e
biologicistas predominaram entre as instâncias políticas e acadêmicas na aplicação de tecnologias
orientadas para controlar a poluição, gerada nos locais onde viviam as camadas menos
favorecidas da população (GOMEZ & MINAYO, 2006).
Minayo considera que os segmentos sociais exprimem na corporalidade aspectos
heterogêneos da doença, devido a sua variação por classe, gênero e faixas etárias, “uma vez que
as condições de vida e de trabalho qualificam de forma diferenciada a maneira pela qual as
classes, as etnias, os gêneros e seus segmentos pensam, sentem e agem a respeito dela”
(MINAYO, 2008: 30).
Buzz & Pellegrini Filho (2007), contribuem para essa discussão, quando chamam atenção
para o conceito de determinantes sociais de saúde, que abrange as relações existentes entre as
condições de vida e de trabalho dos grupos sociais e as doenças que os atingem. Essa relação é
estudada no tocante aos aspectos que os autores denominam de iniqüidades em saúde, ou seja, os
estudos atuais estão vendo certas doenças como decorrentes de situações de estratificação social,
de pobreza, que criam mecanismos de produção dessas iniqüidades que poderiam ser
contornados, por serem consequência de processos injustos e desnecessários.
Para Luz (2005) a crise da saúde é global, e está intimamente relacionada ao aumento das
desigualdades no mundo contemporâneo. Para esta autora, as situações mais graves se
concentram nos países do Terceiro Mundo (ou de capitalismo dependente), tais como os latino-
americanos, por apresentarem um índice de desigualdade social profunda, que ocasionam sérios
impactos de ordem sanitária, de desnutrição, violência, abuso de drogas, doenças infecto-
contagiosas e crônico-degenerativas. Luz (2005) cita o aumento dos casos de antigas doenças
ligadas às condições de vida, como lepra, tuberculose, sífilis, que atualmente se encontram
associadas às novas epidemias da modernidade, como a AIDS.
Por outro lado, as relações econômicas internacionais têm aumentado a distância entre os
países centrais e periféricos, ocasionando o reaparecimento de problemas sociais que antes não
estavam tão evidentes (IBÁÑEZ & MARSIGLIA, 2000). A partir da constatação de que existe

80
um agravamento das desigualdades sociais no Brasil, e de que as questões que envolvem a
degradação ambiental passam pelas condições socioeconômicas de qualquer grupo social
envolvido, torna-se imprescindível a inclusão de análises que enfoquem as relações políticas e
econômicas nos estudos dos contextos ligados a saúde e ao ambiente (PORTO et al, 2004). Nas
palavras dos autores:
Ao analisarem diferentes problemas ambientais, essas discussões trazem à tona as
estruturas de poder – político e econômico – existentes na sociedade que se encontram
por detrás da geração, exposição e efeitos dos riscos. A importância dessas discussões
para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde reside ao enfocarem como as
comunidades atingidas são fragilizadas ou fortalecidas em sua capacidade de reconhecer
e enfrentar os seus problemas socioambientais e sanitários (PORTO et al, 2004: 3).
É importante ressaltar também que, no país, o setor da saúde vem aproximando-se cada
vez mais da lógica empresarial capitalista, envolvendo diferentes segmentos do mercado em
várias instâncias, tais como a produção de vacinas, produtos biológicos, fitoderivados e a oferta
de serviços à população (GADELHA, 2003). Desse modo, as doenças expressam como as
pessoas estão vivendo em determinado ambiente, e o ambiente mostra as situações
socioeconômicas a que esses grupos sociais estão submetidos. Ao mesmo tempo, essas relações
são alvo de interesses econômicos que limitam o acesso a certos serviços em saúde, tais como o
acesso a medicamentos, a tecnologias médicas, ou seja, impede a utilização pela sociedade por
todo um arcabouço de produtos oferecidos para se tratar doenças.
Gadelha (2003) ressalta que a discussão em torno da constituição de um mercado da
saúde que se prende exclusivamente a interesses econômicos é antiga, e que atualmente ela vem
fundamentando-se cada vez mais em pressupostos baseados em análises marxistas, tendo sido
retomada nos dias atuais por diversos pesquisadores e instituições acadêmicas. Várias pesquisas
têm sido desenvolvidas a partir desse enfoque, entre as quais ele cita Reis, 2001; Negri e
Giovanni, 2001; Braga & Silva, 2001; Albuquerque & Cassiolato, 2000; Gadelha et al, 2002,
entre outros, em virtude da identificação de uma crescente mercantilização das relações entre os
produtores de bens e serviços em saúde, ocasionando uma pressão sobre os respectivos
profissionais para que atendam as necessidades competitivas da lógica do mercado e busquem o
êxito econômico em suas atividades, afastando-se gradualmente das necessidades sociais.
O autor ressalta ainda o perigo do poder exercido pela indústria farmacêutica no âmbito
da saúde pública nacional, pois ela envolve uma rede de interconexões entre as quais fazem parte

81
a produção de medicamentos, pesquisas de novos fármacos e a comercialização dos seus
produtos, que depende diretamente de farmácias e outras unidades prestadoras de serviços. A seu
ver: “A existência desse ciclo dos produtos farmacêuticos e das formas de competição, por sua
vez, reforça a busca permanente de novos produtos por parte das empresas líderes, a fim de
preservar seu poder competitivo” (GADELHA et al, 2003: 50). A disputa pela clientela,
financiada pelos programas de marketing e de comercialização das grandes empresas
farmacêuticas, levaria a um desenvolvimento tecnológico que criaria produtos simplesmente pela
necessidade de se apresentar novidades no mercado, afastando a produção industrial das reais
demandas sociais (GADELHA, 2003; FORMAGIO E BARBOSA, 2004).
Ibáñez & Marsiglia (2000) também chamam atenção para as indústrias de biotecnologia,
que estão ligadas à área do ensino e da pesquisa e agem de maneira a induzir os estudantes
universitários e os pesquisadores a aderirem as suas ofertas terapêuticas. Essa situação diz
respeito à dimensão ética, como também a questão da autonomia profissional, uma vez que os
interesses econômicos impulsionam a produção de conhecimento desse setor.
Isto significa que o setor da saúde envolve interesses econômicos que influenciam a
produção de conhecimentos que se afastam da preocupação com os problemas sociais e
ambientais que geram inúmeras doenças. A busca por medicamentos novos pelas empresas
farmacêuticas ressalta a preocupação com o mercado, e com a tecnologia de produção de
medicamentos. Nesse sentido, as Ciências Sociais levantam a importante questão, referente ao
grande desenvolvimento técnico-operacional e tecnológico conquistado pela biomedicina, que é
inquestionável, não ter repercutido na diminuição das enfermidades na mesma proporção do
investimento. Formagio e Barbosa (2004) ressaltam que essa problemática é extremamente
delicada, uma vez que o mercado estimula a legitimidade do medicamento ligada a seu efeito
imediato no organismo. No entanto, a prevenção das doenças passa a ser desqualificada, por não
dar o mesmo retorno financeiro e implicar em alterações na vida das pessoas que podem
comprometer a lucratividade das empresas:
Sabe-se, por exemplo, que as doenças do coração, que são uma das principais causas de
morte no mundo atual, estão intimamente ligadas à forma de vida, aos aspectos sociais
que concebem o ritmo e hábito dos indivíduos, então por que se produz tanto remédio e
nunca se mexe na principal causa? Por que não viabilizar aos indivíduos possibilidades
de uma vida mais calma? (FORMAGIO e BARBOSA, 2004: 376).

82
Esta relação econômica em torno dos processos saúde-doença é perigosa, em virtude das
empresas farmacêuticas privilegiarem a produção dos remédios que dão lucro, como os que
tratam de doenças cardíacas, câncer, obesidade, dermatologia, pois dão um retorno garantido ao
segmento.
Luz (2005) acredita que esses problemas poderiam ser evitados se os governos dos países
atuassem de outra forma, e se comprometessem com a saúde da população ao invés de se
ocuparem com a onda político-ideológica neoliberal (LUZ, 2005: 148). Ao invés de buscar
salvar o mercado, os Estados deveriam se comprometer em salvar a sociedade e o meio ambiente,
que nesse momento clamam por ajuda. Buzz & Pellegrini Filho (2007) salientam que a correlação
entre a igualdade social e as doenças é tão representativa, que justifica muitas vezes a não
simetria entre os macroindicadores de riqueza de uma nação, como o PIB, com os indicadores de
saúde. Para os autores, existem países com elevada produção de riquezas que supostamente
teriam condições de proporcionar uma vida com melhor qualidade para seus habitantes, mas que
apresentam indicadores de saúde insatisfatórios, evidenciando a incapacidade dos governos
lidarem com as teias de mediações existentes entre as relações econômicas, políticas e sociais que
repercutem de certa forma em situações que agravam os problemas de saúde dos diversos grupos
sociais.
Segundo Reis (2001), apesar de atualmente no Brasil o setor da saúde ter vivenciado
alguns progressos, ainda existe muita estratificação social no acesso aos diferentes serviços
prestados à sociedade. Essas considerações são importantes, em virtude da necessidade de se
politizar as relações socioeconômicas em torno da saúde em Ilhabela, onde as possibilidades
terapêuticas são muitas e as ofertas se diferenciam pelo acesso a distintos segmentos sociais.
2.1 Os Diferentes Ambientes Terapêuticos
Em Ilhabela foi possível identificar três sistemas de saúde: o sistema público, o sistema
privado e o sistema popular, que se configuram em diferentes ambientes terapêuticos, cujas
abordagens se diferenciam pelo acesso aos segmentos econômicos da sociedade, e por ideologias
a respeito da doença e da sua forma de tratar. Esses sistemas serão abordados neste item, para que
se compreenda como ocorre a inserção e as relações entre eles.

83
2.1.1 O Sistema Público
O sistema público do arquipélago é representado pelo Programa Saúde da Família, e conta
com unidades básicas em saúde distribuídas pelos bairros do lado urbanizado. Esse Programa
vem sendo estruturado no município desde o ano de 2000, por seguir as tendências apresentadas
pelo projeto nacional que reformou o antigo modelo de atendimento.
A partir de 1980, houve no Brasil uma reforma na estrutura da saúde federal, que deu
origem ao SUS (Sistema Único de Saúde) como parte da constituição Federal de 1988. Essa
reforma foi originária de um questionamento do sistema de saúde vigente até então, que
concentrava os recursos e as decisões ao âmbito federal, privatizava a oferta dos serviços médicos
e excluía importantes parcelas da sociedade desses benefícios (VIANA, 2000).
Nessa perspectiva, a agenda brasileira foi criada seguindo as tendências das agências
internacionais (tais como a OMS/Opas21 e o Banco Mundial), que enfatizavam a importância da
descentralização das políticas em saúde, da racionalização dos gastos públicos, a ampliação da
participação do Estado na assistência à sociedade, e a organização das ações no sentido de
incorporar uma maior parcela da população a ser contemplada pelo atendimento médico
(VIANA, 2000). Os problemas ambientais e as consequências do modo de vida contemporâneo
somente entraram na agenda das estratégias em saúde pública no Brasil depois da constituição de
1988, que enfatizou a importante relação entre as condições de vida, de saneamento, e a saúde da
população (ANDRADE & BARRETO, 2002).
O SUS foi constituído no Brasil na década de 1990 pela edição das Normas Operacionais
Básicas do Ministério da Saúde (NOBS). As NOBS regulamentavam a forma pela qual os
recursos deveriam ser transferidos aos governos locais e a maneira como os pagamentos dos
serviços de saúde seriam efetivados. A história da organização do Programa Saúde da Família
(PSF) no município de Ilhabela, ligada ao SUS (Sistema Único em Saúde), é recheada de
contradições que permearam o processo de efetivação colocado em prática pelas prefeituras
locais. Essa questão foi explorada nas entrevistas de campo a partir do depoimento de alguns
médicos atuantes nos centros de saúde da ilha principal.
Nessa perspectiva, até o ano de 1998, Ilhabela não contava com um sistema de saúde
público planejado e a sua população não era contemplada pelos princípios básicos do SUS, que se
caracteriza por ser um modelo de atuação sobre a saúde mais atento às dimensões
21 OMS: Organização Mundial da Saúde e Opas: Organização Pan-americana da Saúde.

84
socioambientais e aos aspectos preventivos ligados à educação em saúde. O município possuía
até o ano de 1998 cinco unidades básicas de saúde e um Pronto Socorro, que era terceirizado e
funcionava precariamente. Estes serviços atendiam em sistema de demanda, ou seja, voltados
para a resolução das urgências e dos problemas que eram apresentados de forma imediata, sem
uma perspectiva educacional ou preventiva da atuação terapêutica que remetesse o processo de
cura a outros aspectos da vida da pessoa, como suas condições sanitárias ou de alimentação, por
exemplo.
O processo de incorporação do PSF à município foi realizado de forma gradual e lenta,
realizando algumas atividades complementares ao projeto, como o Cadastramento Domiciliar e o
Censo Municipal em Saúde, que buscava traçar o panorama real do número de moradores na
município, por ser esse valor subestimado. De acordo com a coordenadora do PSF, a principal
dificuldade na organização do Programa foi a estruturação das ações em saúde, em virtude do
cadastramento das famílias evidenciarem que a população era bem maior do que a contabilizada
pelo IBGE.
Desse modo, os gestores do processo perceberam que seriam necessárias mais equipes
para dar conta de atender a todos os moradores de Ilhabela. Deu-se início a um trabalho junto ao
ministério da Saúde para a ampliação do número das equipes do PSF, como também para a
constituição de duas equipes em Saúde Bucal. A partir de então o município passou a divulgar o
Programa, organizando reuniões comunitárias para buscar o apoio e a conscientização da
população através de folhetos informativos. Os grupos de discussão e todo material divulgado
explicavam o significado das propostas de atendimento do Programa, que visavam a melhoria da
saúde a partir de uma perspectiva ambiental, educacional e preventiva, ligada à qualidade de vida
dos residentes em Ilhabela22.
Nesse aspecto, é possível compreender a preocupação do SUS com uma concepção de
atendimento que não se centrasse apenas na visão biológica e imediatista da doença. Essa questão
se materializa no conceito de promoção de saúde, reorientado pela influência sanitarista que
conferiu a essa definição aspectos situados no ambiente físico e social, no estilo de vida, nos
avanços da biologia humana e nos serviços de saúde, criando dessa maneira uma entrada para se
discutir a questão da qualidade de vida a partir desses enfoques.
22 A coordenadora do Programa forneceu um slide que explicava todo o processo de incorporação do PSF em Ilhabela,
denominado: “Treinamento Introdutório: A Implementação da Unidade Saúde da Família”.

85
Buzz (2000) situa a promoção da saúde como uma estratégia adotada nos últimos 25 anos
por países da América do Norte e da Europa para se enfrentar de várias maneiras os problemas de
saúde, partindo inicialmente da transformação dos comportamentos individuais diante da
variedade contextual e propondo “a articulação de saberes técnicos e populares, e a mobilização
de recursos institucionais e comunitários, públicos e privados, para seu enfrentamento e
resolução” (BUZZ, 2000: 165).
Na América Latina, esse tema passou a fazer parte da agenda de preocupações em 1992,
na Conferência Internacional de Promoção da Saúde, assumindo um caráter regionalizado. A III
Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, na Suécia, chamou atenção para a relação
de contigüidade entre a saúde e o ambiente. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento: a Rio-92, também aumentou a consciência internacional com
relação aos perigos ambientais e os impactos na saúde, sendo que o ambiente foi representado
não apenas pelo seu aspecto biológico ou físico, mas ampliado à dimensão social, econômica,
política e cultural (BUZZ, 2000).
O antigo sistema de saúde que vigorava em Ilhabela anteriormente ao PSF era centrado no
imediatismo, e não na prevenção das doenças a partir das suas articulações com os aspectos
socioambientais e culturais. Nesse processo de transformação do modelo de saúde pública
oferecido à população, foi visível que a Gestão Municipal se abriu a outras dimensões, tais como
a qualidade de vida, padrões sanitários, práticas quotidianas, alimentação, que, atuando
juntamente a outros fatores, expressam preocupações com o ambiente e com as demais esferas
que circundam o viver urbano. Pelo menos em teoria.
Segundo a coordenadora do Programa Saúde da Família, o PSF de Ilhabela foi constituído
no interior da proposta de uma educação em saúde, formando equipes para dar conta dessa
metodologia baseada na prevenção. As equipes são compostas por um médico, um enfermeiro,
dois ou mais auxiliares de enfermagem e de seis a dez agentes comunitários que atuam em áreas
próximas à própria residência. Eles visitam as famílias e estas são encaminhadas às equipes, para
que efetuem a saúde preventiva. A média de famílias é de 100 a 150 para cada agente
comunitário, e 1000 famílias para cada equipe.
O médico que atende no PSF é de preferência clínico geral, e lá trabalham também
especialistas voltados para a área de saúde comunitária (muitos deles com especialização) e
alguns sanitaristas. A coordenadora também assinalou a importância do Hospital Mário Covas,

86
hospital público de referência localizado no bairro Barra Velha, um dos mais populosos da parte
urbanizada. Este hospital oferece serviços gerais, realiza cirurgias mais simples e possui serviço
de internação, contando com 27 leitos, uma Maternidade e um Pronto Socorro.
O município conta atualmente com seis unidades básicas do Programa Saúde da Família
(localizados nos bairros Costa Sul, Água Branca, Barra Velha, Itaquanduba, Vila e Armação, este
último atendendo também as comunidades locais), sendo que nove equipes em Saúde e seis
equipes em saúde bucal trabalham nestas unidades. No final de 2001 foi inaugurado em Ilhabela
um CAPS (Centro de Atendimento Psico - Social), que passou a tratar da saúde mental pela
corrente que prioriza a Reinserção Social e a Luta Anti-Manicomial. O CAPS é composto por
uma equipe contendo dois terapeutas ocupacionais, dois psicólogos para adultos e adolescentes,
um psicólogo para crianças, dois psiquiatras, um enfermeiro, uma farmacêutica e três auxiliares
de enfermagem.
No lado oceânico do município, os caiçaras são atendidos pelo serviço público por meio
de visitas semanais da ambulancha (que nem sempre são semanais, pois dependem das condições
do mar para a realização da viagem), com uma equipe interdisciplinar também de formação
biomédica para tratar as patologias presentes entre os pescadores e suas famílias.
Existe também em Ilhabela o Centro de Especialidades, a Fisioterapia e a Santa Casa. O
primeiro oferece serviços de ginecologia, obstetrícia, neurologia, cardiologia, pediatria,
fonoaudiologia e realiza exames de colposcopia e eletrocardiograma. A Fisioterapia conta com o
atendimento de quatro médicos clínicos gerais e um terapeuta ocupacional. A Santa Casa atende
SUS, convênios e consultas particulares e oferece serviços em otorrinolaringologia, oftalmologia
e cirurgia vascular.
O Programa Saúde da Família de Ilhabela se articula com outras Secretarias Municipais,
tais como a Secretaria de Obras e do Meio Ambiente, através do projeto de esgoto sanitário na
Comunidade do Bonete, do projeto Cuide de Ilhabela Brincando, junto à Secretaria do Meio
Ambiente e da Educação, e também, com a “Divisão de Trânsito Municipal e a Secretaria da
Educação no projeto de Redução de Acidentes com Educação Permanente de alunos nas escolas,
campanhas com ciclistas, motociclistas e população em geral, além de simulados de salvamento
pelas equipes de PSF e Hospital” (II Mostra de Produção em Saúde da Família de junho/ 2004).
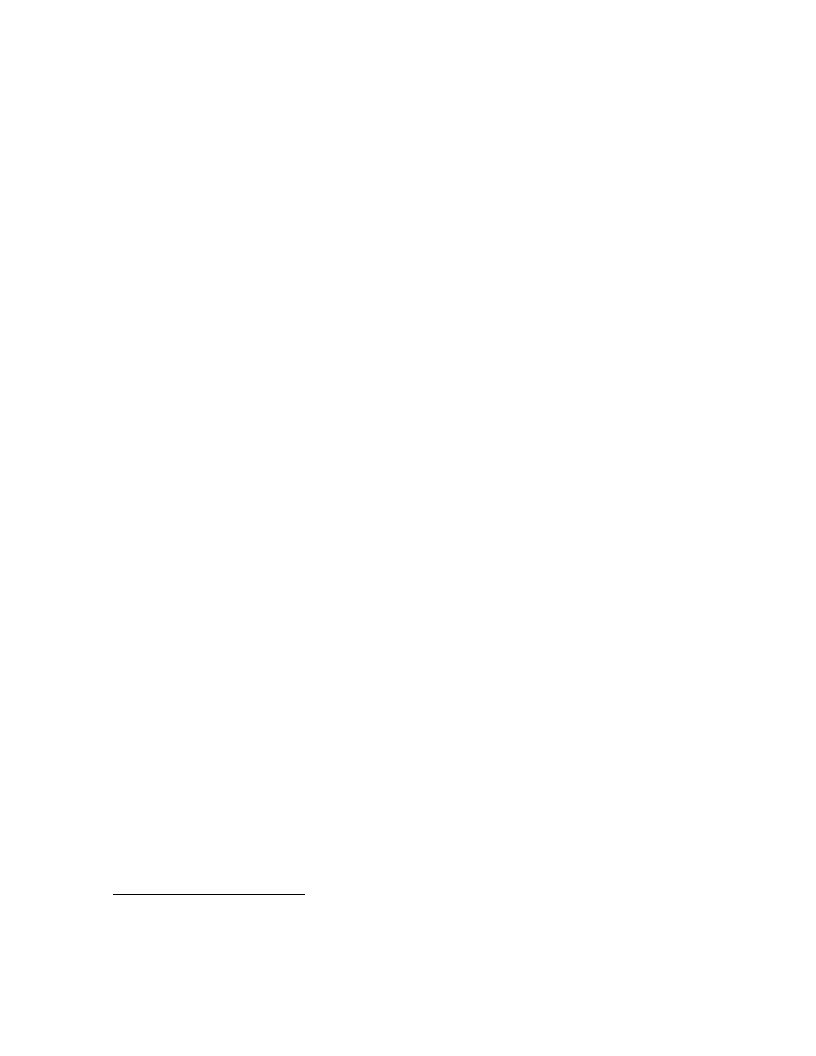
87
2.1.2 O Sistema Privado
Por ser um município turístico, Ilhabela atrai um grande contingente populacional de
segmentos favorecidos economicamente. Acredita-se que essa característica contribuiu com o
desenvolvimento do seu sistema privado em saúde, sendo representado por terapeutas de várias
especialidades, tanto da biomedicina quanto das terapias denominadas de alternativas. Nesse
campo as relações são de mercado, envolvendo competitividade, em virtude dos seus atores
dependerem do poder aquisitivo da clientela formada por pessoas de classe média e alta, pois os
valores monetários das consultas são, na maioria dos casos, incompatíveis com as possibilidades
financeiras da população migrante de baixa renda e dos caiçaras23. No setor privado também
existe a possibilidade do paciente ser atendido através dos Planos de Saúde, que são inúmeros. No
Centro Médico de Ilhabela24, por exemplo, as pessoas podem obter o atendimento via convênio
médico, ou então, descontos nas consultas quando o convênio não financiar todo tratamento.
Supõe-se que essa possibilidade também abarque um contingente populacional favorecido
economicamente, excluindo do acesso a maioria da população de Ilhabela.
Desse modo, o município também conta com ofertas em saúde baseada em abordagens
alternativas. Essas ofertas percorrem o setor privado e também estão paradoxalmente presentes
no setor público, onde supostamente o paradigma biomédico deveria ser o único a ser utilizado
no processo terapêutico. De acordo com Martins, 1999; Tesser & Luz, 2002 e Luz, 2005,
constata-se que os diversos médicos e demais terapeutas da área da saúde vêm se abrindo a novos
paradigmas, configurando um novo movimento social denominado de sincretismo terapêutico,
assim identificado por ser um fenômeno que vem ocorrendo tanto no Brasil quanto nos outros
países da América Latina.
O sincretismo terapêutico é caracterizado pela mistura entre várias vertentes de
pensamento e várias abordagens, realizada na tentativa de articular diversos elementos para
efetuar o tratamento de uma maneira mais totalizante, que corresponda mais às necessidades
apresentadas pelos pacientes, que envolvem os problemas, tanto de ordem físico-estruturais
quanto econômicos, psicológicos e espirituais que atingem a sociedade (LUZ, 2005).
Luz (2005) remete como uma das causas desse novo movimento social o grande
23 O valor das consultas é em média 150 reais.
24 O Centro Médico de Ilhabela é uma clínica particular que oferece atendimento na área da biomedicina (em diversas
especialidades), atendendo convênios tais como CESP, PETROBRÁS, SUL AMÉRICA, UNIMED, entre outros.

88
desenvolvimento urbano, que provocou uma onda de preocupações por parte da classe média e
alta com relação aos próprios cuidados diários, ligados ao modo de conduzir as relações
cotidianas, sendo que essas relações vêm assumindo um papel de prioridade na vida das pessoas.
A divulgação pela mídia ampliou a multiplicação dos centros comerciais em saúde nas grandes
municípios, tais como as farmácias de manipulação, as lojas de produtos naturais e orgânicos,
entre outros. Nesse aspecto, abriu-se uma fatia de mercado para os terapeutas que exploravam os
enfoques alternativos, com perspectivas também para os que não eram médicos, uma vez que
cursos de formação e programas de aprendizagem passaram a ser oferecidos nos centros urbanos
(LUZ, 2005).
Luz (2005) também atribui a esse fato o que ela chama de crise da saúde, que é oriunda
do aumento da pobreza no planeta, que por sua vez gera consequências complexas e problemas
de âmbitos socioeconômicos, culturais, ambientais e epidemiológicos difíceis de resolver com o
uso de apenas uma vertente epistemológica. Essa situação de mal-estar tem levado a sociedade,
assim como alguns médicos, a procurar por outras lógicas de interpretação dos adoecimentos, tais
como a homeopatia e a acupuntura, contribuindo para o crescimento desse mercado paralelo que
até então era pouco explorado.
Na concepção de Luz (2005), as medicinas alternativas presentes na América Latina são
subdivididas em três tipos: a medicina tradicional indígena, tida como a mais antiga, que a seu
ver é extremamente plural e não se reduz a uma só abordagem; a medicina afro-americana,
também diversificada nesses aspectos, e as medicinas alternativas oriundas de vertentes altamente
complexas e milenares, como as da Medicina Chinesa, Indiana e as herdeiras do romantismo
europeu, que se manifestaram como resistência à racionalidade biomédica no século XIX, tais
como a Homeopatia e outras medicinas vitalistas. Essas medicinas vêm sendo progressivamente
incorporadas à vida urbana ocidental (LUZ, 2005).
Para Martins (1999), há uma aproximação entre as influências tradicionais e populares,
assim como orientais e ocidentais nas terapêuticas emergentes, presentes no contexto atual da
sociedade moderna. Na sua concepção, as terapias são chamadas de alternativas por oferecerem
soluções que extrapolam o esquema classificatório e metodológico presente no modelo
biomédico, que é dominante. Essas terapias trabalham os males a partir de uma visão não dualista
de corpo e mente, ou seja, as práticas atuam de modo a integrar estas esferas da existência
humana. As pessoas de diferentes segmentos sociais vêm buscando essas soluções, que tratam de

89
forma simultânea questões de ordem espiritual, social, biológica e orgânica (MARTINS, 1999).
De acordo com Luz (2005), esses sistemas terapêuticos têm experimentado um intenso
crescimento por serem bem compreendidos pela população urbana. Luz destaca que junto a esse
fenômeno, vem ocorrendo também a revalorização da medicina tradicional, mais antiga, que
remete aos antepassados indígenas e africanos, à colonização da América Latina pelos espanhóis
e portugueses, que e em hipótese alguma pode ser reduzida a uma forma única de pensar e atuar,
por ter sido produzida por diversos grupos sociais e, segundo a autora, “é a expressão viva das
culturas locais em muitos rincões do continente americano” (LUZ, 2005: 154).
2.1.3 O Sistema Popular
O sistema popular de saúde foi reconhecido em Ilhabela de várias maneiras.
Primeiramente, detectou-se na parte urbanizada do município a presença de centros espíritas
Kardecistas, centros de Umbanda e Candomblé, assim como de igrejas católicas e evangélicas,
que além de se constituírem como instituições religiosas, realizam diversas práticas terapêuticas.
A opção de classificá-las nesta tese como sistema popular adveio da não correlação dessas
práticas com o mercado e com a competitividade envolvida no setor privado da saúde.
Por outro lado, apesar de não ter sido constatada a competitividade na dimensão
financeira, conflitos de origens simbólicas, sociais e étnicas foram identificados no interior das
inter-relações entre as instituições populares. Merlo (2008) explora a discriminação religiosa
sofrida pelas instituições de origem afro-brasileira em Ilhabela, evidenciando o preconceito
principalmente por parte dos evangélicos, que são em muitos casos antigos iniciados caiçaras que
migraram de religião. Merlo (2008) realizou uma pesquisa no centro denominado Candomblé de
Angola, onde percebeu que muitos negros usam a religião para afirmar a sua etnicidade, em
detrimento da grande afirmação do catolicismo popular, que se impõem socialmente nos ritos e
nas antigas tradições ainda mantidas no município25.
Merlo (2008) também identificou que atualmente, os caiçaras negros católicos e devotos
de São Benedito não manifestam opinião a respeito da existência de outras religiões, e se mantém
indiferentes quanto ao reconhecimento dos centros de religiosidade afro-brasileira na ilha
principal. Por outro lado, o fato desse santo ser negro e representar o período da escravidão que é
25 Merlo (2008) cita como exemplo da afirmação social do catolicismo popular em Ilhabela, a tradicional Congada na Festa de
São Benedito.

90
tão característico da história de Ilhabela, mostra que a congada é ainda uma tradição caiçara que
também se afirma socialmente como uma condição étnica negra, em um município que se quer e
se sente branco (MERLO, 2008).
No plano terapêutico, a medicina que possui ascendência africana foi desenvolvida a
partir da escravidão no Brasil, com a chegada dos negros de várias tribos da África por meio do
tráfico. Luz (2005) ressalta que esse conhecimento também se embasa na fitoterapia, e é
considerado mais religioso e espiritualista que a maioria das medicinas populares. O curador é
representado pelo pai-de-santo, ou pela mãe-de-santo, e eles realizam as terapias de cura a partir
de conexões com o mundo das entidades espirituais, das divindades e hierarquias celestiais, num
ritual que pode ser tanto individual quanto coletivo (LUZ, 2005).
Os centros de umbanda e do candomblé são as instituições onde se pratica esses eventos,
em um processo de reprodução cultural baseado na filiação dos iniciados e dos devotos leigos a
casas ou linhas de espiritualidade. Esse sistema abrange os segmentos menos favorecidos da
sociedade, e são utilizados ao mesmo tempo em que se procura ajuda terapêutica na medicina
biomédica convencional. Doutrinas espíritas também se misturam a essas vertentes, no fenômeno
a que se denomina de sincretismo religioso e terapêutico, muito comum no Brasil (AMARAL,
1999; LUZ, 2005). Scliar (1987) afirma que essas práticas curativas contribuíram muito para o
desenvolvimento da medicina atual, e que são usadas em diversos procedimentos terapêuticos,
citando como exemplo casos na Bahia em que psiquiatras tratam de doenças mentais com a ajuda
de pais-de-santo.
O que torna o fenômeno terapêutico interessante é o fato de que as pessoas que vão buscar
essas experiências, em vários segmentos religiosos ou terapêuticos, estão caminhando no sentido
de construir a própria totalidade, física, psicológica, espiritual, não alcançada de maneira simples,
linear, hierárquica ou processual. A totalidade humana é conquistada, no caso do sincretismo
religioso, por experiências qualitativas, que envolvem misturas, improvisação, desvios, abrindo
espaço para aquilo que é contingente e provisório (AMARAL, 1999).
Os sistemas terapêuticos afro-brasileiros tratam de doenças tais como feitiço, mal-olhado,
inveja, como também de doenças crônico-degenerativas (AIDS, câncer), que geram grandes
sofrimentos nos doentes e exigem tratamentos agressivos, como a quimioterapia. A terapêutica
consiste em proteger e fortalecer o lado espiritual da pessoa, por meio de passes, banhos de ervas,
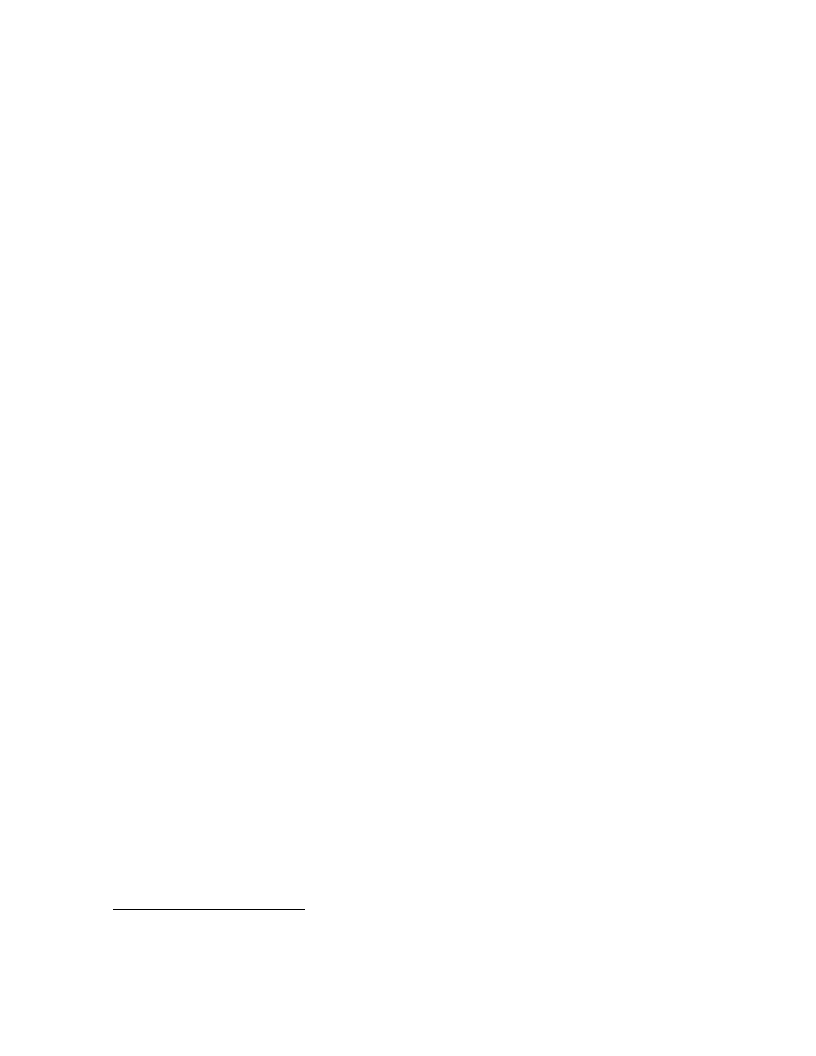
91
chás, e inclui-se também o uso de uma homeopatia popular disseminada pelos centros espíritas no
Brasil26. O tratamento das doenças – tais como as presentes entre as vertentes terapêuticas
pesquisadas no lado urbanizado de Ilhabela - também implica em uma nova postura do doente
diante de sua realidade, ou seja, nos sistemas de saúde oriundos das culturas africanas existe o
trabalho de criação de uma nova mentalidade, associada à criação de relações com entidades
sobrenaturais, por meio da doação de oferendas ou alimentos às divindades e a realização de
preces, tudo no sentido de convergir para a transformação da situação vivenciada, da pessoa ou da
cura propriamente dita (LUZ, 2005).
É preciso destacar ainda a presença da medicina popular (benzeção, rezas e fitoterapia)
nos bairros mais carentes do município, onde vivem os migrantes (em maior quantidade) e os
caiçaras. No entanto, optou-se por estudar o conhecimento presente nas comunidades do lado
oceânico, pelo fato dos centros de atendimento em Saúde da Família estarem contemplando de
forma abrangente o tratamento das enfermidades no lado urbano.
Na parte oceânica do arquipélago, permanece nas comunidades locais a presença
significativa da medicina popular, representada pelos curandeiros, ervateiros, rezadeiras,
benzedeiras e parteiras, que articulam técnicas e estratégias terapêuticas reveladoras de uma
maneira singular de diálogo com a natureza. Considerando as diferenças das representações
individuais sobre esses tipos de tratamento, foi possível detectar, por exemplo, um enorme
conhecimento sobre remédios oriundos do ecossistema local. Os caiçaras praticam benzeções,
rezas e outras modalidades de cura como as baseadas na fitoterapia e na zoologia popular, com
uma rica simbologia para a interpretação das enfermidades assim como para a confecção dos
medicamentos. A literatura ecológica já vem apontando há algum tempo a importância desse
conhecimento sobre o ecossistema, ressaltando a riqueza do saber medicinal sobre a fauna e a
flora da mata atlântica (BEGOSSI, 2001; BEGOSSI et al, 2002).
Nessa perspectiva, a utilização das plantas e dos peixes é associada a diversas
necessidades socioculturais ligadas à alimentação, a confecção de artesanatos, a construção de
moradias, e aos remédios, o que para Begossi (2001) e Begossi et al (2002) revela a permanência
de práticas que demonstram efetivamente uma intensa relação com a natureza.
Sendo assim, para que se compreenda a abordagem sobre doenças e as diferentes práticas
26 Para se saber a respeito do processo de disseminação social da homeopatia popular veiculado pelos centros espíritas em
diferentes estados do Brasil, consultar Luz (1996).

92
terapêuticas manifestadas em Ilhabela, é preciso necessariamente que se respeite o alcance
simbólico das suas representações. Sendo de origem biomédica, alternativa ou popular, todos os
saberes serão interpretados nesta tese a partir do alcance da visão de causalidade e da
intervenção. No entanto, as questões que envolvem a legitimidade política, científica e social dos
saberes locais vêm sendo discutidas nos meios acadêmicos, e apontam para o reconhecimento da
pluralidade cognitiva, situando cada vertente terapêutica em seu contexto de produção e
reprodução sociocultural.
Para Martins (1999), as terapias alternativas buscam afirmação científica, porém, sua
validação não corresponde aos mesmos critérios estabelecidos pelo modelo biomédico. A esse
respeito, Shiva (2003) apresenta uma interessante abordagem sobre o relacionamento entre os
saberes locais e o saber científico hegemônico, no interior de relações de poder e subserviência.
Para Shiva (2003), as perspectivas universalizantes da ciência desconsideram que ela própria seja
um saber local, advindo de uma cultura colonizadora, que se disseminou pelo mundo por meio da
violência e da imposição de um sistema cultural e econômico que ignorou as práticas tradicionais
existentes. A seu ver, a ciência adquiriu status e poder institucional devido ao fato de seus
pressupostos metodológicos e técnicos serem coerentes às necessidades produtivas do
capitalismo comercial, tanto no âmbito da produção industrial quanto no âmbito da produção
agrícola. Nesse aspecto, a autora salienta que a colonização do conhecimento ocorre, quando a
ciência não reconhece e não dá legitimidade a outras expressões cognitivas de se representar e de
se atuar sobre a realidade.
De acordo com Shiva (2003) os saberes locais sempre enfrentaram preconceitos ligados as
dimensões abertas pela sua própria racionalidade, que elenca aspectos da realidade que não são
considerados pela ciência como relevantes ao conhecimento. Na área da saúde, em virtude de
possuírem outras racionalidades terapêuticas, e de organizar as relações causais também pautadas
em outros critérios de análise, as medicinas alternativas e as medicinas populares vêm
historicamente sendo ignoradas nos meios acadêmicos, mas por outro lado, vêm sendo cada vez
mais procuradas pela sociedade para tratar das enfermidades de maneira mais integrada (LUZ,
2005).
Partindo da mesma constatação, as medicinas alternativas se constituem também como
saberes locais, advindos de culturas muitas vezes milenares. Nesse aspecto, Luz (1988; 1996;
2000; 2005) destaca o preconceito enfrentado pela homeopatia, pela medicina indiana, chinesa e

93
outras vertentes no plano institucional e acadêmico, sendo estes conhecimentos barrados e
rotulados como charlatanismo pelas diversas universidades de medicina da Europa, assim como
no Brasil, entre os séculos XIX e XX. Pode-se afirmar que esse tipo de preconceito existe até hoje
em muitos segmentos da sociedade e em diversos departamentos de muitas universidades do
Brasil e do mundo.
2.1.4 O Debate Atual e as Ofertas em Saúde
As discussões atuais em saúde e ambiente vêm apontando para a interação entre as
diferentes dimensões da realidade (Porto et al, 2004), o que permite ver o modelo biomédico
como um saber importante, quando devidamente situado entre vários outros modelos terapêuticos.
Pensa-se que o debate atual abre perspectivas para a crítica ao pensamento unitivo, ou seja, as
diferentes abordagens sobre saúde, quando tomadas isoladamente, não correspondem mais como
respostas para os novos problemas que estão surgindo na sociedade, e necessitam de associações
que permitam o desenvolvimento de soluções para problemas cada vez mais complexos. O
aumento das incertezas e dos riscos, assim como o aumento da degradação ambiental, tem
tornado vulneráveis muitos grupos populacionais em diversas regiões do planeta, e no mesmo
sentido, tem produzido vários tipos de doenças pela via da contaminação. Para Porto et al (2004),
essa constatação evidencia a necessidade de uma ampliação paradigmática do conhecimento
científico, em que o ambiente deve ser compreendido a partir da sua complexidade, no interior de
uma visão sistêmica integrada, polissêmica e preocupada com a sustentabilidade.
Nessa perspectiva, os diferentes ambientes terapêuticos de Ilhabela representam a
realidade concreta vivenciada pelos sistemas de saúde do município. O Centro Médico de
Ilhabela, o consultório Prisma e o Laboratório Ciesdi são instituições particulares de atendimento.
PAS são os Postos de Atendimento em Saúde do PSF, localizados nos bairros mais populosos e
carentes do município. As ofertas em saúde pública e privada em Ilhabela estão presentes no
Banco de dados do Sistema Único de Saúde:

94
Tabela 5: Ofertas em Saúde – Ilhabela – 2008
Estabelecimento
CAPS-I de Ilhabela
Centro de Saúde-III de Ilhabela
Hospital Municipal de Ilhabela Governador Mário Covas Jr.
PAS Armação Ilhabela
PAS Barra Velha Ilhabela
PAS Bonete Ilhabela
PAS Costa Sul-I Ilhabela
PAS Itaquanduba Ilhabela
Pronto Socorro Municipal de Ilhabela
Santa Casa de Ilhabela
UBS Água Branca
Centro Médico Ilhabela
Consultório Prisma Ilhabela
Laboratório CIESDI Ilhabela
Fonte: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do SUS (DATASUS).
No período em que foram realizados os trabalhos de campo, identificou-se duas clínicas
privadas bem estruturadas: o Centro Médico de Ilhabela e o Centro Médico São Conrado. Foi
detectado um número grande de médicos nessas clínicas que não moravam em Ilhabela, apenas
trabalhavam no município, configurando o processo urbanizatório denominado de movimentação
pendular, que foi sinalizado como um fator que contribui para a poluição e a degradação
ambiental da região do litoral norte (HOGAN, 2001).
Desse modo, a variedade de ambientes terapêuticos representados tanto pelas esferas
pública, privada ou popular, proporciona a possibilidade de escolha entre uma enorme gama de
instituições, terapeutas e linhas de tratamento das mais variadas. Os ambientes e as ofertas em
saúde presentes no município evidenciam um espectro de representações e atuações que
dialogam, interagem, que se opõem, que competem, que confrontam e se distanciam, dentro da
estrutura que compõe os diversos sistemas de saúde.
2.2 Os Terapeutas como Migrantes
Ilhabela, por fazer parte da região turística do litoral norte, atrai um grande contingente de
migrantes de várias modalidades (moradores efetivos, de segunda residência e pendulares) e
segmentos sociais, como já visto anteriormente.
De acordo com o trabalho de campo, foi possível supor que em maior número encontram-
se os migrantes que atuam como trabalhadores de baixa renda, oriundos predominantemente do

95
sertão da Bahia e do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Atuam na construção civil e na
extração de pedras de granito, e se concentram predominantemente no Bairro Barra Velha e
Itaquanduba, ocupando de maneira precária os locais de favelização. Os migrantes que trabalham
no setor turístico, no comércio e no setor público foram mencionados pelos entrevistados como
presentes em número menor, mas também significativo, e se encontram em condições de vida
melhores. Sendo assim, Ilhabela vem recebendo um número de habitantes cada vez maior (ver
Tab. 2), divididos em camadas sociais e formas de inserção econômica que viabilizam o viver
neste município.
Durante a entrevista com o diretor de saúde, foi dado destaque à questão da migração de
familiares dos migrantes pertencentes a segmentos menos favorecidos da sociedade, que vêm
para a ilha principal buscar tratamento médico também em função da qualidade do atendimento
dos serviços públicos. Essas pessoas, juntamente aos caiçaras, encontram apoio terapêutico na
saúde pública, e preenchem os índices das principais doenças ocorridas no município.
Com base nos depoimentos dos terapeutas entrevistados em Ilhabela, os donos de
estabelecimentos comerciais, como restaurantes, lojas, pousadas e hotéis, assim como os
servidores públicos, professores, enfermeiros, e demais profissionais, também se constituem
como usuários dos serviços públicos e privados oferecidos pelo lado urbanizado. Essas pessoas
foram identificadas como possuidoras de um poder aquisitivo maior, situação que abria
possibilidades para o pagamento de convênios e de tratamentos alternativos, baseados em
maneiras não convencionais de se tratar as doenças.
Nessa perspectiva e dando prosseguimento à reflexão, o lado urbanizado de Ilhabela vem
atraindo também uma heterogeneidade significativa de terapeutas na área da saúde. Estes atores
se caracterizam por buscar transformar seu cotidiano, migrando para regiões mais tranqüilas do
ponto de vista do stress urbano. Este foi o caso de todos os terapeutas entrevistados em Ilhabela,
que migraram para lá buscando uma fatia do mercado recém-aberto das medicinas alternativas,
assim como estruturar um cotidiano mais adequado às suas aspirações existenciais e ideológicas.
Esse fenômeno se expressou pelo fato de todos os entrevistados da parte urbanizada terem se
identificado como migrantes de outras regiões do Brasil.
Esse detalhe é importante, uma vez que foi possível perceber pelas conversas que todos
eles migraram para a ilha almejando maior qualidade de vida, associada também à possibilidade
de se trabalhar de acordo com as próprias crenças terapêuticas e valores pessoais.

96
Abaixo, seguem os principais trechos das entrevistas que evidenciam a dimensão
subjetiva que cada ator atribuiu em relação aos motivos da migração para Ilhabela. A primeira
fala é referente a uma médica que atuava em julho de 2006 no posto do PSF (Programa Saúde da
Família) do Bairro da Armação (lado urbanizado) e também nas comunidades locais (lado
oceânico), como clínica geral:
Eu vim há três meses. Eu não morava aqui, eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, aí
eu fiz faculdade em Botucatu, mais interior ainda, depois eu quis fazer especialização e
fiquei muito tempo, mais de dez anos trabalhando no município de São Paulo... Daí, por
questão de qualidade de vida, uma série de coisas, criança pequena, eu resolvi vir para cá
(Entrevista à autora, T 02).
A psiquiatra do CAPS remete ao acaso sua ida a Ilhabela, ligada à sincronicidade dos
fatos e do interesse em morar no litoral:
Eu vim há seis anos, de perto de Campinas, Pedreira. Trabalhei uns 10 anos em Amparo,
depois eu fui pra Pedreira e depois eu vim pra cá. Foi obra do acaso. Eu não imaginava
não que viria para cá. Eu estava morando sozinha em Pedreira, e lá a gente conseguiu
fazer um trabalho de saúde mental e construir um CAPS. E trabalhei lá durante 7 anos...
E daí foi uma coisa muito mágica, deu tudo muito certo pra eu estar aqui em Ilhabela. Foi
assim uma questão de dois meses, eu resolvi tudo. Cheguei aqui na secretaria e perguntei:
Vocês estão precisando de psiquiatra? E estavam precisando! Daí eu vim pra cá e depois
de algum tempo a gente conseguiu montar esse CAPS (Entrevista à autora, T 05).
A seguir, o depoimento de uma psicóloga e terapeuta corporal que manifesta raízes
antigas com o município, assim como a percepção de mudanças na estrutura urbana daquele
ambiente:
Sou de São Paulo, São Marcos. Eu vinha pra cá desde criança, desde os 6 anos... e era
apaixonada por esse lugar, vinha passar todas as férias aqui, e depois de adulta eu acabei
vindo pra cá... Sempre foi um lugar que eu me encantei, eu adoro aqui e preciso muito
daqui (Entrevista à autora, T 07).
As conexões com a infância em Ilhabela, relacionada à escolha profissional também são
reafirmadas na entrevista com o único médico homeopata atuante no município:
Meus pais freqüentam a Ilha há mais de 40 anos, e por tabela eu também. Eu sempre
vinha pra cá, uma vez, duas vezes por ano. O fato de eu ter estudado medicina tem muito
a ver com essa história de Ilhabela. Meu pai é médico também, foi clínico geral, aqueles
médicos de bairro, de liga comunitária, não era político não, ele foi o cara que ajudou a

97
pôr água encanada nas casas, telefone no bairro que a gente morava e tal, e ele vinha pra
cá porque a gente era apaixonado pela Ilha (Entrevista à autora, T 04).
Segue a fala de uma das psicólogas do CAPS (Centro de Apoio Psico-Social) de Ilhabela,
que revela outra forma de identificação com o lugar, ligada às transformações internas, à
intimidade da relação construída com ambiente profissional vivido:
Eu sou mineira, do sul de Minas. Fui morar em Mogi das Cruzes, estudei lá e me formei,
aí um tempo eu morei em São José dos Campos, fiz o meu trabalho de graduação lá, e
prestei concurso pra cá em 1994, aí eu vim pra cá e estou aqui até hoje na saúde mental.
Agora, desde 2000 nós temos aqui implantado o CAPS... Eu vi que Ilhabela é um lugar
muito diferente, aqui ou você se estabiliza, se encontra como ser humano, como pessoa,
eu não digo só nós profissionais não porque isso é uma coisa que acontece com a gente
mesmo, ou você pira. Pode colocar em outros termos, ou você surta. E eu me redescobri
aqui, fui vivendo uma vida muito tranqüila, trabalhando, mas também do ponto de vista
profissional foi me enriquecendo muito” (entrevista à autora, T 06).
Os depoimentos revelam os motivos econômicos e existenciais que levaram alguns dos
profissionais da área da saúde a se deslocarem para Ilhabela, buscando sustento e algo mais, uma
vida com maior qualidade, um ambiente com maiores possibilidades de atuação:
Meu sonho sempre foi morar na praia, depois de 25 anos de formado, quero mais
tranqüilidade. O que me trouxe pra cá foi o emprego da minha esposa. Ela trabalha no
posto de saúde PSF da Barra Velha, daí ela veio em fevereiro e eu vim depois (Entrevista
à autora, T 01).
Pelos depoimentos, é possível perceber a ligação afetiva e a busca pela qualidade de vida
presente entre os entrevistados. Vale a pena lembrar que foram entrevistados os terapeutas de
diferentes especialidades no lado urbanizado da ilha, tanto do setor público quanto do setor
privado e, no lado oceânico, os terapeutas caiçaras foram também argüidos. Abarcou-se no
universo das questões trabalhadas a dimensão da migração, pois se constatou que todos os atores
que viviam no lado urbanizado eram migrantes de outras regiões do estado, e não nativos.
Hogan (2005) salienta que é consenso entre os demógrafos da América Latina a
identificação de um processo contínuo de urbanização, uma vez que em todo o Brasil, o ambiente
está sendo intensamente transformado. Nesse aspecto, o autor considera importante a reflexão
sobre as relações entre a migração e o ambiente, em virtude dos estudos constatarem que os

98
lugares que recebem grandes contingentes populacionais vêm apresentando problemas de ordem
socioambiental relacionados diretamente ao processo migratório e à distribuição desigual das
pessoas no espaço urbano. Para ele, realizar essa discussão implica necessariamente em tratá-la a
partir de uma abordagem histórica do uso dos recursos naturais locais, avaliando o grau de
degradação e de esgotamento desses recursos e, ao mesmo tempo, questionando a distribuição
dos mesmos para a totalidade da população (HOGAN, 2005).
Ojima e Hogan (2008) ressaltam que não se pode avaliar o impacto da urbanização
somente a partir de um modelo sistemático que abarque a relação entre o crescimento
populacional e a quantidade de recursos naturais que seriam necessários para abastecer o aumento
da demanda social. Eles concordam que a tendência é se pensar nas cidades como as grandes
causadoras dos problemas modernos, uma vez que elas são o lócus onde se concentra a
desigualdade, a criminalidade, a poluição atmosférica, o uso intenso de automóveis e as doenças
respiratórias. Contudo, para eles não seria viável pensar sobre a escassez de água, ou o
desmatamento das florestas como resultado da intensificação das atividades urbanas, uma vez que
isso poderia levar a análises lineares a respeito da causa desses problemas se localizar apenas na
questão do crescimento populacional e do consumo inerente a esse fenômeno. Os autores
retomam a problemática da urbanização como um processo de segregação social decorrente do
modo de produção capitalista. Na sua concepção, as municípios produzem a situação de pobreza
pelo fato de não priorizarem a questão da distribuição igualitária dos seus recursos no espaço e
entre a população. Entretanto, isso poderia ser diferente se os projetos urbanos incluíssem em
suas agendas preocupações com “a redução da pobreza, educação, promoção da saúde,
equidade de gênero e o desenvolvimento sustentável” (UNFPA, 2007, apud OJIMA e HOGAN,
2008).
Essa perspectiva poderia abrir precedentes para que o espaço urbano fosse melhor
aproveitado, ou seja, que sua organização fosse embasada por preocupações ambientais, que
englobariam a qualidade de vida das pessoas que ocupam as áreas de risco, por exemplo, devido
à impossibilidade de pagar por moradias localizadas em regiões valorizadas, como é o caso de
Ilhabela.
No arquipélago, os padrões de consumo globais são disseminados com maior intensidade,
já que as pessoas procuram o arquipélago para curtir os benefícios de suas paisagens e dos seus
recursos naturais, como também visam consumir uma grande variedade de produtos oferecidos

99
pelos estabelecimentos comerciais. Esses aspectos são imprescindíveis às discussões ambientais,
já que a dimensão local está inevitavelmente conectada à dimensão global e sofre mudanças
devido às tendências apresentadas pelo modo de vida moderno.
2.3 A Percepção sobre as Mudanças Ambientais
As mudanças ambientais em Ilhabela podem ser representadas como uma consequência da
sua história, que degradou de maneira violenta seus recursos naturais, assim como pelos ciclos
econômicos que geraram processos migratórios e formas de uso e exploração do espaço que
garantiram o sustento das pessoas naquela região. No entanto, a atividade do turismo vem agora a
se situar como uma das principais preocupações nos estudos das consequências ambientais do
município, uma vez que atrai um contingente enorme de pessoas de baixa renda, que por sua vez
vem sofrendo toda espécie de segregação decorrente da exclusão social que é característica da
urbanização do Brasil.
Um exemplo das consequências socioambientais da urbanização e da valorização
econômica dos recursos naturais de Ilhabela se encontra na pesca artesanal, que está sendo
ameaçada pelas novas tendências que estão se desenvolvendo nos ambientes marinhos do
arquipélago. Além de ser considerada a capital da vela, este município também viabiliza a pesca
empresarial ou de grande escala, realizada com barcos de arrasto e parelhas para captura de
peixes, atuneiros que capturam iscas vivas, corvineiros e barcos para pesca de polvo. Esses
barcos pescam em áreas próximas às comunidades e danificam os materiais usados pelos
pescadores, tais como as redes que eles usam para o cerco flutuante27.
Outra atividade que também vem causando impacto é a pesca desportiva ou amadora e o
turismo náutico, representados por lanchas e iates que geram fortes ondulações no mar
prejudicando a pescaria realizada nas canoas. Mergulhadores vêm explorando o ambiente
subaquático espantando os recursos marinhos, capturando espécimes adultos e prejudicando a
reprodução e a renovação dos estoques pesqueiros28.
O mar passou então a ser um espaço disputado por atores e grupos econômicos, das mais
variadas camadas sociais e culturais. Além dos riscos que o ambiente marinho da região de
27 Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Instituto Florestal. Subsídios para o Plano de Manejo do Parque
Estadual de Ilhabela: Inserção das Comunidades Caiçaras, 2005.
28 Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Instituto Florestal. Subsídios para o Plano de Manejo do Parque Estadual
de Ilhabela: Inserção das Comunidades Caiçaras, 2005.

100
Ilhabela está exposto devido às novas atividades pesqueiras, gerando pressões e conflitos por
espaço e por recursos, existem também as atividades portuárias e petrolíferas, que contribuem de
forma extremamente agressiva para a degradação desse ecossistema.
O Porto de São Sebastião, por exemplo, será ampliado para viabilizar a exportação de
veículos, e o Terminal da Petrobrás - TEBAR – irá intensificar a exploração da bacia de gás
natural em Santos. Isso implicará em um maior tráfego marítimo realizado por grandes
embarcações, ocasionando um aumento na probabilidade de riscos ambientais e de ameaças às
atividades pesqueiras. De acordo com o material pesquisado, entre o ano de 1978 até 2004 foram
contabilizados 263 acidentes ambientais no litoral norte ligados ao TEBAR, ocasionando
impactos ambientais incalculáveis29.
Pode-se imaginar a grande dimensão das consequências que esses acidentes ambientais
causaram no ecossistema marinho, que é o meio de vida econômico e de subsistência para os
pescadores artesanais. Os habitantes das comunidades locais em Ilhabela enfrentam vários
problemas decorrentes das transformações ocorridas, desde o aumento do turismo ao da
população. Por viverem no lado oceânico da ilha principal, mais próximos às florestas
remanescentes e distantes parcialmente do lado urbanizado, conseguem perceber com clareza as
alterações no seu ambiente com o passar dos anos.
Como resultado da intensificação das atividades marítimas, os caiçaras identificados como
terapeutas pela pesquisa de campo relataram com tristeza a diminuição do pescado, como um dos
aspectos ambientais mais importantes que incidiram sobre a sua vida cotidiana. Nas entrevistas
semi-estruturadas, uma das questões abordadas aos pescadores e suas famílias era no tocante a
percepção das mudanças que ocorreram na vida deles de uns anos para cá, e as respostas foram as
seguintes:
Mas agora não está que nem era antes, as coisas mudaram bastante... Que nem agora,
mês de janeiro, eu nunca vi o que eu estou vendo...Tem 45 anos que eu moro aqui, o que
eu vi há anos atrás eu não estou vendo mais. Porque peixe era com fartura. Nossa
senhora, muito peixe, muito peixe! Meu pai pegava até com balaio. Ele ia andando por
aquelas pedras assim e caçava com o balaio ali nas beiradas e trazia pra gente almoçar.
Agora nem com rede, tem vez que a gente quer comer e tem que comer feijão com arroz
por que não tem como pegar um peixe pra comer, está difícil. Tem mês aqui que
ninguém vê a cara do peixe não (Entrevista à autora, T 28).
29 Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Instituto Florestal. Subsídios para o Plano de Manejo do Parque Estadual
de Ilhabela: Inserção das Comunidades Caiçaras, 2005.

101
Os peixes de uma forma geral diminuíram na percepção das mulheres dos pescadores, o
mar já não abastece os caiçaras como antigamente:
Para os nossos maridos mudou sim, muito peixe já não tem mais. Meu sogro mesmo,
antes de bater o derrame nele, ele chorava e falava: ai, eu tenho pena das minhas filhas,
porque não vão conhecer os peixes que eu conheci. E é verdade, não conhece. Tem vezes
que nós, que moramos aqui, ficamos uma semana sem comer peixe. Por que o mar não
dá. Larga a rede lá e quando vai ver não pegou nada, e volta sem nada (Entrevista à
autora, T. 25).
Segue o depoimento da terapeuta caiçara da praia de Castelhanos, demonstrando a
inexistência de estradas em épocas anteriores à urbanização e ao turismo, mas a presença
significativa do peixe, que era a garantia de sobrevivência dessas pessoas em épocas de
dificuldade:
Ah mudou, a gente vivia pela picada por aí, antes não tinha estrada... O pescado também
diminuiu, boa parte porque antigamente de vara a pessoa matava muito peixe. Que nem
eu mesma já matei muito peixe de vara. Naquela época a gente morava lá no Sombrio, e
eu era garota e matava. Agora não pega mais como antigamente. Minha mãe sempre
falava: o nosso açougue é o mar... aí ela dizia, vou comprar o almoço... e saía para
pescar. E na hora ela pescava, ia ali nas pedras e pegava peixe. Aí daqui a pouco minha
mãe vinha com aquele peixe. E naquela época lá tinha cachoeira, agora não, é tudo
mangueira encanada. E às vezes não tinha nem feijão e nem arroz e aí a gente comia só
peixe, ela pegava pro almoço e pra janta na hora mesmo. Ia nas pedras e já pescava
(Entrevista à autora, T 21).
As cachoeiras também foram aos poucos sendo usadas para abastecer as casas dos
pescadores, e as que se encontravam perto dos locais onde se localizavam as residências dos
caiçaras, deixaram de existir, já que foram encanadas. A paisagem foi transformada e degradada.
Os caiçaras também relataram a perda de instrumentos ou a danificação dos mesmos (como redes
rasgadas) pelos grandes barcos que passam em alta velocidade, despreocupados em respeitar o
espaço de outros grupos sociais:
Problema que não tem peixe... não tem peixe e eles não têm dinheiro, problema deles
largarem os aparatos deles no meio do mar, vão buscar e não encontram nada, que os
barcos maiores rasgam, estraçalham, perdem tudo. O mar, nessa frente fria, eles largam a
rede e quando vão buscar não tem nada, o peixe está muito escasso. A água lá é captada
nas valetas, que antigamente tinha cachoeira, mas agora não tem mais, então a água da
chuva fica canalizada nessas valetas das cachoeiras, e eles vão puxando com mangueira
(Entrevista à autora, I 17).

102
Houve também menção em relação à mudança climática ocorrida em Ilhabela, chegando a
confundir os próprios pescadores que sempre viveram naquele ambiente:
Agora mudou muito, nesse mês de janeiro não era pra estar esse tempo assim. Entendeu?
O mar com essa neblina, nunca existiu neblina no mês de janeiro, antes neblina era dois
meses só e acabou. Agora no mês de janeiro fica essa neblina que o meu marido chegou a
se perder aqui, vindo da Ilhabela pra cá, de noite. Ele só viu a Serraria porque ele viu a
sombra da luz do gerador brilhando, senão ele não tinha enxergado. Ele estava vindo de
barco (Entrevista à autora, T 28).
Outros relatos dos pescadores da Serraria sobre essa questão foram referentes aos ventos
chamados de Viração do Sul, que segundo eles passaram a ser mais freqüentes. Quando esse
vento chega, várias coisas ruins acontecem na vida das pessoas, o mar fica violento e atrai
sujeiras do oceano para as praias. Um caso relatado durante entrevista à pesquisadora fazia
menção ao vento sul que atingiu o canal de São Sebastião, fazendo com que a balsa parasse, e os
pescadores ancorassem nos portinhos mais próximos para esperar o vento passar.
Nesse contexto, o riozinho que passa perto do mar, à frente das casas dos pescadores da
praia da Serraria, hoje em dia na percepção deles esvaziou bastante, perdendo várias espécies de
peixe que antes apareciam por lá:
Ah... tinha água pra caramba! Eles (os pescadores) pulavam de cima daquela pedra ali e
mergulhavam. Mergulhavam de cabeça. Mas agora não está que nem era, as coisas
mudaram bastante... eu só lembro de Robalo, Parati Tainha, que é igualzinho, idêntico a
Tainha. Por que tem o Parati Barbudo, que tem uma barbinha, mas não é esse. E o
Robalo era pequeno, robalinho. Aí antes eles caçavam, pegavam pra comer, agora acho
que a água fica meio parada... não dá mais (Entrevista à autora, T 28).
Outros pescadores mais antigos da praia da Serraria relataram também o esvaziamento do
riozinho, revelando que pescavam pitu, robalinho em épocas anteriores. Mas disseram também
que, quando chove, ele enche mais. Também contaram um episódio ocorrido há dois anos atrás,
quando uma tempestade fez com que o riozinho se juntasse ao mar, inundando algumas casas e
fazendo com que as pessoas perdessem muitos mantimentos e pertences. Eles contaram que na
vida deles isso nunca havia acontecido lá e atribuíram esse episódio à esfera das mudanças
ocorridas no clima de Ilhabela.
Ramires (2008) relata que já é constatada pela literatura científica a diminuição da
biodiversidade de peixes nas costas brasileiras. A mesma autora chama atenção para o fato de nas

103
regiões sul e sudeste os pescadores estarem se abastecendo com um número reduzido de espécies,
adaptando-se às condições de degradação atual, ressaltando que essas alterações biofísicas
causam mudanças também nos modos de vida, citando como exemplo a adequação com relação à
alimentação diária.
Na praia da Serraria, o cultivo do roçado foi prejudicado pela degradação do solo:
A gente plantava mandioca e antigamente tinha roça, cana, batata, feijão, café. Antes os
velhos não costumavam comprar café, ralava em uma panela de barro, depois colocava
no pilão, fazia aqui mesmo, eu mesma já soquei muito café... Agora olha lá o jeito que
está, as taquareiras tomaram conta de tudo, está aquele matagal. Antes a terra daqui era
mais solta... Agora a terra está desmoronando toda, ali na minha casa não tinha aquela
raiz da árvore aparecendo, não dava pra ver, era tudo coberto. Depois de uns temporais
de chuva que tiveram aqui a terra foi ficando assim, e apareceram essas pedras todas... Se
a gente plantar chega a dar pena. As saúvas não deixam. Por que as formigas comem
tudo, tudo, tudo. Antes não tinha tanta formiga, agora tem muita. E pra derrubar a mata
grande o pessoal da florestal não deixa. E mato baixinho não adianta. Tudo o que planta
aí o bicho come. Ainda assim o Cristiano dali de cima ainda planta um pouco de
mandioca, a mulher do Lourival ainda tem bastante mandioca também... E fora mandioca
o pessoal não planta mais nada (Entrevista à autora, T 28).
Pelas visitas às praias da Serraria, Castelhanos, Mansa, Figueira e Bonete, em conversas
com os moradores de outras praias também, detectou-se que a atividade do roçado realmente
diminuiu, chegando a inexistir em algumas dessas comunidades, devido às restrições do Parque
Estadual, mas, principalmente, à degradação do solo e à influência dos hábitos urbanos no
consumo alimentar dos pescadores.
Maldonado (1997) destaca o aumento da dependência por produtos e alimentos
industrializados entre os caiçaras de Ilhabela. No depoimento abaixo, a referência ao que é
moderno é evidenciada, em detrimento da perda do que é antigo pela influência da modernização:
Às vezes tem coisa que a gente não para pra pensar, não para pra conversar com as
pessoas de idade aqui, se esquece, já está ligado nas coisas agora mais modernas, muita
coisa vai se perdendo sabia?... Agora eu não sei quase, mas os mais velhos dão de dez a
zero na gente, tudo que a gente aprendeu foi com eles, mas eles sabem mais...
Antigamente o pessoal aqui não ia em comércio não, nem sonhava em fazer esse negócio
de pré-natal né, não fazia nada não. Agora não, agora o pessoal faz né (Entrevista à
autora, T 18).
Os moradores das comunidades locais vêm absorvendo gradativamente os valores, hábitos
e padrões capitalistas de consumo, por meio do acesso à televisão, que cria novos desejos (de

104
consumo, por exemplo) nas mentes dessas pessoas, como também dissemina outra forma de se
enxergar a natureza e de se relacionar com ela (CALVENTE, 1997; MALDONADO, 1997).
Na praia de Castelhanos, a ausência do roçado também foi percebida como uma alteração
recente no comportamento dos moradores, que preferem exercer exclusivamente a pesca e
comprar verduras e legumes na vendinha da própria vila. Abaixo segue o depoimento da caiçara
benzedeira que lá reside há 50 anos:
A gente fazia horta sim, tinha pimentão, repolho, alface, chicória, almeirão, tomate,
mandioca, chegava a dar bastante. Feijão ninguém comprava pra comer, milho, café, o
açúcar era a cana. A gente apanhava café, socava ele no pilão, esquentava o café na
panela e torrava. Meu marido também plantava muita batata doce. Mas hoje ninguém
quer mais ter roça. Ninguém quer mais trabalhar, só quer ficar na rede mesmo (pescando
com rede) (Entrevista à autora, T 21).
O caso da ilha de Búzios, que faz parte do arquipélago de Ilhabela expressa também essa
idéia de degradação da natureza e da perda da qualidade de vida expressa pela alimentação:
Eles comem basicamente arroz. Eles compram aqui na cidade. O peixe ultimamente já
está muito escasso né! Eles faziam farinha de mandioca, pouco, agora não tem mais
quem faça. E as condições climáticas não estão ajudando, por que lá esquenta muito, faz
um sol terrível, a mandioca não sai mais da terra, apodrece as raízes né. Então eles não
fazem mais farinha. Verdura não dá, por que é muito quente e não tem solo, o solo é
empobrecido, então a comida deles é praticamente: arroz. A gente brinca com eles
dizendo que é arroz com arroz. Arroz de manhã, arroz no jantar, essa é a comida deles.
As crianças têm que ir pra escola que na escola tem uma alimentação balanceada, boa, e
as crianças não faltam até por causa disso, por causa da necessidade. Nem peixe, café,
eles tomam muito café. Lá tem só fruta de época, jaca, manga, ano passado não deu
manga. Nesse ano ainda tem algumas casas com manga, goiaba, ano passado não deu
goiaba (entrevista à autora, I 17).
Para Buttel (2001), qualidade ambiental e de vida são esferas que se inter-relacionam
mutuamente, constituindo um arcabouço teórico eficaz para a compreensão da dimensão humana,
e por isso mesmo subjetiva, da degradação do ambiente. Para ele, não se pode conceber a
mudança ambiental apenas pelo aspecto das alterações biofísicas, e é nesse aspecto que a
sociologia ambiental deve se abrir, diversificando a “sua concepção de meio ambiente para além
dos processos de escassez e degradação” (BUTTEL, 2001: 17). Essa abordagem é considerada
extremamente oportuna, uma vez que se pode, por analogia, pensar a saúde humana para além
dos sintomas biofísicos, enaltecendo a dimensão socioambiental presente na idéia de qualidade de
vida.

105
Por outro lado, Hannigan (1997) relativiza e se posiciona sobre a dimensão
construcionista, que atribui grande importância à visão dos diferentes atores sobre a realidade
socioambiental vivida, afirmando que não é porque um problema está localizado contextualmente
pela interpretação dos seus atores, que ele vai deixar de ser formulado de acordo com as
necessidades ecológicas identificadas por uma análise especializada. Na sua concepção, o
importante é construir um olhar que contemple as diferentes percepções de ambiente, para que os
problemas sejam construídos a partir de uma visão polissêmica, ou seja, relacionada aos
diferentes contextos de criação das representações, também ligados a história local, que a seu ver,
é mais totalizante do que a visão representada por um conhecimento isolado.
A partir dessa constatação, é necessário o reconhecimento da dificuldade enfrentada pelos
caiçaras em reestruturar suas vidas em torno de outras práticas econômicas, uma vez que a pesca
se constituiu como uma identidade secular entre elas. E também, o ambiente que lhes trouxe por
tanto tempo sustento material (por fornecer alimentos, mesmo em épocas de dificuldade) e
econômico, nesse momento é fonte de outros interesses, e sua exploração vem trazendo efeitos
mais devastadores do que suas práticas seculares.
Por necessitarem de alternativas à pesca para trabalhar e gerar renda, em virtude de o
pescado estar escasso, algumas comunidades concordam em se estruturar em torno do turismo,
como as da praia do Bonete, da Guanxuma e a praia da Figueira. Ao contrário destas, as
comunidades do Saco do Sombrio, praia da Fome, Porto do Meio e Canto do Ribeirão
(Castelhanos) preferem a comercialização de pequenos lotes e casas de veraneio30.
É justamente pelo fato de concordar com a visão de que as mudanças ambientais são
percebidas de maneira individual e singular, que o trabalho de campo também procurou
questionar as interpretações dos terapeutas do lado urbanizado. É fundamental a identificação
desses fenômenos, uma vez que os desdobramentos estarão sendo pensados através dos aspectos
biofísicos, ecológicos, sociais, culturais e corporais, por meio das doenças que mais afetam as
pessoas expostas às suas consequências. Vale a pena ressaltar que a realidade de Ilhabela faz
parte de algo que é global, mas é também vivenciado particularmente pelos seus moradores, e
percebido de maneira subjetiva e heterogênea pelas pessoas.
Abaixo segue o depoimento de uma psicóloga que vive na ilha há 12 anos:
30 Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Instituto Florestal. Subsídios para o Plano de Manejo do Parque Estadual
de Ilhabela: Inserção das Comunidades Caiçaras, 2005.

106
Ilhabela é um lugar sui generis, você vê de tudo aqui. É uma ilha onde socialmente as
coisas estão mudando muito mais rápido do que lá no continente, e as pessoas aqui
sofrem muita influência nociva, de tudo que você está vendo lá fora, porque é um povo
que vive do turismo (Entrevista à autora, T 06).
Outra psicóloga que freqüentou a ilha desde a sua infância, relata as mudanças em relação
à infra-estrutura urbana no município:
Mudou muito nesses anos todos, desde que eu vinha pra cá de criança mudou muito, é
totalmente diferente de quando eu vim pela primeira vez. Não tinha nem balsa, tinha
lanchinha que trazia a família, depois veio a balsa, pequenina, cabia sete carros e filas
homéricas assim... hoje é um município, aqui você tem tudo o que precisa. Quando eu era
garota a gente vinha pra cá, meu pai tinha uma Kombi, vínhamos passar as férias aqui e
trazíamos tudo de São Paulo. Aqui você não achava nada, tinha uma padaria, uma
açougue, uma farmácia e acabou meio por aí. Se você queria uma coisa a mais teria que
ir a São Sebastião, a gente ficava esperando meu pai vir no final de semana para trazer as
coisas (Entrevista à autora, T 07).
O médico relatou a sua percepção da mudança com relação aos serviços em saúde, que
antigamente eram inexistentes:
Meu pai vinha pra cá porque a gente era apaixonado pela Ilha, então desde 1950 e poucos
que ele vinha pra cá. E na época que a gente vinha não tinha médico nenhum, não tinha
nada aqui na Ilha, nada, nada, nada. Então ele vinha pra cá e formava aquela fila de gente
querendo médico, e eu era moleque e aquilo me encantou, e esse foi um dos motivos que
eu vim pra cá. Então a gente pegava a mochila e ia pra Castelhanos a pé, que não tinha
estrada, ia a mochilinha com os remédios, porque a gente fazia assistência ao pessoal de
lá (Entrevista à autora, T 04).
Todos os fatores que evidenciaram as mudanças ambientais são importantes, uma vez que
os depoimentos expressaram de certa forma as influências do processo urbanizatório, que por
outro lado também contribuiu para o desenvolvimento da infra-estrutura urbana necessária para
dar conta do recebimento de tantos moradores e turistas. Por esse caminho, chegou-se à
conclusão de que os entrevistados perceberam a situação de vulnerabilidade em que se encontra
Ilhabela, e têm consciência dos riscos que estão enfrentando e das consequências da valorização
econômica daquele ambiente.
Do mesmo modo, esse processo é evidenciado neste trabalho, por causar um imenso
impacto na saúde local, fazendo com que as corporalidades expressem por intermédio das
doenças, as insatisfações e as inseguranças quanto a essas transformações, que são inerentes ao

107
processo civilizatório de todo o litoral norte. O corpo passa a ser o veículo que demonstra a
subjetividade e a fragilidade de cada pessoa. Nas palavras de Formagio e Barbosa (2004): “O
corpo pode não dizer nada, mas expressa tudo, as expressões corporais são, antes de tudo, uma
forma de objetivar algo subjetivo, que está diretamente ligado à vida social e ambiental”
(FORMAGIO e BARBOSA, 2004: 378).
2.4 Os Indicadores e as Representações de Doenças
As doenças do litoral norte expressam os mecanismos corporais de um mal-estar sentido
pelas pessoas, segregadas da própria identidade e da própria condição de cidadão em um
ambiente urbanizado de maneira desigual e excludente. A relação entre a qualidade de vida e a
cidadania é considerada por Barbosa e Cintra (2008) como um viés importantíssimo a ser
explorado pelas pesquisas acadêmicas.
Nesse aspecto, as rupturas das relações cotidianas com a natureza geradas pela presença
do Parque Estadual, o estímulo ao turismo desenfreado, o intenso crescimento populacional, a
ocupação urbana desordenada, a expansão das áreas de favelização, a ausência de saneamento
básico e a influência dos valores capitalistas voltados para o consumo alienado, são fatores que
vêm degradando o meio ambiente e afetando a qualidade de vida tanto do morador de Ilhabela
quanto dos demais habitantes do litoral norte (BARBOSA, 2007).
Barbosa (1998, 2007) e Barbosa e Cintra (2008) evidenciam que a relação entre o meio
ambiente e a qualidade de vida é uma preocupação atual nos meios acadêmicos, e que o amplo
conjunto de conexões que envolvem estes dois temas, como a saúde, por exemplo, já foi discutida
em muitos eventos científicos, ganhando fôlego atualmente de forma proporcional à gravidade
alcançada pelos problemas ambientais.
Na sua concepção, o conceito de qualidade de vida não tem uma definição epistemológica
exata, cabendo aos pesquisadores construir a vertente que mais se encaixa na elaboração de
elementos que se configurem como indicadores objetivos e subjetivos, ou seja, a partir de dados
sociais e opiniões advindas da percepção individual e contextual dos problemas enfrentados
(BARBOSA, 1998; BARBOSA e CINTRA, 2008). Dessa maneira, pensa-se que as interferências
causadas no ambiente natural de Ilhabela e seus impactos no modo de vida das pessoas,
contribuem para uma discussão socioambiental extremamente relevante, em virtude de saúde se
constituir como a esfera pela qual será explorada essa temática, já que “o indivíduo, nesse

108
enfrentamento cotidiano, encontra respostas para afirmar ou negar essas transformações.
Poderá legitimar politicamente seu cotidiano ou alienar-se, construir condições saudáveis de
vida ou patologias” (BARBOSA e CINTRA, 2008: 5).
O suporte teórico desenvolvido por Barbosa (1998) se situa como uma ligação
imprescindível para tal reflexão, uma vez que a autora explora a questão da saúde mental e do
sofrimento humano ligados à qualidade de vida na modernidade. As pessoas estão vivendo hoje
uma realidade global diferente da que havia há alguns anos, a sociedade está trabalhando em um
ritmo cada vez mais acelerado, as relações sociais apresentam-se cada vez mais individualistas e
competitivas, os ciclos econômicos estão determinando cada vez mais os destinos da vida de
camadas enormes da população, o modo de produção industrial está degradando cada vez mais o
meio ambiente, pois se insere em um modelo de desenvolvimento que não se sustenta sem
destruir o planeta. Para a autora, o dia-a-dia nos grandes centros urbanos tem gerado sensações de
angústia e inquietação, e vem provocando depressão nas pessoas que não se sentem satisfeitas
com a vida que levam (BARBOSA, 1998).
Nesse contexto, Formagio e Barbosa (2004) chamam atenção para as expressões corporais
que denotam a fragilidade da vida moderna, que por meio dos sintomas e das queixas
apresentadas pelas pessoas nos centros de saúde, deixam evidente uma situação concreta de
ausência de condições objetivas (socioambientais) e subjetivas (psíquicas) que dê suporte a uma
vida mais equilibrada, garantindo um bem estar psíquico-social e ambiental.
Pensando as questões da vulnerabilidade e do risco a partir do contexto de urbanização da
ilha, percebe-se que os terapeutas estão se vendo diante de doenças decorrentes dessa realidade
atual, permeada de problemas socioambientais. A população de Ilhabela expressa pelas doenças
mais freqüentes, este momento histórico vivido. Existem 25.135 pessoas (7.542 famílias)
cadastradas no SIAB (Sistema de Informação de Atenção Básica: Consolidado das Famílias
Cadastradas do ano de 2007) e contam com os serviços oferecidos pelos centros de saúde e as
demais instituições de saúde pública. Como se sabe, os serviços públicos são mais procurados
pelos migrantes, caiçaras ou o turista de menor poder aquisitivo. Os dados desse sistema apontam
para as principais doenças referidas que vêm acometendo os moradores da ilha.
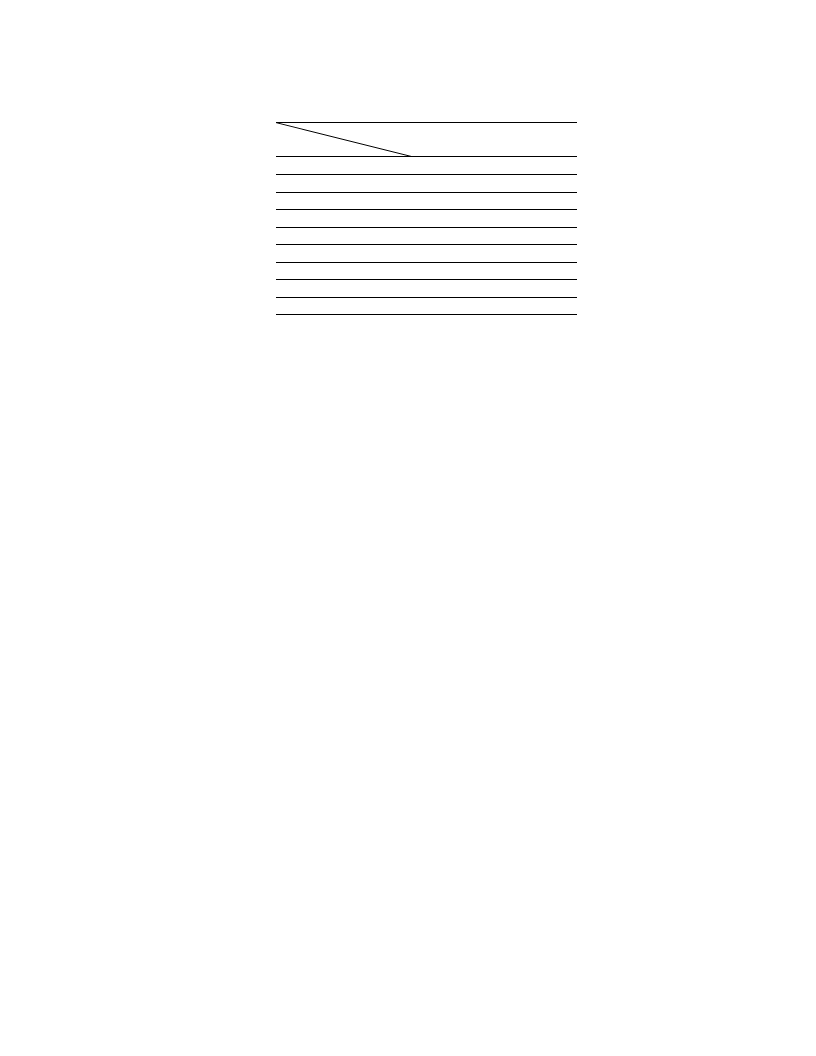
109
Tabela 6: Doenças Referidas em Ilhabela
Faixa etária 0 a 14 15 anos Total
Doença
Anos ou mais
Alcoolismo
1
291 292
Chagas
56 56
Deficiência física
30
235 265
Diabetes
2
531 533
Epilepsia
9
67 76
Hipertensão Arterial
5 1.882 1.887
Hanseníase
25 25
Malária
19 19
Tuberculose
1
38 39
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sistema de
Informação de Atenção Básica (SIAB):
Consolidado das Famílias Cadastradas até 10 de janeiro de 2007.
A hipertensão arterial é a doença que mais acomete os moradores de Ilhabela abarcando
um conjunto de 1.887 pessoas (7,5% em relação ao total de cadastrados), o diabetes é a segunda
patologia que mais se destaca, abrangendo 533 pessoas (2,12%) e o alcoolismo fica em terceiro
lugar (1,16%), contando com 292 doentes. Supõe-se que todas estas patologias reflitam o
desequilíbrio gerado pelo modo de vida estabelecido pelos moradores da ilha.
A hipertensão arterial, por exemplo, é uma doença que ameaça 80% das pessoas adultas
no mundo todo. Há um aumento também em escala global dos casos de obesidade e de diabetes,
que são doenças intimamente relacionadas à hipertensão. As estratégias que devem ser adotadas
pela população para viabilizar a redução da pressão sanguínea, passam pela limitação da entrada
de sal no organismo, a adoção de uma alimentação mais rica, em uma dieta baseada em frutas e
verduras, ou em alimentos menos calóricos e mais nutritivos, incorporando um comprometimento
com a perda de peso e com o aumento das atividades físicas. Estudos epidemiológicos
salientaram que quanto mais alta a pressão sanguínea, maior é o risco de morte por doenças
cardiovasculares, ou por ataque cardíaco, sendo que as causas geralmente são decorrentes da
pressão alta, do colesterol alto e do hábito de fumar. O alcoolismo também colabora para o
aumento da pressão no sangue, realizando um efeito transitório sobre a patologia (He &
MacGREGOR, 2007).
A hipertensão arterial é uma patologia extremamente vinculada a fatores biológicos e
emocionais ligados ao estilo de vida que a pessoa leva, estando incluso no tratamento uma
transformação na vida quotidiana do doente (dietas alimentares, proibição de fumos e álcool). De
acordo com Péres et al (2003), a maior dificuldade do tratamento é conseguir essa transformação,

110
uma vez que os doentes reconhecem os fatores emocionais que envolvem a doença, como
preocupações financeiras, sociais, familiares, que elevam a tensão e o stress emocional, mas, no
momento da realização da terapia, buscam tomar remédios e fazer exames, não alterando suas
práticas do dia a dia (PÉRES et al, 2003).
Muitos estudos mostraram que há uma estreita relação entre a diminuição do peso do
corpo e a redução da pressão sanguínea. De acordo com Bassuk & Manson (2005), a atividade
física desenvolve mecanismos que protegem o organismo, fornecendo benefícios metabólicos e
cardiovasculares, embora o grau de intensidade dos exercícios físicos continue a ser um tema
debatido nos meios acadêmicos. Estudos epidemiológicos sugerem que os indivíduos fisicamente
ativos possuem um risco menor, que varia entre 30% a 50% a menos de chance para desenvolver
doenças cardíacas. A atividade física também pode retardar a iniciação e a progressão do diabetes
do tipo 2 e suas seqüelas cardiovasculares, por meio dos seus efeitos corporais que auxiliam na
redução do peso, das inflamações, na sensibilidade à insulina, no controle glicêmico e na pressão
sanguínea. Para os autores, o estilo de vida sedentário é um fator de risco para o desenvolvimento
dessas doenças.
O diabetes, por exemplo, é uma doença cuja incidência vem crescendo e atingindo cerca
de 175 milhões de pessoas, e se diferencia em tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 acomete mais as crianças e
adolescentes, e o tipo 2 mais as pessoas entre 30 a 69 anos de idade. É uma doença incurável e
seu tratamento prevê uma melhora na qualidade de vida, realizar dieta alimentar, praticar
exercícios físicos e buscar um maior controle emocional (MARCELINO & CARVALHO, 2005).
Mozaffarian et al (2008) salientam a estreita ligação entre o diabetes, a hipertensão e a
dislipidemia (alteração no perfil lipídico do organismo, como o colesterol alto), evidenciando que
o estilo de vida tem um efeito decisivo para atenuar ou para desenvolver essas patologias. Sendo
assim, os hábitos alimentares, a inatividade, o tabagismo e o peso excessivo, são vistos como
fatores de risco que podem ser modificados, caso ocorram mais esforços nos âmbitos das
políticas em saúde que se localizem nessas instâncias da vida social e do ambiente. Para os
autores, os altos gastos com cuidados médicos e farmacológicos são importantes e devem ser
mantidos, mas o advento da epidemia da obesidade, por exemplo, torna evidente que há uma
falha estratégica dos governos, pois as pessoas não vêm incorporando os novos hábitos em seu
cotidiano. Eles enfatizam que mais recursos podem ser dirigidos para as pesquisas sobre os
fatores de risco ligados à vida cotidiana, as causas mais determinantes, e as intervenções mais

111
eficazes para transformá-los.
Delamater et al (2001) destacam que pesquisas comportamentais demonstraram a
importância dos fatores físico-sociais na gerência do diabetes em crianças e adultos, mostrando
que algumas terapias psico-sociais têm levado a uma maior aderência, por exemplo, a dietas
alimentares, ao controle glicêmico e a qualidade de vida. Outras pesquisas têm priorizado a
análise de comportamentos como a aceitabilidade social ligada a rentabilidade, sendo que os
autores acreditam que os novos estudos devem centrar-se na interferência dos fatores de risco
sobre o tempo, incluindo diversos grupos sociais, tais como as minorias étnicas, os indivíduos
pertencentes a segmentos menos favorecidos, pessoas idosas e indivíduos com desordens
psiquiátricas e com relatos de diabetes na saúde. Para os autores, o estudo das desordens
psiquiátricas devem levar a métodos terapêuticos eficazes para lidar com a depressão, a
ansiedade, e os desequilíbrios nutricionais.
Nessa perspectiva de análise, o uso intensivo de bebidas alcoólicas também se constitui
como uma questão de saúde pública. No Brasil foi constatado que os maiores índices de
alcoolismo prevalecem sobre as camadas de menor renda e escolaridade. (ALMEIDA &
COUTINHO, 1993).
De acordo com dados de 2006 obtidos junto à Vigilância Epidemiológica (Secretaria da
Saúde de Ilhabela), também foi possível detectar outros gêneros de enfermidade que se destacam
entre a população de Ilhabela do lado urbanizado e do lado oceânico.
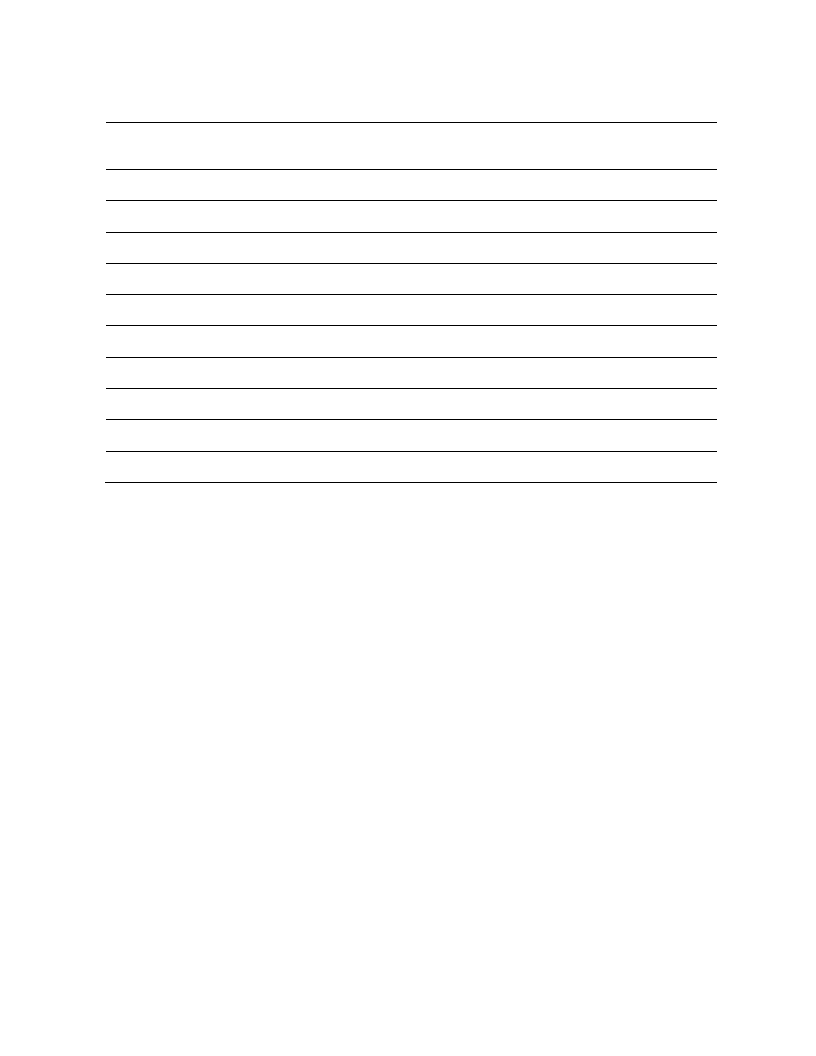
112
Animais
Peçonhentos
Atendimento
Anti-Rábico
Dengue (**)
Notifi-
cados
25
236
185
Tabela 7: Vigilância Epidemiológica (2006)
Prontos
ocorro
Cobra:22
Aranha:3
217
Centro
de Saú-
de 3
Hos-
pital
Barra
Velha
09
Ita-
quan-
duba
03
Costa Água Arma CE
Sul Bran- -ção (*)
ca
03
04
DST
130
11
02
53
37
12
07
04 04
Diarréia
992
992
Esquistosso-
22
mose
Hanseníase
06
07
05
01
09
03
01
02
Hepatite B/C
23
09
01
04
08
01
Leishmaniose 14
Tegumentar
Tuberculose
09
01
04
01
06
05
01
02
01
Fonte: Elaboração própria com base em dados da Secretaria da Saúde, Vigilância Epidemiológica, Ilhabela, 2006;
(*) CE: Centro de Especialidades; (**) Negativos: 125; Confirmados: 38; Aguardam resultados: 22.
Nota-se que a diarréia, a raiva e as DSTs são as patologias mais identificadas pela
Vigilância Epidemiológica de Ilhabela. Todavia, a diarréia e as DSTs levam a questionar as
condições de higiene e saneamento a que os moradores estão expostos, tanto no interior das
comunidades locais quanto nas áreas urbanizadas, evidenciando o aspecto ambiental como um
dos agentes causadores de patologias.
Os sintomas de mal-estar são compreendidos quando se analisa o contexto global da
modernidade, que é referente ao momento histórico vivido pela sociedade ocidental depois da
época do feudalismo, chamada por Giddens (2002) de pós-tradicional. O desenvolvimento da
sociedade moderna ocorreu a partir da Revolução Industrial na Europa, gerando novas relações
de produção, novas relações comerciais e econômicas fundamentadas institucionalmente pelo
Estado-Nação. O autor considera importante que a reflexão sobre esse fenômeno ultrapasse a
esfera das transformações institucionais ocorridas na Europa iluminista. Para ele, é necessário
reconhecer que essas transformações vêm provocando mudanças no comportamento humano,
internalizando-se em novos modos de vida jamais vistos anteriormente na humanidade. Esta nova

113
forma de viver cresce e se reproduz em um mundo já globalizado nos dias de hoje (GIDDENS,
2002).
Giddens (2002) afirma que a modernidade se constitui em um problema sociológico do
século XXI. Nesse contexto, Latour (1994) afirma que a definição de moderno, ou modernidade,
pressupõe uma evolução que ocorreu no tempo e no espaço. Essa evolução supostamente
ocorreria em detrimento de uma superação ao que é considerado como antigo, arcaico,
desnecessário, no interior de uma disputa que o autor considera como resultado da emergência de
vencedores e perdedores, ou o que se ganhou em oposição e em superação ao que se perdeu. O
autor salienta que atualmente existem intelectuais que não se sentem à vontade para usar os
termos que classificam o atual momento histórico como moderno, ou pós-moderno, em virtude
dessa denominação não revelar que as revoluções sociais, epistêmicas e produtivas não
resolveram problemas e questões que há muito tempo são colocadas em pauta pela existência
humana.
Latour (1994) considera que a modernidade pode ser representada por uma dupla
separação: entre o reino dos céus e o reino da terra, e entre o mundo natural e o mundo social. Ele
faz um jogo com a questão da imanência e da transcendência presentes nessas esferas, que
permite entendê-las como libertadoras, e ao mesmo tempo, aprisionantes, próximas, controláveis,
e nesse sentido, distantes e incontroláveis. É preciso entender que essas definições voláteis
servem de justificativa, ou de garantia, nas palavras do autor, para muitas ações políticas, para
relações de poder, para determinadas pesquisas científicas, entre outras atuações sobre o mundo
que teriam como objetivo trazer mais conforto à vida humana, mais felicidade e mais realização
para a sociedade denominada então de moderna.
No entanto, a sociedade jamais separou as instâncias que epistemologicamente considera
em separado. Para Latour (1994) existe uma mediação cognitiva que permite enxergar a natureza
e a sociedade da maneira que a necessidade considerar mais conveniente, permitindo inclusive a
mistura e o rearranjo das idéias, sendo que essa característica atribui um caráter de
invencibilidade à modernidade. Para ele, a modernidade jamais foi moderna, pois atualmente os
problemas socioambientais que o mundo enfrenta são mais graves, e as dimensões de
compreensão não estão abarcando as questões que esses problemas suscitam.
O ser humano, por sua vez, se sente perdido e sem ter onde se apoiar, pois o universo
mecanicista não oferece nenhum suporte teológico ou metafísico que o acolha, e a sociedade não

114
oferece meios de se vencer a desigualdade, os problemas ambientais e econômicos e os processos
produtivos que vêm degradando há alguns séculos o ecossistema global. Nesse contexto de
separabilidade ôntica entre o ser e o mundo, a questão que o autor salienta é: onde se situa o ser?
O ser humano, assim como os outros seres, recaem somente sobre a condição de imanência em
um cosmos e uma sociedade desprovidos de sentido?
Pode-se trazer essa discussão para a questão da qualidade de vida na modernidade,
quando Barbosa (1998) coloca que os elementos buscados pelas pessoas para satisfazerem suas
necessidades ou desejos, são vinculados às realidades locais e não estão separados da esfera
global. Para a referida autora, a qualidade de vida de um local reflete o comportamento das
pessoas em seu cotidiano, ligado à identidade e ao modo como lidam com os seus problemas e
frustrações, assim como também está associada às condições ambientais, uma vez que ela
evidencia os aspectos geográficos e biofísicos que envolvem o viver no seu aspecto material
(BARBOSA, 1998).
Para se analisar a realidade de alguns países da América Latina, assim como a do Brasil,
por exemplo, a questão da qualidade de vida passa necessariamente pela sua ligação direta com a
desigualdade e a exclusão social, com as condições de vida, trabalho, alimentação, educação,
saúde, uma vez que esses fatores geram grande insatisfação tanto no âmbito social quanto
individual. As más condições ambientais são, dessa maneira, expressas pelas características de
moradia e de saneamento, pelo acesso a água, e são aspectos determinantes para as variações dos
indicadores de doenças atuais (BUZZ, 2000; MINAYO et al, 2000).
Minayo et al (2000) acrescenta que com o crescimento dos movimentos ambientalistas a
partir de 1970, também cresce a crítica a idéia de qualidade de vida ligada ao padrão de consumo
alienado, pautado em uma satisfação provisória e predatória do meio ambiente. A ecologia
humana contribuiu para o desenvolvimento dessa questão, ao explorar os elementos
biogeoquímicos afetados pela relação do ser humano com a natureza, ligados ao ambiente
deteriorado pela poluição. A mortalidade, por exemplo, passou constar entre os fatores
importantes para avaliação do ambiente. O aumento do saneamento básico e a preocupação com a
qualidade nutricional revelaram-se como medidas eficientes no controle de mortes por causas
socioambientais (HOGAN, 2001).
Todas estas dimensões exploradas acima (social, econômica, ambiental, entre outras) de
acordo com Giddens (2002), que seriam epistemologicamente classificadas como exteriores ao

115
indivíduo, exercem um impacto muito grande no seu eu, no seu viver, no seu sofrer, no seu
interior e, na análise antropológica, na sua corporalidade.
Seguindo esse raciocínio, a corporalidade humana consiste num conceito antropológico
que permite a compreensão das relações que se expressam no corpo, sejam sofrimentos,
infortúnios, doenças, medos, inseguranças ou mesmo situações ligadas à saúde. Toma o corpo
como um expoente em torno do qual os símbolos do mundo estão presentes. As relações naturais,
sociais e simbólicas interagem a todo o momento na vida do ser e tecem um novelo de situações
que demonstram as interações existentes entre a natureza, a sociedade e o ser humano (PERES,
2005). Sendo assim, tudo o que acontece na vida da pessoa, na cidade onde ela vive, nas
condições de vida, de escolaridade, é extremamente importante para que se diagnostique, no dizer
de Barbosa (1999), “o conflito entre a complexidade social e a vivência individual e coletiva”.
Todos os medos existentes na atualidade (o medo da violência, a incerteza do emprego, do
casamento, da conservação do meio ambiente, o medo de guerras, de doenças, de vírus, de
catástrofes, entre muitos outros) afloram em um ser humano que não é apenas um corpo físico ou
biológico. A corporalidade sente e ressente a força de todas as transformações socioambientais, e
o sofrimento não fica isolado em uma mente separada do corpo e do universo ao seu redor.
A partir de todo arcabouço teórico e de todo levantamento sobre o contexto histórico e
socioambiental das transformações ocorridas no litoral norte, pensa-se então que esses elementos
têm uma relação direta com o aparecimento das doenças evidenciadas, decorrentes da
deterioração das condições de vida, de higiene, das relações sociais, da inserção de hábitos
modernos (como a alimentação, o sedentarismo, o consumo exagerado de álcool) e são vistos
como processos vividos pelos grupos sociais de Ilhabela na sua totalidade.
Ao mesmo tempo, as camadas sociais mais abonadas expressam outros sintomas e sinais
que denotam as consequências da racionalização e das visões de mundo que moldam a vida
moderna, tais como dores no corpo e problemas na coluna, que evidenciam o aumento do
sedentarismo, também associado a trabalhos que levam as pessoas a ficarem cada vez mais tempo
do dia sentadas.
Nas entrevistas de campo, os terapeutas do lado urbanizado (do setor público e do setor
privado), assim como os do lado oceânico, chamaram atenção para algumas das doenças que
consideram mais presentes no seu universo sociocultural. Nesse aspecto, os terapeutas corporais
salientaram que as maiores queixas das pessoas que os procuram, são as dores no corpo

116
decorrentes de práticas cotidianas alienadas, ou seja, ligadas ao trabalho sedentário, a problemas
posturais, entre outros fatores.
No setor privado de Ilhabela, por exemplo, a médica acupunturista (que também trabalha
no setor público como clínica geral) destaca o tipo de queixa apresentada pelos pacientes
pertencentes a um segmento social mais elevado:
A maior queixa aqui em Ilhabela, dos pacientes que vêm fazer acupuntura com a gente, é
a dor nas costas. É ligada ao aparelho automotor, a músculos, articulações, ossos. Eu faço
a medicina chinesa e eu uso a acupuntura como principal meio de tratamento (Entrevista
à autora, T 03).
Ela salientou que esses pacientes podem pagar pelas consultas e por tratamentos mais
caros e sofisticados. As queixas segundo ela são de outra ordem, no caso, ela remete os
problemas de saúde ao vago conhecimento sobre o corpo e sobre si mesmo, ressaltando a
dimensão da identidade e do cotidiano da pessoa como elementos importantes a serem
considerados no diagnóstico.
Entre outros problemas corporais, a dor nas costas também foi a reclamação mais comum
evidenciada por outro terapeuta, evidenciando que as pessoas não estão desenvolvendo
comportamentos cotidianos adequados à saúde:
A maior parte dos clientes chegam com algum tipo de dor. O que mais aparece nesses
últimos 10 anos é lombalgia e dor nas costas. Mas também tem cervicalgia, dor de
cabeça, etc. A flexoextensão mata esses músculos, então você vê a quantidade de dores
de pescoço, dores de ombro, cervicalgia, lombalgia, e outros problemas articulares, é
pandêmico. A maioria aparece assim. Então surge um outro público que está interessado
em se manter bem... Então a aula não se limita à aula, é a sua atividade diária, nós
queremos que essa pessoa participe das coisas, e faça de maneira mais eficiente. Eu ousei
escrever um artigo que chamei de: Ergonomicamente Incorreto, por que na verdade os
moldes ergonômicos, eles fazem as pessoas ficarem imobilizadas, e imobilização é o que
a gente tem demais da conta!(risos). Os últimos 10 anos são muito significativos, se você
fizer um retrospecto motor dos últimos 10 anos, as pessoas estão se tornando
extremamente frágeis, talvez vá até mudar o design humano, mas isso demora muito né...
Nós somos um corpo, nós somos essa estrutura biológica da qual tudo emerge. Então se
tudo estiver funcionando bem, o relacional também reage bem (Entrevista à autora, T
08).
No depoimento acima, a busca dos pacientes pela qualidade de vida é evidenciada pelo
terapeuta, e o corpo é visto por ele como agente e como consequência das relações sociais e

117
naturais; portanto, se o indivíduo não estiver bem com sua corporalidade, os outros aspectos da
vida dele serão afetados. O entrevistado também critica hábitos modernos, que levam as pessoas
a trabalharem sentadas e a imobilizarem o corpo durante grande parte do dia, prejudicando a sua
estrutura e o seu desempenho no decorrer do tempo e levanta a problemática de que nesses
últimos dez anos, as pessoas têm ficado cada vez mais paradas, comprometendo assim a sua
capacidade física para lidar com os problemas do cotidiano, que para ele, está inteiramente
relacionado também às dimensões biológicas e subjetivas do ser.
De acordo com a terapeuta 02, as principais doenças que atingem o bairro da Armação
(do lado urbanizado de Ilhabela), são decorrentes das condições de vida e da qualidade nutricional
dos moradores. Para ela, estes são fatores objetivos que levam o ser humano a lidar melhor com
os problemas do campo subjetivo da identidade. A alimentação adequada, por exemplo, levaria
elementos cognitivos ao cérebro, e atuaria como um agente de defesa ao reorganizar a mente para
se estruturar diante dos infortúnios:
Aqui tem muita hipertensão, doença mental, muita depressão, o erro nutricional maior é o
da obesidade. Aqui na comunidade da Armação tem muita depressão. Como na verdade
em todos os lugares que eu venho trabalhando cada vez mais. Bom, a gente tem que fazer
um tratamento particularizado, porque nem tudo é uma depressão como eles falam, que
precisa de um tratamento. A maioria na verdade, é um problema que cada vez mais
assola as pessoas, problemas básicos de violência, de desafeto, uma série de coisas, de
desapego espiritual, as pessoas não têm mais uma razão de viver, você só tem impacto
negativo. Então as pessoas têm tendência a se deprimir, fora que o erro nutricional da
população como um todo, faz com que elas não consigam mais ter mecanismos, recursos
de defesa dentro delas mesmas. Você substitui alimentação de verduras, legumes, fruta,
você tem uma baixa dessas vitaminas todas e você não consegue mais nem ter um
transmissor no cérebro que funcione pra você dar conta dos seus problemas. Então abuso
de drogas, cigarro pra mim é o pior, isso aliás eu tenho muito, problema de cigarro, uso
de álcool, aqui é muito também, com o pessoal mais velho a gente tem aquelas reuniões
de botequim, com as barrigudinhas que eles chamam aquelas garrafinhas de pinga. Então
esse é um grande problema, e tudo isso associado a depressão, a falta de expectativa do
jovem como um todo, o que você vai fazer da sua vida (Entrevista à autora, T 02).
Pela fala desta médica é possível perceber a dimensão contextual do mal-estar vivido pela
sociedade moderna, pois quando ela coloca que nem tudo é depressão, pode-se relacionar os
sintomas como respostas que sinalizam o sofrimento psíquico local. A obesidade, de acordo com
a medicina clínica “é uma doença nutricional crônica, com um forte componente emocional”
(MERETKA et al, 2006: 477). Os autores da área médica salientam a dificuldade em
compreendê-la, pelo fato de não ser uma única patologia, já que envolve inúmeros fatores
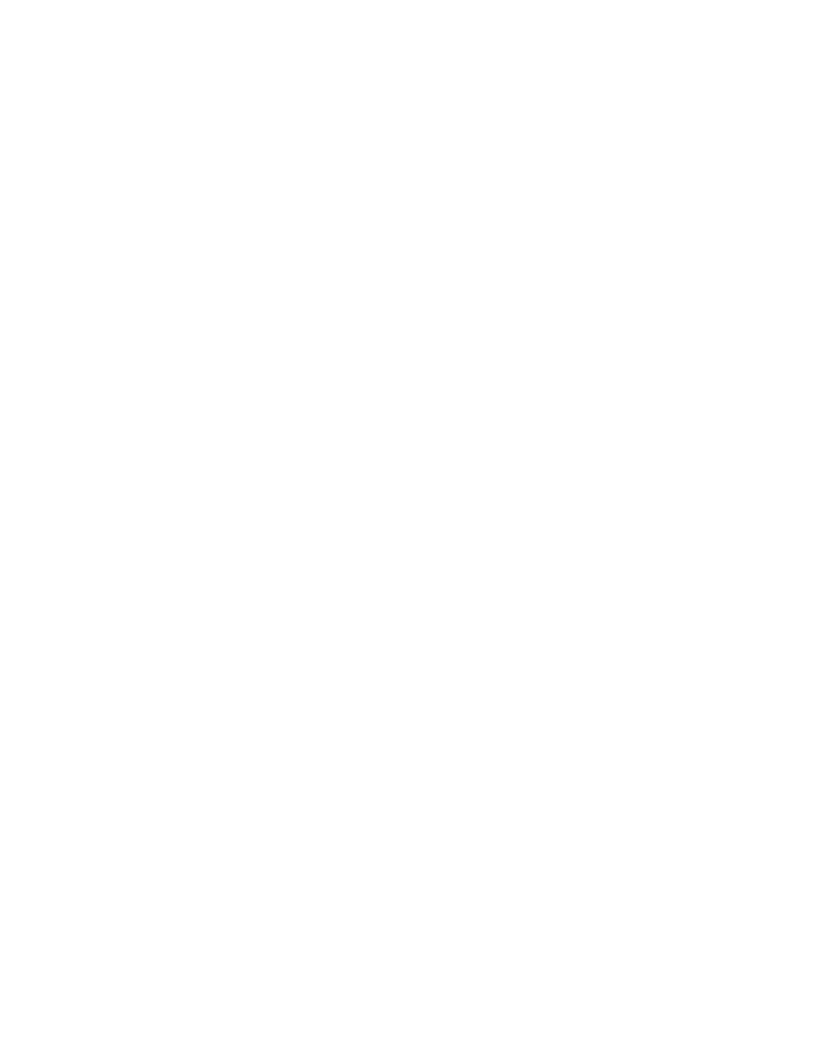
118
heterogêneos, sendo que as diversas causas também estão ligadas ao estilo de vida moderno,
relacionando a dimensão emocional à falta de controle para o consumo de alimentos “comendo
em excesso para preencher com a comida o vazio da insatisfação, da depressão ou da
ansiedade” (MERETKA et al, 2006: 478). A obesidade provoca outras doenças tais como
hipertensão, diabetes e aterosclerose; está intimamente relacionada ao câncer de cólon, de mama
e de próstata, e o excesso de peso pode também provocar varizes, hérnias, se constituindo
atualmente como a maior doença crônico-degenerativa do século XXI.
Nessa perspectiva, a análise concernente ao saber médico está convergindo com o
pensamento de Barbosa (2007), que considera a alta incidência de depressão no litoral norte
como um expoente subjetivo relacionado às diversas rupturas sofridas por grupos sociais
heterogêneos (migrantes e caiçaras), vistas como consequências do processo de urbanização e
degradação ambiental sofrido pela região. A fala de outra médica que atua como clínica geral no
PSF da Vila demonstra também essa idéia:
Eu nunca vi um lugar tão pequeno e tão lindo como esse, ter tanta gente deprimida.
Muita gente em depressão aqui em Ilhabela. Eu acho que é falta de objetivo, eles não têm
objetivo, essa ilha é um lugar lindo, mas ela é pobre culturalmente (Entrevista à autora, T
03).
Esta terapeuta salienta que as propagandas da mídia a respeito das doenças e dos remédios
modernos têm levado as pessoas a se auto-diagnosticarem e a se auto-medicarem, o que para ela é
um problema, uma vez que inclusive os caiçaras estão se comportando dessa maneira, ignorando
o seu conhecimento em prol do que é mais valorizado socialmente:
O caiçara chega aqui e diz: Doutora, eu estou com depressão! Onde ele ouviu falar isso?
Ele nem sabia o que era depressão, e muitos chegam aqui dizendo: Estou tomando
fluocsetina, que eu peguei emprestado de um colega meu, a minha mulher toma também.
Eu acho isso impressionante! (Entrevista à autora, T 03).
A urbanização de Ilhabela aumentou os indicadores de poluição ambiental, o
desmatamento das florestas remanescentes, mudou o padrão das relações de trabalho, aumentou a
violência urbana, o desemprego, piorando as condições de moradia e renda, e esses fatores, para
Barbosa (2007), refletem nas representações que as pessoas constroem com relação ao espaço
onde vivem, negativamente.
Os migrantes também chegam naquele ambiente sem nenhuma identificação com o local,

119
buscando apenas conseguir sobreviver diante de tanta pobreza. E ocupam as áreas de favelização,
desenvolvendo formas de subsistência precárias, que poluem a natureza, exatamente por não
terem conhecimento sobre esse aspecto, sobre os hábitos de higiene e alimentares, ou sobre como
conduzir suas vidas. Eles chegam a Ilhabela em busca de emprego, e não há nenhuma orientação
quanto ao tipo de moradia mais adequada para a constituição de uma vida mais qualitativa, ou
seja, é tudo realizado sem planejamento.
Abaixo, segue o depoimento da psiquiatra e da psicóloga do CAPS elencando as
principais doenças que aparecem nessa instituição pública de atendimento psico-social, que
abrange a maioria da população de Ilhabela que vem de segmentos sociais menos favorecidos:
Dependência química de todas as drogas, desde álcool até crack, e a depressão
(Entrevista à autora, T 05).
Nesses 12 anos o que eu mais trabalhei foi depressão, com as pessoas que vêm pra cá
(migrantes), que também apresentavam transtorno misto ansioso, crise de pânico, a
maioria... Hoje nós estamos com 28.000 habitantes, por aí, e tem épocas de temporada
acho que isso triplica, e nessa época a gente atende muito caso de drogas e alcoolismo,
muitos turistas, adolescentes e tal (Entrevista à autora, T 06).
O alcoolismo e o consumo de drogas também podem ser compreendidos como uma
representação do desequilíbrio experimentado pela maioria das pessoas que lidam diariamente
com os problemas afetivos, domésticos, de violência, gerados pela ausência de infra-estrutura
social, ambiental, ou seja, de esferas que sinalizam a ausência da qualidade de vida. Formagio e
Barbosa (2004) salientam a problemática realidade dos sintomas apresentados, em virtude deles
expressarem “uma interessante ligação entre os sintomas e a vida na cidade, ou melhor, entre os
sintomas e o que falta na cidade” (FORMAGIO e BARBOSA, 2004: 373).
Luz (2005) discute também a grande incidência de sintomas mal definidos nos serviços
médicos, como uma pequena epidemiologia do mal-estar, situação em que as pessoas expressam
sentir dores difusas, como também depressão, ansiedade, pânico, males na coluna vertebral, entre
outras queixas não definidas. Essa situação coloca em evidência o grande sofrimento enfrentado
pela sociedade, que por sua vez causa a perda de milhões de dólares anuais para os cofres
públicos, uma vez que pessoas doentes se ausentam do trabalho, deixando de participar do setor
produtivo. Com igual importância, o modo de vida urbano vem influenciando por meio da mídia,
a disseminação de novos valores e atitudes referentes à maneira de conduzir os problemas, de
lidar com as adversidades, e também vem incentivando a todo o momento o consumo e o gasto

120
exacerbado, provocando uma insegurança nas pessoas com relação a situações básicas como
família, sexualidade, trabalho, salário (LUZ, 2005). Ibáñez & Marsiglia (2000) colocam
problemas como o stress, as neuroses, o pânico, o uso abusivo de drogas dentro das novas
epidemias do mundo ocidental.
Nessa perspectiva, Barbosa chama atenção para o caráter representativo da depressão,
situado como uma manifestação social que dá voz às angústias geradas pelas transformações
socioambientais e as rupturas vivenciadas pelos diferentes grupos sociais de segmentos menos
favorecidos no litoral norte (BARBOSA, 2007: 192). A depressão seria um sintoma da identidade
humana, vista como espaço de inter-relações com o ambiente construído, mas no caso de
Ilhabela, um ambiente em processo de degradação, de exclusão, de violência, de favelização, sem
saneamento e em muitos locais, em situação de risco de desabamento e contaminação.
Segue o depoimento do médico que atende em seu consultório particular consultas em
homeopatia, e no setor público atua como pediatra, dando apoio ao PSF. Ele levanta outros
sintomas oriundos do modo de vida moderno. Na sua fala, é possível notar que os problemas
mais comuns para ele são alérgicos, respiratórios, sendo que no âmbito público as doenças são
decorrentes das condições de vida, da alimentação inadequada, assim como da falta de
informação em saúde:
Eu acho que doenças respiratórias têm muitas, alergia é uma palavra muito usada, essa
tosse é alérgica, essa dermatite é alérgica, esse chiado, essa bronquite é alérgica, essa
diarréia é alérgica, esse vômito tem um fundo alérgico, tudo tem um fundo alérgico. As
pessoas já entram aqui no consultório falando disso. É uma palavra que está meio
desgastada já né. Tudo é alérgico eu acho. As pessoas estão cada vez comendo pior,
então isso está esgotando muito a gente. E as crianças principalmente. Já começam a vida
comendo mal e vão ficar doentes por causa disso. Pediatra atende muito isso... Diabete
tem muitos casinhos complicados. No dia-a-dia é o basicão que todo mundo vê. No PSF
o médico atende tudo. Chega uma mulher e ele atende, um idoso e ele atende, um
hipertenso e ele atende. Aqui é legal, e a município tem nove equipes e eu dou apoio a
três. Então o médico da família encaminha alguns casos, ou as pessoas vão para o
hospital (Entrevista à autora, T 04).
Grecco e Barros (2006) delimitam a alergia como uma reação do corpo à presença de
antígenos (agentes causadores da alergia). Segundo os autores da área clínica da medicina, as
alergias podem ser causadas por uma variedade de antígenos, tais como os presentes em
alimentos (feijão, arroz, frutos do mar, leite, cereais, etc.), cosméticos (maquiagem, fixadores de
cabelo, etc.) urina de animais, picadas de insetos, exposição a elementos químicos presentes em

121
laboratórios, medicamentos. Existem também alergias ambientais, provocadas por situações de
mudanças de temperatura, atividade física, stress emocional, infecções respiratórias, ou seja, o
corpo pode manifestar fisicamente o mal-estar gerado por problemas que podem ser domésticos,
como no caso da má alimentação evidenciada pelo depoimento acima, e ao mesmo tempo
socioambientais, expressando pela alergia o stress ou a angústia gerada pelas más condições de
vida, ou por problemas sociais e econômicos, como o desemprego, por exemplo. Ou seja, as
causas da alergia podem ser tanto fatores objetivos, como a alimentação ou algum agente
biológico, como pode ser vinculada ao momento de dificuldade que a pessoa acometida esteja
passando.
Na entrevista abaixo, a médica que trabalha com a acupuntura no setor privado, e como
clínica geral no PSF, relaciona a emergência do desencantamento ou do mal estar sentido pelas
pessoas, que não têm mecanismos cognitivos para interpretar as sensações e solucionar os
problemas ligados aos relacionamentos sociais:
Eu aqui já tratei de diabetes, pressão alta, é uma outra medicina... Hoje mesmo eu atendi
uma senhora que estava péssima daí ela falou: Doutora, eu vou mudar de casa e vou
colocar o pé na rua, a senhora falou que eu tenho que andar... Essa senhora é obesa,
diabética e hipertensa. Daí ela falou: Doutora, eu vou fazer o que a senhora tá mandando
porque eu não agüento mais essa pressão em cima de mim, já criei meus filhos, por que
eu tenho que cuidar de neto? A minha nora dorme até o meio dia... Eu nem medi a
pressão dela nessa hora, porque é batata, devia estar lá em cima! Quando a pressão sobe,
a gente já pergunta: O que está acontecendo? Com certeza é problema familiar, é um
problema social, e eles vêm pra cá pra desabafar tudo isso em cima da gente. Daí a gente
acaba mandando um monte de pessoas para o CAPS (Entrevista à autora, T 03).
O depoimento anterior destaca também a ligação entre a pressão alta e os problemas
pessoais, que levam o indivíduo a um stress totalmente relacionado à doença manifestada. Para a
medicina clínica, a hipertensão arterial é uma das grandes preocupações da saúde pública
mundial devido ao seu alto grau de incidência, assim como também a sua baixa potencialidade de
controle, mesmo diante dos tratamentos e dos remédios adotados. Essa também é uma
preocupação nacional, em virtude de no Brasil gastar-se cerca de 400 milhões de dólares anuais
em hospitalização para a doença. Esta patologia torna-se um problema socioambiental a ser
questionado em Ilhabela, pois de acordo com o depoimento acima, o stress emocional a que as
pessoas de baixa renda estão expostas, o medo e os riscos que elas enfrentam, por exemplo,
podem levar ao aumento da pressão arterial, e desse modo comprometer o funcionamento de

122
órgãos imprescindíveis à vida, tais como o coração, o cérebro, os rins, os vasos sanguíneos, e a
retina (COSTA, 2006).
A médica entrevistada em Ilhabela ainda afirma que, muitas vezes, recorre ao CAPS
como alternativa para solucionar esses problemas, que para ela são mais de ordem emocional.
Complementando a idéia da entrevistada, Costa (2006) salienta que os tratamentos da hipertensão
que enfocam as mudanças nos estilos de vida obtêm mais sucesso, citando como exemplo
preocupações médicas relacionadas à perda de peso, ao uso de dietas ricas em fibras e pobres em
gorduras, à redução no consumo de bebidas alcoólicas, à atividade física regular e ao abandono
do tabagismo (COSTA, 2006: 25). O mesmo autor considera importante a aderência do paciente
ao tratamento, colocando como essencial a auto-compreensão para a melhora do quadro clínico.
Em seguida, a psicóloga do CAPS expressa seu olhar sobre os caiçaras, a respeito das
patologias que eles mais apresentam:
Os outros que são mais daqui (caiçaras), eu estou falando pela minha experiência, eu
percebo mais epilepsia, são doenças neurológicas associadas com psiquiátricas, um
retardo mental por questão cultural, subnutrição na infância, tal, e isso gera um
desenvolvimento cheio de problemas, entrecortados, onde a gente tem que estar olhando
de uma forma mais ampla. Isso o caiçara cru. São pessoas simples, práticas, as
abordagens científicas, pra gente chegar perto deles precisa trocar em miúdo, você tem
que aproveitar o que eles te dão para transformar, isso eu vi muito com os professores
das comunidades isoladas (Entrevista à autora, T 06).
As opiniões da psicóloga sobre os caiçaras trazem à tona a questão do desenvolvimento
humano, que segundo ela é vinculado a uma variedade de elementos objetivos e subjetivos. Os
problemas que os caiçaras enfrentam são muitos, vão desde os oriundos da deficiência alimentar,
da falta de conhecimento para lidar com questões sociais, até os oriundos do comportamento
sociocultural, como por exemplo, as consequências do casamento consangüíneo. Segue o
depoimento da clínica geral do PSF que atende as comunidades caiçaras do lado oceânico de
Ilhabela, ampliando a análise sobre os caiçaras:
Um dos casos mais acentuados é isso, e como a maioria não tem gerador, geladeira, ainda
o que salva é o peixe, mas o peixe é salgado pra conservação né, e aliado ao excesso de
sal você não tem potássio, você não tem o uso costumeiro das verduras, não tem legume,
não tem fruta, as frutas que têm eles também não fazem uso. Eu fiquei sabendo que na
praia da Fome, por exemplo, eles não estavam comendo as mangas que se tem, eu tenho
caso de diarréia em Vitória onde as mães não sabiam que tinham que pegar o côco lá de
cima para dar pras crianças que estavam com diarréia. Então assim é engraçado, esperam
chegar o envelopinho do soro caseiro e não dá o côco que está ali, pra alguém subir e
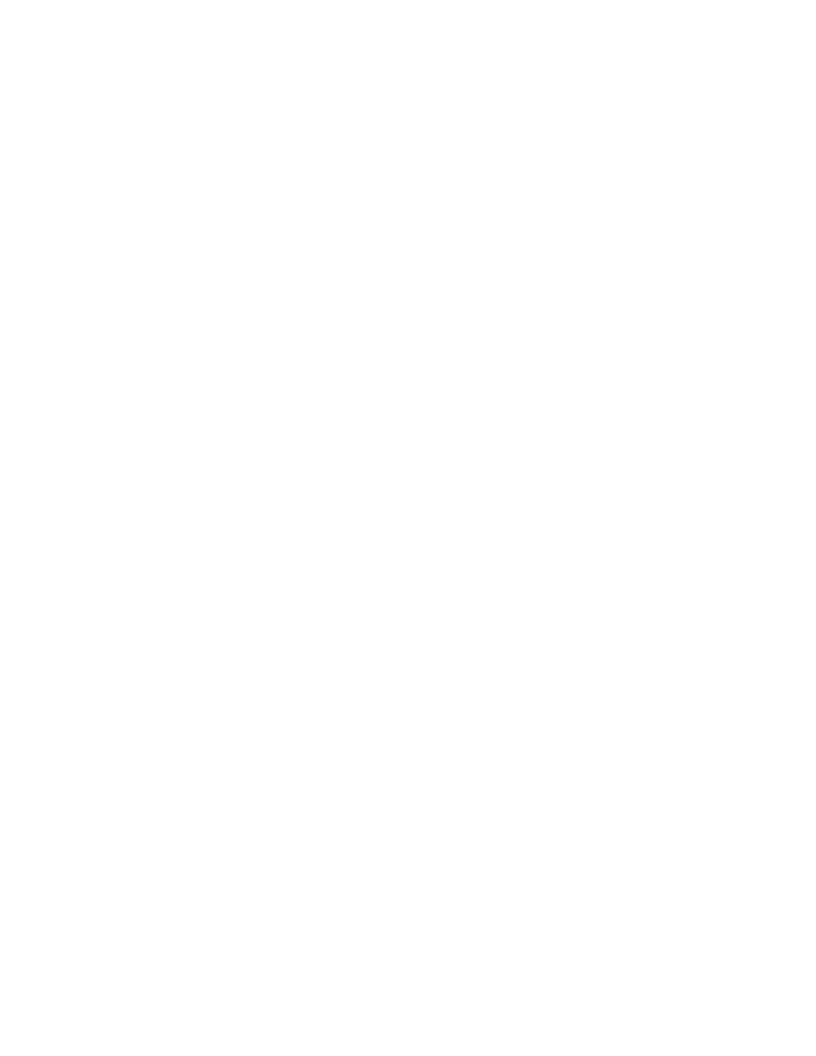
123
pegar, então a educação voltada à saúde está faltando demais. E é falta de substrato para
eles mesmos... Outro problema grave, em todos os lugares você tem mesmo essa
consangüinidade, existe uma doença severa acometendo sobretudo o pessoal de Búzios e
Vitória, que é uma ataxia familiar, um tremor que já impossibilita a pessoa de fazer
qualquer atividade depois dos 40, e a gente pegou alguns casos até recentemente de antes
dos 40 já começa, um rebaixamento mental associado... Quando a pessoa não tem mesmo
a capacidade de entender o princípio básico, você pensa assim, pôxa a mulher com
diarréia, a criança com diarréia e ela não pegou um côco, porque não tem mais essa
noção. Tem já um rebaixamento e essa questão da consangüinidade mesmo, junto com
essas doenças motoras, você tem muito problema de rebaixamento mental. Em todas as
comunidades onde tem o casamento consangüíneo, e a maioria é mesmo, você tem um
rebaixamento mesmo mental (Entrevista à autora, T 2).
Pode-se constatar que as relações ser humano-natureza estão sendo rompidas pelos
hábitos adquiridos por alguns grupos caiçaras. A ausência de preocupação com a manutenção da
identidade e das tradições vem causando impactos em Ilhabela, uma vez que o município vem
perdendo cada vez mais o seu patrimônio cultural. A perda ocorre também no âmbito terapêutico,
em virtude de em muitas comunidades os nativos não terem mais a percepção do próprio
ambiente natural como fonte de remédios para seus problemas.
A influência dos modos de vida modernos tem levado à perda, ou a ausência do próprio
saber popular em algumas comunidades, como, por exemplo, na praia da Fome e na ilha de
Vitória, citadas como os casos mais acentuados pela médica, onde na segunda comunidade as
mães não sabiam que a água do côco seria útil para sanar a diarréia dos seus filhos. A esse
respeito, Formagio e Barbosa (2004) destacam o processo de distanciamento dos vínculos
culturais e sociais que as pessoas são submetidas atualmente ao viverem nas municípios,
destacando a falta de sentido das pessoas com relação ao cotidiano de suas vidas.
O último depoimento também revelou a urgente necessidade de uma educação voltada
para a saúde. Essa questão reflete a falta de identidade com o universo circundante e, ao mesmo
tempo, mostra insegurança, uma vez que os caiçaras dessas ilhas não acreditam mais que possam
tomar a iniciativa sozinhos diante dos infortúnios e ficam, assim, aguardando o médico nas
escassas visitas.
O depoimento da terapeuta 2 também levantou a hipótese da consangüinidade como
possível causadora dos problemas mentais e das ataxias presentes entre eles. O rebaixamento
mental também foi um problema apresentado pelo último depoimento, em virtude de nesses
lugares a consangüinidade ser mais acentuada. Para a médica citada, existe uma deficiência

124
mental entre esses grupos advinda de uma alimentação inadequada, sem verduras, legumes e
frutas, relacionando a ausência de vitaminas ao déficit mental diagnosticado por ela.
Na literatura médica (LUCIF Jr et al, 2006), encontra-se que a ausência das vitaminas
essenciais ao organismo ocasiona inúmeras doenças. Até o século XVIII era comum o sofrimento
de males como o escorbuto, a cegueira noturna, o raquitismo, que acometiam principalmente as
camadas menos favorecidas da sociedade e eram tratadas como doenças infecciosas, por afetarem
pessoas pertencentes aos mesmos grupos sociais. Posteriormente, nos séculos XIX e XX,
pesquisas comprovaram a importância de uma alimentação diversificada para a prevenção dessas
e de outras doenças de origem nutricional, e o consumo diário de vitaminas passou a ser adotado
como medida preventiva.
Nesse sentido, a ausência de uma alimentação adequada nas ilhas de Búzios e Vitória,
detectadas pelas terapeutas entrevistadas, pode ser elencada como um dos elementos causadores
dos problemas de desenvolvimento físico e mental apresentados pelos caiçaras. O último
depoimento revelou a presença de uma ataxia entre os moradores da ilha de Vitória. Ataxia é uma
disfunção que se expressa quando o ser humano perde a coordenação motora, como também o
controle dos movimentos físicos, caracterizando-se como uma perturbação ou uma confusão
mental (HOUAISS, 2001).
Pela consulta da literatura verificou-se que a ausência da vitamina B1, por exemplo,
presente em alimentos de origem animal e vegetal, pode ocasionar uma doença chamada
Encefalopatia de Wernicke-Korsakoff, que se expressa por sintomas como ataxia, deficiência das
funções mentais e alterações motoras oculares. Os autores destacam que essa doença também é
causada pelo alcoolismo, levando a uma perda de neurônios cerebelares, comprometendo assim o
aprendizado e o desenvolvimento humano (LUCIF Jr et al, 2006).
Nessa perspectiva, os terapeutas do lado oceânico também foram argüidos a respeito das
doenças que mais atingem as pessoas nas praias às quais pertencem. Foram entrevistados os
caiçaras das comunidades da praia da Serraria, Mansa, Figueira, Castelhanos e Bonete, assim
como uma professora que trabalha na ilha de Búzios. O foco das entrevistas foi procurar
compreender se eles saberiam a origem dos próprios problemas de saúde, ou então, perceber
como eles interpretam as doenças e quais as dimensões que eles relacionam às patologias.
O depoimento seguinte é o da professora que trabalha na escola de primeira a quarta série,
da ilha de Búzios. Ela foi entrevistada na sala do diretor das comunidades, cargo ligado à

125
prefeitura municipal, e revelou à pesquisadora em uma entrevista semi-estruturada as questões
enfrentadas pelo morador da pequena ilha que faz parte do arquipélago de Ilhabela:
O que é que tem aquelas pessoas, que aparentemente são fortes, olha em oito anos que eu
estou lá só teve um óbito. Pra você ver né. O que é que acomete aquelas pessoas pra elas
ficarem daquele jeito com tanta dor de cabeça, todos eles tem dor de cabeça,
principalmente as crianças, dores de cabeça fortíssimas, e ninguém sabe de onde vem
isso. Tem aquela tremedeira lá que falam que é mal de Parkson... aí toma o remédio.
Hipertensos, antigamente eles usavam muita coisa salgada, mas hoje em dia não é mais a
coisa salgada que causa essa hipertensão. Eu mesma não tinha pressão alta, depois que eu
fui pra lá eu comecei a ter pressão alta. Só que eu faço um trabalho psicológico que eu
falo: eu não vou usar tudo isso de remédio. Eu mesma tenho três tipos de remédio pra
tomar. Tem alguma coisa lá além disso que causa isso (Entrevista à autora, I 17).
No depoimento acima, a professora da ilha de Búzios relata a alta incidência do uso de
remédios pela comunidade, assim como relata a forte presença de dores de cabeça entre os
caiçaras e suas crianças. Ela evidencia sua crença em haver algo mais, algo subjetivo que
ocasione essas doenças, acreditando que não seja apenas a alimentação com o peixe salgado a
causadora da hipertensão, por exemplo, que ela mesma afirma ter adquirido mesmo cuidando da
própria alimentação. Ela também evidenciou em seu depoimento que, nesses oito anos em que
viveu na ilha de Búzios, acabou desenvolvendo uma depressão muito grande, vinculada por ela
ao sofrimento dos moradores, que ela afirma ser difícil de lidar. A esse respeito, a professora
afirmou que o médico lhe receitou um antidepressivo e, ao mesmo tempo, considerou o ambiente
onde ela vivia, como agente causador das suas próprias enfermidades:
Eu tava assim perdendo a vontade, eu tava perdendo o ânimo, e eu sou uma pessoa que
não consegue ficar parada, eu só sei viver agitada! E tava ficando num canto, agora, no
começo dessas férias aí... E ele (o médico) simplesmente falou assim pra mim: Você sai
daqueles Búzios! Aqueles Búzios, que você fala que é a sua vida, aquilo é a sua morte!
(Entrevista à autora, I 17).
Outros males também acometem os caiçaras identificados como terapeutas da
comunidade da Serraria. No depoimento seguinte, as doenças são relacionadas a má utilização
dos recursos do ambiente local:
Nas crianças é mais gripe, resfriado, e esse negócio de verme... Por causa desse negócio
da água, as crianças ficam com muita dor de barriga, enjôo. De uns tempos pra cá é que
eles ficam mais assim, eu mesma estou com um filho que fica toda hora cansado. Ele fica
muito cansado, então eu acho que ele está com problema de verme. Ele dorme, dorme,
dorme e diz que está cansado? Eu acho que a água está muito suja, primeiro ninguém

126
tomava banho lá pra cima, porque a gente tem mangueira de água. Hoje em dia ninguém
respeita, ficam tomando banho lá pra cima e a gente bebendo essa água aqui. Eu acho
que é isso. Eu até já falei que esse mês eu vou ver se compro uma outra mangueira de
água, pra eu pegar dessa cachoeira aqui. Por que a gente usa a água pra fazer as comidas.
Mas as crianças ficam bebendo por aí e fica fazendo mal. Sempre quando o médico vem
aqui ele dá o remédio de verme. Aí passa um tempo e eles (os vermes) voltam tudo outra
vez. A gente não tem caixa d’água, a água fica na jarra mesmo (Entrevista à autora, T
25).
A água da praia da Serraria vive contaminada pela ausência de saneamento básico e de
um comportamento social mais preventivo, pois os nativos não se preocupam com o esgoto, não
fervem a água par beber, e tampouco se utilizam de meios para que ela se mantenha limpa. E
todos bebem e se banham com a mesma água. A entrevistada fala a respeito da hipertensão
arterial elevada, também recorrente entre os caiçaras:
A minha menina teve, no começo da gravidez, mas já está controlada, a minha cunhada
aqui tem, Tereza tem, meu marido tem anos que tinha, mas agora eu não sei por que ele
nunca mais mediu a pressão!(risos). Ele também não está bom... Agora segunda feira eu
vou passar com ele lá no posto da Armação. Ele anda com uma tosse, uma tosse seca.
Mas ele não quer ir. Daí dia 23 eu vou ver meu pai e vou levar ele. Eu fui no
farmacêutico em São Sebastião, e ele deu esse remédio, pra asma, bronquite e tosse, é
expectorante, mas não está adiantando. E ele fuma (Entrevista à autora, T 25).
É possível perceber que os caiçaras terapeutas também realizam conexões causais ligadas
aos hábitos de vida para interpretar as enfermidades, da mesma forma que os terapeutas atuantes
no lado urbanizado. A água contaminada e o hábito de fumar são evidenciados acima como
causadores de enfermidades. E nesse sentido, as doenças também vêm se transformando no passar
dos anos, e a insegurança foi aumentando entre os nativos, provocando um aumento na procura
pelos serviços em saúde oferecidos pelo município. Essa mudança no comportamento dos
caiçaras foi evidenciada na entrevista a seguir:
Agora qualquer coisinha é médico, qualquer coisinha é médico! Antigamente a gente
fazia um chá, um banho e já sarava, agora não... Eu tomo insulina pra diabetes e minha
pressão é alta, e eu tomo comprimido também, mas tem dia que eu não me sinto bem e
tenho que correr para o médico (Entrevista à autora, T 23).
A fala citada explicita a percepção do aumento da dependência com relação ao médico,
que representa a confiança em um saber desconhecido, apoiada na premissa de que o saber local
não apresenta soluções para os problemas mais modernos. Já a fala seguinte, demonstra a
consciência com relação à transformação dos sintomas, já que as doenças foram se modificando
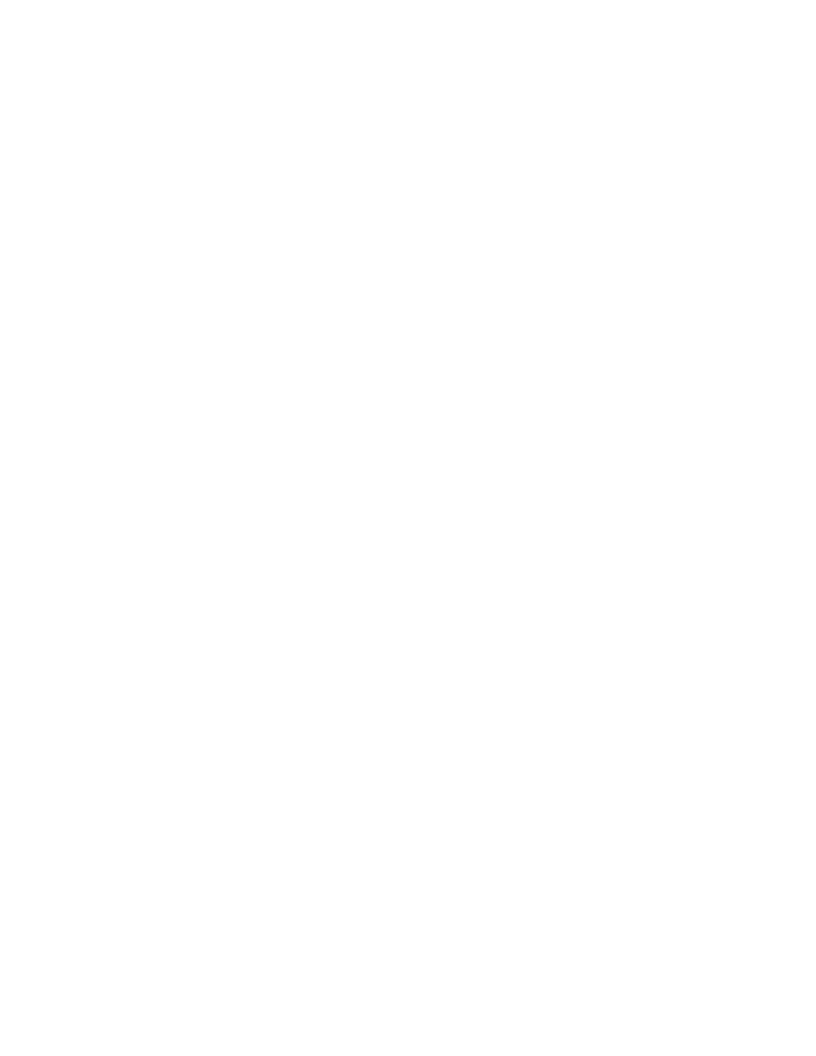
127
com o tempo, considerando as novas enfermidades como mais complexas do que as de
antigamente:
Antigamente ninguém ia pra vila pra nada, ia fazer compra e voltava embora... mas por
doença não. Antes não tinha essas doenças tristes que tem agora. As doenças que tinha, o
pessoal conhecia, e se tratava aqui mesmo... Que nem AIDS, câncer, é uma doença que
se der aqui ninguém vai dar conta. Mas era difícil antes o pessoal morrer, meu pai mesmo
morreu com 96 anos. O que matou ele foi derrame, se não fosse o derrame ele não tinha
morrido ainda. A mãe do meu pai morreu com 115, eu conheci ela (Entrevista à autora, T
28).
Esta fala é da terapeuta que é ervatária e parteira residente na praia da Serraria, e
demonstra a dificuldade dos caiçaras de lidarem com as doenças modernas, que são recentes e de
acordo com ela não podem ser tratadas pelas formas populares de cura. Também é evidenciada a
influência do pensamento urbano, uma vez que antigamente essas doenças “não existiam”, e
depois de Ilhabela crescer e se desenvolver como município, elas passaram a existir entre os seus
moradores, e a exigir novas formas de tratamento. Abaixo, a mesma caiçara interpreta a sua
hipertensão:
Olha, logo no começo há uns tempos atrás a minha pressão subiu, eu briguei com o meu
marido e fiquei nervosa, sei lá, eu fiquei chateada com ele, aí minha pressão subiu. Aí
depois eu tomei remédio, e depois o médico vinha sempre, media e não tinha nada, aí eu
parei com o médico e com o remédio. Aí comecei com aquelas baguncinhas aí, época de
festa, beber uma coisa, beber outra, aí a turma falava, ah vai voltar. Que volte. Eu não
senti mais nada... Foi o remédio que eles mesmos deram (a equipe da ambulancha)...
Agora outra vez ele (o médico) teve aqui e começou a reclamar comigo que eu não
estava tomando o remédio. Tomar o remédio pra quê? Vai ter festinha de natal e o ano
novo e você acha que eu vou perder de tomar cerveja? Ele me dava bronca, ele fica doido
comigo! (Entrevista à autora, T 28).
Abaixo, a benzedeira da praia da Armação, descendente dos moradores da Serraria, conta
que a vida nas comunidades não era boa, por não haver os recursos que existem na parte
urbanizada. Ela relatou sua infância difícil e as relações comerciais que os pescadores mantinham
para sobreviver:
Eu fiquei na Serraria até os 16 anos, por que depois eu casei. Aí eu vim morar aqui na
Armação e aqui estou até hoje. Faz quarenta e poucos anos. Quando eu morava na
Serraria, lá é muito ruim de viver, por que lá não tem nada, não tem supermercado, a
gente vinha de lá fazer compra na vila. Meu marido era servente de pedreiro, essas
coisas, e meu pai era pescador, meu tio pescador, meu avô pescador, todo mundo de lá
era pescador e vivia só da pesca. Eles pescavam, vendiam o pescado na vila e traziam as
coisas pra lá pra gente. Quando não dava pra vir a gente passava até sem comer, não

128
tinha o que comer, só farinha e peixe... Por isso hoje eu passei a vida assim fraca, que eu
tenho hoje osteoporose, por que meus ossos foram muito fracos, não teve cálcio nenhum
né. Depois casei e tive vários filhos, e tudo isso enfraqueceu (Entrevista à autora, T 16).
Na fala acima a caiçara explica a sua fraqueza física como consequência do seu passado
de dificuldades nutricionais, expondo uma rede de causas para seus problemas físico-estruturais
que se situam no interior da sua vida e das suas experiências.
Sendo assim, a partir da leitura dos depoimentos de todos os terapeutas e informantes
entrevistados tanto do lado urbanizado do município quanto do lado oceânico, foi possível
identificar as diferentes conecções causais do adoecimento presentes nas representações
individuais, dimensionando o alcance delas no tocante aos aspectos que seriam, no olhar
biomédico, exteriores ao corpo, ou biológicos, mas que são interpretadas de forma integrada ao
processo fisiológico da patologia identificada pelos atores. O que se constatou no campo foi que,
mesmo com a formação biomédica, o olhar dos terapeutas do lado urbano sobre as doenças, tanto
nos sistemas públicos quanto privados, passa pela dimensão das condições biofísicas do
ambiente, pelas relações sociais que envolvem a vida do doente, e os impactos psicológicos e
fisiológicos que a vida moderna exerce na corporalidade. As respostas seguiram na direção da
integração dessas dimensões, que foram historicamente sendo descartadas pela medicina
biomédica, mas que vêm sendo retomadas no processo de diagnóstico das doenças atuais pelos
atores das diversas especialidades, no movimento denominado de sincretismo terapêutico (LUZ
2005), e que é demonstrado pela abertura cognitiva dos terapeutas do lado urbanizado de
Ilhabela.
É importante ressaltar que a complexidade urbana expressa a dinâmica das relações entre
os diferentes segmentos sociais. Ampliando esse pensamento, é possível considerar que as
contradições sociais presentes em Ilhabela também geram novas exigências com relação às
terapias, obrigando os terapeutas a se atualizarem a todo o momento, já que os sintomas e as
sensações vão nascendo no processo de criação das estratégias de sobrevivência no interior das
relações socioambientais locais.
Nesse caso, tanto Minayo (2008) como Luz (2005) chamam atenção para a importância da
dimensão simbólica e afetiva que faz parte das individualidades e dos seus universos de
problemas e formas de tratá-los. Ilhabela cria e reproduz assim, um ambiente sui generis. O fato
de ser um arquipélago também pode ser relacionado às especificidades do município já citadas,
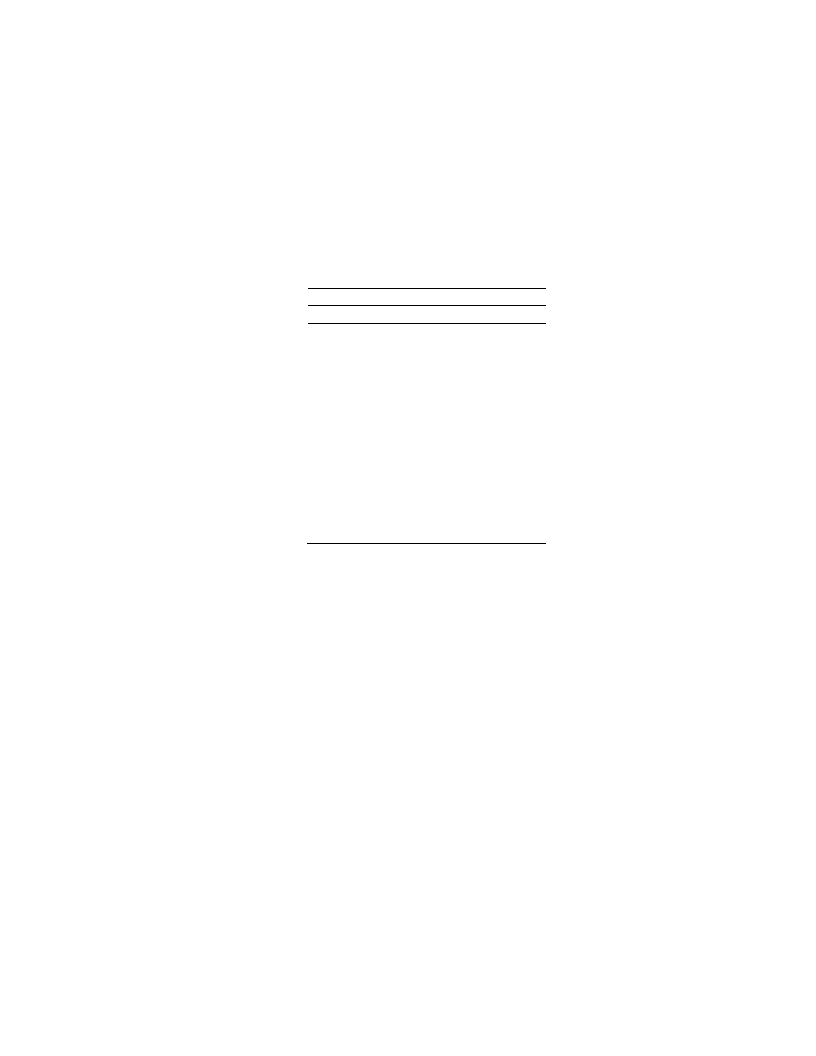
129
ligadas a duas realidades existentes que se articulam no mesmo ambiente, porém de maneira
heterogênea, híbrida, conivente e conflituosa, ou seja, a realidade do morador do lado urbanizado
se articulando à das comunidades caiçaras, que vivem em diferentes condições socioambientais e
simbólicas, que se entrecruzam e se misturam, apresentando casos de doenças muitas vezes
similares:
Tabela 8: Doenças mais Citadas nas Entrevistas de Campo
Doenças
Urbano
Caiçara
Alcoolismo
Alcoolismo
Alergia
Ataxias
Cervicalgia
Crise de pânico
Depressão
Depressão
Diabetes
Diabetes
Diarréia
Diarréia
Dor nas costas Dor de cabeça
Drogas
Epilepsia
Hipertensão Falta de vitaminas
Lombalgia
Gripe
Obesidade
Hipertensão
Respiratórias Mal de Parkson
Tabagismo
Verminose
As doenças manifestadas pelos depoimentos trazem à tona a realidade de um ambiente
altamente transformado pelo projeto de desenvolvimento assumido primeiramente pelos
interesses econômicos da época colonial, tornando-se moderna por uma relação de imposição,
apropriação e exploração do seu espaço, ocasionado atualmente pelo setor do turismo, que vem
atraindo um contingente populacional de migrantes de baixa renda para trabalhar como mão de
obra nas construções da infra-estrutura para receber outro contingente populacional mais
abonado. Essas transformações são consequências de processos globais inéditos, que precisam ser
pensados também na esfera da recriação do lugar (ESCOBAR, 2005).
Seu espaço deixou de ser representado como um lugar de desembarque de escravos e de
exploração agrícola desqualificado socialmente, passando a ser um local valorizado pelas suas
paisagens e belezas naturais, atraindo com essa nova imagem um turismo de alto padrão. Todo
seu projeto de urbanização ocorreu em cima dessa recriação do lugar, que vem sendo agora
estimulada para sustentar economicamente o setor do turismo, que é a sua base econômica.
Nesse aspecto, os campos semânticos presentes, tanto na medicina social (epidemiologia,

130
saúde coletiva, medicina sanitarista) como nas ciências humanas e naturais, que relacionam as
doenças aos estilos de vida, aos modos de vida, às condições de vida e à qualidade de vida, se
complementam, pois de acordo com os terapeutas entrevistados, os moradores de Ilhabela estão
sofrendo de doenças que são decorrentes do grande crescimento populacional, dos impactos
socioambientais e da exclusão socioeconômica a que são expostos.
2.5 Considerações
Para dar conta da institucionalização de determinadas práticas e atuações terapêuticas, o
processo de constituição da saúde pública ligada ao Programa Saúde da Família foi reconstituído.
Esse movimento levou a transformação do modelo assistencialista e urgencial de cura vigente no
Brasil até a década de 1990, para um sistema de saúde (o SUS) que, pelo menos em teoria, abarca
outras dimensões que envolvem os processos saúde-doença, tais como a socioambiental, ligada às
condições de vida dos grupos sociais. Realizando a crítica da questão ambiental colocada em
termos econômicos e biofísicos, e entendendo que a degradação ambiental a que Ilhabela vem
sendo submetida cria situações que supostamente levam ao adoecimento, contribui-se também
para a crítica da visão terapêutica voltada para os interesses do mercado, já discutida neste
capítulo.
Em Ilhabela essa história é inserida no interior de uma dimensão maior, formando os
sistemas de saúde que viabilizam a organização da estrutura, representados pelo setor público
(pelos atores que trabalham nas unidades básicas de saúde, CAPS, Pronto-Socorro e Hospital
Mário Covas), pelo setor privado (representado pelos atores que possuem consultórios
particulares de atendimento) e pelo setor popular (representado pela prática presente nas
comunidades de Castelhanos, Figueira, Mansa, Serraria e Bonete, visitadas pela pesquisadora).
As doenças e sofrimentos que atingem os habitantes de Ilhabela revelam tanto aspectos
ligados aos problemas do modo de vida urbano, quanto singularidades decorrentes da enorme
heterogeneidade da natureza humana em sua relação com o ambiente local. As corporalidades
que ali residem sofrem de doenças que advem dos modos de vida degradados pela urbanização
desordenada.
Foram identificadas pelos terapeutas, tanto do lado urbano quanto do lado oceânico,
doenças decorrentes do uso inadequado da água, gerando verminoses e hepatites; decorrentes
também da má alimentação, gerando problemas psicológicos, como ausência de capacidade para

131
resolver problemas, tomar atitudes, sedentarismo e problemas psicológicos atuando como agentes
da hipertensão e do diabetes. Nesse contexto, os horizontes explorados até esse momento
privilegiaram os depoimentos que são relevantes, na medida em que comprovam que dimensões
levantadas pela Sociologia como pertencentes ao mundo moderno, também são encontradas em
suas manifestações locais e contextualizadas.
De acordo com uma das justificativas deste trabalho, isto é, a de que se deve ampliar a
conexão de fatores que envolvem o adoecimento na direção dos desdobramentos das relações
interdisciplinares entre o ambiente e a sociedade, optou-se por partir de textos em clínica médica
para iniciar a interpretação das doenças citadas. Seguindo esse caminho, fez-se o diálogo com a
área médica, pretendendo-se alcançar uma síntese da realidade de Ilhabela que fosse ligada aos
próprios condicionantes socioambientais levantados pelos terapeutas do setor público, do setor
privado e do universo caiçara.
Nesse estudo, ocorreu a percepção de que todas as doenças se interligam de uma forma ou
de outra, ou seja, o alcoolismo pode gerar depressão, ou se origina da depressão, como pode
também gerar a ausência de vitaminas e levar a doenças que são causadas também pela má
alimentação. O sedentarismo leva à depressão, a hipertensão e ao diabetes; a perda de objetivo na
vida e o desafeto podem levar tanto a ansiedades como a crises de pânico.
Em síntese, as causas objetivas e subjetivas das doenças não são determinantes do quadro
patológico de maneira linear, mas entram na rede de múltiplas causalidades que atuam como
forças desequilibrantes do organismo que é ao mesmo tempo biológico, social, cultural e
ambiental, e que quando fragilizado (também por condições objetivas e subjetivas que não se
pode quantificar nem qualificar), manifesta na forma de doença o seu mal estar diante da
realidade vivida.
Sendo assim, a partir do trabalho de campo, pode-se concluir que os terapeutas
entrevistados relacionam a perda da qualidade ambiental e a consequente alteração na vida das
pessoas, às enfermidades mais presentes no município de Ilhabela e buscam soluções, ou
entendem o processo terapêutico e a eficácia de maneiras extremamente diferentes umas das
outras.
As soluções, os procedimentos ou os remédios para os problemas de saúde ligados ao
ambiente serão agora pensados e ampliados pelas diferentes vertentes terapêuticas. Elas
mostrarão que a mente humana cria campos simbólicos extremamente ricos e diversificados, e

132
produzem caminhos terapêuticos que extrapolam a organização funcionalista do conhecimento
científico presente tanto no paradigma biomédico da medicina quanto em visões organicistas da
ecologia. As vertentes terapêuticas são produto de relações intensas com a realidade, ou seja,
estão baseadas no empirismo. O que se pretende salientar é a intensa correlação entre os
diferentes ambientes e a produção dos significados, porém no tocante à contribuição para a
sustentabilidade.
As conexões simbólicas e as práticas de cura remetem a crenças e representações
singulares sobre a realidade, sobre o corpo, sobre o adoecimento e sua origem, assim como sobre
o processo terapêutico em si. São orientadas por conhecimentos e por modos de vida muito
diferentes, contribuindo para o que se constitui como objetivo final desta tese, que é o de tentar
elaborar uma ontologia da pluralidade terapêutica e associá-la à sustentabilidade. Nesse aspecto,
as diferenças culturais e socioambientais devem ser levadas em conta.

133
CAPÍTULO 3
O ADOECER NAS DIFERENTES VERTENTES TERAPÊUTICAS:
A RIQUEZA DAS ANALOGIAS
Neste capítulo, as reflexões acerca das vertentes terapêuticas pesquisadas em Ilhabela
serão ampliadas. Os discursos dos entrevistados revelarão as heterogêneas visões epistemológicas
e ontológicas dos saberes em saúde, ou seja, as diferentes formas de cada ator articular o
conhecimento adquirido à sua prática de curar.
As vertentes terapêuticas são caracterizadas nesta tese como as diferentes linhas
epistemológicas escolhidas pelos entrevistados. Elas se diferenciam em aspectos essenciais da
compreensão dos processos saúde-doença, e se movimentam no interior de um amplo campo
analógico que emerge das heterogêneas relações entre o ser-humano e a natureza, buscando
soluções e metodologias das mais variadas para se alcançar a eficácia do tratamento. Suas bases
científicas e seu significado apenas serão desenvolvidos no tocante às relações amplas com o
ambiente construído.
Sendo assim, o pensamento analógico é identificado por Godelier (1973) como uma antiga
forma do ser humano interpretar o mundo que o rodeia, estando presente em diversas culturas e
épocas. É uma representação da realidade que abre o pensamento para novas elaborações, com
um discurso que não é uníssono, ou seja, não segue um único caminho de raciocínio sobre a
relação causal existente entre as pessoas, as coisas e os seres. Oliveira (2007) salienta que apesar
de não ser uníssono, é um pensamento orientado, com sentido próprio.
Segundo Godelier (1973), a analogia é uma relação de equivalências. A equivalência pode
ocorrer entre objetos e seres, entre espíritos e corpos, entre seres e cosmos, ou seja, qualquer
combinação é possível, no interior de um campo cognitivo criado pelo contexto simbólico, que
elege vários elementos que dão significados para as experiências (Godelier, 1973). Nas palavras
do autor:
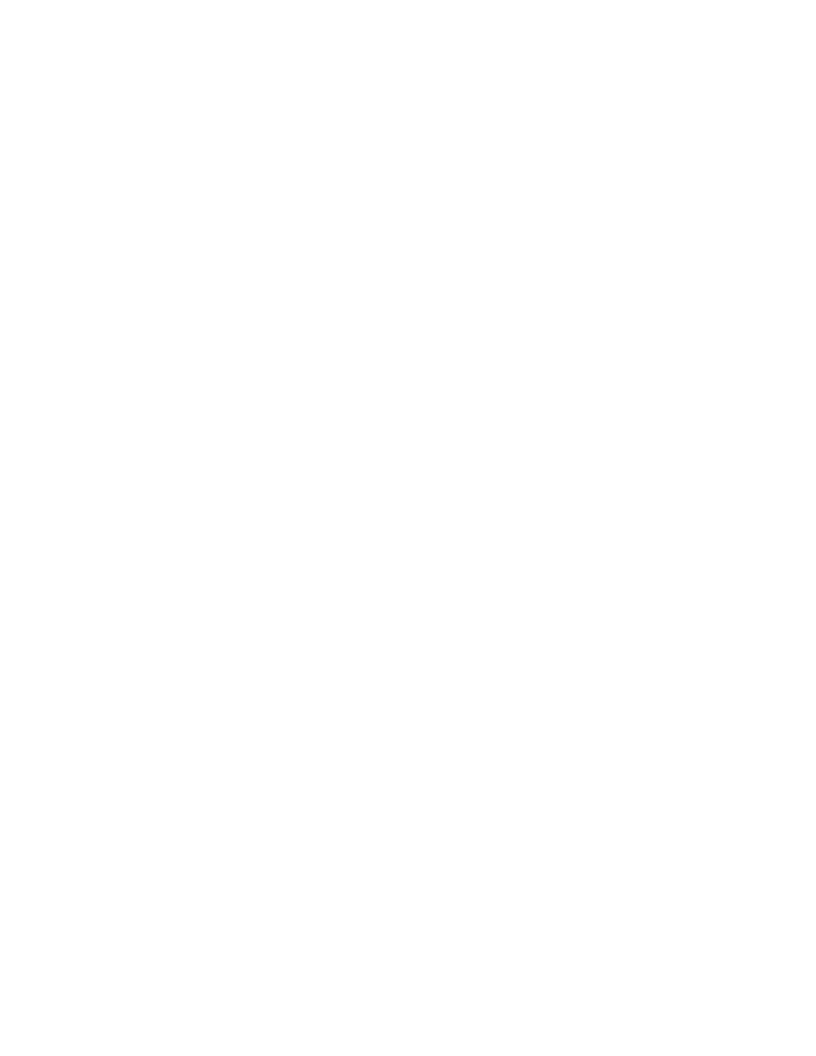
134
De facto, é necessário voltar a lembrar que, pensar por analogia é apreender
uma certa relação de equivalência entre realidades materiais ou sociais
distintas ou, num grau mais abstrato, relações de equivalência entre relações,
etc. Ora, não é apenas o exercício do pensamento abstrato que supõe a
apreensão de relações de equivalência. Para que haja percepção dos objetos e
das formas, ou, a um nível mais complexo, deslocação no espaço e
comportamento sensorial e motor, é necessário, de certa maneira, que as
relações de equivalência sejam apercebidas e controladas. Para o pensamento,
o fundamento da possibilidade de se representar relações de equivalência situa-
se para além do próprio pensamento, nas propriedades das formas complexas
de organização da matéria viva, no sistema nervoso e no cérebro (GODELIER,
1973: 366).
Nesta tese, o conceito de analogia será usado como um meio de se analisar as diferentes
vertentes terapêuticas pesquisadas em Ilhabela, tanto do ponto de vista da representação dos
atores quanto das linhas de pensamento que eles representam.
A analogia cria um mundo rico que pode ser pensado como um texto, suscetível a
inúmeras leituras, revelando a todo o momento a pluralidade dos significados. Assim como o
corpo, como a pessoa, a natureza também é composta de símbolos que são interpretados pelas
mais variadas culturas, articulando infinitas possibilidades de conexões (MANSUR, 2000). Dessa
maneira, o ambiente é ampliado neste terceiro capítulo, por ser visto no interior das diferentes
relações entre a natureza e a cultura, e construído a partir da pluralidade das articulações
realizadas pelo processo terapêutico.
Existem infinitos campos de relações analógicas criados por inúmeras culturas, referentes
à construção do universo (da lua, do sol, das estrelas, etc.), à explicação da ação das forças da
natureza (como tempestades, secas, etc.), à explicação de sintomas físicos, de brigas entre
familiares, de perda do cultivo, tempestades, adultério, etc. Em relação ao adoecimento humano,
o pensamento analógico ajuda a compreender o ser como um espaço onde cada cultura imprime
sua interpretação e seu relacionamento (PERES, 2003; OLIVEIRA, 2007).
Partindo dessa premissa, todas as vertentes terapêuticas são consideradas como portadoras
de uma capacidade analógica, pois tudo depende da heterogeneidade dos alcances cognitivos, que
realizam conexões que vão desde a esfera biológica privilegiada pela biomedicina, à esfera
quântica delineada pelas medicinas vibracionais, e à esfera das relações com a sobrenaturalidade e
com o ecossistema revelada pelos caiçaras. Nessa compreensão, todas se relacionam com o

135
ambiente de uma forma singular e encaminham o pensamento analógico a vários exercícios
oriundos das diferentes relações do ser humano com a natureza.
É preciso ressaltar que nenhum dos sistemas de saúde pesquisados em Ilhabela possui
uma única linha de pensamento ou forma de atuação, todos são plurais e são também recheados
de inter-relações. Existe um pressuposto nas ciências humanas (Lévi-Strauss, 1996; Luz, 2005;
Oliveira, 2007; Minayo, 2008), assim como na sociologia ambiental (Hannigan, 1997; Buttel,
2001), segundo o qual os fenômenos só possuem coerência ou sentido no interior das relações
construídas ao seu redor, podendo não serem compreendidos se inseridos em outro contexto, ou
em outra realidade.
Desse modo, o que se pretende ao abordar as diferenças terapêuticas pelo conceito de
analogia, é tornar evidentes as relações que permitam o amadurecimento da discussão acerca da
pluralidade cognitiva relacionando-a à sustentabilidade, sem a pretensão de dar conta da
totalidade dos saberes estudados. Essa abordagem mostrará que as relações entre a natureza e a
cultura criam intervenções que percorrem diferentes campos do universo imaginal (OLIVEIRA,
2007), e resultam em propostas reais, baseadas em experiências empíricas, para cuidar das
doenças humanas abrindo precedentes para se questionar a conservação ambiental, pela
diversidade de relações tecidas com o mundo.
3.1 As Analogias do Lado Urbanizado
Foi possível perceber durante o trabalho de campo, que a maioria dos entrevistados do
lado urbanizado possuía qualificação em várias áreas que se complementavam, se opunham,
dialogavam e criavam diversas alternativas de apropriação do ambiente na proposta terapêutica.
Nesse contexto, as entrevistas foram analisadas, primeiramente, pela concepção de doenças dos
terapeutas do lado urbanizado, questionada em sua forma abstrata, ou seja, perguntou-se a todos
os entrevistados de forma genérica: O que vocês entendem por doença? O que significa o
adoecer, pela experiência que vocês carregam? A idéia aqui foi explorar o alcance analógico
realizado pelos diferentes atores, ou seja, que elementos da realidade que os circunda, e do
conhecimento epistemológico adquirido foram selecionados por eles para a elaboração do
significado singular do adoecimento.

136
Abaixo, segue a interpretação de doença da médica infectologista que atua como clínica
geral do PSF da Armação, em que ela explicita seu conceito de acordo com a realidade vivida no
seu cotidiano da saúde pública:
Na verdade é um problema que cada vez mais assola as pessoas, problemas
básicos de violência, de desafeto, uma série de coisas, de desapego espiritual,
as pessoas não têm mais uma razão de viver, você só tem impacto negativo,
então as pessoas têm tendência a se deprimir. Fora que o erro nutricional da
população como um todo, faz com que elas não consigam mais ter
mecanismos, recursos de defesa dentro delas mesmas. Você substitui
alimentação de verduras, legumes, fruta, você tem uma baixa dessas vitaminas
todas e você não consegue mais nem ter um transmissor no cérebro que
funcione pra você dar conta dos seus problemas (Entrevista à autora, T 02).
Seu depoimento exprime um diagnóstico fundamentado nas consequências das péssimas
condições de vida, à exposição das pessoas a situações de violência geradas pela pobreza e pela
infelicidade, assim como a referência aos péssimos hábitos alimentares, que dificultariam o
processo cognitivo necessário para enfrentar os infortúnios da vida diária.
Todas estas dimensões foram vistas como esferas que atuam conjuntamente no quadro do
adoecimento. Zémpléni (um dos representantes da Antropologia da Doença francesa) constrói sua
indagação sobre o adoecer mostrando que a noção ocidental engloba três esferas distintas, quando
retoma da Medical Anthropology (Antropologia Americana) a seguinte tríade: illness- disease-
sickness. A illness compreende a sensação subjetiva individual, a representação do mal-estar, a
indisposição; a disease compreende os sintomas biofísicos identificados e diagnosticados pelo
médico, comprovados, por exemplo, em laboratório (doença como estado), remete à dimensão
biológica do quadro. Já a sickness compreende a imagem do doente frente à sociedade (o
estigma), que nos remete à sua dimensão cultural. Zémpléni reconhece que a partir dos anos
1970, a Antropologia Americana aborda a relação de interação entre estes três âmbitos da
realidade das doenças, e reconhece ainda que o tratamento destas questões deva ser inserido no
contexto sociocultural, onde sickness é visto como um processo dinâmico e heterogêneo
(ZÉMPLÉNI, 1994).
Devido à pluralidade de causas reconhecidas nos inúmeros sistemas de cura,
Zémpléni sugeriu uma tipologia que relaciona as causas às respectivas categorias
identificadas: doença (representação), causalidade (mecanismo instrumental, o como se
adoece), agente (causa eficiente, o quem ou qual, pode tomar-se como exemplo a doença
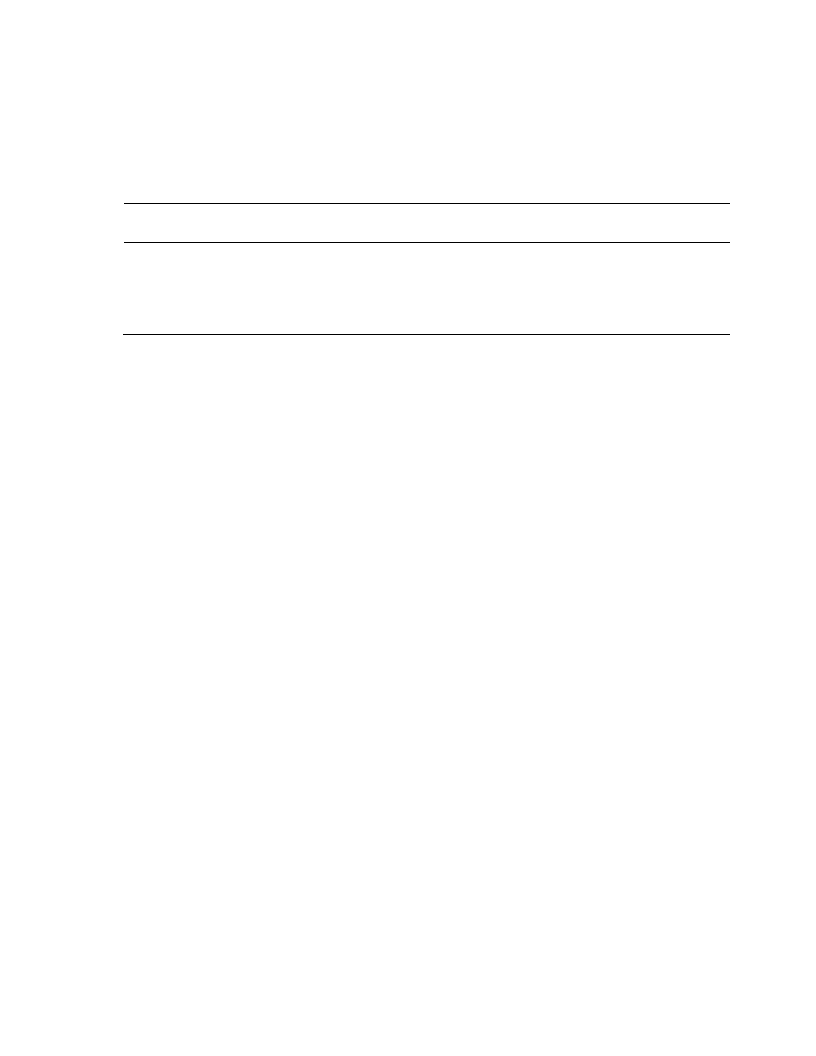
137
causada por um vírus, uma bactéria, ou por forças espirituais) e a origem (causa última ou
final, o porquê, ou as razões conjunturais do adoecer) (ZÉMPLÉNI, 1994: 143).
Tabela 9: As Diferentes Causalidades das Doenças
Doença
Qual doença?
Sintomas
Taxonomia
Terminologias
Correntes
Fonte: Zémpléni (1994), p. 143.
Causa
Como?
Meio
Mecanismo
Causa instrumental
(imediata)
Agente
Quem ou qual?
Força eficaz
Causa eficiente
Origem
Por quê?
Acontecimentos
Conjunturais
Causa última (ou final)
No momento em que os terapeutas elaboram o diagnóstico de uma doença, eles se
baseiam em relações causais que se diferenciam de acordo com os elementos presentes na tabela
9, privilegiados pela interpretação do ator, que é singular e referente ao (s) conhecimento (s) ou a
cultura que ele representa.
De acordo com o esquema apresentado, é possível pressupor que o paradigma biomédico
interioriza sua visão de doença, ao se preocupar em analisar os processos internos ao organismo,
ou seja, os comos. Os porquês da doença e a atuação de agentes ocasionais que envolvem o doente
são considerados como elementos contingentes, que dependem das circunstâncias para serem
evidenciados no diagnóstico. Nas medicinas vibracionais, tais como a homeopatia, e nas orientais,
tais como a acupuntura e nos sistemas de cura populares, os porquês e a conjuntura são os
principais aspectos evidenciados no diagnóstico. O homeopata ou o acupunturista, por exemplo, vê
os mecanismos instrumentais (os comos) como manifestação física dos porquês e da conjuntura,
realizando sua supressão na articulação das duas últimas esferas. Entretanto, é preciso ressaltar que
os dois saberes são fundamentados em filosofias e procedimentos totalmente diferentes.
Para Zémpléni (1994), nas sociedades chamadas por ele de tradicionais, a doença também
é vista de maneira exteriorizante, referida à uma vasta gama de causas que dizem respeito à
relação do doente com seu meio social, objetivo e subjetivo. Dessa forma, supõe-se que na
medicina biomédica o interesse se localiza na disease, enquanto que nos sistemas populares e
alternativos é privilegiado o agente (força eficaz) e a origem (conjuntural) da doença, ao
privilegiar o illness e o sickness na sua terapêutica.

138
Zémpléni remete a questão da causalidade dividindo a doença em duas concepções
distintas. A primeira concepção a vê como um estado, para não dizer um ser, qualitativamente
diferente da saúde (ZÉMPLÉNI, 1994: 146), é referente ao modelo biomédico, que vê nos
sintomas a essência das doenças. A outra concepção é dinamista e funcional que reconhece uma
diferença de grau entre saúde e doença (ZÉMPLÉNI, 1994: 146) pode se referir, por exemplo, à
homeopatia, ao atribuir à doença a uma alteração da energia vital no interior de um processo, que
do mesmo modo que produziu a doença, sua reversão ou continuação poderá produzir a saúde
(PERES, 2003).
Nesse sentido, Zémpléni (1994) identificou na antropologia a existência de duas
elaborações causais presentes nas interpretações sobre o adoecimento da sociedade ocidental. A
primeira ele denomina de determinismo biunívoco, ou seja, que concebe a doença como um
fenômeno que é o efeito de uma causa, única ou diversa, anterior (relação linear), bastante
presente no paradigma da medicina biomédica, onde a doença é representada como o efeito de
uma causa, ou de várias causas. A outra concepção ele chama de conjunção constante, em que o
adoecer é visto como um momento de fragilidade (dos vários fatores que compõem o estado de
saúde) e como um processo dinâmico, heterogêneo. Para ele, a conjunção constante está presente
no interior da elaboração causal das chamadas sociedades tradicionais:
O reumatismo agudo de meu tio, a perda do nosso gado, minhas dores de barriga, o
aborto de minha tia, meu revés profissional ou sentimental, a morte de meu primo, meus
pensamentos bizarros, todos esses fatos podem repercutir uns nos outros como efeito do
mesmo encadeamento causal ou como golpes sofridos pela integridade do próprio corpo
(ZÉMPLÉNI, 1994: 140).
O trecho de Zémpléni demonstra que, em algumas interpretações, pode acontecer o
mesmo encadeamento causal com realidades intrinsecamente diferentes, isto é, a essência da
doença se transforma e seus efeitos já não são os mesmos, nem suas causas (ZÉMPLÉNI, 1994,
p. 146-147). Os porquês e o contexto são os principais aspectos evidenciados na relação causal
citada.
Pode-se considerar pela análise antropológica que a fala da médica infectologista expressa
a idéia de doença dentro de uma rede causal mais ampla, denominada de conjunção constante
(ZÉMPLÉNI, 1994), uma vez que ela elenca um campo analógico em que as dimensões objetivas
e subjetivas do sofrimento estão ligadas ao contexto da vida dos doentes por ela atendidos
(sickness).

139
A seguir, o pensamento do terapeuta que trabalha como homeopata no setor privado, e
como pediatra no setor público, que também expressa essa linha de interpretação da doença, fruto
da intersecção da sua formação acadêmica (biomédica e alternativa) e da sua posição dual entre
os setores que determinam sua atuação pelas diferentes camadas sociais:
Eu acho que é um desequilíbrio interno que a pessoa tem. É claro que se o cara dá uma
topada em uma pedra é uma doença, agora tem gente que faz doença por uma angústia,
uns motivos, têm coisa que a gente não sabe e nunca vai entender, mas tem algum
desequilíbrio dentro daquela pessoa que favorece o desenvolvimento de uma determinada
patologia. E aí a medicina alternativa cai pra esse lado. Se eu for um alopata extremista,
então eu estou falando bobagem. Mas eu acredito muito nisso. A gente vê o perfil da
pessoa, condições de habitação, alimentação, a família, tem muita coisa aí que vai
interferir e vai fazer a pessoa ficar doente mais fácil (Entrevista à autora, T 04).
Este médico faz a menção a respeito do conflito existente entre dois paradigmas da
medicina, o homeopático e o biomédico, e sendo ele representante das duas abordagens, precisa
construir uma interpretação que dê conta da união das duas visões, pois na prática terapêutica
elas contribuem para uma relação de equivalência ampliada, que associa as dimensões biológicas,
ambientais e psicológicas como agentes causadores o adoecimento. Para ele, a doença é
decorrente do que ele chama de desequilíbrio interno, alterado por consequências externas, como
as condições de vida, de habitação, mostrando novamente uma preocupação com o contexto da
vida do doente.
Na dimensão epistemológica, a homeopatia foi construída como uma vertente que pensa o
adoecer humano como uma expressão da necessidade do ser humano auto-superar-se ou
ressituar-se nas relações sociais, ambientais e nas dimensões interiores. Ela vê o corpo como
metáfora das relações que os indivíduos desenvolvem com o mundo (consciente e inconsciente/
interior e exterior) e vê o biológico como manifestação de uma conjunção de causalidades que se
transformam, do mesmo modo que as próprias relações sociais, configurando padrões energéticos
próprios. A saúde é vista como a construção de um processo que leva não só à eliminação dos
sintomas, mas à reintegração do ser, pensado como totalidade multidimensional (PERES, 2003,
2005).
Mesmo diante da demonstração científica em relação à contaminação microbiana, virótica
ou bacteriana das doenças, a Homeopatia reafirma que estes elementos não são as causas
primeiras, e sim a expressão delas e que, as verdadeiras causas seriam imensuráveis, pois se
localizariam em dimensões tão íntimas do doente, que nem mesmo ele saberia identificar.

140
Diagnosticando o fenômeno do adoecimento como metafísico, o homeopata percebe que relações
de todos os âmbitos podem proporcionar um ambiente corpóreo favorável ao contágio dos
agentes biológicos nocivos evidenciados pela medicina biomédica, configurando o quadro de
desequilíbrio (LUZ, 1988; PERES, 2003, 2004, 2005).
A classificação universal das doenças, reconhecida pelo modelo biomédico, é vista pela
homeopatia como uma conjunção de sintomas que manifestam a desordem do indivíduo, visto na
sua totalidade, advinda de causas que não são fixas, nem exatas; elas aparecem durante o
sofrimento e se transformam de acordo com a maneira da pessoa vivenciar seus problemas. A
situação do enfermo é vista como uma metáfora das suas relações interiores e exteriores
(HAHNEMANN, 1984; LUZ, 1988; NOVAES, 1989; PERES, 2005), como demonstrou o
depoimento do homeopata entrevistado em Ilhabela.
Nessa perspectiva, a produção dos medicamentos homeopáticos é realizada de acordo
com sua filosofia, tendo por base diluições e potencializações (freqüências atribuídas) de
matérias-primas advindas da natureza, em que a água é utilizada como suporte armazenador da
energia que seria equivalente à da pessoa no seu estado saudável. Estas diluições prefiguram as
propriedades vibracionais dos remédios homeopáticos, que atuariam no sentido de acelerar o
processo da cura natural, pela lei da semelhança (HAHNEMANN, 1984; ROSEMBAUM, 1996).
Nesse contexto, os dois depoimentos até então citados vêm de médicos que atendem no
setor público, portanto convivem com os problemas de saúde manifestados por pessoas de
segmentos menos favorecidos, excluídas socialmente, que vivem em condições ambientais
também degradantes. Isto quer dizer que esses terapeutas tratam de pessoas que vivem em
situações de risco, sem qualidade de vida e sem qualidade ambiental, expostas às situações de
violência, desemprego e perda de identidade. Essa realidade de degradação socioambiental foi
expressa no capítulo anterior, no caso dos caiçaras e dos migrantes que sofrem atualmente as
consequências da urbanização excludente em Ilhabela, e se constituem como o público alvo do
atendimento no PSF e no CAPS. A tristeza expressa por esses grupos sociais nas consultas
médicas foi uma evidência constatada nas entrevistas com os terapeutas do setor público, e revela
uma relação não saudável com a natureza, manifestada na sua dimensão micro a partir do
ambiente local, pelos problemas de saúde mais recorrentes no cotidiano desses médicos, que no
caso foi expresso pela médica infectologista de forma generalizada como a perda da razão de
viver.

141
No próximo depoimento, a médica que atende como clínica geral no PSF e como
acupunturista no setor privado, expõe sua opinião exaltando a supremacia do emocional, da esfera
psicológica associada à dimensão orgânica. Ela traz à tona a questão da educação em saúde, como
uma maneira das pessoas prevenirem o adoecimento:
Eu ponho as nossas emoções em primeiro lugar. Eu acho que aqui se adoece muito
mesmo, porque as pessoas não sabem como levar os problemas, ou como resolver os
problemas pessoais, de moradia, porque com todo mundo que a gente conversa, acaba
vendo que a doença tem fundo psicológico... Eu acho que a doença é uma somatória de
vários fatores... Não se oferece à população uma oportunidade para elas colocarem os
problemas para fora, e isso tudo, eu acho que vai fazendo com que a pessoa adoeça.
Lógico que tem o fator orgânico, o vírus, a bactéria, coisa e tal, mas é uma constatação
muito grande que se essa pessoa, a família, tivesse uma assistência psicológica boa, e
tivesse por outro lado um bem-estar na questão do lazer, da educação, do conhecimento
sobre essas coisas, elas adoeceriam menos (Entrevista à autora, T 03).
A terapeuta entrevistada evidencia que as duas formações médicas levam-na a pensar o
adoecimento como uma forma da corporalidade colocar as emoções para fora. Assim como o
homeopata citado, ela também associa os conhecimentos adquiridos em acupuntura e em clínica
geral, associando-os a sua experiência empírica, para construir a representação do que acredita
ser o adoecimento.
Nessa perspectiva, para entender os princípios gerais da acupuntura é necessário explorar
um pouco do pensamento oriental, que inclui um dos mais antigos métodos terapêuticos,
composto por uma análise rica em percepções da natureza, levando o raciocínio aos fluxos de
comunicação energética do ser ao corpo, e dessa totalidade com o universo. A teoria chinesa da
energia fundamenta-se nas relações entre o yin e o yang, que são pólos opostos e complementares
de energia que caracterizam as relações abrangentes entre os elementos existentes na natureza,
isto é, o equilíbrio e o desequilíbrio, o homem e a mulher, as mudanças de estações, o quente e o
frio, os nascimentos e as mortes, etc. (PERES, 2003; DANTAS et al, 2006).
Em relação ao adoecer, quando esses pólos estão em equilíbrio, os organismos estão
saudáveis. Mas quando há predominância de um pólo sobre o outro, o organismo se desequilibra,
às vezes, inteiramente (lê-se organismo no pensamento chinês de forma análoga ao ser
vivo/natureza/universo). Nesta relação existe uma força reguladora denominada Tao (lei da
natureza), que busca o equilíbrio entre o yin e o yang nos fenômenos do mundo, sendo que o

142
momento do desequilíbrio, contudo, pode ser interpretado como a ação desta força no sentido da
restauração da ordem (PERES, 2003; DANTAS et al, 2006).
É importante ressaltar o caráter universalizante das teorias chinesas, no que se refere à
relação de equivalências relativas aos aspectos micro e macro, ou seja, elas servem tanto para o
corpo e o ser individual, como para a natureza, para o mundo, para o universo. Quando se refere,
então, a alguma desarmonia, a interpretação recobre tanto um microcosmo quanto um
macrocosmo, pois corpo e natureza se relacionam diretamente (um faz parte do outro), o que
ocorre em um elemento repercute na totalidade e vice-versa.
Em algum momento das investigações, os chineses perceberam que pressionando ou
perfurando alguns pontos no corpo, causavam sensações de analgesia e efeitos terapêuticos
benéficos. As descobertas desenvolveram, sucessivamente, a vertente denominada acupuntura,
portando uma concepção que interfere no funcionamento dos órgãos vitais internos pela
manipulação da energia vital Ch’i, que circularia pelos meridianos do corpo, interligando os
órgãos e animando as funções vitais. A proposta da acupuntura é restaurar o equilíbrio global
estimulando ou diminuindo o fluxo de circulação de Ch’i; da mesma maneira do Tao, ela
reequilibra o indivíduo ao ritmo e fluxo do próprio pulsar da natureza. Devido a esta forma de
operar, o acupunturista não se limita às reclamações localizadas dos pacientes, ele procura
perceber o estado do fluxo energético no corpo do paciente, ligado ao ambiente onde ele vive
para interferir em sua restauração (PERES, 2003).
No caso da médica entrevistada em Ilhabela, o fato de a mesma possuir duas formações
diferentes se torna interessante, pois ela incorpora essa visão da medicina chinesa associada ao
seu conhecimento clínico das doenças para interpretar os problemas vivenciados pelos segmentos
menos favorecidos por ela atendidos no PSF. Para a entrevistada, o Ch’i é uma energia vital que
nutre a alma e está impregnada no ambiente. Os seres vivos se encontram em uma realidade cheia
de vibrações que atenuam ou prejudicam o pleno movimento do Ch’i, como por exemplo, nos
ambientes contaminados, violentos, sujos, degradados, ou também em locais onde as ondas dos
televisores, dos rádios ou dos demais aparelhos eletrônicos exercem sutilmente um efeito
prejudicial sobre a saúde das pessoas, interferindo assim no fluxo dessas energias.
Para Dantas et al (2006), fatores denominados de endógenos, tais como mágoa, tristeza e
raiva, assim como os exógenos, representados pelo frio, vento, secura, entre outros, tais como
problemas de origem nutricional, sedentarismo e uso de álcool, podem contribuir para o
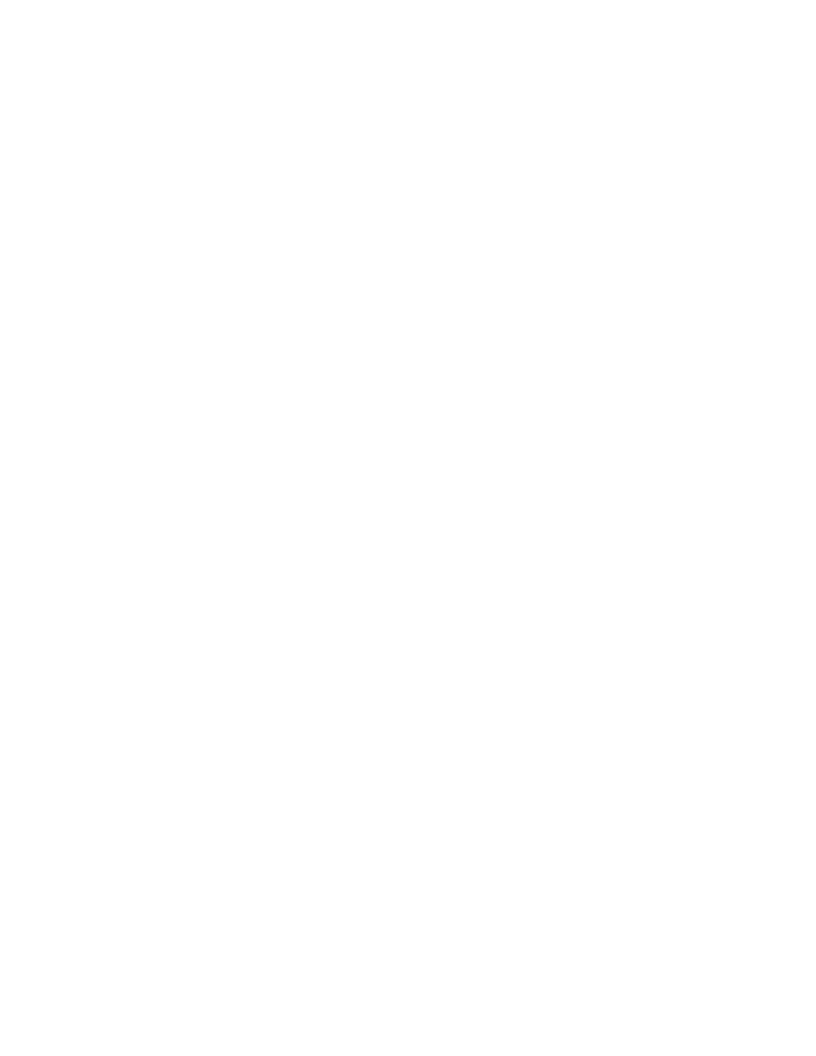
143
desequilíbrio entre o yin e o yang. De acordo com os autores, sentimentos ruins como a raiva, o
ódio e o nervosismo, geram uma preponderância do yang no organismo, estimulando o
aparecimento de doenças como hipertensão arterial e acidentes vasculares cerebrais (AVC). Já o
excesso de medo, por exemplo, é uma emoção yin que pode ocasionar a depressão e infartos do
miocárdio. Nesses casos, o médico acupunturista necessita durante suas consultas entender a
história de vida do paciente, para refletir sobre a organização dos padrões das energias na
manifestação das enfermidades (DANTAS et al, 2006).
Desse modo, o pensamento oriental exerceu uma grande influência na visão de doença da
entrevistada, pois ela ressaltou na entrevista que ele foi crucial para que ela percebesse a
importância de outras dimensões para se interpretar o adoecimento para além das suas bases
biológicas.
Na área da psicologia e da psiquiatria, as falas ressaltam a primazia do psíquico, ou da
alma como fator determinante da doença física, privilegiando a origem (categoria presente na
visão antropológica) que é o contexto da pessoa, o universo representado pelos seus problemas,
ou pelo sofrimento psíquico, ocasionando o desequilíbrio somático (illness). Na seqüência, segue
o depoimento da psicóloga do CAPS, que vê o fenômeno do adoecer como um aspecto das
diversas esferas que compõem a existência humana:
Eu acho que o ser humano nasce doente, a doença é da alma... a gente tem as várias
ciências desenvolvidas aí, a gente tem a genética, e tem as pré-disposições às
determinadas doenças, na verdade qualquer doença física é produto de um desequilíbrio
emocional. Por que isso acontece... é por falta de amor, pode ser muito amplo isso que eu
estou falando... Eu acho que as doenças têm nomes, é culpa, raiva, medo, isso pra mim é
doença, o restante, as somatizações físicas, elas vêm por conta disso que está enraizado
no ser humano. E tem as diferenças de pessoa pra pessoa, de almas pra almas, que vão
evoluindo, vão lutando, eu creio que tenha uma hereditariedade, toda formação, até uma
gestação, você capta, nós somos todos atemporais, a gente vem de gerações em gerações
transportando doenças, saúde, virtudes... O ser humano é doente, mas ele tem o lado
saudável dele que está lá, deve estar latente, se ele realmente quiser e dependendo do
meio em que ele está, da família, da rede social de apoio que ele tem, de índole, caráter.
Então eu acho que a doença é uma coisa que está instalada na espécie humana, falando
de nós, não dos animais. Quando uma pessoa tem, em termos clínicos, um superego mais
rígido, valores, moral, foi educado de uma maneira extremamente rígida, muitas vezes
em situações de dificuldades financeiras, ou uma vida precária, então a pessoa
desenvolve aquela personalidade, e isso pode desenvolver gastrites, problemas
psicossomáticos, casos de obsessões. Eu sempre brinco que o brasileiro é muito histérico,
tira a roupa e vai pra avenida (risos). Ele chora, faz teatro, então é um mecanismo de
defesa de uma certa capa social muito grande no nosso país, mas que não deixa de ter por
trás disso a depressão, eu acho que a depressão sempre está presente, ela é a base de tudo
(Entrevista à autora, T 06).

144
A psicóloga coloca o ambiente, a educação e as relações sociais como fatores que também
atuam na configuração dos sintomas das doenças, uma vez que fazem parte da constituição da
individualidade. Nesse processo, o aspecto biológico garante a singularidade das espécies,
transportando e reproduzindo padrões de existência, de sociabilidade, de personalidade, assim
como de saúde e doença, mas ela dá destaque à depressão como pano de fundo para várias
atitudes e problemas enfrentados pelos brasileiros.
Nesse aspecto, Barbosa (2007) salienta que a depressão vem sendo dimensionada nas
últimas décadas pelos diversos profissionais que a tratam, a partir do seu caráter social, e afirma
que as causas e as ações terapêuticas de âmbito exclusivamente biológico, de certa forma se
inviabilizam diante de questões que se abrem para o ambiente vivenciado. Nesse caso, a autora
aponta que as questões pessoais, psíquicas, que são relevantes enquanto parte da dimensão social,
e afirma que não se alcançará um resultado terapêutico positivo que abarque a maioria da
população, se esse problema for tratado apenas no âmbito das instituições de saúde.
A psiquiatra do CAPS também concorda com a visão acima, que remete o adoecer às
somatizações físicas dos problemas emocionais:
Na minha concepção, eu lhe digo que a doença é a manifestação somática do psíquico,
do mental, do emocional, é algo que é uma maneira de mostrar alguma coisa que não está
bem dentro de si. Então ou a pessoa adoece fisicamente, ou mentalmente, por causa das
tensões internas, e por algum lugar essa energia vai ter que sair. Então sai através dos
órgãos, que pode ser coração, aparelhos circulatórios, fígado, estômago, esses órgãos
adoecem e da mesma maneira o sistema nervoso e o cérebro também adoecem. Minha
concepção é essa, o psicossomático. Até mesmo o câncer, isso tudo é assim uma
consequência da minha vivência, são 40 anos que eu acompanho pacientes psiquiátricos.
E cada vez mais isso aí fica claro pra mim, que muita gente, pacientes que falam, ah eu
tenho medo de ter câncer, e fica com aquela neurose de que vai ter um câncer, até que
consegue fazer o câncer. Já vi vários casos. Eu acho que a coisa mental e psíquica é tudo,
é o básico (Entrevista à autora, T 05).
A doença está sendo vista pela médica acima, que possui a formação biomédica
psiquiátrica, também para além das determinações fisiológicas, pois estas foram situadas em
segundo plano, como reações que são consequência de insatisfações internas. Pode-se até
interpretar como linear esse depoimento, pois a abordagem psicossomática pressupõe que o mal
estar leve diretamente à produção dos sintomas, em outras palavras, primeiro vem o sofrimento
psíquico, depois vem a doença orgânica.

145
A esse respeito, Durkheim (1970) vem mostrando há muito tempo que a questão da
relação entre a mente e a matéria é mais complexa do que as relações orgânicas desenvolvidas
pela ciência acadêmica, que simplifica fenômenos como memória, idéias, opiniões, associações
psíquicas a um circuito de neurônios. O autor vai mais longe, afirmando que para esses
fenômenos da consciência adquirirem tal capacidade de abstração intelectual, por exemplo "é
preciso ainda que tenham existência relativamente independente de seu substrato material. De
outra forma, aqueles estados de consciência reunir-se-iam, assim como nascem e renascem, em
função de afinidades puramente físicas” (DURKHEIM, 1970: 23).
A partir da leitura de Durkheim (1970), nota-se que ele quis ressaltar nesse fragmento
textual a relativa independência da consciência humana no tocante a sua dimensão material, ou
seja, os sentimentos, por exemplo, não estariam vinculados apenas às reações das células
nervosas, eles existiriam antes disso, como consequência dos acontecimentos da vida social e
íntima de cada ser humano. Assim, a formação da consciência individual é vista por Durkheim
(1970) como decorrente de forças ativas que estão na sociedade, constituída nas representações
individuais e coletivas. Como a relação entre as pessoas não é algo possível de ser calculado com
exatidão e nem é homogênea, pressupõe-se que as representações individuais possuam a
característica de serem plurais, divergentes, semelhantes, concorrentes, paralelas. Porém, as
representações coletivas, para o autor, contêm certa exterioridade em relação às individualidades,
pois elas são erigidas no encontro das consciências individuais, sendo frutos da interseção dessas
singularidades.
Dessa maneira, Durkheim (1970) insiste na unidade entre corpo e espírito, entre a matéria
e os elementos naturais e biológicos da qual ela faz parte e os elementos subjetivos, complexos,
sociais, que desencadeiam a construção das mais variadas representações de doenças, como as
citadas pelos terapeutas entrevistados.
A análise prossegue com a interpretação de doença do terapeuta corporal que atende no
setor privado de Ilhabela, atendendo dessa forma segmentos sociais economicamente mais
favorecidos. O método rolfing é conceituado pelo terapeuta entrevistado como uma terapia
corporal que visa reintegrar o indivíduo à sua estrutura física, por meio de uma abordagem que
considera os aspectos sociais, ambientais e emocionais refletidos na corporalidade, buscando
como resultado mudanças de atitude do paciente com relação a sua vida.

146
O depoimento levanta com maior complexidade a rede causal constante que desorganiza
tanto a estrutura biológica quanto a psíquica da pessoa, desorganizando assim o processo
funcional do organismo:
Para o ser biológico, o mundo interno funciona para o nosso bem estar, sempre. E a única
coisa que o biológico faz é se auto-construir o tempo todo. No relacional, por ser
extremamente complexo, nós vamos criando situações com as quais a gente tem que se
relacionar e que nos sobrecarregam. E sobrecarrega o biológico, o fisiológico, até que
chega um determinado ponto que nós não damos conta de lidar com tanta sobrecarga, e aí
surge um desequilíbrio, que pode ser chamado de doença. Nessa visão a doença é um
outro eu, é uma vontade, uma tentativa do biológico se equilibrar, de trazer de volta a
homeostase. E eu concordo assim totalmente. Não pode as pessoas fazerem o que estão
fazendo hoje, trabalhar 12 a 14 horas por dia, e pior, sentadas. E essa demanda por ter,
por comprar, por atender os parâmetros de sociedade bem sucedido, vai criando um
padrão de sobrecarga, que vai levar a pessoa a uma desorganização funcional. Antes vem
uma desorganização da estrutura, e depois vem uma desorganização funcional
(Entrevista à autora, T 08).
Este discurso remete à reflexão do adoecer a partir da busca pelo equilíbrio dinâmico, que
é ao mesmo tempo natural e cultural, e se insere na compreensão de que os seres vivos buscam a
homeostase por meio das doenças, que seriam nesse caso um meio, ou um caminho de
transformação do seu estilo de vida, do seu campo de relações, ao mesmo tempo em que a
dimensão biológica também se reorganiza internamente.
A psicóloga do setor privado que trabalha com a aura-soma, com florais e com massagem
crânio-sacral também expõe na sua idéia de adoecimento a perda de referenciais da intimidade de
cada ser humano:
Acho que é quando a pessoa perde o contato com ela mesma, na sociedade que a gente
vive a gente está sempre com o pensamento pra fora, a gente não está prestando atenção
em si, atenção no que você vive no momento (Entrevista à autora, T 09).
Não foi encontrado na pesquisa bibliográfica nenhum material que tratasse da terapia de
aura-soma para desenvolver um pouco da sua dimensão epistêmica. Optou-se dessa maneira pela
definição da própria entrevistada, que explicou essa terapêutica como um tipo de cromoterapia
baseada em vidrinhos que parecem ser de perfume, coloridos com duas cores, que ao serem
escolhidos pelo paciente, servem de referência para a pessoa compreender algumas questões que
envolvem sua vida. Os frascos fariam o papel de uma autoconsciência, em que a pessoa veria por
eles aspectos da sua existência que foram dissipados pelo desgaste da vida cotidiana. Esses
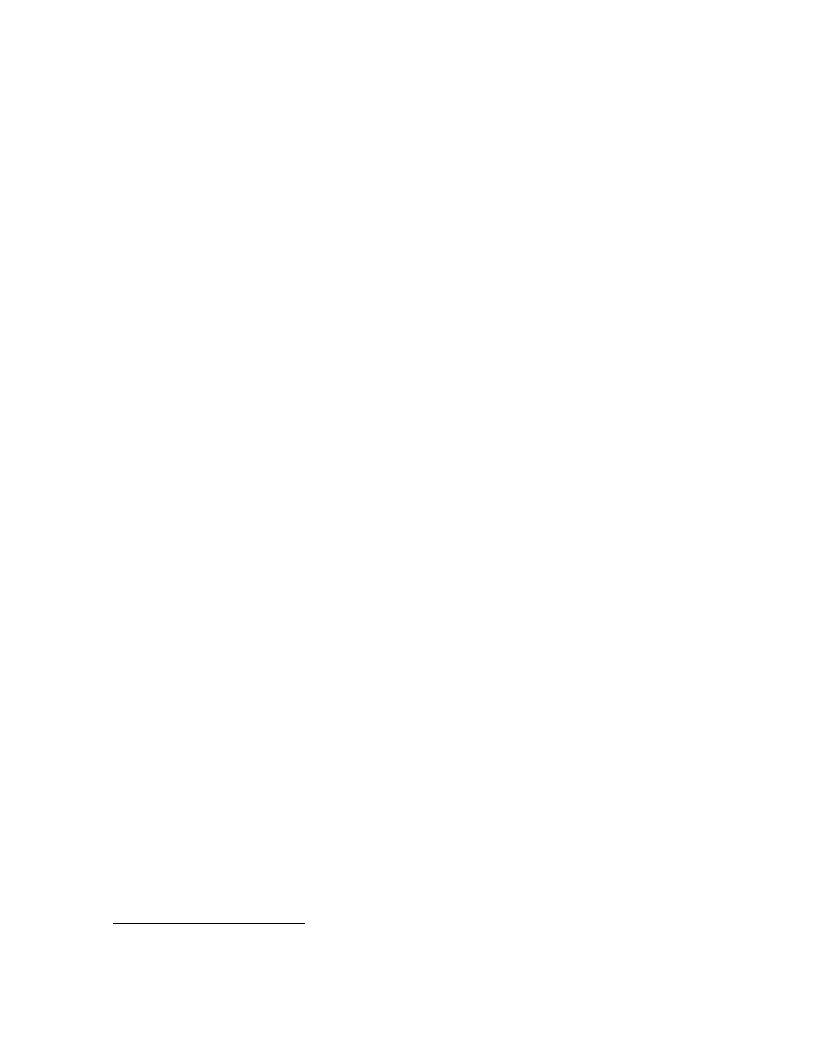
147
aspectos são então trabalhados pela terapia verbal, por massagens e pelo uso de florais, no interior
de escolhas feitas pela profissional em conjunção com o paciente, na tentativa de estabelecer
conexões com os aspectos problemáticos da vida da pessoa que precisam ser transcendidos para
que haja uma melhora no seu estado emocional e de saúde.
A terapia de florais parte de princípios comuns à homeopatia e à acupuntura, ou seja, de
que é possível tratar doenças, tratar pessoas, partindo de freqüências energéticas estabelecidas
com o uso dos elementos da natureza. No caso dos florais, essa freqüência é encontrada na
atuação de tinturas carregadas de energias sutis encontradas nas essências das flores. Pensa-se que
os florais de Bach, por exemplo, são capazes de realinhar padrões de desequilíbrio emocional a
partir da sua ação sutil ou energética, favorecendo o equilíbrio de disfunções orgânicas. A
preparação dos florais não segue o mesmo método dos medicamentos homeopáticos, ou seja, não
é necessário potencializar a matéria-prima, que no caso são as flores, para se criar uma tintura
com potencial energético. A freqüência do floral é obtida por meio da exposição de uma flor
específica (colocada em um recipiente com água) à luz solar, que confere ao medicamento grande
força vital, capaz de atuar sobre os temperamentos, sobre os medos e angústias, fobias, sensações
subjetivas, gerando alterações de personalidade que podem promover a cura de muitas doenças
(BONTEMPO, 1994). A esse respeito, o autor salienta que se obteve bastante êxito no uso de
florais de Bach em padrões crônicos de perturbação emocional e distúrbios de personalidade, pois
o medicamento atua como uma proteção aos agentes de desequilíbrio externos (como bactérias e
vírus) e internos (medos e angústias), trazendo maior estabilidade emocional para a pessoa,
alterando assim a sua suscetibilidade (BONTEMPO, 1994).
Nessa perspectiva, os remédios homeopáticos são submetidos à sucussão, que é uma
agitação intensa fundamental para que o medicamento atinja uma determinada freqüência
energética, que por sua vez é causadora de sintomas de doenças em pessoas sadias31, variando a
matéria-prima utilizada, que pode ser de fonte mineral, vegetal ou animal (PERES, 2003). Já os
florais não são dinamizados por essas agitações, e sua matéria-prima são as flores, que atuam de
maneira diferente sobre o organismo, possibilitando um aumento da autoconsciência ou uma
mudança na personalidade, porém, esses efeitos são sutis, e sua percepção depende tanto da
sensibilidade do paciente quanto do terapeuta.
31 Lembrando que a cura no sistema homeopático ocorre pela via da semelhança, ou seja, estimulando o processo
natural pela ação da energia sutil potencializada pelo medicamento.

148
A terapia crânio-sacral foi definida pela terapeuta entrevistada como um conjunto de
toques e movimentos sutis na região da cabeça, levando o paciente ao relaxamento e ao
desbloqueio de tensões acumuladas pelo corpo todo, alterando o ritmo respiratório e estimulando
o funcionamento fisiológico do organismo que, no plano subjetivo, permite também que a pessoa
desenvolva maior percepção de si mesma. A partir desses movimentos realizados na cabeça, o
paciente vai relaxando a ponto de tranqüilizar a sua respiração, ao mesmo tempo em que sua
mente se tranqüiliza também. Esse tipo de massagem seria como uma forma do terapeuta levar a
pessoa a um estado emocional que possibilite o enfrentamento de questões e problemas de
maneira mais calma, e reflexiva.
A partir da análise referente ao alcance cognitivo presente nos depoimentos apresentados,
observa-se que esse olhar plural é capaz de possibilitar que a reflexão analógica caminhe para
uma abordagem causal mais abrangente. A questão da causalidade ligada às analogias
recuperadas pelas diferentes interpretações de enfermidade são essenciais para que se aprofunde a
compreensão acerca do adoecimento.
Nesse contexto, o debate antropológico francês traz contribuições importantes para a
análise das relações de causalidade das doenças. A esse respeito, Buchillet aponta algumas
diferenças entre os caminhos percorridos nos estudos antropológicos sobre doença nos Estados
Unidos (Antropologia Médica Americana) e na França (Antropologia da Doença). A autora
delimita o aspecto metodológico utilizado nos EUA, em que sob o nome Antropologia Médica
foram feitos vários estudos, tais como: a) de doenças epidêmicas ou endêmicas decorrentes de
condições ambientais ou socioculturais, b) de como ocorrem os cuidados nas instituições médicas
através das relações internas estabelecidas, c) de problemas relativos à saúde de grupos (idosos,
por exemplo) e ligados ao comportamento dos indivíduos (alcoolismo, por exemplo), d) de
estudos de doenças como representações culturais chamados etnomedicina, esta considerada a
discussão mais antropológica que as outras três anteriores. Querendo afastar-se do pragmatismo
culturalista das pesquisas norte-americanas e do funcionalismo inglês representado por Rivers,
Evans-Pritchard, Hallowell, Ackerknecht (apud BUCHILLET, 1991: 23), que tratava as doenças
partindo da sua funcionalidade na dinâmica social, tanto Buchillet (1991) quanto Zémpléni
(1994) reconhecem a importância destes autores, por terem sido os primeiros a relacionar as
doenças às sociedades em que as interpretações foram construídas e identificaram o papel da
doença como instrumento social de controle e auto-reprodução dos grupos denominados por eles

149
de sociedades tradicionais.
Na Antropologia da Doença, o adoecer é pensado a partir das interpretações e dos
comportamentos, estando estas categorias associadas ao contexto sociocultural em que são
construídas e através das representações sociais (BUCHILLET, 1991).
Para Buchillet, o modo de se tratar as doenças só pode ser compreendido se relacionarmos
ao conceito de doença uma representação simbólica (illness) e seus recursos de cura (sickness),
isto é, para entendermos a diferença entre as diversas práticas de cura devemos compreender que
elas se constituem dentro de diferentes realidades sociais, e recobrem, mais ou menos, aspectos
da doença ligados à compreensão das suas causas. Deste modo, não existe de um lado a doença
(pensamento/ interpretação) e, de outro, as práticas de cura (ações). Tudo está interligado à
cultura que os unifica e que concebe as representações, que recobrem, inclusive, o pluralismo
terapêutico, abrangendo nesse conceito a própria medicina dominante na sua convivência com
outros modelos de cura, coexistindo e se reproduzindo num mesmo espaço social (BUCHILLET,
1991).
Zémpléni (1994) identifica outras conexões causais e terapêuticas nas sociedades
chamadas por ele de tradicionais, que remetem às analogias presentes na reflexão do adoecimento
nas diversas realidades. Há para ele muitos sintomas referentes ao mesmo agente causal, ou um
sintoma referente a um grupo de agentes, tais como animais, forças espirituais, atitudes proibidas.
Para este autor, a análise dessas conexões leva à lógica simbólica de cada cultura em particular.
Concordando com Zémpléni (1994), Buchillet (1991) destaca o papel normativo e
reprodutor da sociedade, tendo a cura duas interpretações: a terapêutica sintomática e a simbólica
em que a experiência se insere. Existe a preocupação com a recuperação da saúde, mas também
existe o caráter regulador das enfermidades no tocante ao ajuste social, uma vez que há a
medicalização das tensões sociais, que nos mostra uma outra forma de controlar os problemas
decorrentes das relações que os indivíduos estabelecem com o ambiente em que vivem. Isto
coloca em evidência uma realidade sociocultural e ambiental, que constrói situações, nas quais a
doença e as formas de cura não são tão somente expressões de crenças e de práticas terapêuticas,
mas mecanismos de produção e reprodução social (BUCHILLET, 1991; ZÉMPLÉNI, 1994;
LÉVI-STRAUSS, 1996; OLIVEIRA, 1998).
Para Langdon, após 1970 os debates antropológicos começaram a relativizar o caráter
universal das doenças feito pelo modelo biomédico, buscando construir teorias simbólicas (como

150
a que está presente em sua Antropologia Simbólica, fundamentada em Geertz, 1989) que
articulassem a relação natural/cultural, ao abordarem a doença como experiência sociocultural
cujo significado se encontra na negociação de interpretações. Para isso, ela redimensionou o
conceito de cultura evidenciando seu aspecto dinâmico, em que a doença passou a ser analisada
simultaneamente como experiência subjetiva e como fenômeno sociocultural. A seu ver, a cultura
é vista como um conjunto de representações simbólicas, que são as traduções, as interpretações
da realidade que as pessoas trocam entre si. Através das várias formas de se relacionar no mundo,
os significados são construídos nas visões individuais dos acontecimentos, porque a experiência e
a percepção são singulares e também o são as suas articulações, que por meio das interações
sociais, contribuem no processo de tentativa do que ela chama de consenso. Isto nos permite
reconhecer que o sistema cultural está sempre caminhando e se transformando, subjetivamente,
nos limiares das relações entre a natureza e a cultura (LANGDON, 1995).
Inserida no sistema cultural, a doença se encontra como um processo, expresso nos
eventos em que os sujeitos se preocupam em traduzir na subjetividade o sofrimento, organizando
a experiência do corpo na mente ao mesmo tempo em que tentando aliviar o mal-estar. As
principais fontes de polêmica para a autora se encontram na identificação dos sinais que indicam
que a pessoa não está bem, que não são claros, pois se constituem numa situação interior e íntima
que é traduzida por quem a vivencia, isto é, subjetivamente. Também há discordância em relação
às interpretações sobre a doença, que divergem entre si, pois, cada sujeito está representando seu
próprio conhecimento, sua própria experiência, sua história de vida particular e sua crença. E isso
varia de acordo com a vida de cada um (por exemplo, sexo, idade, meio social etc.) numa
negociação interpretativa de vários significados (LANGDON, 1995: 15).
Na visão de Langdon, a relação corpo/cultura extrapola os limites físicos. Isto porquê as
sensações não são sentidas separadamente de seus significados simbólicos ancorados na
convivência social, tanto em seu aspecto natural quanto sobrenatural. Ou seja, a experiência física
é influenciada pelas representações simbólicas que exprimem o mundo. Ao interiorizar a
experiência do imaginário em sua corporalidade, o indivíduo se expressa através da percepção
sobre o corpo e constrói uma experiência que é total, e que não se limita ao corpo em si
(LANGDON, 1995).
Como para Buchillet (1991), a doença é vista como uma construção sociocultural. Sendo
esta construção também subjetiva, ela é baseada nas inter-relações e nas novas interpretações,

151
surgindo e ressurgindo a todo o momento a respeito da realidade. Sendo assim, a coerência das
explicações sobre o adoecer humano, e a sua racionalidade, deve ser buscada no interior da
realidade sociocultural em que ele está inserido, nos diferentes ambientes investigados pelos
diversos sistemas de cura praticados em Ilhabela.
No caso de Ilhabela, o campo comprovou que os entrevistados no lado urbanizado
ressaltaram a importância das relações sociais e das condições do ambiente em que o doente está
inserido. Em outras palavras, isso significa privilegiar o illness e o sickness na terapêutica, isto é,
o mal-estar individual (ou o sofrimento subjetivo e objetivo), associado ao ambiente da doença
(ou o contexto das relações naturais e culturais). Analisando pelo quadro classificatório de
causalidades da teoria antropológica, os terapeutas privilegiam as causas, os agentes e a origem da
doença, antes de denominá-las pela respectiva nomenclatura, identificada nos modelos
classificatórios da Biomedicina. Agora resta saber como eles atuam na busca por uma vida mais
saudável.
O ambiente construído e apropriado pelos diferentes atores no processo terapêutico foi
representado pelo o alcance das dimensões e associações realizadas, mostrando que eles podem
se constituir em trajetórias extremamente singulares, como também podem levar o doente a novas
formas de viver, de maneira relativa ao contexto de cada história terapêutica. Visando eliminar o
mal, a dor, o sofrimento, ou sanar enfermidades, os processos terapêuticos foram compreendidos
como caminhos que levam o doente a reinventar a relação com o mundo ao seu redor de forma
conjunta e singularizada.
No setor público, as atuações se dividem entre o PSF (Postos de Saúde da Família), o
Hospital Mário Covas, o Pronto-Socorro, a Maternidade, e o CAPS (Centro de Apoio Psico-
Social). O setor particular é representado pelas vertentes da homeopatia, acupuntura, terapias
corporais (rolfing, ginástica postural e massagem crânio-sacral), florais e aura-soma. Apesar das
vertentes estarem bem definidas no plano teórico, na prática isso não foi muito possível, uma vez
que alguns dos médicos do setor público trabalham também com medicinas alternativas no setor
privado, misturando a atuação terapêutica na medida do que é possível, segundo eles.
Esse fato levou as opiniões a se complementarem, por exemplo, a biomedicina foi vista
como companheira das visões mais holísticas, jamais sendo negada em sua importância enquanto
instrumento para ajudar os enfermos. No CAPS, por exemplo, existe toda uma abordagem que
varia, desde o âmbito biomédico, reconhecido e obrigatório nas instituições públicas de saúde

152
mental, quanto do âmbito alternativo, paradoxalmente presente nesses serviços como um meio
paralelo para dar conta das enfermidades, utilizado de maneira conjunta aos medicamentos
prescritos. O uso dos florais e de massagens pode ser constatado no depoimento seguinte. Essas
abordagens não são reconhecidas pela ciência dominante, e teoricamente não poderiam estar
sendo aplicadas nessas instituições terapêuticas.
Abaixo, a psicóloga do CAPS expõe como é o trabalho terapêutico dessa instituição
pública de apoio psico-social. O que se evidencia no seu depoimento é a diversidade de
alternativas utilizadas por ela, no sentido de levar o doente a um maior equilíbrio emocional:
O CAPS tem várias atividades terapêuticas, mas o que a gente mais consegue resolver
são as crises em saúde mental... Nós temos grupo de relaxamento, musicoterapia, eu
utilizo algumas técnicas do crânio-sacral, é um toque na pessoa que você faz na base do
crânio, eu não sou médica, mas eu sinto que ele dá uma reorganizada no padrão
respiratório... Às vezes eu dou florais para o conflito e as vezes eu dou para o sintoma,
por exemplo, a pessoa traz aqui uma raiva, mas no fundo é uma depressão. Então pra
limpar isso mais rápido você dá um floral rescue... Então as gestantes, os bebezinhos,
crianças, gestantes que estão em crise, na fase excepcional, então a gente passa um
floralzinho, isso aí é uma coisa que já está assim...a gente procura tomar muito cuidado,
eu e alguns profissionais que eu conheço. Mas nunca descartamos a alopatia, porque aqui
a gente trabalha com médicos... Hoje em dia a gente tem, com a farmacologia, bons
medicamentos, nós temos aí os antidepressivos, temos os tri-cíclicos, temos o que é o
conhecido Prozac, que nós usamos a fluocsetina. Então ele é uma medicação que está
sendo muito bem aceita, embora seja uma faca de dois gumes, quando mais você dá,
mais a depressão aparece, e coisa e tal. Mas não tem outro jeito, então quando vai
acontecendo a repetição de sintomas a gente vai reduzindo, temos os anciolíticos, que
ajudam na insônia, e em mais sintomas. A gente trata aqui de todos os tipos de
psicopatologias, todos. Tem a personalidade, tem o desenvolvimento da doença, tem os
aspectos sociais, sócio-familiares, tem muita associação de uso de álcool e drogas, então
você trata tudo ao mesmo tempo, mas você tem que dar um nome científico e um
numerozinho para aquilo. Eu acho que a receita é o amor, a atenção, se colocar no lugar,
técnica a gente tem que ter, mas eu acho que ela nunca deve ser o seu carro chefe
(Entrevista à autora, T 06).
A psicóloga evidencia o uso das técnicas e dos medicamentos produzidos pela
farmacologia biomédica, embora ela ressalte o perigo de alguns remédios provocarem o aumento
do estado depressivo. Ao mesmo tempo, ela explora o universo dos florais, da massagem crânio-
sacral, que altera os padrões respiratórios, a musicoterapia, entre outros instrumentos e atividades
relacionadas ao aumento de estímulos vitais do organismo. Ao pluralizar a terapêutica, ela
singulariza o fenômeno do adoecer, quando ressalta a personalidade da pessoa e as dimensões
sociais como fatores que interferem no desenvolvimento ou não da doença. Nesse aspecto, ela
situa a técnica em segundo plano, priorizando a dimensão afetiva como fundamental para a

153
evolução do estado do doente. Abaixo, o uso dos florais é situado no contexto da realidade vivida
no CAPS:
Os florais têm uma resposta positiva, eles trazem benefícios pra pessoa, mas é muito
sério, ele trabalha numa área muito sutil. Ele trabalha nas emoções, então é uma coisa
que tem que ser muito bem estudada, Homeopatia demorou 100 anos para ser
reconhecida, e os florais estão batalhando muito. Mas eu acho que a pessoa para lidar
com os florais, ela tem que ser formado na área da saúde, ou medicina. Tem que ter
uma alma disposta a captar emoções, tem que ser uma pessoa que saiba lidar, tem que
ter formação (acadêmica), obrigatoriamente... Mas nunca descartamos a alopatia, por
que aqui a gente trabalha com médicos, e com os psicotrópicos (Entrevista à autora, T
06).
Desse modo fica evidente o uso de terapias alternativas, como por exemplo, os florais e as
massagens para despertar o equilíbrio emocional, contribuir para o bem estar e a qualidade de
vida dos moradores do município. E a profissional faz uma ressalva, a pessoa tem que ser
preparada para mexer com esses elementos, isto é, tem que ter cursado em alguma instituição
superior em saúde, em virtude de eles terem propriedades bastante sutis e necessitarem de
interpretações profundas por trás dos diagnósticos.
Percebe-se pelo depoimento citado, que na área da psicologia outros conhecimentos
foram associados à terapêutica, também em decorrência da crise dos saberes psi dos últimos vinte
anos (LUZ, 2005: 167). Martins (1999) salienta que na psicologia, a influência de áreas como a
abordagem transpessoal, a somaterapia, a psicologia analítica, a psicologia reichiana,
contribuíram para o crescimento das visões alternativas. O autor dá destaque as vertentes que
surgiram da dissidência com relação à psicanálise, em um movimento representado
principalmente por alguns discípulos de Freud, como Jung e Reich. Os psicólogos a partir de
então, passaram a se orientar também pela bioenergética, pelos florais de Bach, de Minas, do
Pacífico, Californianos, pela cristaloterapia, cromoterapia, musicoterapia, terapias corporais
chinesas e indianas, fitoterapia, entre outras vertentes que não correspondem de maneira
convencional aos antigos e novos problemas psicológicos da sociedade moderna.
O médico entrevistado abaixo, trabalha como pediatra no setor público e como homeopata
no setor privado. Ele evidencia as relações abertas pelas diferentes atuações, ao mesmo tempo em
que tenta abarcar em seu tratamento os diferentes segmentos sociais:
Aqui no consultório atendo pouco. Como eu não atendo convênio, é mais particular, se
bem que a gente acaba atendendo um monte de gente de graça, o paciente mata um peixe

154
e traz pra gente. Eu faço isso. A pessoa não vai deixar de passar aqui. Minha consulta é
100 reais, aí eu cobro 50, falo para passar aqui, o pessoal dá até risada aqui. Porque é o
horário que eu tenho para poder trabalhar mais tranqüilamente. Eu trabalho na rede
pública também, além de trabalhar no hospital, e faço atendimento de apoio ao PSF, em
algumas unidades, e todas as unidades aqui da Ilha têm um pediatra referência. Tem os
médicos de família e a gente dá o apoio suporte nos casos de pediatria (Entrevista à
autora, T 04).
Percebe-se que esse médico considera como pagamento um peixe, atende de graça, ou
cobra um preço menor na consulta, propiciando o alcance nesse caso às pessoas pertencentes a
segmentos menos favorecidos, no serviço privado onde ele oferece a homeopatia como
tratamento. Abaixo ele explica a sua atuação em homeopatia:
A homeopatia trabalha com a energia vital, ela é uma coisa que ninguém explica, mas
funciona. É baseado em evidência mesmo, porque você dilui tanto um negócio e aquele
treco faz bem, mexe até no mental da pessoa. Se não tem nada ali, se passou do número
de Avogadro, saiu disso e não tem mais nada lá dentro e faz efeito. Funciona (Entrevista
à autora, T 04).
Este médico explica que muitas vezes é seduzido a usar a homeopatia também no setor
público, onde atua como coordenador da Pediatria no Hospital de Ilhabela:
No consultório é onde eu faço mais homeopatia, porque é onde eu tenho uma hora para
fazer a consulta, eu bato papo, eu vou perguntar um monte de detalhes da vida da pessoa,
características de personalidade, e aí a gente vai chegar ao remédio de fundo. Na rede
pública, isso já é um pouco mais difícil, porque lá é a pauleira de hospital, pronto
socorro, o cara chega lá com uma martelada no dedo e você tem que resolver o problema
dele. Não vou ficar, você transpira, você não transpira, você é egoísta, não vou ficar
perguntando detalhes dele né!!! (risos) Então lá a gente atende na parte da alopatia
mesmo. Mas é lógico que tem alguns casos, por exemplo, que meu raciocínio acaba
caindo, porque eu sou um apaixonado pela homeopatia. Quando eu percebo que o
paciente, a família do paciente são pessoas que aceitam, e você vê que tem um perfil para
usar esse tipo de medicação, com uma entrevista breve eu consigo chegar a algum tipo de
remédio, é lógico que eu vou usar. Mas eu não esqueço, se tiver necessidade de usar
algum remédio tradicional (biomédico), eu vou acabar usando. Uma coisa meio confusa,
mas eu acho que no fundo, tem um sentido aí (Entrevista à autora, T 04).
No próximo depoimento a mistura entre as diferentes vertentes, a biomédica e a
tradicional chinesa, também é identificada:
Então, se uma pessoa chega pra mim com uma dor nas costas, a primeira coisa que eu
vou fazer é uma anamnese, um exame físico e vou pedir um raio x. Se o raio x for
insuficiente, eu posso pedir uma tomografia, uma ressonância magnética, enfim, tudo o
que eu uso na alopatia, eu posso usar na Medicina Chinesa. Só que na hora do
tratamento, ele vai ser diferente, e a interpretação também, porque a Medicina Chinesa
não se atém aquela queixa só. Se você está com dor nas costas, isso está ligado a você

155
como um todo, desde o nascimento e até antes. A gente vê caso que a gente estuda o
pai, a mãe, pra gente saber de algumas coisas, e a gente vê que aquilo começa a
aparecer no momento da concepção. Então, pela história que a pessoa tem, às vezes a
gente faz perguntas que a pessoa até estranha, cor que mais gosta, qual a estação do
ano. Porque a medicina chinesa é uma medicina holística, ela vê você de cima a baixo.
Então uma dor nas costas pode significar alguma coisa que esteja acontecendo com
você que você não está se dando conta. Às vezes a gente trata uma dor nas costas e
coloca pra fora coisas que a pessoa não estava nem sabendo. Esse aspecto holístico é
maravilhoso, porque na alopatia a gente vê a especialização da especialização, e o
especialista tende a olhar para aquela queixa só naquilo ali, no local. Por que uma
pessoa tem uma hérnia de disco? (Entrevista à autora, T 03).
Esta médica demonstra que sua interpretação realizada pela Medicina Chinesa vai além
do local onde a enfermidade aparece, sendo essa esfera que a diferencia da Medicina Biomédica.
O depoimento, a médica vê a doença como resultante do círculo familiar e do ambiente da vida
da pessoa, uma vez que esses fatores levariam a dor localizada nas costas, citada por ela como
exemplo. Ela também vê na complementaridade entre as diferentes medicinas uma utilidade
prática, já que considera oportuno juntar os conhecimentos no seu atendimento no PSF,
utilizando o olhar mais abrangente para interpretar as doenças dos grupos sociais menos
favorecidos economicamente:
Dentro da Medicina Chinesa a gente começa a interpretar, porque a gente leva em conta
o emocional da pessoa. Ela tem dois pilares importantes que é a alimentação e a emoção.
E a gente analisa a pessoa de acordo com o funcionamento dos órgãos, a gente tem que
saber como o intestino está funcionando, a urina, mesmo na dor nas costas. Isso é mais
ou menos o que eu faço no meu atendimento no PSF. Porque depois de adquirir um
conhecimento, você não se livra dele. Então eu fiz saúde pública, sou sanitarista. Quando
eu comecei a atender em posto de saúde, eu vi que não era só aquele atendimento ali né!
De repente tem um caso de uma doença infecciosa, você tem que investigar onde a
pessoa mora, essas coisas (Entrevista à autora, T 03).
O conhecimento adquirido não deve ser ignorado no momento do diagnóstico, de acordo
com a visão da médica entrevistada. A seu ver, é muito importante se investigar as condições de
vida para avaliar o quadro de certas doenças, quando o médico percebe que elas estão inseridas
em relações socioambientais específicas.
De acordo com os depoimentos citados até então, os médicos que atendem ao mesmo
tempo no setor público e privado não diferenciaram muito os dois setores nos seus depoimentos,
isto é, as explicações e interpretações foram expostas de forma conjunta e as distinções nasciam
dessa unidade, o que tornou muito interessante a análise.

156
Já no setor exclusivamente privado, foram três os terapeutas entrevistados: uma psicóloga
que também é terapeuta corporal e dois terapeutas corporais que trabalham juntos, um
desenvolvendo a terapia do Rolfing (já explicada genericamente nesse capítulo) e a outra
desenvolvendo uma ginástica postural. Esses três profissionais levantaram a questão dos hábitos
modernos como prejudiciais ao organismo e à estrutura corporal.
Abaixo, a psicóloga explica a sua linha terapêutica. Ela faz uso de florais, trabalha com
uma linha terapêutica chamada aura-soma e com a massagem crânio-sacral:
Eu não trabalho com a psicologia convencional. Trabalho também a terapia verbal, de
diálogo, mas entro com florais, faço um trabalho corporal chamado crânio-sacral, que é
um tipo de uma massagem, e trabalho também com aura-soma. Nesse tratamento existe a
cromoterapia junto, mas ele vai além da cromoterapia (neste momento ela abre um
armário de vidro com prateleiras cheias de frasquinhos que pareciam de perfume, todos
pintados com duas cores, com um espelho e uma luz no fundo iluminando estas cores).
Então Aura-Soma é o seguinte, você faz a escolha de quatro garrafinhas, as mais bonitas,
e em cima da escolha que você fez é feito uma interpretação, o que significa cada
garrafinha, o que significa as cores, e elas representam o seu ser, e a sua necessidade.
Não é alguém de fora dizendo que você precisa disso ou daquilo, é você mesmo
escolhendo e eu vou explicando o que significam. É um sistema inglês que trata a aura,
que é a parte sutil, e a soma que é a parte do corpo. Através da parte energética chega-se
a atuar no corpo, atua nas emoções... Aura-Soma não faz parte da psicologia tradicional,
nem é reconhecida pela psicologia, só que hoje em dia existem muitos psicólogos
trabalhando com terapias alternativas além da psicologia tradicional, o CRP (Conselho
Regional de Psicologia) não gosta muito disso, enfim... Lido com florais, terapia crânio-
sacral, que é na parte corporal, que trabalha o eixo crânio-sacro e traz um relaxamento
profundo, e nesse relaxamento profundo você consegue entrar mais em contato consigo
mesmo, consegue liberar uma porção de coisas e acaba vivendo melhor. Você lida com
os acontecimentos da sua vida de uma forma mais ponderada, essa terapia te ajuda a
reformular uma porção de coisas, não tem uma seqüência (Entrevista à autora, T 07).
Na fala acima, a psicóloga remete a lógica da sua terapêutica a um redimensionamento
dos problemas particulares, que orientam a pessoa a viver melhor as suas relações, a se conhecer
melhor, sem uma seqüência definida ou uma técnica previamente estabelecida, ou seja, o
processo é intuitivamente ativado na relação com o doente. Segundo ela, ao escolher as
garrafinhas, o próprio paciente escolhe as cores que levantarão as questões pessoais que serão
trabalhadas pela consulta, fazendo com que ele seja o agente do processo de auto-conhecimento.
Abaixo seguem os depoimentos de dois terapeutas corporais que, trabalhando juntos e
usando abordagens complementares tais como o rolfing e a ginástica postural, buscam
reorganizar a vida do indivíduo no plano das relações saudáveis com a sociedade e com o
ambiente ao seu redor:

157
Partindo dessa ausência de informação sobre a estrutura corporal, a gente procura pescar
o aluno, despertar o interesse dele, pra que ele veja como ele realmente é, quais são os
movimentos que ele é capaz de fazer, que não são danosos, que não vão machucar e sim
trazer bem estar. Eu não diria que é uma reeducação, eu diria que é uma educação.
Porque não foi passado isso anteriormente. E a Educação Física, eu venho da Educação
Física, ela tem um caminho que é competitivo, uma coisa voltada para performance, e
um caminho que é voltado pra altos rendimentos, e para estética. E agora, o que se faz a
respeito de 80% da população que não pratica esporte? Essa é a realidade nacional
(Entrevista à autora, T 08).
Eu ensino também, com o nome de ginástica postural, mas é muito mais que isso, as
pessoas respeitarem os limites delas. Um dos motivos da gente trabalhar com grupos
pequenos é para que as pessoas se observem mais... porque as pessoas aqui têm que
prestar atenção em si mesmas, isso é que é importante (Entrevista à autora, T 09).
Os efeitos do método rolfing são notados no momento em que as pessoas são desafiadas a
realizarem os movimentos de forma lúdica:
Então é interessante ver como essas pessoas começas a melhorar, quando são solicitadas
no chão, a fazer o que o bebê fez nos três primeiros anos de vida. E nós estamos cada vez
mais enriquecendo este repertório motor das pessoas, com movimentos que são lúdicos,
de uma memória que já existe, porque em algum momento ela fez esses movimentos, o
resgatar essa memória eu diria que é relativamente rápido. Com 30 aulas mais ou menos
essas pessoas já começam a florescer de novo, então é muito interessante. Eu sou o único
Rolfista aqui, e faço um trabalho de educação corporal que poucas pessoas conhecem,
poucas pessoas sabem que é possível organizar de novo a estrutura corporal. Elas
pensam, ah, eu tô velhinho, a minha cabeça está aqui na frente e não tem jeito mais de
pôr ela sobre a coluna, no lugarzinho que é dela. Não, tem jeito sim (Entrevista à autora,
T 08).
O florescimento alcançado pela prática do Rolfing leva as pessoas a se transformarem
internamente e, com isso, a reconstruírem as suas relações com seu meio socioambiental. Para
esse terapeuta corporal, a esfera psíquica não age sozinha, a pessoa deve sempre estar em uma
dinâmica que atenda as suas necessidades físicas do dia-a-dia:
Uh! Esses alunos mostram uma realidade que a neurociência está mostrando hoje. Que
essa unidade funcional que é o ser vivo, se beneficia quando está equilibrada no meio
interno. E para estar equilibrado no meio interno, precisa estar em movimento, e não é
qualquer movimento, são movimentos que atendam a algumas necessidades. Não é sair
correndo feito um maluco, nadar horas, escalar montanha, entendeu? Não é isso. Isso é
outro departamento. O funcional, o fisiológico, se beneficia quando a estrutura está bem
organizada. E em função disso tudo flui, bom humor, disposição, relação, tudo muda,
como eu falei antes, tudo floresce, surge, emerge. O psíquico enquanto psíquico não age
sozinho (Entrevista à autora, T 08).

158
O bom humor e a disposição são os reflexos do equilíbrio interno, psíquico, alcançado por
meio da terapia corporal segundo o depoimento do entrevistado. Essa abordagem abre para a
perspectiva de não se trabalhar apenas com as dimensões psicológicas do ser humano, para sanar
os problemas de ordem emocional. O Rolfing levanta a importância de um trabalho com o corpo,
a partir de uma movimentação espontânea que está guardada na memória do indivíduo desde a
sua primeira infância, segundo o terapeuta.
A professora de ginástica postural também acredita em uma concepção de cura em que a
pessoa se torna uma agente do próprio processo, quando ela cita atuação do companheiro rolfista
como um agente propulsor do auto-descobrimento:
Essa coisa da cura me assusta, porque a palavra cura está muito associada ao que vem de
fora, e não vem de dentro. Não tem uma participação das pessoas. A gente brinca: quem
falou que a gente cura? É uma brincadeira que a gente faz. A nossa modelo, chama o
José de feiticeiro. Por que as pessoas vêm, e ele com as suas mãos cura tudo. Mas depois
ela tem uma fala em que ela entende que a transformação veio dela, ele ajuda de alguma
forma o descobrimento dela (Entrevista à autora, T 09).
A fala reflete a dimensão interna atribuída pelos terapeutas como necessária ao processo,
no entanto ela não é representada apenas pelo âmbito psíquico, ou seja, o interior da pessoa é
visto dentro do conceito de corporalidade, onde o corpo em movimento transforma os padrões de
organização funcional que se reflete em alterações emocionais e nas formas das pessoas se
relacionarem com o mundo ao redor. Outra questão colocada foi a contribuição do paciente como
agente da cura, ou da busca pelo equilíbrio. Não adianta um tratamento quando a pessoa não está
disposta a melhorar, todos os terapeutas do setor privado levantaram esse fator como um
obstáculo ao tratamento. E quando há essa transformação interior, o processo relacional fica mais
fluido, e dele emerge o bom humor, a disposição para as atividades diárias, para o trabalho.
Sendo assim, pelos depoimentos acima se pode concluir que a eficácia também é vista como um
fenômeno que vem de dentro da pessoa, que depende dela para se configurar, e não só do médico.
O que se pode presenciar de fato, segundo Martins (1999), é que as pessoas se encontram
insatisfeitas com os modelos terapêuticos disciplinares, e estão buscando outras respostas que as
façam rever antigos padrões, antigas crenças e hábitos de vida. Nessa perspectiva, as medicinas
alternativas vêm preencher um espaço aberto pelo vazio existencial trazido pela modernidade,
que incentiva buscas materiais e relações econômicas que rompem com as raízes simbólicas que
conectam as pessoas às suas identidades, aos ambientes vividos.

159
A hipótese de Tesser & Luz (2002) é a de que as medicinas alternativas estão sendo
crescentemente procuradas por envolver uma concepção profunda de saúde associada a antigas e
novas tradições, sendo cada vez mais respeitadas inclusive por instituições de pesquisas. Por
outro lado, essa emergência evidencia a reação cultural de uma sociedade que se mostra disposta
a libertar seus corpos, desejos e culpas de maneira reflexiva, não alienada, imprimindo também
uma “nova religiosidade que integra, sem contradizer, os ganhos da racionalidade moderna”
(Martins, 1999: 83).
O antigo imaginário punitivo tradicional, ligado ao cristianismo, também é revisto e
libertado, e a referência ao corpo como instrumento produtivo é revisitada, e substituída pela
representação de corpo como um instrumento que leva ao prazer, às emoções e à qualidade de
vida (MARTINS, 1999).
3.2 As Medicinas Caiçaras
Em Ilhabela, os caiçaras mostraram sua relação terapêutica com o ecossistema local,
revelando à pesquisadora atuações medicinais situadas em um ambiente extremamente rico do
ponto de vista da percepção dos seus atores. Para resolver os diversos problemas de saúde, os
caiçaras contam com a ajuda dos próprios conhecimentos, mas ao mesmo tempo, não descartam o
apoio dos terapeutas da equipe da ambulancha que faz as visitas periodicamente.
Nas comunidades visitadas (praia Mansa, Figueira, Serraria, Castelhanos e Bonete) foram
relatados muitos casos de hepatite, verminoses e picadas de cobras. Os caiçaras também
admitiram sofrer de hipertensão e diabetes, principalmente os mais velhos, mas percebeu-se que
não há um controle sistemático sobre estas enfermidades, em virtude deles também usarem os
remédios naturais para amenizar as crises.
Nesse contexto, a medicina popular praticada por esse grupo social é criadora de muitas
analogias, representadas pelas conexões entre o mundo sobrenatural e natural, ao relacionar
animais (ou partes deles), os vegetais (ou partes deles), ou elementos minerais e orgânicos, na
elaboração de um campo de atuação que reage contra problemas de ordem natural, espiritual,
corporal, limpando as energias, o mau-olhado, a inveja, puxando pra fora a inflamação, ou o
veneno de uma cobra, por exemplo.
Em muitos casos, o encadeamento causal realizado na interpretação das suas doenças está
de acordo com o conceito de causalidade denominado como conjunção constante por Zémpléni

160
(1994). Este conceito inclui dimensões ligadas aos acontecimentos conjunturais na elaboração
causal das enfermidades individuais, ou seja, no caso de algumas doenças identificadas pelos
caiçaras, as forças naturais são incluídas no diagnóstico, como o vento-sul, por exemplo,
reconhecido pos eles como carregado de energias ruins, capazes de atrapalhar todos os âmbitos da
vida, assim como as forças espirituais (inveja, mal olhado), prejudicando a pesca, casamentos,
relações e trazer doenças. Na identificação da hepatite local, por exemplo, alguns sintomas foram
mais enaltecidos:
Eu já sabia tudo pelos mais velhos né. Os mais velhos falavam o sintoma como que era
da hepatite, tinha uma dor de cabeça não passava, a vista da gente fica meio embaçada,
amarela, aí fica sem coragem pra nada, fica mais deitado aí, a urina também né, já muda
de cor, fica escura, aí a gente já tem que partir pra esse lado aí. Se tomar a garrafada, se
fizer efeito, se melhorar você sabe que é (hepatite), se não for, aí você procura um
médico, ou alguma outra coisa né, se não funcionar (Entrevista à autora, T 18).
Para tratar da hepatite, remédio local usado é a garrafada feita com sete ervas, no dizer
dos caiçaras32: sabugueiro, picão, grama da praia, raiz do chapéu de sol, sete sangria, cabelo de
milho e raiz da laranja da terra, sendo que as ervas devem ser colhidas no sentido que o sol nasce.
A equivalência pode ser interpretada aqui como um procedimento que remeta à idéia de
renascimento, da gênese da energia solar, criadora, o que faz pensar na relação analógica da força
exercida pelo sol nas plantas utilizadas pelo tratamento da hepatite. Sua construção cognitiva se
situa na relação entre os elementos do céu e da terra, dando sentido à eficácia da mistura.
Percebeu-se pelo trabalho de campo que os caiçaras se identificam mais com o tratamento
local, criado em gerações anteriores, afirmando que com a garrafada “essa doença sara mais
rápido”. As garrafadas são feitas para tratar de outras doenças também, com outras plantas, não
só a hepatite. Mas nesta pesquisa com as comunidades, a hepatite foi bastante destacada como a
enfermidade que mais os acomete. A esse respeito, é preciso ressaltar que a definição local de
hepatite pode não corresponder necessariamente à definição biomédica da mesma doença. Porém,
considera-se que a visita periódica da equipe da ambulancha os ajude a diagnosticar a doença,
fazendo com que sua definição local se assemelhe a dos parâmetros biomédicos.
O mesmo entrevistado relatou o caso que havia ocorrido recentemente com o seu irmão,
que também era pescador e vivia na comunidade de Castelhanos. Ele pegou hepatite e se
32 No vocabulário local, o mato era a categoria êmica mais citada para designar o local onde se situavam as ervas (outra categoria
êmica). Porém, muitas vezes eles diziam mato para falar das ervas.

161
encontrava internado em um hospital de Caraguatatuba. A família, vendo o sofrimento dele e a
demora para melhorar o seu estado, decidiu então tratá-lo com a garrafada. Para que ele pudesse
sair do hospital, a família teve que assinar um termo de responsabilidade, assumindo o ônus para
que o irmão doente pudesse sair e ser tratado na própria casa:
A gente já tinha o remédio, e também a gente já percebeu que se fosse hepatite mesmo,
com o remédio que a gente ia dar ele ia melhorar... Tinha certeza... E eu não tava na hora,
no hospital, nós tinha uma irmã que morava em Caraguá, aí o médico não queria deixar
ele sair, e eles tiveram que assinar lá. Mas ele tava mal mesmo... A gente que tá bem da
saúde, a gente olha pras pessoas assim, ainda mais irmão da gente, tá louco né... Eu fiz as
garrafadas aqui e mandei pra lá... O médico também tinha medicamento né, que também
tava dando, mas junto com o remédio da gente né... Por isso que o bom, quando você tá
assim, é de madrugada, quando você está com o estômago vazio, a garrafada cai ali e
limpa tudo... Não pode tomar café. O café é inimigo pra hepatite. Quando eu tava com
hepatite e tomava café, piorava. Tem que tomar chá... Aqui sempre teve hepatite, o
problema é de água também né (Entrevista à autora, T 18).
Zémpléni (1994) afirma que a doença pode ser vista nas sociedades chamadas por ele de
tradicionais como um evento, um episódio que suscita algumas correlações: a) sua seletividade
individual, que nos remete à natureza biológica do corpo e a relação do ser com seu universo, que
explicaria na sua interpretação os porquês do acontecido; b) sua conexão com outros eventos
nefastos, ou seja, está relacionada a uma seqüência causal maior que a propriamente intrínseca,
ela pode ser decorrente da força que os acontecimentos ruins desencadeiam (por exemplo, morte
de um ente querido, assalto, desemprego); c) sua influência emocional e sua reação social, isto é,
o adoecimento e a cura obrigam a uma aproximação do ser com seus entes mais próximos, ou
seja, a pessoa doente requer cuidados e afeto; d) sua recorrência, sua reversibilidade e sua
historicidade, ou seja, toda doença implica um sofrimento e também é, na maioria das vezes,
solucionável. Ela obriga uma interpretação dos sintomas físicos associados ao significado cultural
da qual faz parte. Quando se torna crônica, recorrente, ela remete a uma explicação mais ampla,
ligada à história do grupo atingido (ZÉMPLÉNI, 1994: 154-155).
O autor ressalta que estas propriedades são variáveis e que podem ou não ocorrer, ou se
diferenciar. O importante para ele é que, nesses grupos, as interpretações das doenças não se
concentram apenas nas mãos dos terapeutas. As causalidades emergem na relação entre as
pessoas envolvidas, e se orientam de acordo com a lógica simbólica da sociedade. Para Zémpléni,
o importante é que nas interpretações sobre o adoecimento: “seu efeito é tanto a modificação
positiva e negativa do estado do doente, quanto à modificação da textura do grupo ou dos grupos

162
ao qual ele pertence” (ZÉMPLÉNI, 1994: 155-156). No caso citado, o entrevistado e seus irmãos
que participaram da conversa com a pesquisadora relataram que o irmão doente estava em um
momento ruim da sua vida, citando que vários episódios negativos estavam acontecendo,
culminando na hepatite e na internação como as piores consequências daquele período. A decisão
de tirar o irmão doente do hospital foi tomada pela família toda, em um momento de
reorganização dos laços e de retomada na confiança sobre as crenças, que levou todos a assumir o
compromisso com o cuidado do irmão durante a convalescença. Todos sabiam que o remédio
daria certo, o que comprova que a organização social que envolve o indivíduo tem total influência
na evolução do seu quadro, ou na sua cura:
Pras pessoas que moram aqui nunca fez o efeito contrário, agora eu não sei as outras
pessoas né, eu acho que não, não faz não. É coisa que limpa, não fica na gente, sai tudo.
Agora eu não sei quase, mas os mais velhos dão de dez a zero na gente, tudo que a gente
aprendeu foi com eles, eles sabem mais (Entrevista à autora, T 18).
Nessa mesma entrevista, o pescador e ervateiro revelou que ele e o outro irmão eram os
que mais conheciam o mato, e que era ele geralmente que ia buscar as ervas no caso da
necessidade de se fazer algum remédio:
É geralmente a gente tá mais acostumado... é por que nós conhecemos mais né, se eu for
no mato já conheço essas coisas, umas madeira, se eu for lá... meu pai me ensinava, essa
aqui é a madeira tal e eu ia lá e conhecia porque meu pai já falou. Aqui sou só eu quem
faz a garrafada, geralmente eu pego também (as ervas) e mando eles fazê né, Mas quem
vai buscar no mato sou eu, tá tudo aí, tudo da natureza mesmo (Entrevista à autora, T
18).
Este pescador considerava normal conhecer a mata e procurar a planta específica para
cada tratamento, e durante algumas caminhadas manifestava surpresa com a ignorância da
pesquisadora. Durante a convivência com ele no campo, muitas histórias foram contadas e muitas
plantas e animais foram citados como remédios para as diversas patologias. Por exemplo, a
vértebra da lula foi receitada para bronquite (torra no forno e depois coloca no leite para a pessoa
beber), a folha da imbaúba, árvore nativa, era boa para diabetes, a seiva da bananeira foi
identificada para estancar o sangue das machucaduras em crianças e, quando diluída em água,
fazia travar a disenteria. A gordura do peixe-boi e do peixe-elétrico foi citada para passar no
local do reumatismo, ao invés de se passar pomada de farmácia. Outra planta nativa citada, a
erva baleeira, servia para curar a dor nas costas e inflamações pelo corpo, e segundo ele, já virou

163
pomada no mercado. A respeito de todo esse conhecimento, o pescador revelou: “A gente tem
tradição de família já né”.
A benzedeira da praia de Castelhanos também comentou o caso de hepatite apresentado.
A seu ver, o estado do pescador (que era seu genro) internado em Caraguatatuba era bastante
complicado, pois na visão local a hepatite poderia piorar:
Olha eu não sei fazer, mas eu sei o que vai. A minha mãe também fazia muito, mas eu
não cheguei a fazer. É a raiz do coco, a raiz da laranja da terra, grama da praia, sapê
macho e o picão. Aí cozinha tudo, faz a garrafada e começa a tomar. Ferve tudo junto
bastante. Aí depois que cozinha, deixa esfriar e põe em uma garrafa. E quando acaba faz
outra. Porque médico não conhece hepatite. O pessoal aqui, todos eles tiveram hepatite.
O meu genro aqui teve hepatite, e passou bem mal mesmo. Aí minha filha e a cunhada
dela internaram ele lá em Caraguá, e quando foram ver ele, ele estava mal mesmo, e se
vira hepatite da preta morre né. Tem gente que chama de icterícia, mas pra nós é da preta.
Aí trouxeram ele de volta, e trataram dele aqui. Fizeram um monte de comida boa pra
ele. Fizeram a garrafada, aqui todo mundo tomou (Entrevista à autora, T 21).
Esse depoimento evidenciou a consciência da entrevistada a respeito da visão local de
doenças, pelo exemplo da sua definição de hepatite da preta, que segundo ela é chamada de
icterícia pela sociedade. A hepatite da preta, por sua vez, foi identificada como resultado do
aumento do grau da doença, em virtude do pescador se encontrar mal mesmo.
Oliveira (2007) ressalta que a dimensão fenomenológica procura refletir sobre o sentido
do adoecer, que abarca a possibilidade de transformação da doença, capaz de transitar por graus
diferenciados, que acionam ao mesmo tempo as simbologias e os elos sociais. Nesse caso, o
depoimento ressalta a retomada da dimensão afetiva, com relação à família e à familiaridade
ambiental, reativando o sentimento de pertencimento e da certeza de que os elementos naturais e
sociais articulados pela garrafada levariam à cura daquele mal. Abaixo, outra caiçara revela a
familiaridade cultural com a hepatite:
Hepatite meus filhos todos já tiveram, aqui mesmo na Armação, eu dava chá de picão,
mesmo médico agora sabe, os médicos mesmo mandam dar sabe? Chá de picão dava
direto e banho, chá de erva-tostão, e raiz de coco também. Todo mundo sarava de
hepatite, ninguém ia ao médico. E garrafada todo mundo fazia lá (na Serraria) (Entrevista
à autora, T 16).
Ela ressalta que os próprios médicos do PSF orientam para eles estarem fazendo uso das
ervas que conheciam. Essa orientação também foi citada pela médica que tratava das
comunidades, revelando assim que na estrutura dos sistemas terapêuticos há misturas,

164
intersecções entre os saberes que ocorrem pelas relações sociais, não estando desse modo isolados
na sua epistemologia. Abaixo, a antiga benzedeira da praia do Bonete conta que fazia garrafadas
para muita gente de fora:
Garrafada eu faço, pra hepatite. Pra hepatite vem gente até não sei da onde para eu fazer.
É a raiz do coco, o sapê macho, a grama da praia, pico-pico, raiz da laranja da terra, daí a
gente cozinha tudo, faz uma batida certa, côa e põe na garrafa... Médico não cura
hepatite... Aí eu faço a garrafada e depois eles vêm buscar... O avô dele que ensinou, ele
curava, precisava de coisa feita, isso, isso e aquilo, ele ia e fazia e pronto, ele dava o
remédio e já sarava... A garrafada de hepatite quem me ensinou foi a minha avó. A mãe
da minha mãe sabe? (Entrevista à autora, T 31).
Nesse depoimento é perceptível a mudança de alguns dos componentes da garrafada. A
esse respeito, as receitas dos remédios locais não foram idênticas, talvez pelo fato do
conhecimento transmitido de geração para geração não ser homogêneo.
É importante ressaltar o caráter histórico e empírico do saber local, pelo fato de ter sido
passado oralmente e ao mesmo tempo estar submetido sempre a mudanças (ESCOBAR, 2005).
Esta benzedeira era prima de primeiro grau do seu marido, e conta que o avô dele era curador, que
por sua vez ensinou o pai dele, que era tio dela, os remédios com as plantas. Sua avó também foi
mencionada como a pessoa que ensinou a fazer o parto, as benzeções e as garrafadas.
As medicinas desenvolvidas pelas populações mestiças com forte ascendente nativo,
segundo Luz (2005: 155), manifestam sistemas complexos de pensamento e práticas terapêuticas
baseados em relações dinâmicas com a natureza, sendo “parte indissociável das formas de vida,
das cosmovisões e dos sistemas de valor e de significação das culturas locais” (LUZ, 2005:155).
Elas sobreviveram mesmo diante do massacre sofrido pela colonização portuguesa e das
influências modernas, o que pode ser trazido para a realidade de Ilhabela. São identificadas como
naturais, com raízes xamãnicas, e possuem uma lógica não formalizada que, segundo Luz (2005),
é redescoberta de tempos em tempos pelo olhar do ser humano ocidental. Na interpretação da
autora, o adoecimento é tratado por esses grupos dentro da representação da natureza como
agente integrador das relações sociais, onde outros eventos estão interligados na cadeia de
significados que envolvem o fenômeno, como o azar, a morte, os acidentes, o mau-olhado, a
inveja (LUZ, 2005), o que converge com a visão do antropólogo francês Zémpléni (1994), na
elaboração do conceito de conjunção constante, para dar conta dessas diferentes dimensões

165
associadas ao infortúnio, e sua importância no tocante a reorganização e reafirmação das relações
sociais entre os envolvidos.
Segundo Luz (2005), os erveiros, as benzedeiras e as parteiras reproduzem os
conhecimentos herdados da tradição indígena na América do Sul, principalmente em localidades
onde ainda existem florestas remanescentes. Os erveiros possuem uma função social semelhante
aos farmacêuticos populares, associando elementos naturais a uma fitoterapia e uma zoologia
local. A saúde é vista como o resultado da reordenação das relações socioculturais e ambientais,
ou seja, privilegia-se de acordo com a visão antropológica francesa, a origem ou o contexto onde
o doente se situa (ZÉMPLÉNI, 1994).
É possível visualizar a existência da fitoterapia popular entre os caiçaras de Ilhabela, que
se estabelece pelo uso intenso dos elementos locais:
Pra corte eu ponho arnica, bezetacil, você corta a folha e bota no álcool e faz garrafada,
sabe?... A Pariparioba é bom pra fígado, pra dor, e aí faz o chá com a folha e toma... É
tudo remédio caseiro, olha, isso aqui é arnica, arnica do mato, eu corto e ponho aqui, no
álcool, na pinga tá tudo curtido... Pra dor, pra corte, ferida... Sara na hora, pra curtir na
pinga isso daqui é muito bom. Tem o bezetacil em folha, eu tenho aí também no sítio, eu
ponho no álcool, é bom pra dor no corpo, a senhora passa que é bom (Entrevista à autora,
T 31).
A insulina em folha foi mencionada para tratar do diabetes. E o marido da entrevistada,
que também participou da conversa, levantou outras plantas para tratar a dor de cabeça:
A folha da jaca serve pra dor de cabeça, é uma beleza. Pega duas folhas e amarra aqui
assim... Põe aqui na perna, nessa passagem, num estantinho passa a dor de cabeça. A
folha do café pra dor de cabeça também é bom (Entrevista à autora, T 32).
A folha da jaca amarrada na perna, de alguma forma exerceria efeito sobre a dor na cabeça
da pessoa. Os remédios são muitos e se originam de espécies muito diferentes, com relações entre
elas e o clima, ou entre o dia da semana ou do mês, a época do ano, a posição do sol ou do vento.
Para cada doença, ou cada sintoma, havia um procedimento a ser seguido, alguns ligados a
relações mais profundas com o mundo sobrenatural, alguns não. A farmácia natural se situava ao
redor da casa deles:
Quando ficava doente a gente corria, levava pra Ilha... A pé, de barco. Quando a gente
sabia o que era a gente cuidava em casa né, que nem a dor de barriga que dava nas
crianças, a gente corria e pegava a erva-de-Santa-Maria, o broto de goiaba. Quando
ficava gripado, a gente fazia chá de cidreira, capim cidrão, de limão do mato que é bom

166
pra tirar o catarrão do peito, cambará de cruz tem aí, pra fazer o chá, mamão macho, pega
a frô (flor), faz o chá e serve com o açúcar, faz um tipo de um xaropinho. A gente curava,
de gripe, essas coisas assim a gente curava, só aquelas doenças braba tipo uma
pneumonia, uma bronquite forte, eu tive um (filho) que morreu com efizema, tinha cinco
meses o menino, e o menino saiu umas manchas, umas coisas esquisitas no corpo dele, aí
de noite caiu uma trovoada né, e nós morava em uma casa de palha né, e gotejou em
cima dele, e quando foi de manhã ele amanheceu doente né, aí meu pai recolheu...dele e
nós levamo... aí chegando lá ele morreu, tinha cinco mês de idade. Mas eu não dei
remédio de casa, só fiz o que o médico falou, tinha de morrer mesmo (Entrevista à
autora, T 31).
Tomazzoni et al (2006) destaca que a fitoterapia popular não se resume apenas ao uso de
materiais terapêuticos advindos da natureza, essa terapêutica incorpora um conjunto de crenças e
representações que configuram um modo de vida particular. Sendo essencialmente um
conhecimento advindo de relações empíricas, a fitoterapia sempre esteve presente desde os
primórdios das antigas civilizações, fazendo parte da trajetória histórica da evolução humana. A
autora relatou que as experiências com vegetais e animais levaram a resultados positivos e
negativos, podendo curar doenças ou até matar por intoxicação, sendo esse processo de
experimentação importantíssimo para o conhecimento atual, a respeito da distinção das espécies
ou das partes que podem ou não ser usadas como remédio (TOMAZZONI et al, 2006).
No Brasil, o uso da fitoterapia popular também foi associado à influência dos africanos e
dos europeus, assim como à dos índios (TOMAZZONI et al, 2006), o que confirma sua
correlação com as práticas desenvolvidas pelos caiçaras de Ilhabela. Pelo depoimento se vê que as
doenças do cotidiano eram tratadas no interior das comunidades, com o uso dos remédios locais,
sendo que a procura pelo médico ocorria somente em casos mais sérios, como pneumonia,
bronquite forte, e todos relataram já terem ido a pé, pelas trilhas e enfrentado muitas horas de
caminhada ou de canoa, enfrentado o mar bravo, dependendo da praia. Segue abaixo a referência
sobre a variedade de plantas que existem no mato, para tirar a dor:
No meio do mato mesmo tem muito, tem o limão-do-mato, que é bom pra xarope, xarope
pra bronquite, pra tosse. Tem a panacéia, que é boa pra ferida, pra negócio de dor, essas
coisas assim, tem a pariparioba, que é bom pra tomar, a gente cozinha junto com a
canela, e toma. Qualquer dor que a senhora tem por dentro, ela toca fora. capim-cidrão, é
bom pra xarope também por causa da gente dormir, quando a gente tem insônia a gente
toma o chá e dorme. Erva-cidreira também é a mesma coisa, calmante. Pra acalmar o
nervo da gente quando fica nervoso né, a gente faz o chá de erva cidreira e acalma. Isso
tem tudo aqui. O gervão-do-roxo, é bom pra tosse”(Entrevista à autora, T 31).
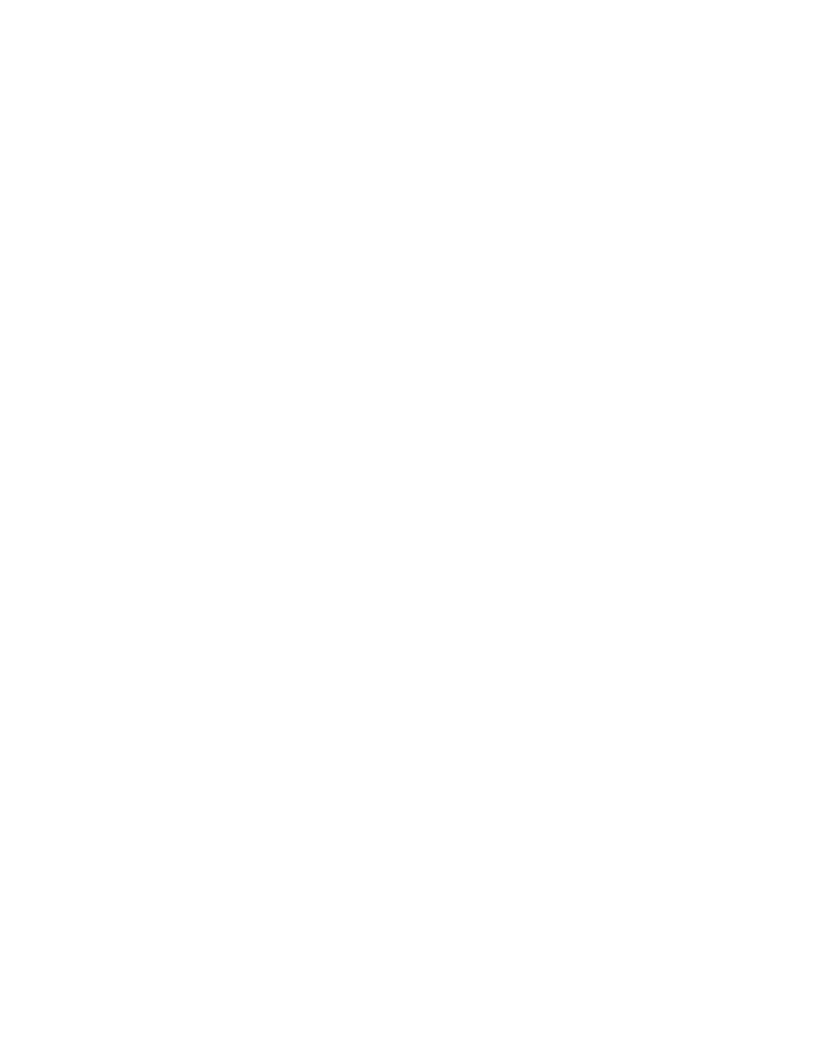
167
Uma questão já aberta por Lévi-Strauss (1970) em seu texto Lógica das Classificações
Totêmicas, toca nas relações de causalidades que evocam a pluralidade das formas de
operacionalização dos elementos da natureza, revelando diferentes representações e maneiras de
classificar as espécies e seus contextos de interação. Lévi-Strauss (1970) comenta que entre os
índios Navajo, por exemplo, os animais e as plantas são vistos no interior de uma complexa e
variável organização do mundo: “Assim, no “ritual da pedra lascada” observam-se as seguintes
correspondências: groucéu; “pássaro vermelho” - sol; águia - montanha; gavião-rochedo; (...)
colibri-planta; um coleóptero - terra; garça-água” (LÉVI-STRAUSS, 1970: 55-56).
O mesmo autor torna evidente a existência de muitas outras lógicas de orientação no
pensamento selvagem, que envolve a definição ou a reconstrução de novas propriedades,
identidades e imagens dos elementos naturais e dos aspectos socioculturais que os circundam. Um
animal, por exemplo, pode possuir uma classificação por espécie diferente da identificada pela
zoologia, assim como também pode possuir uma analogia com o cosmos, com a natureza, com a
sociedade e com diversos símbolos culturais. Lévi-Strauss (1970) reconhece que este tipo de
organização cognitiva está presente no pensamento de muitos grupos indígenas, e não possui os
limites da objetividade delineados pela botânica e pela zoologia. Segundo ele, estas associações
remontam aos significados culturais atribuídos a elas, que são muito heterogêneos por serem
oriundos de exercícios mentais presentes nos tempos mais remotos dos sábios povos da
Antiguidade.
Para Lévi-Strauss (1970), no pensamento dos selvagens, as plantas possuem uma
representação muito mais abrangente do que as definições taxonômicas da biologia acadêmica,
pautada na detecção dos princípios ativos para serem traduzidos em cápsulas, a exemplo da
etnomedicina, a corrente americana mais conhecida da Antropologia no tocante às doenças.
Tomazzoni et al (2006) salientam que muitas plantas ou animais possuem um caráter sagrado no
conhecimento popular, por serem o meio que o ser humano busca para entrar em contato com
dimensões sobrenaturais consideradas como superiores.
Estas importantes contribuições de Lévi-Strauss oferecem aberturas para a discussão das
analogias evocadas pelos caiçaras de Ilhabela, possibilitando a reflexão sobre o uso de animais do
Parque Estadual de Ilhabela como medicamento:
E pra perna, pra ecsema é caramujo do mato. Eu já te falei isso, já não falei?... Caramujo
do mato é pra ecsema. Não tem aquela ferida que sai, que lastra na perna da turma assim?

168
Mas tem que ser do mato nosso, não aquele caramujo brabo que vem saindo por aí. Ele é
grande e buzina, se você andar no mato e ele buzinar você assusta. Ele dá aquela
buzinada grande. Aí você tira a carne dele e torra o casco. Faz aquele pozinho, compra
minancora, coloca metade daquela pomada no fogo, coloca o pó e mexe, mexe, até ficar
cor de cinza. Aí você vai passando no lugar (Entrevista à autora, T 28).
Esta terapeuta fez uma ressalva, diferenciando o caramujo nativo da outra espécie africana
que transmite a esquistossomose. Em uma entrevista realizada com a enfermeira da vigilância
epidemiológica do município, foi salientado que o caramujo africano apareceu em Ilhabela há
alguns anos atrás devido ao advento da migração.
Os próximos depoimentos evidenciam as inúmeras plantas e animais que servem como
remédios para as enfermidades:
Ah eu tenho hortelã (da preta), eu chamo a hortelã de bicha, é uma pequenina assim.
Quando está com disenteria a gente faz a folha do joão bolão, misturado com broto de
goiaba, limão, faz o chá e a disenteria vai embora. Quando tem um corte sangrando tudo,
vai no pé da banana e corta aí pega e coloca em cima aquela cica e estanca. Bastante
coisa assim do mato que a gente sabe! (Entrevista à autora, T 28).
Ah eu fazia chazinho de hortelã preto, eu ia na casa da minha nora e pegava... Peixe só a
tainha, mas agora ela só vai aparecer no ano que vem. A banha da tainha é boa para quem
sofre de reumatismo. A banha a gente tira e derrete, esquenta ela e passa no doente e trata
ele dos ossos. (Entrevista à autora, T 24).
Ah... o enxume da galinha é pra negócio de tosse, assim quando pega gripe e fica aquela
tosse esquisita, a gente pega aquilo e passa no peitinho das crianças, passa nas costas.
Mas é da galinha caipira, da galinha de casa. E pega um tiquinho assim, uma gotinha e
coloca no copinho de água e dá pra criança beber também (Entrevista à autora, T 28).
É possível perceber que os elementos naturais mais usados como medicamentos estão
presentes nos ambientes onde vivem os caiçaras, porém, são articulados a outros elementos
presentes nos ambientes urbanos, como a minancora, citada no depoimento da página anterior, e
o mel:
Xarope de poejo com mel, que é bom pra bronquite braba, Ferve ele bastante na água,
põe ele pra esfriar, põe numa garrafinha e põe mel. Tem também o xarope da folha do
limão, que é bom pra tosse. O gervão com a gema do ovo... É o gervão do roxo. A gente
cozinha, espera esfriar e pega o ovo, põe sal e mistura. Aí pode tomar, é uma beleza pra
tosse. Peixe, eu conheço só o fígado do cação, é bom pra cutucadura... É quando você
olha num lugar e não está bom (é um tipo de machucado). Aí você tem que por o azeite
de cação pra poder puxar, deixa extravasar primeiro. Aí põe o azeite do fígado do cação.
Derretia o fígado aí coava e colocava pra curar abscesso. Coloca ele num paninho e ele
puxa... Pra dor de barriga tem uma hortelã preto aqui e aí a gente cozinhava, a erva-de-
Santa-Maria, canema, do outro lado chama erva-de-Santa-Maria, mas aqui é canema. Aí
fazia o chazinho e dava pra eles. Pra bicho, pra dor de barriga (Entrevista à autora, T 21).

169
A benzedeira da praia da Armação também conta como realizava os tratamentos naturais
com os filhos dos patrões:
Ferida de borrachudo a gente curava sabe com quê? Com cozido de goiabeira. Muito
bom. Dor de barriga também, era muito bom o chá de broto de goiaba, depois que eu vim
morar aqui na Armação, eu fui trabalhar numa casa lá na praia do Pinto, e quando a
patroa ia sair ela dizia: a senhora é a minha segunda mãe, a senhora vai ficar aqui com a
minha menina, e ela saía de lancha, e aí a menina ficava com dor de barriga e eu ia lá na
goiabeira e tirava o brotinho que dava e fazia o chazinho pra ela e ela sarava (Entrevista à
autora, T 16).
A caiçara da praia da Serraria explica como se trata a infecção urinária:
Pra pedra no rim, pra infecção de urina, mas a infecção tem que estar no começo, senão
não adianta. Tem a sete-sangria também, que é bom misturar com a quebra-pedra. Faz o
chá e toma (Entrevista à autora, T 25).
Ela conta que a filha teve uma doença respiratória e os médicos não conseguiram
identificar ou classificar os sintomas, e seu pai tratou da doença da filha:
A minha mais velha mesmo teve um problema e o médico não descobria o que era, aí foi
pra lá, meu pai fez remédio e ela sarou. E graças a Deus ela está lá esperando pra ganhar
neném... Ela tinha uma falta de ar, uma dor no peito, não descobriam de jeito nenhum,
ela fez todos os exames, achavam que era problema de cabeça, mas não deu nada. Aí ela
foi no meu pai, e ele fez remédio. Mas ele não benze não, ele faz remédio pra ferida, pra
picada, pra dor (Entrevista à autora, T 25).
Posteriormente, o pai dessa caiçara foi entrevistado na praia de Castelhanos e ele contou
que tratou da doença da neta, que segundo ele era bronquite. Todavia, para que a terapia desse
certo, a pessoa não poderia saber que estava sendo tratada, então, desse modo, ele não contou o
tratamento nem para a filha. Ele deu chá de poejo para a doente, duas gotas, várias vezes ao dia.
A dimensão do segredo ligado à afetividade está presente nas terapias dos caiçaras, e é
imprescindível para que o resultado seja positivo, para que “a doença vá embora”.
Os banhos terapêuticos também foram procedimentos muito citados entre os caiçaras do
lado oceânico, como forma de tratar as enfermidades. Pra cada doença eles atribuíam um banho
específico:
A maioria se tratava lá mesmo, com remédio caseiro. Com chá, com banhos, antigamente
as mulheres quando sentiam alguma infecção, assim, vaginal, elas faziam remédio lá
mesmo. Os mais velhos é que ensinavam, os mais antigos, eles mesmos que faziam,

170
colhiam aquelas ervas que eles mesmos conheciam, faziam aqueles banhos, aquelas
coisas, e sarava todo mundo (Entrevista à autora, T 16).
Muitas curas obtidas pelos banhos foram relatadas, inclusive em uma situação em que o
próprio médico manifestou surpresa ao constatar a eficácia dessa atuação terapêutica:
Se alguém cai e toma uma batida, faz um machucado, nessa hora que a gente tem que
correr pro médico, a não ser que a gente faça um remédio caseiro, e aqui tem muito mato
pra gente fazer. Tem o cruz, que é um matinho bem chatinho, a gente soca ele com um
pouco de sal e aquilo lá a gente põe em cima do machucado. Esquenta aquela água bem
quente com pano, com aquele sal. Eu tratei meu filho, ele quebrou a perna na praia onde
eu moro e eu tratei assim com água de sal... A noite toda perto dele, colocava o pano na
água e colocava no lugar, e ele com a perna pra cima gritando, mãe não melhorou. No
outro dia eu precisei fazer de novo, aí ficou. E quando ele veio pra cá e passou no
médico, aí deu que tinha grudado um lado no outro. E o médico perguntou: Mãe, o que
aconteceu com essa criança? A criança quebrou a perna e como que é isso, que (o osso)
chegou no lugar? Aí eu falei pra ele que eu tratei com água de sal, o menino não precisou
nem engessar e sarou. De tanta quentura chega até a amortecer o lugar. Banho todo dia, a
gente mesmo lá quando cai assim e se machuca a gente não vem pra vila, a gente lá
mesmo se trata, faz banho e fica banhando (Entrevista à autora, T 28).
Durante uma conversa não gravada, a mesma entrevistada revelou que, quando uma
criança pequena demora a andar, ou tem as pernas molinhas, o macuco33 é usado como remédio
para que a criança ande mais rápido, ou aprenda a correr. Como esse animal corre muito, a
analogia presente é referente a essa característica, pois o animal que corre fará a criança andar
mais rápido, levando-a a correr como ele. Nesse caso, ele é colocado morto dentro da água para
depelar, e aí essa água é usada como banho nas perninhas das crianças, para que elas fiquem
duras.
Foi relatado em outra conversa, na praia da Figueira, o caso do pescador que teve uma
enfermidade desconhecida no pé, sendo curado também por banhos feitos com o chá da folha da
arueira:
Mas tem meus outros fio, o Lauro você conhece? Ele teve uma doença, aquilo criou
catinga, fedeu sabe, apodreceu, mas graças a Deus eu curei em casa. A folha da arueira
macho, conhece a arueira?... Eu não sei o que foi que ele teve no pé. Caiu uma
enfermidade aqui em baixo, no pé, caiu o coro do pé dele todo... Levei lá na vila, lá tinha
um farmacêutico muito bom, ele me deu remédio, e não adiantou e eu sarei em casa...
Cozinhava a arueira e lavava o pé. Com a água cozida (Entrevista à autora, T 31).
33 O macuco é uma ave do grupo dos tinamídeos, tem porte mediano e possui a cabeça e a cauda pequenas. Sua presença é
indicadora do bom estado de conservação da floresta (TONHASCA Jr, 2005).

171
A ajuda do farmacêutico não surtiu o efeito gerado pelo banho caseiro, feito pela própria
mãe para tratar do filho, mais uma vez a dimensão afetiva está presente. A respeito dos banhos, o
depoimento abaixo evidencia sua importância naquele círculo social:
Agora qualquer coisinha é médico, qualquer coisinha é médico. Antigamente a gente
fazia um chá, um banho e já sarava, agora não (Entrevista à autora, T 21).
Durante as conversas, os próprios caiçaras relataram que a presença dos hábitos urbanos
tem se tornado cada vez maior. Esse fenômeno, associado à questão do aumento da freqüência
das visitas médicas realizadas pela equipe da ambulancha, tem levado à perda gradual dos
referenciais da fitoterapia e da zoologia popular praticada por esse grupo social. Essa constatação
foi evidenciada principalmente entre os mais velhos, que salientavam o aumento do consumo de
remédios sintéticos pelos mais jovens.
Sendo assim, o depoimento citado mostra que recorrência ao médico vem aumentando,
segundo eles, a cada dia. Mas, por outro lado, existem doenças que os médicos “não dão conta de
tratar”, e percebe-se que quando isso acontece ocorre uma reafirmação do conhecimento
adquirido, e os doentes acabam se curando a partir da relação socioambiental reorganizada. A
relação se inverte em alguns casos, primeiro trata-se com o médico, depois, recorre-se ao
conhecimento da própria medicina popular, fazendo uso de rezas, bênçãos e banhos.
No caso dos partos ocorre situação semelhante. Atualmente, os caiçaras revelaram que não
se ganha mais nenê no interior das comunidades. As mulheres mais jovens têm realizado os
partos no hospital de Ilhabela, de Caraguatatuba, ou de São Sebastião, ficando nas casas dos
familiares para aguardar o momento. No entanto, eles relataram nas conversas que havia casos em
que não dava tempo, então eles recorriam as parteiras ainda vivas, de uma comunidade ou de
outra, para ajudar na hora da urgência.
O depoimento a seguir é referente a uma parteira da praia da Serraria, e ela fala sobre sua
prática, que difere do procedimento realizado na maternidade, uma vez que usa elementos do
ecossistema para cicatrizar o umbigo do bebê:
E quando nasce a gente apara o nenê, no hospital é diferente, eles cortam e deixam pra
cinta e a gente tira primeiro, não pode puxar, aí tira pra cinta, pega o nenê, mede três
dedinhos pra ponta de um pedacinho da tripa, pega uma perninha amarra e aperta bem
apertadinho, deixa uma vela perto acesa, e aí queima, depois que corta aquilo ali, aí você

172
queima a ponta do umbigo com a vela. Aí chego no algodão, chego no umbigo, chego no
algodão, chego no umbigo, aí até estancar, aí o sangue acabou e pego uma cinta e meia,
veste roupa no nenê e deixa lá. Depois é só dar banho e acabou, não tem mais nada. E em
mulher não precisa passar ponto nada, ganha normal ela pára, tem uns elásticos vai e
vem. Não tem problema. Depois, com oito dias a mulher já ta saindo, andando, fazendo
as coisas... Sabe mais? Os nenês de antigamente, hoje já nascem no hospital e coloca
aqueles negócios e prende, mas aqui não, aqui amarrava com aqueles fiozinhos molinhos
de saco de trigo, a gente já guardava o fiozinho pra quando a criança nascer já amarrar
ali, onde era o umbigo, marcava, e cortava com a tesoura e queimava com algodão, e em
volta assim. E pra secar o umbigo logo a gente não colocava esse álcool que agora tem,
não colocava nem mercúrio, nem iodo, nada, nós não usava isso, sabe qual era o nosso
remédio? Casa de marimbondo. Que nem aquela lá olha (e aponta na porta da escola,
onde haviam duas casinhas de marimbondo). Ta vendo lá? Então, aquela lá serve pra
menino, por que é redonda. E pra menina, tem que tirar da comprida... Aí tem que tirar os
bichinhos de dentro, amassava, amassava, amassava, e coava na fralda que é fininha, e
depois de dar banho no nenê a gente colocava aquele pozinho em volta do umbigo. Em
três dias o umbigo caía. Na minha mão, com três dias o umbigo caía (Entrevista à autora,
T 28).
As casinhas de marimbondo usadas para fazer cair o umbigo do bebê, são elementos da
natureza local, e só fazem sentido terapêutico quando se situam no interior de uma racionalidade
analógica (as casinhas redondas serviam para meninos, as compridas para meninas), elaborada
pelas relações socioambientais e culturais. Essas relações são reinventadas e ao mesmo tempo
transmitidas entre as gerações:
O parto eu aprendi com a minha avó... Aí a minha avó me ensinava né, vocês querem
aprender, eu vou morrer, e vocês vão ficar como semente. E vocês têm que aprender, mas
ninguém queria aprender... Virei parteira... Tenho neto barbado! A mulher de lá teve 10
filhos e todos fui eu. A mãe de Fernanda teve 6 filhos, todos eu. E vários, vai lá pra Praia
Vermelha, lá pra Indaiaúba, lá pelo Bonete, ali no Sombrio, em tudo o lugar que a mulher
tava pra ganhar nenê mandavam me buscar. E eu ia né!... Eu faço ainda. Se precisar eu
faço. Faz um ano que eu fiz aqui o de Kátia, aqui da minha neta, cortei o umbigo dela, e
cortei o da filha dela! (Entrevista à autora, T 31).
Logo após o parto, existem várias restrições alimentares entre os caiçaras, para evitar
problemas no processo de recuperação da mulher. No depoimento abaixo é possível identificar
esse procedimento:
Quando ganha neném não se pode comer peixe carregado, o galo, o espada, sororoca,
peixe carregado não dá pra comer... É peixe carnudo, que tem mais sangue. Agora tem
peixe que dá pra comer, carapicuruzinho, que é peixe manso, bicuda, branco, enxova,
que não sai aquele sangue” (Entrevista à autora, T 21).
A razão analógica citada acima é relacionada aos peixes bravos, cheios de sangue, que
não podem ser consumidos pelas mulheres que vivenciaram o parto. Elas podem apenas comer os

173
peixes mansos, sem sangue, para que ocorra uma boa cicatrização e o corpo se recupere mais
rápido. As restrições alimentares são também prescritas no caso de outras doenças.
Nesse contexto, os caiçaras se relacionam intensamente com a natureza, utilizam seus
elementos e seres no interior de um imaginário rico, configurando um saber em saúde sofisticado
que deveria ser respeitado e incluído, quando pertinente, no programa de PSF realizado nesses
locais. Ao mesmo tempo, se contribuiria para uma maior conscientização a respeito dos processos
de degradação ambiental a que Ilhabela vem sendo submetida, uma vez que as espécies utilizadas
tanto nas terapias como na vida cotidiana dessas pessoas, seriam evidenciadas como parte das
preocupações com a conservação cultural e natural daquele ambiente.
Nessa perspectiva, todos os depoimentos apresentados ressaltaram o grande
conhecimento dos caiçaras a respeito do ecossistema local e o efeito terapêutico de suas plantas e
animais sobre as enfermidades que os acometem. A afirmação de que o animal ou a planta tinha
que ser daquele ambiente foi também uma característica comum em todas as entrevistas, o que
evidencia a identidade das corporalidades com aquela natureza e com aquela biodiversidade,
como se eles partilhassem da mesma condição de existência, ou como se sentissem pertencentes
ao lugar assim como os outros organismos. Essa relação de congruência entre os elementos da
natureza e as enfermidades, ocorre pela comunicação analógica.
Tomazzoni et al (2006) ressaltam que o processo de urbanização, de industrialização e
dos avanços tecnológicos veiculados à produção de medicamentos sintéticos, fez com que o uso
medicinal fitoterápico fosse diminuindo gradualmente nos centros urbanos. Essa diminuição do
uso estava ligada ao fato desses medicamentos serem considerados como atrasados do ponto de
vista do desenvolvimento da farmacologia moderna, e de prometerem resultados mais rápidos e
eficazes, se constituindo como superiores aos mais antigos. No entanto, essa situação vem
mudando desde as décadas de 70 e 80 do século XX, quando houve a constatação do aumento da
procura pelas medicinas alternativas, entre elas, da fitoterapia. Foi admitido que, mesmo diante
da predominância do uso de medicamentos sintéticos no Brasil, os remédios caseiros e naturais
voltaram a ganhar mais espaço e adeptos, recuperando antigas tradições que estavam se perdendo
com o tempo.
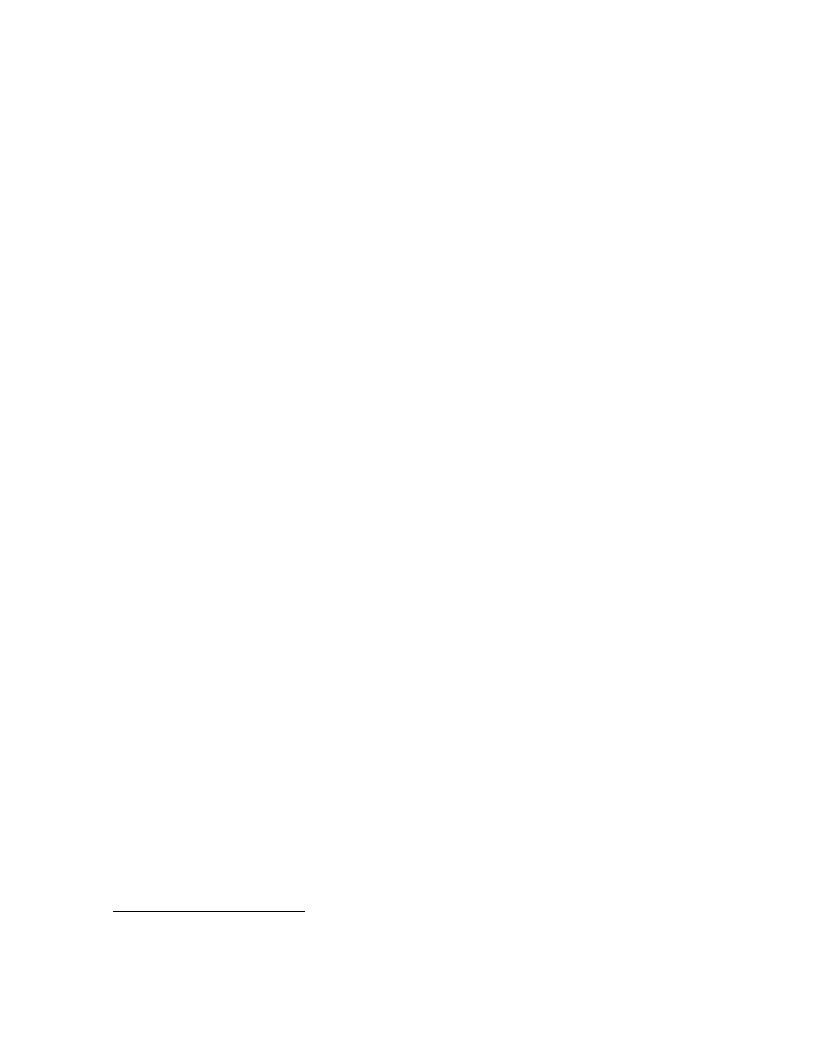
174
3.2.1 As Conexões entre o Mundo Natural e o Sobrenatural
Ilhabela é um município que ainda conserva muitas de suas antigas lendas e estórias de
antepassados. Inclusive é um local onde se relatam experiências com extraterrestres, com
entidades sobrenaturais, espirituais e antropomorfas. A explicação mais recorrente sobre esses
fenômenos, desde a colonização, é referente ao seu magnetismo, que emana uma freqüência de
energia possibilitando a vivência de experiências místicas, traduzidas por vários casos contados
entre os caiçaras (PLATON, 2006).
Godelier (1973) considera essencial compreender que a natureza é vista pelas sociedades
primitivas de maneira diferente, considerando-a como dotada de características humanas, ou seja,
de cognição, e não como algo sem sentimento ou intencionalidade. Trazendo essa discussão para
o debate atual, a natureza não é vista pelos grupos locais tal como é vista pela Biologia ou pela
Ecologia, como sistemas que se auto-organizam e interagem, mas que não possuem qualquer tipo
de inteligência unitiva34.
Dessa maneira, a representação do mundo natural como um ente dotado de cognição, tal e
qual os humanos, abre perspectivas culturais para um diálogo com ele, e também para uma
atuação sobre ele. Considerando as forças da natureza como entidades superiores, incontroláveis
do ponto de vista humano, só seria possível uma comunicação com essas instâncias a partir de
transformações que dotariam o ser humano de poderes, de forças para realizar o ato mágico. De
acordo com Godelier (1973) nas sociedades primitivas essa força é adquirida por meio de
sacrifícios, processos de iniciação, restrições alimentares, sexuais, entre outros deveres que
variam contextualmente.
Essa discussão foi explorada inicialmente por Lévi-Strauss (1997), na sua clássica obra
denominada O Pensamento Selvagem, na qual Godelier (1973) se apóia para realizar suas
reflexões a respeito das nuanças que compõem a prática mágica, que ao mesmo tempo
fundamenta uma organização cognitiva peculiar e desconhecida, ou ignorada pela sociedade
ocidental, como já salientou Shiva (2003). Essa reflexão também é desenvolvida pelos autores da
Antropologia da Doença francesa (LAPLANTINE, 1991; BUCHILLET, 1991; ZÉMPLÉNI,
1994) e recentemente por Oliveira (2007), mostrando que o pensamento analógico se constitui
como um discurso permeado de sentido e coerência, fundamentado pela experiência empírica, no
34 Mesmo quando se reconhece pelas ciências biológicas e ecológicas que a natureza possua capacidade de se auto-equilibrar,
pelos conceitos de homeostase e de resiliência, isso não significa que o meio ambiente seja representado por essas ciências como
uma entidade que possua inteligência cognitiva, tal como a propiciada pelo cérebro humano.

175
momento em que esta confirma que a crença ocorre pela eficácia simbólica.
Nas visitas às comunidades oceânicas de Ilhabela, as menções a feitiços foram muitas.
Alguns dos antepassados eram chamados de feiticeiros, ou mandingueiros, dotados de poderes
sobre os acontecimentos, sobre a vida das pessoas, e sobre a fauna e a flora da floresta. O caso
relatado abaixo foi de um antigo pescador, esposo de uma benzedeira da praia do Bonete. No
depoimento ele relatou que seu avô era feiticeiro e, de acordo com sua vontade e necessidade,
podia matar uma pessoa apenas com o seu olhar:
Meu avô era feiticeiro. O pai da minha mãe era feiticeiro, então ele ensinou meu pai né, o
que ele sabia. Mas meu pai não teve coragem de aprender, pro meu pai saber o que ele
fazia, ele tinha que passar sete noites na mata, tinha que lutar com bicho preto, e ele tinha
que matar o que ele tivesse mais amizade... Ele curava alguma coisa, de moléstia ele
curava (Entrevista à autora, T 32).
A esposa do entrevistado também conta do feiticeiro, e ressalta que o pai do marido não
quis aprender esse conhecimento, pois o processo iniciático era muito violento, uma vez que
implicava matar a pessoa que ele mais gostava na sua vida:
Filho, mulher, qualquer coisa que ele encontrasse e que ele tivesse mais amizade, ele
tinha que matar... O pai dele só curava, mas não fazia mal para ninguém, mas o avô dele
matava a pessoa na hora, só dele olhar, ele matava a pessoa. Ele era feiticeiro daquele
mesmo perigoso... e matava (Entrevista à autora, T 31).
A entrevistada contou uma história como exemplo, em que o avô do marido (que era seu
primo, portanto também parente) matou um pescador só de olhar, por pressentir que o rapaz
havia falado mal dele:
Eu lembro uma vez, nós morava lá em Taquanduba, onde é a Igreja Assembléia de Deus,
ali era nossa casa, nós morava ali. E lá em cima do morro tinha um homem chamado
Valdomiro e meu pai gostava muito dele, se dava muito com ele, era um amigão dele. Aí
quando foi um dia ele disse assim, agora no mês de maio tem muita savelha na praia né?
É um peixe. E andava o pessoal na praia e ia cercar (o peixe savelha), aí esse cara, esse
tal de Valdomiro veio e ficou ali na praia, esperando o peixe chegar, pra cercar o peixe
pra matar, e ele era muito levado, ele falava as coisas assim sem pensar. Aí nóis tava tudo
na praia, eu lembro disso daí como se fosse hoje, e ele chegou, e desceu lá o avô do
Odorico, e ele disse assim: Viu, o mandingueiro já vem lá! Aí a minha tia falou: Quieto
heim, sabe que ele mata na hora! E ele falou: Mata nada! É. Ele não acreditava. Aí ele
veio com nóis (o avô feiticeiro, Mané Gabriel), passou e cumprimentou todo mundo, e
falou assim pra ele: O que é que você falou? Quando eu desci ali no morro você falou
uma palavra, o que você falou? Aí ele disse: Ah seu Gabriel, eu não fiz nada não, falei
nada não. E aí ele matou na hora, não deixou pra amanhã. O cara saiu e já doía cabeça,
na hora, ele gritava, o rapaz ficou louco. Não durou até meia noite. Aí o homem ficou ali
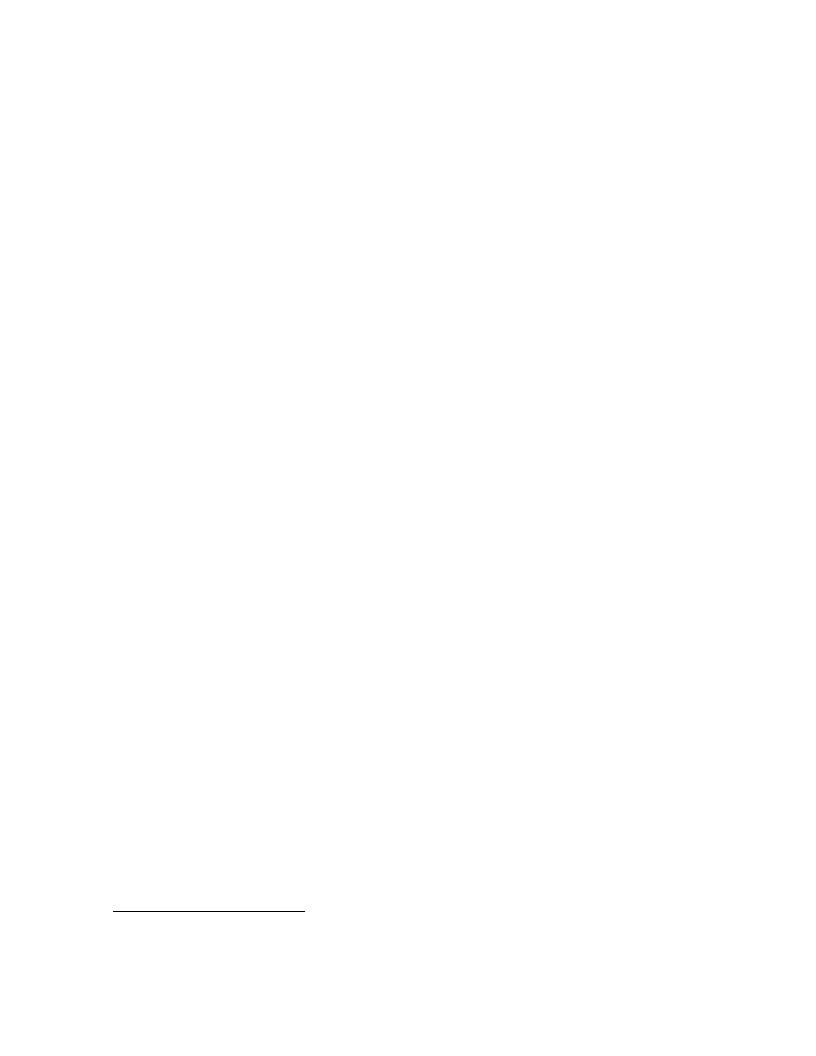
176
desesperado, muito desesperado, levaram ele pra casa do pai dele, da mãe dele pra tomar
um remédio e não adiantou. Ele matou o cara na hora. Ninguém dessa praia se dava com
o avô do Odorico, porque ele matava na hora (Entrevista à autora, T 31).
A crença em torno dos poderes desse antigo caiçara foi ressaltada por todos que o
conheceram, inclusive nas outras comunidades visitadas pela pesquisadora. Essa mesma história,
assim como outros feitos do feiticeiro, foi contada por vários pescadores, evidenciando que a rede
de comunicações presente nesse sistema cultural é reafirmadora das crenças estabelecidas por
eles, que não são isoladas entre si, mas se interligam por meio das relações de parentesco e de
casamentos. Lévi-Strauss (1996) ressalta que a confiança social precisa se consolidar em vários
níveis para que o poder de um feiticeiro se legitime:
Não há, pois, razão de se duvidar de certas práticas mágicas. Mas, vê-se, ao mesmo
tempo, que a eficácia da magia implica na crença da magia, e que esta se apresenta sob
três aspectos complementares: existe, inicialmente, a crença do feiticeiro na eficácia de
suas técnicas; em seguida, a crença do doente que ele cura, ou da vítima que ele
persegue, no poder do próprio feiticeiro; finalmente, a confiança e as exigências da
opinião coletiva, que formam a cada instante uma espécie de campo de gravitação no
seio do qual se definem e se situam as relações entre o feiticeiro e aqueles que ele
enfeitiça (LÉVI-STRAUSS, 1996: 194-195).
No caso de Ilhabela, se compreende que o feiticeiro só conseguiu matar o pescador que
falava mal dele pela credibilidade social em torno dos seus poderes, criando-se uma dimensão tão
real com relação à crença que seria impossível ela não funcionar. Em outras palavras, a questão
que se coloca à episteme que se tenta desenvolver nessa tese, é com relação aos poderes do
campo cognitivo, capaz de ultrapassar a dualidade natureza e cultura e objetivar fenômenos que
somente são compreendidos quando inseridos no contexto onde ocorreram.
O mesmo casal de caiçaras que contou a história do avô feiticeiro, relatou que muito do
aprendizado da medicina popular foi por eles obtido por intermédio do filho desse feiticeiro, que
era o pai do senhor entrevistado. Ambos ressaltaram que o conhecimento mais absorvido foi
sobre as doenças, os remédios, as rezas e as benzeções, porque nenhum filho teve coragem de
aprender os poderes sobrenaturais do avô.
Outro caso contado por esse casal foi sobre o pai do pescador, que se encontrava
caminhando em uma picada35 no meio da floresta, quando resolveu parar em um córrego para
35 Picada é um caminho que não corresponde a uma trilha, onde somente os caiçaras sabem andar, pois é demarcado por
referências que eles mesmos elencam, podendo ser uma árvore, o sentido do sol, entre outras. A pesquisadora andou por picadas
junto a eles para visitar alguns pontos históricos considerados como importantes, como o Poço da Nega, uma piscina natural onde

177
beber água. Nesse momento, ele avistou uma cobra bebendo água, e percebeu que ela havia
deixado seu veneno sobre uma folha de árvore perto do riozinho. O casal relatou que o veneno foi
descrito como sendo da cor amarelo ouro, e parecia uma gema de ovo estourada. O pai então
pegou a folha com o veneno e jogou-a na água corrente. Quando a cobra percebeu que seu
veneno havia desaparecido, ficou irritada, se mexendo furiosamente como uma louca e morrendo
logo em seguida.
Em uma conversa também não gravada na comunidade da Serraria, a esposa de um
pescador comentou que entre eles era comum a prática de feitiços, alguns realizados com o sapo.
Eles escreviam o nome da pessoa a ser atingida em um papel e costuravam dentro da boca do
sapo, para que aquela pessoa se prejudicasse. A pessoa, para desfazer o feitiço, deveria então
descosturar a boca do sapo, quando encontrado, com a mão esquerda e na margem esquerda de
algum córrego ou cachoeira, senão não seria possível desfazer o trabalho. Esta caiçara revelou
que episódios desse gênero já haviam acontecido com ela algumas vezes, ocasionando patologias,
desmaios e problemas no coração, taquicardias, e quando ela encontrava seu nome dentro da boca
costurada do sapo, corria a desfazer o encanto. Ela também relatou que houve vezes em que ela
não desfez o encanto corretamente, e isso gerou muitos problemas na vida dela, gerando a
necessidade de se buscar algum curandeiro até fora de Ilhabela.
A realização de conexões simbólicas com a natureza, por meio de seus animais, foi muito
ressaltada nas entrevistas. O trabalho de campo nas comunidades mostrou que os caiçaras crêem
fielmente nessas histórias, e a realidade se mostra a eles como coerente aos mitos e símbolos,
nascidos no decorrer de uma trajetória passada de geração para geração, mas que vem sofrendo
toda espécie de rupturas, degradações, e que mesmo assim, sobrevive diante de tantas forças
contrárias.
As picadas de cobra também foram citadas por eles como um dos problemas mais
recorrentes, sendo o remédio local considerado de difícil confecção, pois envolvia regras
complicadas de se cumprir. Entendeu-se também que este processo terapêutico implicava em
muita responsabilidade, pois a pessoa teria que saber muito para produzir o remédio:
uma antiga escrava havia se suicidado e nenhum caiçara se permitia nadar, e a praia da Caveira, considerada mal assombrada, por
ter sido usada como cemitério dos cadáveres de naufragados.

178
Uma pessoa pra saber remédio pra veneno de cobra tem que saber muito, tem que ser
bom. Tanto é que diz que o remédio é enjoativo, se você tomar e vomitar você morre...
Eu sei de algumas coisas que vai, mas preparar, eu não sei. Sei que vai algumas folhas de
guaco, e tem mais uns remédios que vai. Meu pai já falou mas eu perdi já, perdi já a
noção. Ah, mas eu quero aprender. Eu tenho que aprender... Eu sei que o guaco é bom,
ele faz parte do remédio pra curar de cobra, e aqueles que tinha ali, na pedra, espinhudo o
mandacaru, tem o espinhudo que tem na praia... eles são de quatro quinas né, quatro
lados, mas diz que esse de quatro lados não serve, tem que ser de três quinas, tipo um
triângulo né. Geralmente é tudo de quatro, aí no meio tem um triângulo de três quinas. É
esse que você pega... é que a gente aprendeu e não esquece né, a gente acostuma a fazer
pras pessoas, a gente fica arisco, qualquer emergência a gente sabe, antes de chegar no
hospital, se precisar, tomara que a gente nunca precise né (Entrevista à autora, T 18).
O remédio para picada de cobra era um assunto mais delicado para se tratar nas conversas.
Em todas as comunidades visitadas, foi citado um curador já falecido que sempre fazia remédios
para picadas de cobra. A filha dele foi entrevistada, e revelou alguns elementos do conhecimento
do pai que foi passado para ela:
O meu pai usava muito, ele tirava o veneno de cobra, quando mordia ele tratava
entendeu?... Alguma coisa eu sei, mas é remédio assim que não é de garrafada, é só pra
quebrar o galho, pra evitar um pouco até chegar na Ilhabela. Então, quando a cobra
morde a gente tem que amarrar a perna para o inchaço não subir. Aí a gente pega um
guaco que tem aqui, amassa bem ele, faz uma colher de sumo, uma gotinha de álcool, e
dá para a pessoa beber. Que é pra poder evitar uma subida pra cima. Que nem animal, é a
mesma coisa, a gente trata deles quando eles levam picada de cobra. Eu mesma trato
deles quando o bicho morde. Aí eu pego, dou pra eles, abro a boca e soco um pouco de
guaco pela boca, e aquele bagaço eu coloco álcool e amarro no local da mordida. Se
passar 24 horas e não morreu, não morre mais. Tem vezes que os cachorros até fazem
xixi de sangue, quando a cobra é bem venenosa mesmo. Mas nunca morreu nenhum.
Agora a cabeça do macuco a gente torra quando a ferida é muito grande pra tratar. Isso é
pra gente já. Faz o pozinho pra poder curar. Tem que ser matado na sexta feira pra ser
remédio pra cobra, pra curar a dentada da cobra. Soca a cabeça, depois torra ela, amassa,
amassa, sai aquele pozinho e põe na ferida (Entrevista à autora, T 28).
O guaco foi citado como parte do remédio, mas outros caiçaras elencaram formas de tratar
em que eram usados outros ingredientes. Sem dúvida o ingrediente comum em todos os
depoimentos foi a cabeça do macuco, que era usada tanto para beber junto ao medicamento,
quanto para cicatrizar as feridas das dentadas das cobras. No momento em que os caiçaras eram
questionados a respeito do macuco para tratar as feridas, a resposta era sempre a mesma:
O macuco serve, só que tem que morrer na sexta-feira. Tem que matar ele na sexta-feira
(Entrevista à autora, T 22).
E a esposa do entrevistado acima, uma senhora também nativa, reitera:

179
O macuco serve pra beber na água morna também. Pra quem não bebe pinga. E pra torrar
e fazer aquele pozinho também, pra dar uma tratada né. Mas hoje em dia você não acha
querosene aqui não pra tomar. Aí usa o alho no álcool... E dizem que quando a gente leva
picada de cobra tem que chupar o veneno e cuspir pra fora né (Entrevista à autora, T 23).
O querosene foi citado por muitos caiçaras como a primeira coisa a se tomar, ao levar a
picada da cobra, na medida de dois dedos em um copo d’ água. Porém, muitos relataram não
haver mais esse ingrediente para comprar, e que no caso, substitui-se a querosene pelo álcool, ou
pela pinga, amassada no alho e no guaco. Posteriormente, se faz o remédio ou a garrafada a partir
da associação entre plantas e animais, nesse caso o lagarto (a língua do teiú), o macuco (cabeça),
e o guaco. Isso foi destacado pelas entrevistas, que afirmavam a importância de se matar o
macuco na sexta feira para que o tratamento funcionasse:
Pra fazer a garrafada, a gente põe a língua do lagarto, a cabeça do macuco, e o guaco. É o
remédio da cobra, pra matar o veneno da cobra... O macuco é uma ave... Mas só pode
matar no dia de sexta-feira... quem ensinou a nóis, foi o pai dele (e aponta para o
marido). O pai dele entendia muito sabe? Ele entendia de veneno de cobra, ele entendia
muitas coisas (Entrevista à autora, T 31).
O diretor das comunidades também era caiçara, e possuía muitos antepassados em
Ilhabela, sendo o responsável por viabilizar a primeira visita de campo da pesquisadora na praia
Mansa e na praia da Figueira. Participando das conversas com os pescadores, ele interpretou a
relação entre a língua do teiú sobre o veneno da cobra pelo fato de uma determinada espécie de
lagarto se alimentar de cobras, e não morrer pela ação do veneno. Somente essa espécie de
lagarto, no caso a sua língua, serviria para compor a receita do medicamento:
Veja bem, quem sabe na língua do lagarto não pode ter alguma coisa pra quebrar o
veneno dessa cobra (Entrevista à autora, I 10).
Outra menção importante ocorreu na praia Mansa, onde um dos pescadores que também
era fazedor de garrafadas relatou que, quando o lagarto levava a picada de cobra, ele corria pela
floresta em busca de uma batata específica, e quando ele a comia, o veneno era cortado. Somente
tal batata serviria. E o irmão desse entrevistado relatou a existência de um mato que espanta
cobras:
Lá na Vitória o Ronaldo falou pra mim e o Ramiro também falou que tem um tipo de um
mato lá que a cobra chega lá e morre tudo, ele tinha falado isso daí?... Se ela for lá no
lugar que tem esse mato, ela não se acostuma, no lugar que tem esse mato não tem cobra.
Certeza que deve fazer algum efeito pra ela e ela sai fora dali (Entrevista à autora, T 18).

180
De acordo com as entrevistas, nunca morreu nenhum caiçara de picada de cobra em
Ilhabela. No entanto, a situação atual vem se transformando, pois a recorrência aos antigos
conhecimentos terapêuticos vem diminuindo. Nos dias de hoje, quando os caiçaras mais jovens
são acometidos por essa situação, vão para o lado urbanizado procurar ajuda no pronto-socorro e
no hospital. Mas mesmo assim, durante as conversas foi salientado que entre seus antepassados
não havia conhecimento de nenhuma morte relacionada à não eficácia dos medicamentos locais
usados:
Eu tenho um filho que mora lá na Ilhabela, a cobra mordeu nele, e eu tinha ido pra roça,
tinha ido carquejá feijão, a gente tava com eles maduros, daí eles foram pra Ilha, foram a
pé. Depois de dez minutos eles voltaram, aí o filho falou ai mãe voltemo, tava dando uma
dormência e eu voltei. Aí eu fiquei toda desesperada né, e agora? E tira a calça e bota o
short, ai mãe não tá doendo não, não fica apavorada não, ele dizia, daí eu peguei um
bocado de querozene, meio copo de querozene, ele olhou assim, aí ele falava: ai mãe
tomar querosene, e eu falava: toma querozene meu filho...depois o médico falou pra mim
que se eu não desse um remédio pra cortar ele morria, porque a cobra mordeu o pé dele
do lado esquerdo, e quando morde do lado esquerdo é perigoso. Bom daí eu dei o
querozene, daqui a pouco me chamaram pra vim ver e ele tava mal, a cobra mordeu nele
e pôs muito veneno sabe? Não sei como ele se curou. Eu que tava em um desespero,
chegou um barco aqui e falou oi dona, fique tranqüila. Lá o médico rasgou o pé dele e fez
quatro corte assim ó, pra tirar o veneno, aí o médico falou que se eu não levo, ele morria,
o risco que o veneno ia pegar o coração dele, porque foi no lado esquerdo... Eu nunca fiz
o remédio pra dar pros outros... Ficamos sabendo a receita porque a gente via o pai dele
fazer (apontando para o marido), o pai dele fazia e a gente guardava, ele dizia o remédio
da cobra é esse, esse, esse, um pouco a gente ficou sabendo. Primeiro ele dava a
querosene, e depois o remédio. Ele fazia a garrafada, e dava pra pessoa ir bebendo até
sarar. Se não beber querosene não adianta tomar a garrafada, por que tá com o veneno
dentro do corpo. Aqui nunca ninguém morreu não de picada de cobra (Entrevista à
autora, T 31).
A antiga benzedeira da praia da Figueira contou como ajudou seu filho usando a
querosene, quando ele levou picada de cobra, salientando que o problema fica mais grave, quando
a ferida ocorre no lado esquerdo do corpo da pessoa, pois tornar-se-ia mais fácil o veneno
alcançar o coração.
Outros casos de pessoas antigas que tinham poderes sobre as cobras foram relatados. Entre
esses casos, foi mencionado um residente da praia da Fome como detentor desses poderes nos
dias atuais:

181
Isso deixa eu falar que isso aí eu tô por dentro. Um senhor de idade já, ele pega cobra
com a mão e pode ser a cobra mais venenosa que for, ele coloca o dedo na boca da cobra
e a cobra não morde ele. A cobra espeta na mão dele e ele pega assim a cobra venenosa e
coloca no bolso. E aí eles dão um assobio e a cobra vai embora. Some. Esse cara mora
aqui, na praia da fome... Outro dia ele chegou lá no boteco, onde vendia umas cachaça,
chegou com o bolso cheio de cobra. Aí chegou pro cara e falou: dá uma pinga aí. O cara
deu a pinga e ele falou assim: quanto que é? Quer o que eu tenho no bolso pela pinga? O
cara falou: Eu não. Aí rapaz ele pegou uma jararaca, pois em cima da mesa e ela ficou
assim andando em cima da mesa do bar do cara. Aí ele assoviou e a cobra veio na mão
dele, ele pôs ela no bolso, deu risada e saiu. Esse cara mora aqui, na praia da Fome
(Entrevista à autora, I 10).
Esse senhor era conhecido entre os pescadores da praia Mansa, que relataram a
importância da crença em relação ao que o homem dizia, para que a cobra não o mordesse:
Se você tiver coragem, não pode ter medo, uma cobra venenosa, ele fala: pode pegar que
ela não vai te morder, se você pegar na fé mesmo, ela não te morde... Se ele falar que
pode pegar nela, que ela não vai morder... Ele tem uma reza... Mas tem pessoa que não
acredita, a gente fala pras pessoas e as pessoas dão risada na cara da gente, mas é
verdade, isso já vem dos mais velhos (Entrevista à autora, T 18).
Os pescadores da praia Mansa relataram que esse senhor era protegido por reza, e que se
ele dizia que era possível tocar na cobra, a pessoa poderia confiar nele, pois a cobra não
morderia. No entanto, para que a cobra não mordesse, seria necessário confiar plenamente no
homem que detinha os poderes sobre ela, já que sem essa confiança, isso não seria garantido.
Esse pescador também revelou que muitas pessoas não acreditam na proteção das rezas e que
zombam dessa crença entre eles. Cabe destacar mais uma vez que para entrar nesses assuntos a
pesquisadora teve que fazer o possível para criar um clima generoso e amigável, pois eles sabiam
que não tinham credibilidade quando contavam para qualquer pessoa. O que se percebeu foi uma
consciência de que suas crenças não eram respeitadas pelas pessoas que viviam nos centros
urbanos.
Nas conversas, os pescadores assinalaram que se a cobra fosse coral, a pessoa picada
morreria, já que não havia remédio para o veneno dela. Mas caso fossem picados por outras
cobras, e não houvesse jeito de chegar ao hospital, devido às condições do mar, eles saberiam se
virar por ali mesmo, com os remédios e o conhecimento adquirido sobre o mato.
O próximo depoimento é de um antigo pescador da praia de Castelhanos. Ele revelou que
já havia levado picada de cobra três vezes na sua vida, e que o conhecimento que ele tinha dos
remédios caseiros veio do pai e do avô, sendo que este último também tinha poderes sobre as

182
cobras, benzia e conhecia muitos remédios da natureza, passando informações para os
descendentes:
Já levei picada de cobra três vezes. Aqui que a cobra mordeu, ela deixou os dentes todos
aqui... Tratei aqui mesmo... Com remédio do mato. Querosene, com alho, e quando não
tem querosene, é com álcool... A primeira vez foi lá no mato, em Guanxumas. Aí eu
peguei e matei a cobra, tirei um pouco de sangue numa cuia, bebi um pouco de sangue
misturado com um monte de coisas dela, por que no mato não tem jeito!!!(risos) Aí
descasca ela, tirei aquele sangue, botei numa folha e tomei. Aí cheguei em casa e peguei
um pouco de alho, soquei bem socadinho, peguei e tomei um copo de pinga. Botei aquele
alho, virei aquele remédio com sangue, com tudo, bebi aquilo tudo, quando foi no outro
dia, nem inchou... E quando passaram uns 15 dias, outra cobra me mordeu aqui... Era
jararaca. Aí eu fiz aquele remédio tudo de novo e bebi. Quando era um dia desses, eu
matei uma caninana, daquelas bem grandes... (a esposa dele cita que essa cobra não é
muito venenosa). Ela deixou os dentes aqui tudo, agora sarou. E eu não fiz o remédio. Aí
eu matei a cobra, tirei os dentes dali, fiquei só um pouquinho ruim... Eu já sabia (o
remédio). Meu pai sabia... Meu pai benzia muito, muito. Quando meu avô estava aqui, e
se mordia uma cobra aqui, ou mordia no mato a gente, ele perguntava, onde foi, aí a
gente falava foi no mato lá em cima, e ele assoviava, daqui a pouco a cobra vinha
andando assim (Entrevista à autora, T 22).
Este entrevistado tinha 85 anos, e relatou que na época de sua infância, todos da família
procuravam o avô quando eram picados por cobra. O avô, antigo escravo de ascendência
africana, no momento em que era contactado para tratar das consequências da picada nos
familiares, assoviava, e a cobra que havia mordido a pessoa percorria as redondezas e aparecia na
frente deles. Não era necessário matar a cobra para a confecção do remédio, esse senhor revelou
que o assovio era necessário para que o avô identificasse a espécie para fazer o remédio
adequado. Também foi relatado que para tratar as picadas das cobras, o avô fazia várias rezas e
benzimentos, que se diferenciavam de acordo com a espécie e com o tamanho da mordida.
Pelos exemplos citados até agora, pensa-se que a analogia entre os caiçaras foi capaz de
criar campos de conexões entre fenômenos, entre objetos, sentimentos e representações,
conseguindo operacionalizar os instrumentos do mundo de acordo com os significados atribuídos
a eles, ou seja, o que importa não são os elementos relacionados na equivalência, no caso a
pessoa e a cobra e, sim, a relação simbólica estabelecida pela crença para o evento (GODELIER,
1973).
Apesar do reconhecimento de alguns elementos de origem africana nos procedimentos
terapêuticos evidenciados pelos caiçaras do lado oceânico, não foi identificada entre eles a
participação em grupos de umbanda ou de candomblés, referentes a estas tradições. Entre eles, as
rezas e as benzeções sempre foram práticas necessárias para solucionar inúmeros casos de

183
infortúnios, atuando sobre os fenômenos da natureza e sobre as forças espirituais. Nas
comunidades do Bonete, Serraria e Castelhanos, e na praia do lado urbano da Armação, foram
encontradas benzedeiras e parteiras, e todas elas também faziam uso dos remédios naturais. Elas
eram mulheres idosas, algumas com maridos pescadores ainda vivos e outras já viúvas, que
contaram estórias do passado e do presente, relatando como resolviam as doenças de antigamente
e dos tempos atuais. Duas das quatro benzedeiras entrevistadas deixaram de benzer, por terem se
tornado evangélicas. Elas não se sentiam muito à vontade para falar sobre o assunto, mas
admitiram ainda benzer em alguns casos de necessidade.
Oliveira (2007) chama atenção para o fato de o conhecimento científico buscar traduzir,
classificar ou conceitualizar as culturas locais, na tentativa de se compreender como uma
cognição é elaborada pelo pensamento tradicional, nascido no exercício empírico das relações
com o ambiente. No entanto, essas relações advêm de outras maneiras de apropriação do mundo
natural e sobrenatural, e se manifestam na experiência, como encantamento ou transcendência.
No depoimento a seguir, a benzedeira do Bonete tenta diferenciar os males que acometem
os moradores do lado oceânico da ilha: o quebrante, o mal-olhado e a depressão. Os dois
primeiros sintomas são decorrentes de forças externas à pessoa, remetidos a agentes nocivos
materiais e imateriais. Porém, a depressão é interpretada como algo diferenciado, advinda da
solidão ou da ausência dos entes queridos. A entrevistada também entende que a alteração da
organização do grupo social pode ocasionar um desequilíbrio interno, sendo curada, ou esquecida,
a partir de uma nova construção afetiva:
Quebrante é olhado que botam na gente, olho gordo, tem gente que põe... Deixa a gente
todo quebrado de dor, dá aquela dor, aquela preguiça, aquela sonera, sabe? ...Quando
você está enjoada, tem dor de cabeça, dor no pescoço, aqui na nuca, abrimento de
boca...é olho gordo... se a senhora ficar num lugar, sozinha, que não tenha ninguém, que
tenha pouca gente e a senhora tenha família por fora, a senhora fica doente, fica
pensando naquilo ali... tanta gente que eu tenho e fico aqui sozinha, dá depressão. A
senhora sabe o que é depressão? Dá uma depressão na gente e a gente fica doente. Aí a
gente tem que sair, disfarçar um pouco, tomar ou fazer umas coisa no corpo pra gente
esquecer, sair, botar o pensamento noutro lugar, começar noutro mundo e viver, faz bem
(Entrevista à autora, T 31).
Buchillet (1991) e Zémpléni (1994) reconhecem a importância de se relacionar as doenças
às sociedades em que as interpretações foram construídas e identificam o papel da doença como
instrumento social de controle e auto-reprodução das sociedades por eles chamadas de
tradicionais.

184
Segundo Zémpléni (1994) a doença serve, muitas vezes, como instrumento de legitimação
ou como justificativa para certos acontecimentos sociais (fracassos profissionais, ausência no
emprego, comportamento desviante). Interpretando esse autor, é possível identificar que, quando
a causalidade de algum infortúnio é vista apenas como exterior à responsabilidade do indivíduo,
seu estado (seja ele de qualquer doença, de stress, de mau humor, de nervosismo descontrolado,
de depressão, gastrite) age como um mecanismo de ajuste às situações sociais, como por
exemplo, em casos de brigas familiares, a doença pode forçar as pazes, ou pode forçar uma
conduta ou um gesto. A enfermidade então é capaz de gerar atitudes que não seriam realizadas
naquele momento se não houvesse a situação da doença, garantindo assim, por meio da doença,
sua reprodução social.
Trazendo essa discussão para a atualidade, nos centros urbanos, por exemplo, as doenças
venéreas podem revelar comportamentos sexuais não socialmente sancionados. Sendo assim,
algumas doenças são interpretadas como punição sobre o ato desviante e asseguram uma imagem
a ser reproduzida, da boa conduta social.
Isto quer dizer que tanto nas comunidades dos caiçaras, quanto na parte urbanizada de
Ilhabela e de outros municípios, o adoecimento possui uma força reguladora, servindo como meio
de orientar condutas e também de punir as que não se enquadram naquilo que não é socialmente
aceito. Também na questão das relações sociais, as forças que emergem destas relações, sendo
biológicas (como um vírus), mágicas (como feitiçaria) ou decorrentes de sentimentos como a
inveja, o ódio, o ressentimento, por exemplo, seriam capazes de gerar enfermidades atuando
como agentes impessoais que se aproximam de punições, uma vez que buscam o controle das
ações humanas (ZÉMPLÉNI, 1994).
Nas comunidades visitadas em Ilhabela, muitos familiares e antepassados dos
entrevistados foram identificados como benzedores, o que possibilitou concluir que o benzimento
se constituía como um ritual que regulamentava a ordem das relações. Eis depoimentos que
tornam evidente a importância dos laços familiares na reprodução social do conhecimento, que
no caso é a benzeção:
Todas as duas vó minha benzia, meu pai benzia, ele benzia de quebrante. Agora ninguém
benze não, só quem benze quebrante é Leopoldina. Eu já benzi, eu benzia de cobreiro, de
irizipela, eu benzia de dor de barriga, de ataque de bicha que antigamente dava muito. Só
não benzia de olhado, de quebrante... não benzia... irizipela (ou izipela) é uma mancha,
que você tem uma feridinha no pé ou na mão, não importa o lugar que for, que sai
aquelas manchas vermelhas assim (Entrevista à autora, T 31).

185
A antiga benzedeira da praia de Castelhanos contou como aprendeu a benzer de mar de
fogo:
Mas minha avó benzia muito, benzia quebrante, e eu ficava sempre do lado dela, ela
benzia de mar de fogo. É vermelhidão que dá no bumbum de criança quando toma vacina
sabe? Ela pegava um tijolo e colocava no fogo, aí quando ficava vermelho, nem
precisava esquentar a água, quando a água ficava vermelha dava banho nas crianças...
Era para o mar de fogo, ela benzia e fazia isso também. Ela fazia e sarava (Entrevista à
autora, T 21).
A caiçara da praia da Serraria conta que quando não se sente bem, recorre à bênção da
sogra para se curar do olhado:
Tem a minha sogra, mas ela só sabe benzer de olhado, olhado é modo de dizer, sei lá, um
negócio que a gente sente no corpo meio ruim e acha que não tá muito boa, aí ela dá uma
benzida na gente e a gente melhora entendeu? Por que eu gosto meio de bagunça e hora e
meia eu tô lá (ela fala e ri)! (Entrevista à autora, T 28).
O relacionamento da pesquisadora foi bastante próximo com essas senhoras, elas se
mostravam bastante receptivas, ofereciam almoço, café, e conversavam durante o tempo que
fosse necessário para que a pesquisadora se sentisse satisfeita. A fé sempre era reafirmada para se
obter o alcance da bênção e das rezas nas relações entre familiares, atuando sobre as brigas e
questões sociais, assim como no mundo natural, como a sua importância para a pesca ser bem
sucedida, por exemplo.
Oliveira (2007) salienta que a própria condição de ser uma prática sagrada, o ato da
benzeção faz com que “a natureza se inscreva na cultura e a cultura na natureza” (OLIVEIRA,
2007: 17), ressaltando a simetria existente no momento do ritual. No caso das benzedeiras
entrevistadas em Ilhabela, foi possível identificar que por meio do uso de ervas, flores, ramos,
velas, sal, água, óleos ou banhas de animais, alcançam-se dimensões naturais e culturais que não
estão apartadas, atuando-se ou exercendo-se controle sobre elas, ou de uma sobre a outra, em
caminhos plenamente aceitos pelo grupo social, pois é cercado de afetividade. Segue o
depoimento que demonstra a maneira de se percorrer os territórios da natureza e da cultura, pelo
benzimento do cobreiro:
Cobreiro você benze assim: “Donde vindes Pedro, derrama senhor, que doença por lá,
cobreiro senhor, com que se cura, com erva do campo, e com água do rio. Nesse
momento você pega aquele galhinho que é do campo, qualquer galhinho de mato, põe na

186
água e benze, molhando a pessoa no lugar que você está benzendo, com isso mesmo eu
curo, se é do sapo, sapão, se é da cobra, cobrão, se é de aranha, aranhão, bicho de sete
nação, tudo que tu comes graças não dai, seco te vejo, esmirrado sejais”. Aí o cobreiro
sarava, a gente benzia três vezes. E sempre eu faço isso nos meus meninos, nas minhas
crianças, aqui até hoje qualquer coisa que eles tenham assim, eles vem aqui: vó, ou mãe,
benze aqui pra mim, eles tem fé sabe? Depende da fé da pessoa. Igual médico, você vai
no médico e se você não tem fé no remédio que ele deu, não faz efeito pra você
(Entrevista à autora, T 16).
Ela conta como benze de bicha, que é como eles chamam a verminose:
Eu benzo de bicha também, é assim: “Santa Veridiana, mãe de Santana, Santana mãe de
Maria, Maria mãe de Jesus, essas três palavras são santas, são verdade, sai a bicha da
barriga de (fala o nome da pessoa), de uma em uma, de duas em duas, de três em três, de
quatro em quatro, de cinco em cinco, de seis em seis, de sete em sete, de oito em oito, de
nove em nove; de nove em nove, de oito em oito, de sete em sete, de seis em seis, de
cinco em cinco, de quatro em quatro, de três em três, de duas em duas, que caia todas e
não fique nenhuma, em nome de Deus. Bicha gulosa que come e não goza, bicha gulosa
que tanto desejai, permita Nossa Senhora que em água vos vetai”. A gente esfrega a
barriga das crianças e fala essas palavras. Vai fazendo as cruzinhas e vai falando as
palavras. E quando a bicha está alvoroçada fica aquelas pelotas na barriga sabe?...
Funciona, pra nós sempre funcionou! Elas acalmam, é um tipo de um calmante pra nós,
porque a gente já tem aquela fé. Cobreiro a gente benze na água (Entrevista à autora, T
16).
E como benze de irizipela, ou izipra, que é um tipo de ferida que também dá na pele:
A izipra é quando dá uma ferida na pessoa, assim no corpo, uns vermelidão ao redor
assim, aí a gente benze assim: “izipra que dá na pele, da pele dá no tutano, do tutano vai
pro mar, permita Nossa Senhora que izipra não torne a dar”... (vai fazendo o sinal da cruz
com o dedão no local ferido)... Aí acabou, é só essas palavras que a gente fala, não
precisa molhar nada... De cobreiro, o pessoal tudo aqui chama isso de cobreiro, izipra,
que é pra aquela irizipela que dá na pele (Entrevista à autora, T 16).
Entretanto, um fenômeno social tem influenciado na diminuição dessas práticas entre
muitas benzedeiras das comunidades de Ilhabela, que é o da inserção da religião evangélica.
Adams (2000) ressalta que os caiçaras sempre foram predominantemente católicos, mas essa
religião não era seguida exatamente de acordo com as regras da Igreja de forma homogênea e
tradicional. Eles associavam a religião ao folclore desenvolvido historicamente pela misturas
culturais, manifestando em festas de casamentos, procissões e danças todo o sincretismo religioso
característico da cultura popular brasileira. Mas a mesma autora salienta que essas práticas têm
sofrido o reflexo das religiões evangélicas em algumas comunidades, levando a ruptura de
antigos valores religiosos e ocasionando conflitos. A esse respeito, a benzedeira de Castelhanos

187
conta porque parou de benzer nos dias atuais:
Agora eu não benzo mais, quando era antigamente eu fazia, mas agora a gente é
evangélico e deixou tudo. Mas a minha avó era benzedeira sabe? Ela benzia cobreiro, só
que ela não era daqui, ela morava daquele lado de lá, depois só que a gente veio pra cá
(Entrevista à autora, T 21).
As benzedeiras contam com tristeza o fato de não poderem mais benzer devido à regra
estabelecida pela religião evangélica. E relatam que antigamente benziam muito, pois não havia a
visita da ambulancha e nem médicos para tratar das enfermidades:
É, minha mãe, meu pai, minha avó, todos já sabiam, então eles faziam os remédios e a
gente via... Já benzi, eu benzia de cobreiro, de irizipela, eu benzia de dor de barriga, de
ataque de bicha (verme), que antigamente dava muito. Só não benzia de olhado, de
quebrante... isso não benzia. Agora eu não benzo mais não, até esqueci... A gente se
interessava porque antigamente, antes, sei lá, não existia médico né? (Entrevista à autora,
T 31).
Houve contradições nos depoimentos das ex-benzedeiras, pois algumas vezes elas
afirmavam que quando havia necessidade, elas benziam. A questão ficava mal contada, talvez,
em detrimento do conflito psíquico existente, pois elas admitiam a fé na religião evangélica, mas
também afirmavam benzer e sentir saudades da época em que benziam:
Porque minha mãe fazia muito e eu via ela fazendo, e até hoje quando as crianças tem
alguma coisa, a gente faz. Antigamente benziam mais, quando a criança não dormia a
noite, era um quebrante, aí benzia e a criança dormia, tirava aquela roupinha para não
pegar de novo e aí sarava. Mas agora não tem mais nada, não usa mais nada, não pode
mais usar. E outra, se não tem fé naquilo, aquilo não vai dar certo né? (Entrevista à
autora, T 21).
A mesma entrevistada afirma ter mais fé nos remédios dos antigos do que em relação aos
medicamentos de hoje:
Ah hoje ninguém mais quer fazer chá, faz uma gripinha, ah eu vou levar a minha filha lá
na cidade. Mas eu não tenho fé em remédio de farmácia não, eu tenho é nos remédios
que a minha mãe fazia. Ainda hoje, quando os meus meninos de 12 anos tossem, tossem,
tossem, eu vou lá no meu poejo, pego um bocado e faço uma caneca e eles tomam, e
passa (Entrevista à autora, T 21).
A impressão que se teve a partir das entrevistas de campo, era que a relação terapêutica
construída com o ambiente local tinha um reflexo maior nas corporalidades dos caiçaras. Os
elementos da natureza que são até hoje articulados nos rituais de cura, são partes da existência

188
simbólica e material dessas pessoas que sempre viveram do lado oceânico de Ilhabela. Oliveira
(2007) contribui para essa análise, partindo da compreensão acerca da amplitude da consciência
humana, reveladora de mundos e de seres que experimentam um sentimento de integração, ou
seja, todos os seres vivos compartilhando o sentimento da condição unitiva com relação a
natureza.
Dessa forma, as maneiras com que os caiçaras se relacionam com a natureza podem
revelar aspectos importantes da existência humana e da sua relação coerente com o mundo natural
e sobrenatural, guiado pelas representações simbólicas que orientam um tipo de cognição capaz
de estruturar relações entre esferas que são distintas para a sociedade moderna, tais como a
interpretação dos fenômenos naturais dentro de uma relação de intencionalidade ou de
propositividade. Essa relação é respeitada nesta pesquisa como fonte de um conhecimento sobre
os elementos naturais de Ilhabela e seu poder terapêutico, visto de outro ângulo, junto aos seus
mistérios e segredos que se misturam entre as práticas culturais ainda presentes entre os caiçaras.
Na tentativa de organizar a fitoterapia e a zoologia praticada pelos caiçaras das comunidades
visitadas, foi elaborada uma tabela que identifica as doenças, as plantas, os animais, as receitas
dos medicamentos e os critérios de uso do medicamento natural.
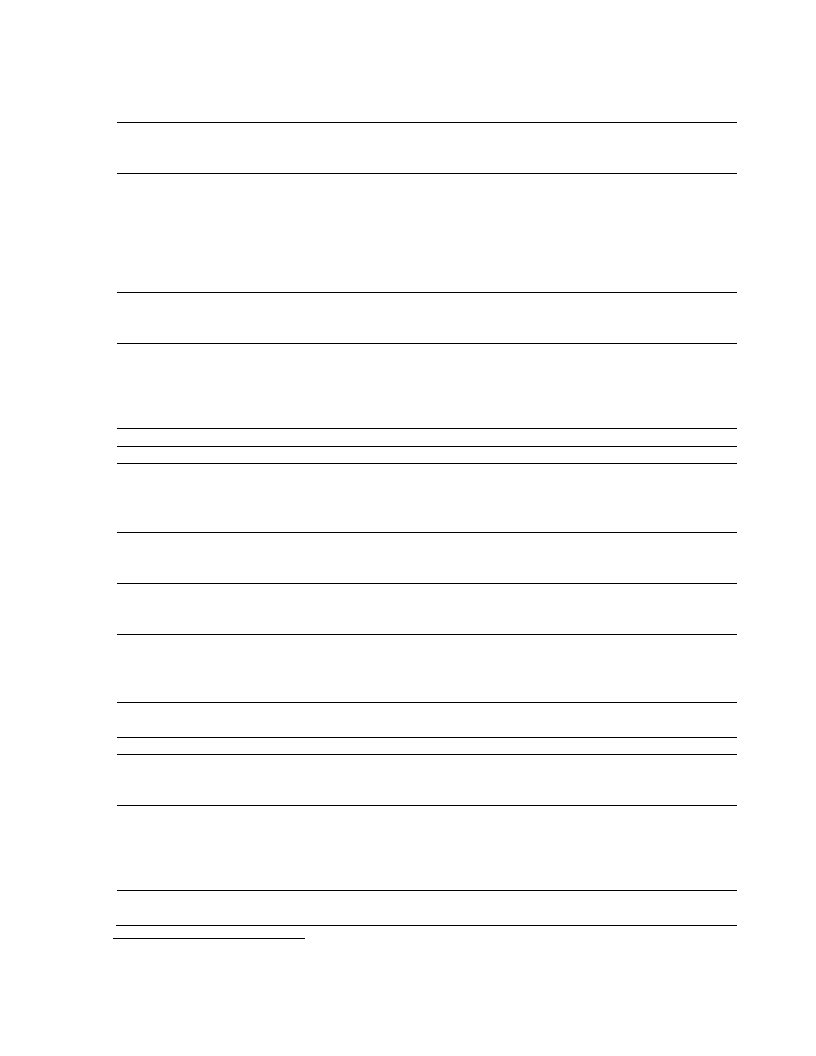
189
Doença ou
Problema
Específico
Hepatite
Bronquite
Tabela 10: Conhecimento Medicinal dos Caiçaras
Elementos Naturais – nome
popular (regional)
Receita ou Terapêutica
Sabugueiro
Picão
Grama da Praia
Raiz do Chapéu de Sol
Sete Sangria
Cabelo de Milho
Raiz de Laranja-da-Terra
Vértebra36 da Lula
Colher as ervas no sentido em que o sol nasce
para fazer a Garrafada Sete Ervas. Faz-se um
chá com as ervas colhidas e põe na garrafa para
a pessoa beber.
Torra no forno e dá para a pessoa beber.
Limão do Mato
Bronquite Brava Poejo com mel
Usa a folha para fazer o xarope.
Ferve bastante as folhas na água, mistura com o
mel, xarope.
Diabetes
Sangramento
Disenteria
Gervão do Roxo com
Gema de Ovo
Folha da Imbaúba
Seiva da bananeira
Seiva da bananeira
Ferve a folha do Gervão Roxo, espera esfriar,
põe o ovo, o sal e mistura para a tosse.
Chá
Coloca em cima do ferimento.
Tomar diluída em água.
Reumatismo
Dores nas costas
e inflamações
pelo corpo
Corte ou Ferida
Dor no Fígado
Dor de Cabeça
Dor de Barriga
Gripe ou
Resfriado
Tosse
Folha de João Bolão com
Broto de Goiabeira
Gordura do Peixe Boi
Gordura do Peixe Elétrico
Gordura da Tainha
Erva Baleeira
Arnica do Mato
Bezetacil
Panacéia
Pariparioba
Pariparioba
Folha da Jaca
Erva de Santa Maria (Canema)
Broto de Goiabeira
Hortelã da Preta
Erva Cidreira
Capim Cidrão
Limão do mato
Cambará de Cruz
Mamão Macho
Limão do mato
Gervão do Roxo
Fazer o chá com os ingredientes juntos ou
separadamente.
A receita serve para a gordura de qualquer dos
peixes citados. Esquenta-se a banha e coloca-se
em cima do local onde se manifesta a dor.
Chá e Emplastro
Chá e Emplastro
Cozinha com canela, serve também para dor em
geral.
Amarra a folha na perna.
Chá
Pode fazer o chá com todos os ingredientes ou
também usá-los no chá separadamente.
Chá
Chá
36 A vértebra da lula corresponde à sua parte interna que aparenta ser de plástico.
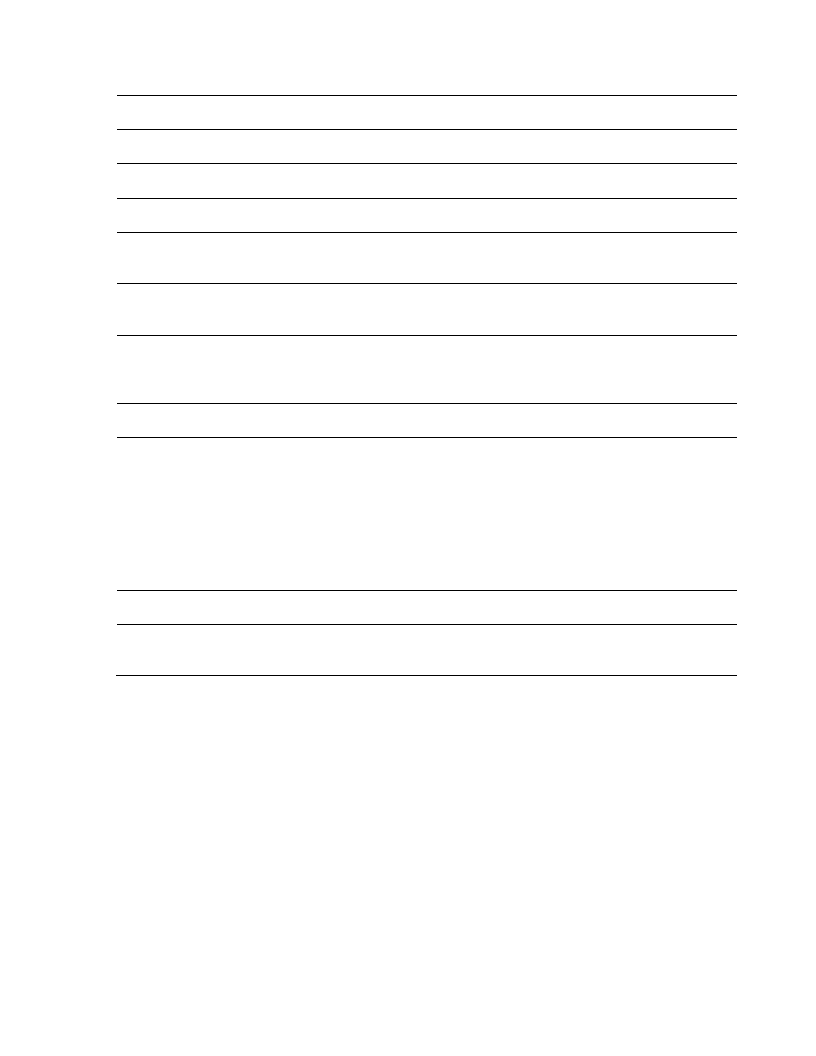
190
Nervosismo ou
Insônia
Ecsema
Abscesso ou
Cutucadura
Pedra no rim e
Infecção Urinária
Fratura
Criança que
demora a andar
ou tem as pernas
moles
Quando cai o
couro do pé
Mordida de
Cobra
Enxunde (gordura) de Galinha
Caipira
Capim Cidrão
Erva Cidreira
Caramujo do Mato (que buzina)
Gordura do fígado do Cação
Quebra-Pedra
Sete-Sangria
Cambará de Cruz
Macuco
Arueira Macho
Guaco
Mandacaru de três quinas
Esquenta e passa no tórax; também põe uma
gota em um copo d’água para beber.
Chá tem efeito calmante.
Tira a carne, torra o casco e coloca sobre o
ecsema, tem efeito cicatrizante.
Ferve o azeite, derrete ele e coloca em cima,
tem o efeito de “puxar para fora”.
Faz-se o chá. No entanto, no caso da infecção
urinária, ela tem que estar no começo para que o
chá tenha um efeito terapêutico.
Soca ele com sal, coloca água quente e faz o
banho por vários dias no local da fratura, ele
“cola os ossos”.
Faz o banho com a água usada para depelar o
macuco. Banha as pernas das crianças com essa
água. A criança vai andar, ou as pernas vão
ficar mais firmes.
Cozinha na água e faz o banho.
Amassa, faz uma colher de sumo, acrescenta
uma gota de álcool e dá para a pessoa beber.
Sangue da cobra que mordeu
Soca o sangue com o querosene, ou com álcool
e alho.
Língua do lagarto (teiú)
Pode fazer o remédio unindo todos os
Cabeça do Macuco (matado
ingredientes, no caso das partes dos animais,
na sexta-feira)
torrar antes de misturar.
Ferida da
Cabeça do Macuco
Torra e coloca o pó na ferida.
mordida de cobra (matado na sexta-feira)
Secar o umbigo Casa de marimbondo
Torra e coloca o pó em cima do umbigo. Se for
do recém nascido
menino, a casa é a redonda, se for menina, a
casa tem que ser a comprida.
Fonte: Trabalho de campo realizado, nas comunidades das praias de Castelhanos, Mansa, Figueira, Serraria e Bonete, durante os
anos de 2006, 2007 e 2009.
3.3 As Relações Afetivas com o Ambiente Construído: a Questão da Eficácia
Terapêutica
As entrevistas trouxeram consigo a evidência de que o ser humano pode criar diferentes
estórias e conexões na busca da eficácia terapêutica, baseadas em inúmeras percepções de doença
e de ambiente. No entanto, apesar da pluralidade apresentada, todos os entrevistados
consideraram as dimensões afetivas como significativas na recuperação da saúde.

191
Sendo assim, o afeto foi delineado nessa pesquisa a partir das relações mais destacadas
pelos depoimentos. No lado urbanizado do município, os terapeutas disseram ser essencial para a
cura a relação estabelecida entre eles e os pacientes.
No depoimento abaixo, o médico homeopata e pediatra responde a esse questionamento:
É fundamental. Quem trabalha em pronto-socorro sabe muito bem disso. Tem paciente
que já entra no consultório e você pensa: Não adianta, eu posso passar o melhor remédio
do mundo, mas o cara não está disposto, ou não foi com a sua cara, ou não está em um
dia legal, ou não gostou do hospital, ou não gostou da situação que está passando, e não
adianta, você vai dar o remédio e ele vai reclamar, vai falar que o remédio fez mal, vai
fazer uma alergia por causa daquilo, eu acho que isso tem a ver. A relação médico-
paciente é decisiva. Como tem médico que nem acerta, mas se criou uma relação tão boa
de empatia, sei lá, que você se entendeu tão bem que o cara já sai curado. Sem ter usado
nada, se der uma água com açúcar, a pessoa melhora (Entrevista à autora, T 04).
Quando a identificação é forte, a pessoa já melhora seu estado de saúde pelo vínculo
afetivo estabelecido com o profissional, não necessitando nem do remédio, o remédio já é a
relação configurada. Isso também é apontado pelo depoimento da médica clínica geral e
infectologista que trabalha no PSF da Armação e também atende às comunidades locais do lado
oceânico (um atendimento misto, denominado de meio-a-meio):
Eu estou aqui há pouco tempo, e como a gente faz uma atividade meio-a-meio, a gente
tem que dar dois dias por semana por conta das atividades atrás da ilha (lado oceânico), e
três dias pra cá (lado urbanizado – bairro da Armação)... aqui a gente faz as visitas
domiciliares, então uma vez por semana é só para fazer visitas para aqueles pacientes que
estão acamados, ou que estão com outros problemas que não podem vir até aqui. Por isso
é importante, a própria visita já é um remédio (Entrevista à autora, T 02).
Segundo a psicóloga do setor privado, quando não ocorre a identificação inicial, não se
consegue atuar sobre a pessoa:
Sem sombra de dúvida a relação é importante e como terapia é fundamental, se você não
tem uma empatia com a pessoa que você vai conversar, não acontece nada. Não é nem
para cura, é para ter algum trabalho, para ter alguma coisa (Entrevista à autora, T 07).
As conversas também ajudariam a pessoa a se orientar quanto ao seu problema:
É vital, a relação médico-paciente é tudo. Têm muitos médicos que não olham nos olhos
dos pacientes, e esse é o primeiro passo pra cura do paciente. Se você olha pra ele, você o
ajuda a se olhar, e respira. Tem que ter um pé no céu e outro na Terra... Aqui é
referência, então nós temos nove unidades de saúde, acho que estão incluídas as
comunidades isoladas, tem equipes que vão lá mensalmente, eu mesma já fui, atender no
chão, sentar assim, bater papo com a criançada: Ah, está com xixi na cama de noite, não

192
está dormindo a noite, está roendo unha, aí você bate um papinho ali e de repente a coisa
acontece. Dá um floral, um remedinho, e melhora” (Entrevista à autora, T 06).
Pela fala acima, pode-se constatar que depois da comunicação com o paciente ser
estabelecida, ele corresponde mais ao tratamento. Abaixo, a psiquiatra do CAPS reafirma a
importância já citada do afeto e da confiança, da troca de saberes, em que o curador também
aprende na relação com os pacientes:
Acho que é um dos fatores mais importantes, porque se o paciente não vai com a cara do
médico ele sequer toma o remédio prescrito, ou toma e não acredita no remédio. Você
tem que criar um vínculo afetivo com o paciente, pra ele gostar de você, ver que você é
uma pessoa boa, está querendo fazer o bem, que você sabe o que esta fazendo, então criar
esse vínculo assim de amizade e afetivo e profissional também. Então pra mim é
fundamental essa relação, senão a pessoa não cura, não adere ao tratamento. Pra mim é
uma riqueza com essa idade ainda estar podendo descobrir coisas (Entrevista à autora, T
05).
O clínico geral do PSF da Vila acredita que os dois lados devem buscar afinidades, caso
contrário, o paciente não adere ao tratamento:
É tudo. Se não tiver relação médico-paciente, não há confiança de ambas as partes, não
há sucesso nenhum. Se você atende mal um paciente, ele rasga a receita no corredor. E
vice-versa, quando o paciente te agride, que vontade você tem de tratar? Trata por
obrigação (Entrevista à autora, T 01).
Na terapia Rolfing, as relações com o paciente também são priorizadas, e o ambiente deve
proporcionar conforto para que seja explorado, na tentativa de mostrar para a pessoa que o
progresso só virá de uma interação:
Eu penso hoje no nosso trabalho, esse aspecto relacional. Tudo vem de fora, de fora, de
fora, é cultural, e a gente vem tentando quebrar isso, em uma dinâmica relacional, eles
podem experimentar os nossos instrumentos, podem brincar com eles (Entrevista à
autora, T 08).
A professora de ginástica postural enfatiza que as pessoas devem se conhecer mais, e que
esse é o propósito da sua ginástica postural:
Eu acho que essa relação com os alunos, nós dois temos aspectos bem diferentes, eu sou
a mais doce e ele é o mais rígido, mas nós dois somos necessários o tempo todo, então,
eu dou a aula, faço um pouco mais de carinho, e ele pega mais no pé: pára de ficar
prestando atenção no outro, pára de ficar olhando o outro, porque as pessoas, aqui, tem
que prestar atenção em si mesmas, isso é que é importante (Entrevista à autora, T 09).

193
Os depoimentos citados evidenciaram que, caso não se constitua uma relação sincera com
o terapeuta, seja ele representante de qualquer modalidade, não se configura um processo que
leve à eficácia.
A esse respeito, tanto os terapeutas do lado urbanizado, quanto os caiçaras, relataram que
se a pessoa não se identifica com o tratamento, ou com a pessoa que o desempenha, poderá
inclusive produzir sintomas físicos que comprovem o não funcionamento da terapia ou do
remédio receitado. O caráter afetivo ligado à fé também foi destacado, quando a benzedeira
salienta que não se sente tranqüila enquanto não souber se a pessoa que ela tratou apresentou
melhora ou não:
Ah lógico, tem gente que dá aquele remédio, mas se não dá com aquela fé, com aquela
vontade, aí não funciona né. Tem que ter fé né!... É importante pra cura aquela pessoa
que diz, ai meu Deus, vou dar um remédio pra essa pessoa, tomara que essa pessoa sare,
enquanto você não ver aquela pessoa boa, você não tem sossego, sabe? Pode ser família,
pode não ser família, tu tem que ter esperança que a pessoa fique boa. Tem que esquecer
de coisa ruim, botar no pensamento da gente só coisa boa...eu vou fazer um xarope de
cambará de cruz pra sua tosse! Eu ponho num vidro e a senhora leva e toma de noite, vai
deitar e toma o remédio, amanhã cedo toma outro... Pega a folha, um galhinho assim (ela
leva a pesquisadora ao lugar onde estão as plantas, no meio do mato perto da sua casa)
(Entrevista à autora, T 31).
Durante essa conversa a pesquisadora tossia várias vezes, pois se encontrava resfriada,
levando a benzedeira a produzir um medicamento para amenizar o problema. Nesse caso, a
observação participante também usufruiu do afeto configurado na relação terapêutica presente
entre os caiçaras, em que a fé é sempre ressaltada como uma condição fundamental para que o
evento obtenha resultado, uma vez que é necessário que se acredite no ritual:
Se você não tem fé, o remédio que você toma é uma água. Se você fala: ah eu vou tomar
por tomar, aí não serve. Você tem que dizer: eu vou tomar esse remédio com fé em Deus
pra me curar, aí cura. Mas só por tomar não faz efeito nenhum (Entrevista à autora, T
16).
Ah mais a gente tem que ter fé em todo remédio, se não tiver a gente nunca sara.
Primeiro o que vale é a fé né, se você faz um remédio, pode ser o que for, se não tiver fé
não vai sarar, tá usando aquilo só por brincadeira entendeu? (Entrevista à autora, T 28).
Um caso de irizipela foi relatado na praia da Serraria, e sua cura foi atribuída à eficácia da
benzeção:

194
Meu tio benze pra cobreiro... Ele benze izipra, e foi ele que curou a minha perna... Tive
Irizipela! Minha perna ficou muito ruim, inchada e toda vermelha, e fez uma ferida. Foi
ele que me benzeu, e eu não podia andar no mar, só que eu não sabia e andei, aí não
sarava. Daí depois eu fiquei lá por três dias e me curei. E ele benzeu os três dias
(Entrevista à autora, T 25).
Além da benzeção, as senhoras mais idosas que se tornaram evangélicas disseram confiar
muito no poder das rezas. A caiçara da praia de Castelhanos, conta que passou a freqüentar o
hospital com freqüência na velhice, pois tinha um problema grave no pé:
Olha, antigamente a gente não ia não (ao médico), mas agora qualquer coisa eu tô lá!
(risos) Tem um médico lá no hospital que mexe muito comigo, ele que cuida do meu pé,
e da outra vez que eu tive lá eu sentei bem na porta, depois que eu tirei a minha ficha,
daqui a pouco sai ele, doutor Ricardo, e diz: vó, a senhora pegou férias novamente? E eu
falei: peguei. Por que lá me conhecem muito, porque eu tô sempre internada lá. Aí ele fez
um curativo no meu pé, tomei bezetacil e agora ele está melhor. Aí ele disse assim: No
pé da senhora eu não vou mexer mais porque dá dó, a senhora toma esses medicamentos
que está bom (Entrevista à autora, T 23).
Ela contou que ficou seis meses sem andar, devido a um grande inchaço e dormência no
pé, e o médico do hospital havia lhe dito que não iria mais efetuar interferências, pois além de
sacrificar muito a paciente, ela corria o risco de ter o pé amputado. A mesma senhora também
contou que foi desenganada pelo médico, que considerava que ela não voltaria mais a andar e a
aconselhou a se adaptar a essa situação. Posteriormente, ela passou a freqüentar a igreja
evangélica e o pessoal da comunidade de Castelhanos passou a fazer orações para ela andar:
Aí eu comecei a ter uns sonhos que eu ia melhorar... e um dia chegou uma voz e disse pra
mim: Fica tranqüila que você vai andar brevemente, daí deu duas semanas eu andei
(Entrevista à autora, T 23).
Além da fé e da crença nos poderes da reza serem reafirmados a todo o momento entre os
caiçaras, foi levantada a questão de que, quando se benze adulto, o mal que está na pessoa vem
para o corpo de quem efetua o benzimento. Nesse caso, é fundamental que o benzedor saiba
como tirar o mal do seu próprio corpo, senão ele fica doente:
Aqui ainda tem gente que benze, ali na praia Vermelha tem a Dona Leopoldina, mas ela
benze só as crianças, não benze adultos... Meu avô já benzia adultos, por que ele sabia
tirar do corpo dele o que passavam pra ele. Ele sabia tirar, agora ela não... É diferente.
Ela não sabe se benzer sozinha. Quando é adulto, a coisa (doença) vem pra pessoa que
benze e a gente tem que saber tirar. E quando é criança, a coisa não é muito forte. A
pessoa fica ruim, agora meu avô não, ele benzia todo mundo porque ele sabia sozinho
tirar dele (Entrevista à autora, T 25).

195
A benzedeira da Serraria confirma essa dificuldade em tirar o mal do seu corpo:
Eu benzo criança e quando benzo adulto eu fico doente. Abro muito a boca, o corpo
esquenta, eu fico ruim (Entrevista à autora, T 24).
Oliveira (2007) chama atenção para o fato de rituais como a benzeção estabelecerem
conexões entre os corpos, que se tornariam uma unidade relacional sem limites, permitindo que o
mal transite e se instale no corpo do benzedor, “como se fossem, ambos, vasos que se
comunicam, também com outros corpos” (OLIVEIRA, 2007: 38).
No ato de benzimento, são usadas ervas que costumam também secar no caso do
problema ser grave ou da energia ser forte. Esse fato demonstra a inter-relação estabelecida no
ritual com outros seres vivos, em uma rede de comunicação com a natureza onde os elementos
utilizados possuem um poder simbólico de retirar o mal do corpo do enfermo. Abaixo, o pescador
da praia Mansa conta o que acontecia quando era benzido de cobreiro pela sua mãe:
Minha mãe benzia e dava certo. Ela benzia com arruda, e pior que secava a arruda
quando o cobreiro me pegava, e funcionava sabia? Às vezes várias pessoas vinham
também com algum cobreiro e a gente via mesmo, e benzia e dava certo. Agora, isso aí a
gente não aprendeu também. E fica feio pra caramba (o cobreiro) (Entrevista à autora, T
18).
Pelos depoimentos apresentados, é possível perceber que tanto pela dimensão da relação
entre o terapeuta e o paciente, quanto nas relações socioculturais que fundamentam a fé na
benzeção e nos tratamentos locais, a afetividade está sempre presente como um sentimento
fundamental para que a eficácia terapêutica aconteça.
Nessa mesma perspectiva de análise, os serviços públicos de Ilhabela oferecem aos
cidadãos alguns grupos de conversas e oficinas terapêuticas para lidar com as diversas
enfermidades que têm como causas as origens socioambientais e nutricionais, que necessitam ser
trabalhadas no seu aspecto educativo, para que as pessoas consigam enxergar melhor seu
problema no tocante, inclusive, à prevenção. Esses grupos promovem debates e diálogos em
torno da doença, expõem dicas de alimentação e de higiene, assim como algumas oficinas
ensinam diversas práticas como a culinária, artesanato, entre outras modalidades. Segundo Luz
(2005), essas iniciativas de socialização foram inspiradas pelos trabalhos desenvolvidos por
associações comunitárias e por ONGs, uma vez que convergem com as atuais necessidades dos
gestores municipais de se realizar processos democráticos e participativos.

196
Abaixo, a psicóloga do CAPS ressalta que essas atividades promovem a reinserção do
indivíduo à sociabilidade, o que o permite uma troca de informação, como também possibilita
que as pessoas coloquem para fora seus medos e angústias com relação a sua adversidade:
Então a gente desenvolve várias atividades, tem as oficinas terapêuticas, que são as
bijuterias... No caso de alcoolismo e dependência química nós temos um grupo toda
quarta-feira, às 14:00 horas com uma psicóloga. Nós fazemos as reuniões de família,
hoje, por exemplo, nós temos atividades com os pais dos pacientes, pra vir trocar
ansiedades, conversar, participar (Entrevista à autora, T 06).
A coordenadora do PSF também foi entrevistada, e na sua fala ela também citou a atuação
social das reuniões de aprendizado em saúde. Esses encontros foram ressaltados como
fundamentais para que o paciente compreenda melhor a sua patologia, ou a sua condição de
gestante, diabético ou hipertenso e, ao mesmo tempo, a importância da sua postura enquanto
participante do próprio processo terapêutico:
Através dos agentes comunitários, nós fazemos grupos de várias áreas, além dos
atendimentos individualizados. Por exemplo, hipertensão arterial e diabetes nós temos
uma grande quantidade de portadores. Então a gente costuma fazer grupos nestas áreas
de hipertensão e diabetes, grupos de gestantes. Todas as gestantes efetuam pré-natal.
Grupos de pesagem das crianças de zero a seis meses, de zero a cinco anos, dependendo
da faixa etária a gente aumenta a demanda ou não dessa pesagem, incentiva o
aleitamento materno, trabalhamos os idosos, grupos de planejamento familiar. Os
programas de saúde da família atendem todas as necessidades de saúde da mulher, saúde
da criança, do adolescente, saúde mental (Entrevista à autora, I 14).
A médica que trabalha no PSF da Armação e nas comunidades locais ressalta o valor dos
grupos de apoio, visto por ela como um meio eficaz na educação sobre as doenças:
Agora a gente vai começar a fazer o que é o mais legal da Saúde da Família que são os
grupos, hipertensos e diabéticos, a gente tem orientação alimentar, um bate papo, uma
série de coisas e as agentes comunitárias me pediram um grupo de obesidade, gestantes,
odontobebê, e a gente faz o básico, trabalhando alguns aspectos de educação em saúde
(Entrevista à autora, T 02).
A psiquiatra do CAPS revela a importância das oficinas para a reinserção social dos
pacientes, e cita a contribuição da Prefeitura, quando arruma uma atividade produtiva para que o
doente se sinta útil e saia do quadro depressivo:
A depressão geralmente começa com tratamento medicamentoso. Depois que a pessoa
passa melhor da depressão, a gente começa outra abordagem terápica. Seja psicoterapia,
ou uma terapia ligada à terapia ocupacional, geralmente as pessoas são encaminhadas às

197
oficinas... Aqui a gente tem oficina de artesanato, culinária, e pacientes que a gente
consegue inserir dentro da sociedade, não aqui no CAPS, mas a gente consegue um
trabalho na Prefeitura, na frente de trabalho, e outros departamentos da prefeitura, na
cultura, por exemplo, que eles dão uma força muito grande, então a gente os encaminha
para diversos outros setores da prefeitura, para eles desenvolverem um trabalho
remunerado. Isso é a reinserção social... A pessoa está sentindo que está produzindo, está
ganhando, acho que é fundamental sim (Entrevista à autora, T 05).
O objetivo dos grupos é também ampliar a relação para os familiares e todas as pessoas
que fazem parte do ambiente que circunda o doente, para que o círculo social seja sensibilizado, e
as mudanças de comportamento sejam reproduzidas por todos, fazendo com que as relações
sejam conduzidas para contribuir levando à evolução do grupo, à conscientização não apenas do
doente:
Então, o objetivo é desospitalizar, é tratar e cuidar no município, isso envolve trabalho
com famílias, visitas domiciliares, você fazer oficinas de renda, trabalhar o potencial
daquele paciente que tem algumas habilidades prejudicadas e até desenvolver algumas
habilidades. É a inclusão social, a reinserção, reabilitação, coisa que não é fácil, nós
temos sucesso com alguns pacientes, não nós né, é muita pretensão, mas a sensibilização
da família pra mim é o ponto chave. É você saber agradar, e fazer o vínculo com a
família, com o paciente sem prepotência, com cuidado, você tem que usar a técnica
muito na hora certa e olhe lá. E a gente trabalha direto com pronto-socorro, nós temos
casos de internações, ma isso caiu muito depois do CAPS, por que a gente trata aqui no
município, alcoolismo a gente está tratando aqui, uma síndrome de abstinência, dá pra
tratar com retorno de uma semana, com médico psiquiatra dando assistência (Entrevista à
autora, T 06).
A acupunturista e clínica geral do PSF salienta que os grupos levam as pessoas a um
estilo de vida mais adequado à saúde, para dessa forma dependerem cada vez menos dos médicos
e conseguirem resolver melhor os problemas a partir dos ensinamentos conquistados:
A gente quer passar muitas coisas à população. A gente tem grupos de hipertensos,
grupos de gestantes, de diabéticos, e a gente tenta fazer com que as pessoas aprendam a
se alimentar, ter o gosto em plantar alguma coisa, em conhecer várias coisas no sentido
de que venham menos ao médico, para não encher os postos de saúde” (Entrevista à
autora, T 03).
Tanto o PSF quanto o CAPS possuem esses grupos e as oficinas terapêuticas, que
procuram reinserir o paciente nos círculos sociais onde ele possa se identificar com outras
pessoas em situação semelhante a sua. É um processo associado à educação em saúde, que é
também de cunho preventivo, buscando levar as pessoas a uma mudança no comportamento

198
cotidiano, nas relações que estabelecem com o mundo, com a alimentação, levando assim a uma
maior compreensão e entendimento do seu caso. No CAPS foram relatados grupos de
relaxamento, em que são realizados exercícios de Tai chi chuan (de novo percebe-se a presença
de terapias não convencionais nas instituições públicas de Ilhabela), grupos de medicação de alto
custo (medicação obtida via processo junto ao governo), com 40 pacientes, oficinas de artesanato
e bijuterias, grupo de famílias (conversas com os familiares dos doentes), grupão de intensivos,
que mesclam atividades de passeios e grupo de semi-intensivos.
As oficinas terapêuticas abrem caminhos para uma reconstrução da identidade e das
relações saudáveis com o mundo, ou com o ambiente, buscando uma relação mais íntima com o
corpo e com as angústias que atormentam o viver individual e corporalizado. Para Martins (1999)
é muito importante quando o processo terapêutico leva à libertação de medos e culpas que são
como barreiras que prejudicam a expressão da corporalidade: “Liberto, o corpo físico aparece
como símbolo, veículo e lugar de uma nova ordem cultural e social” (MARTINS, 1999: 83).
O que se pode verificar pelos relatos dos entrevistados, é que as relações afetivas
estabelecidas tanto nas relações terapeuta-paciente, na crença a respeito das rezas, benzeções e
remédios, quanto nas dimensões do ambiente reconstruído socialmente, têm levado a dissipação
dos sintomas de desequilíbrios (ou de doenças) apresentados pelos pacientes.
Nesse aspecto, todos os entrevistados em Ilhabela manifestaram extrema confiança na
terapêutica que desenvolvem, assim como nas relações que constroem. Para Martins (1999), essa
crença ativa campos de energia que realizam um processo de desbloqueio de emoções reprimidas,
e quanto maior o laço terapêutico, maior a possibilidade de libertação do paciente para um novo
modo de vida, que seria a seu ver mais bem resolvido, na medida em que as tensões são
trabalhadas e diluídas (MARTINS, 1999).
Luz (2005) acredita que os grupos de socialização favorecem a resolução dos problemas
de forma descontraída, com conversas e atividades que possibilitam a recuperação da autonomia
e do respeito ao paciente. A autora também cita que a presença paradoxal das terapias alternativas
nos serviços públicos, tem levado a resultados satisfatórios com relação às doenças crônicas,
circulatórias, reumatismos, diabetes, problemas ósteo-articulares, renais, atribuindo a eficácia aos
elementos subjetivos incorporados por elas. Porém, Luz (2005) ressalta o estado de degradação
dos serviços públicos em saúde, e destaca que a inserção de práticas alternativas dentro das
unidades municipais enfrenta a resistência dos atores representantes da medicina biomédica

199
convencional, por esbarrar em preceitos epistemológicos e em interesses privados que se
contrapõem a esse processo.
3.4 As Interações entre os Sistemas e os Problemas Enfrentados: Perturbações
que Afetam a Organização da Estrutura
Partindo da discussão estrutural pautada nas relações entre os sistemas terapêuticos
atuantes em Ilhabela, é possível perceber pelo depoimento dos atores, que eles não se isolam ou
se apartam dos diálogos com o mundo sobrenatural, com outros paradigmas e com a biomedicina.
Nesse aspecto, o trabalho de campo vem mostrar que existem relações de complementaridade
entre os sistemas, sejam eles públicos, privados ou populares.
Para explorar o diálogo com o mundo sobrenatural, por exemplo, os terapeutas do lado
urbanizado foram questionados com relação à crença em outras vertentes, tais como as
espirituais, as religiosas, as quânticas, xamãnicas, assim como as praticadas nas comunidades
caiçaras. E as respostas foram as seguintes:
Com certeza. Porque no mínimo você tem que fazer em conjunto, quando você dá
alguma medicação, você tem que usar conjuntamente, por que também isso está na
memória genética de cada povo, se você dá as ervas que eles já estão acostumados em
anos e anos você já tem naquelas pessoas uma cura maior. É a cura que vem de dentro
(Entrevista à autora, T 02).
Para a médica das comunidades o conhecimento local poderia ser aproveitado nas
terapias, já que há uma aceitação maior do organismo, este já habituado às plantas e espécies
locais mais utilizadas. A seguir, o clínico geral do PSF manifesta opinião contrária, ele revela que
não acredita nas práticas populares de cura:
A homeopatia é reconhecida, mas eu não tenho experiência, acupuntura também, já é
uma especialidade, mas eu não conheço. Agora benzeção eu não acredito. É mais
emocional, se benzeu e melhorou, a pessoa acreditou que curou e curou, pois ela não
tinha nada. Eu sou da medicina tradicional (biomédica), tudo que aprendi foi dessa
medicina (Entrevista à autora, T 01).
A melhora pelos benzimentos foi considerada como algo inconsistente, algo que não
existe de fato, sendo relacionada à dimensão psíquica. Porém, o conhecimento desenvolvido
pelas medicinas chinesa e européia (acupuntura e homeopatia) foram respeitadas, o que evidencia
um preconceito com relação à dimensão cultural do terapeuta caiçara. O outro depoimento revela

200
a amplitude de referências, mostrando uma crítica ao pensamento unitivo e linear:
Acredito. Eu não sou praticante, mas se eu fosse escolher uma religião eu seria espírita.
Eu acho que só não pode ter abuso. O cara não pode ser tão remédio, que só isso vai
resolver a vida dele, como não pode ficar só benzendo, ficar achando que é por aí. Tanto
que até eu não sigo nenhuma religião por causa disso, quando entra o ser humano na
história, sempre acaba tendo um desvio. Uma experiência que eu tive com o espiritismo,
sempre tinha muita hierarquia nos lugares que eu freqüentei, então eu acho que aí perdeu
o sentido da religião. Mas que tem gente resolvendo a nossa vida aqui tem, claro que tem
(Entrevista à autora, T 04).
A crença nos poderes que vêm do universo sobrenatural é revelada pelo médico, mas ele
destaca o problema das instituições religiosas como organizações que não se livram das
hierarquias de poder e conhecimento, o que foi considerado por ele como um retrocesso na forma
de lidar com os problemas atuais da sociedade. A saúde para esse médico, deve ser acompanhada
pelo terapeuta que mais adeque sua interpretação às necessidades do paciente, aos seus anseios e
projeções internas, ou seja, que articule os elementos mais inseridos ao contexto sociocultural do
doente, reorganizando o processo de maneira conjunta e coerente com a realidade da pessoa
enferma.
Abaixo, a psicóloga do CAPS evidencia sua crença a respeito dos conhecimentos
medicinais produzidos pelos caiçaras de Ilhabela:
Acredito. Essas técnicas são saberes milenares, o ser humano primitivo tinha
muitos outros recursos, ele não tinha a palavra, eu tenho uma certa reserva com
algumas crenças, tipo xamanismo, porque mexe com coisas profundas do
inconsciente. Mas eu aceito aqueles bons conselhos, um chá, os emplastros, os
cuidados, até as superstições acabam virando realidade porque a força do
pensamento é muito grande, e todo mundo acaba acreditando naquilo e aquilo
acaba acontecendo. É o milagre da fé. A vida é muito preciosa e a gente tem muito
que caminhar (Entrevista à autora, T 06).
Seu depoimento evidencia a crença no que Lévi-Strauss (1996) chama de eficácia
simbólica, pois quando uma realidade é construída de maneira coerente com a cultura, todo o
ambiente atua no sentido de legitimar essa realidade. Abaixo, a psiquiatra do CAPS também
expõe a sua crença com relação às outras formas de cura:
Eu acredito em tudo. Desde passe, desde aquelas histerias coletivas que acontecem nas
igrejas evangélicas, eu acredito sim porque eu acho que é uma maneira da pessoa ou do
paciente colocar essa energia negativa pra fora. Colocar a coisa pra fora. Eu já vi várias
curas (Entrevista à autora, T 05).

201
Ela manifesta a sua opinião positiva com relação a todas as manifestações da
conectividade da consciência, com grupos religiosos e com estratégias terapêuticas que permitam
que o doente coloque para fora o seu mal-estar.
Dando continuidade à discussão sobre as inter-relações presentes entre os sistemas
terapêuticos na visão estrutural, existem também espaços abertos para as contradições, os ruídos,
os paradoxos e as descontinuidades, enaltecendo desse modo a idéia de que a estrutura não está
equilibrada, uma vez que se encontra aberta a constantes perturbações, que fazem parte da sua
dinâmica de relações, pautadas também pelas rupturas de comunicação entre os sujeitos
envolvidos. Isso se operacionalizou pelo relato de alguns terapeutas a respeito dos problemas
enfrentados na realidade empírica, por meio da conexão entre a estrutura e as instituições em
saúde.
Nesse contexto, os depoimentos salientaram que a sociedade de Ilhabela apresenta
problemas de saúde seríssimos, decorrentes do crescimento populacional estimulado pela
urbanização turística, que afeta a qualidade nutricional, as condições de vida, de higiene, e
promove situações de exclusão social e violência, diversas formas de dependência, depressão,
entre outras consequências. De acordo com os terapeutas investigados, as pessoas não têm a
dimensão dos aspectos socioambientais que envolvem as doenças, e tampouco dos aspectos
preventivos ligados aos modos de vida e as relações com o ambiente. Para esses atores, os
pacientes têm buscado cada vez mais um atendimento imediato e preferem tomar o remédio a
qualquer custo quando procuram ajuda, ou seja, apesar de todos os ganhos proporcionados pela
diversidade terapêutica oferecida no município, a maioria dos usuários ainda não se considera
como co-responsável pelo processo, cuja participação e vontade são consideradas pelas vertentes
como cruciais para a eficácia de qualquer tratamento.
Nas entrevistas do lado urbanizado, foi exposto o problema do imediatismo, exigido tanto
da parte dos pacientes, quanto da parte da gestão dos serviços públicos de saúde em Ilhabela.
Existe uma cobrança de rapidez no tratamento, rapidez nas consultas, rapidez no efeito dos
remédios utilizados, também devido ao fato da demanda nesses serviços ser extremamente alta.
A questão do imediatismo revela a falta de consciência da sociedade no tocante à
necessária mudança de hábitos cotidianos, de comportamentos, e o respeito a dietas alimentares
para se obter a prevenção dos sintomas de muitas doenças que atingem o ser humano moderno.
Os médicos do setor público reclamaram que existem casos em que a doença não é grave, mas o

202
paciente exige ser examinado na hora, e cobra dos políticos locais essa prontidão no atendimento
dessas instituições.
A proposta do SUS é, a partir do PSF, educar a população com relação à qualidade de
vida, estimulando a boa relação com o ambiente biofísico, social e psíquico, visando à
diminuição das filas nos postos de saúde. Também se busca uma maior conscientização com
relação à própria figura do médico, revertendo à situação de total dependência para com ele, e
enaltecendo a atuação do próprio paciente como agente do seu processo. Mas, pelo depoimento
da médica do PSF da Armação, a prática em Ilhabela tem sido bem complicada, pois existe
bastante cobrança com relação ao efeito imediato do medicamento e a supressão dos sintomas,
mostrando que a sociedade ainda ignora a complexidade das interações que envolvem o adoecer:
As pessoas vêm no posto de saúde, isso no hospital mais ainda, querendo uma pílula da
felicidade, ou que cure. Vivem como quer, bebem, usam drogas, comem mal e querem
que o médico resolva o problema. Hoje em dia os postos de saúde são as extensões das
igrejinhas, é a porta aberta, brigou com o marido e vem a esposa com dor de cabeça,
vomitando, então a gente está trabalhando com esse tipo de coisa. Por isso que é
importante a capacitação dos próprios funcionários, por que a gente acaba sendo uma
válvula de escape de todos os problemas da comunidade (Entrevista à autora, T 02).
Fica evidente a despreocupação das pessoas quanto ao seu modo de vida, às suas atitudes
e práticas cotidianas. A alienação faz com que se acredite, devido à intensa propaganda da mídia,
nos efeitos milagrosos dos remédios, e isso se reflete na exigência da rapidez no processo
terapêutico, que muitas vezes pode ser demorado. A saúde é um campo que envolve
necessariamente diferentes pontos de vista e constantes negociações, porém, existe essa visão
socialmente construída em cima da idéia do imediatismo. Imediatismo na hora de se marcar as
consultas, imediatismo para receber um exame, imediatismo para se obter o efeito do remédio,
imediatismo para se curar de males que na maioria das vezes envolve outras dimensões da vida
que demandam tempos diferenciados para serem trabalhadas.
De acordo com a discussão teórica já realizada sobre o processo nacional de constituição
do SUS, e também com o depoimento da médica do PSF de Ilhabela, o modelo de assistência
médica proposto na teoria deveria supostamente ir de encontro a essas perspectivas, visando
educar a sociedade.
Tesser & Luz (2002) chamam atenção para a desarmonia das relações entre os atores e as
instituições envolvidas nos processos terapêuticos. Eles citam como exemplos as frustrações dos
diagnósticos e dos tratamentos, tanto na dimensão ideológica quanto em relação aos altos custos,

203
ou altos riscos, a dificuldade das pessoas lidarem com os tratamentos realizados em longo prazo,
ou casos em que o tratamento de duas doenças é feito por dois especialistas de forma isolada,
como se fossem dois pacientes diferentes. Também é comum o caso do doente ser reencaminhado
à outra especialidade, por ausência ou dificuldade de identificação do problema, assim como a
existência de discordâncias simbólicas entre os terapeutas e os pacientes (TESSER & LUZ,
2002).
É perceptível a ausência de comunicação entre os políticos e os terapeutas nas instâncias
públicas de Ilhabela. Por exemplo, a acupunturista entrevistada em Ilhabela mencionou a
tentativa de inserir essa vertente no PSF, chamando a atenção para o fato de muitos médicos que
atuam nos centros de saúde possuírem a formação em acupuntura, inclusive um ortopedista que
utiliza outra vertente da medicina chinesa, a crânio-cultura, no pronto socorro:
Eu comecei a fazer a acupuntura aqui no particular, porque nem a outra administração se
interessou muito. E eu já coloquei essa questão por duas vezes, porque agora tem mais
gente do PSF que faz, tem a médica lá da Barra, tem o da Armação, tem outro médico
ortopedista que trabalha no pronto socorro com a crânio-cultura, que é uma variante da
acupuntura. Mas você tem que ter o seu espaço, no pronto-socorro não tem muito espaço
(Entrevista à autora, T 03).
Algumas entrevistas destacaram que os médicos do setor público de Ilhabela apresentam
dificuldade de organizar as consultas em um curto espaço de tempo. O tempo foi considerado por
eles como sendo necessário para a reflexão a respeito das queixas apresentadas:
Outro caso é que, às vezes, entra uma mãe com duas crianças, a consulta era para ela,
mas aí ela pede para encaminhar os filhos que estão com tosse e não conseguiu vaga pra
eles, você acha que eu vou recusar? Não vou! Tem muita coisa para se fazer com a
população e não é dentro desta sala, atendendo consulta, que eu vou conseguir fazer isso.
Quando chega até mim, vamos supor, passou no pronto-socorro, tomou uma injeção e
voltou para cá. Eu tenho obrigação de atender esse paciente bem, examinar, ouvir, tentar
fazer um diagnóstico, tratar. Mas eu não posso fazer isso em 10 minutos ou em 20
minutos. Tem paciente que eu fico mais de uma hora com ele. Tem uma cardiologista
aqui que também já entrou em confronto porque ela demora pra caramba (a consulta), e
ela é ótima. E andaram cobrando dela também. Eles querem números, quanto mais você
atender, melhor (Entrevista à autora, T 03).
A Secretaria da Saúde cobra um ritmo de atendimento incompatível com a proposta do
PSF, e segundo o depoimento acima, a pressão é com relação à quantidade de atendidos e não
com a qualidade das consultas. Por outro lado, os médicos vivem situações cotidianas que
interferem na sua produtividade, e pode-se ver que eles têm muitas vezes que examinar mais de

204
um paciente, no caso mães e filhos, sendo que a consulta seria apenas para um membro da
família. A prefeitura, movida por cobranças da sociedade e também pela falta de conhecimento
sobre o tema da saúde e as reais propostas do SUS, passa a pressionar por um relacionamento
rápido dos médicos com os pacientes, e isso implica em um atendimento sem qualidade, que
apaga incêndio, como mencionou o homeopata e pediatra do setor público, ao se referir ao
atendimento do pronto-socorro de Ilhabela. Todos os entrevistados salientaram a realidade de se
verem tendo que esvaziar as filas rapidamente:
Outros colegas também receberam queixas da Secretaria da Saúde com relação ao
número de atendimentos. Mas se a intenção do PSF é a de diminuir os números? É essa a
proposta e são duas linguagens. A secretaria e os vereadores querem números. Às vezes
não é um problema grave e a gente marca a consulta para outra semana, mas a pessoa
quer ser atendida na hora e vai reclamar. Nós não temos uma retaguarda, e isso está
acontecendo nos outros centros também. Isso para mim é um retrocesso. Então nós
vamos voltar a ser aquele antigo Centro de Saúde que esvaziava fila. Então o SUS é uma
palavra muito bonita de falar, mas eu vou ser franca, a população precisa ser mais
esclarecida! (Entrevista à autora, T 03).
Esta médica fez menção ao antigo sistema de saúde em vigor até a década de 1990,
voltado para o assistencialismo imediato e que foi substituído pelo SUS, na tentativa de
acompanhar as tendências internacionais de corresponder às necessidades de se prevenir e se
educar as pessoas com relação a suas práticas cotidianas, como agentes preventivos de doenças.
Freitas e Porto (2006) salientam que devido ao seu caráter socioambiental, a realidade das
doenças tem levado os programas de saúde a diversos conflitos de origens éticas e culturais, que
envolvem interesses e relações de poder e de distribuição de recursos. No caso de Ilhabela, uma
das contradições é o fato dos terapeutas do setor público se verem obrigados a lidar com os
imprevistos do cotidiano, ao mesmo tempo em que tentam se adequar as necessidades e
cobranças realizadas pelas pessoas e pelas instâncias políticas do município.
Ainda com relação ao tempo, a médica do PSF da Armação destaca que, dependendo da
doença, o tratamento pode ser demorado:
Na verdade, o que a gente tem hoje em dia, não seria só preventivo, a gente teria um
momento do dia pra você dar assistência àqueles que chegam, por exemplo, a idéia é que
o meu paciente daqui da Armação que tem o filho com febre, ele não vá ao pronto
socorro, que ele tenha a porta aberta aqui, que eu veja primeiro e só se eu achar que deve,
que é alguma coisa grave vá para o pronto socorro, senão eu dou conta aqui mesmo...
Então você tem tudo, você tem curativo, preventivo, que o mais importante é o
preventivo mesmo, mas que só dá resultado a médio e longo prazo, e tem também aquele
que a gente chama de recuperação né, porque envolve também fisioterapia, psicologia,

205
uma série de coisas né, e resgatar os de problema mental mesmo e resgatar os sequelados
de doenças neurológicas, principalmente os paralisados de derrame, que tem bastante
(Entrevista à autora, T 02).
Devido à falta de conhecimento sobre a saúde, a população de Ilhabela enche os Prontos
Socorros, recorrendo a essa instituição para resolver os problemas de maneira urgencial e
imediata:
Os médicos do hospital têm uma tendência a achar que a culpa é do PSF pelo fato dos
pronto-socorros estarem sempre cheios, mas a culpa não é nossa. O paciente muitas
vezes quer porque quer, não quer esperar a consulta, quer fazer o exame e ter o resultado
na hora (Entrevista à autora, T 03).
Abaixo, o médico homeopata e pediatra do setor público também expõe a sua opinião a
respeito do imediatismo das pessoas, destacando que essa postura é decorrente de um ritmo de
vida acelerado e estimulado pela sociedade, o que leva as pessoas e os próprios médicos ao uso
abusivo de remédios, como forma de suprimir os sintomas apresentados na hora. De acordo com
os médicos em geral, a solução mais rápida é a maneira mais cômoda de se enxergar a doença:
A gente tem culpa nisso eu acho. E pela minha fala de usar as duas coisas (duas
medicinas) eu sou um dos culpados, porque eu uso remédio e acabo usando homeopatia
também. Eu acho que tem a ver com o imediatismo mesmo né, a gente quer resolver as
coisas logo, então o cara vai lá e enche você de remédio, um remedinho pra cada
sintoma, essa loucura de querer curar, curar entre aspas, mas eu acho que eu tô no meio
dessa roda toda, acho que todo mundo está. Imagina eu falar: Calma... daqui a uma
semana você vai melhorar, toma só essa bolinha aqui. Aí o cara sai daqui, e vai na porta
do lado. Vai querer resolver o problema com outro. Infelizmente a gente entrou nesse
ritmo louco da sociedade moderna, a própria comida de microondas, ninguém anda a pé,
tudo é rápido, correndo, então eu acho que o processo de curar e de se resolver nesse
lado, acho que passa por isso (Entrevista à autora, T 04).
As questões que envolvem os processos terapêuticos no setor público revelam dessa
forma as preocupações com o tempo das consultas, assim como com o tempo necessário para a
pessoa se restabelecer, que é variável. A consulta exige diálogo e tempo para que outros aspectos
sejam levantados e trabalhados pelos médicos, já que a proposta não é apenas medicar o doente, e
sim, fazê-lo entender a importância de se alterar hábitos cotidianos para que a eficácia ocorra.
O viver atual ocorre em tempo acelerado, e a grande procura pelos fast-foods representa a
necessidade de se alimentar mais rapidamente, sem a preocupação com a qualidade nutricional,
independente dos segmentos sociais. As deficiências nutricionais são problemas recorrentes, a

206
questão da miséria e da fome, assim como da péssima qualidade nutricional, se alastra como
grande causadora de doenças nos segmentos menos favorecidos do país (IBÁÑEZ &
MARSIGLIA, 2000).
A reincidência de algumas doenças, associada ao aparecimento de patologias novas, vem
mostrando ao mundo as consequências das transformações socioambientais que caracterizam o
modo de vida moderno. As doenças decorrentes da deterioração das relações sociais vêm
aumentando, como é o caso da violência doméstica e urbana, dos acidentes de trabalho, dos
acidentes por veículos de transporte (IBÁÑEZ & MARSIGLIA, 2000). Minayo & Souza (1993)
as denominam de doenças do desenvolvimento, afirmando que elas passaram a fazer parte das
principais causas de óbito no Brasil, junto com as doenças do aparelho respiratório, as neoplasias
e as causas externas.
Segue abaixo o depoimento da médica do PSF da Armação, que remete as doenças de
Ilhabela aos péssimos hábitos assumidos pelas pessoas na modernidade assim como as péssimas
condições do ambiente onde essas pessoas vivem:
Bom, os crônicos não têm como escapar, os remédios pra pressão alta, pra diabetes né, as
vitaminas a gente receita muito para as crianças por que a gente vê um erro nutricional
cada vez maior, as crianças, por exemplo, mesmo atrás da ilha, se você for ver a
alimentação que vem para ser dado na merenda inclui salsicha em lata, molho de tomate
em lata, sardinha em lata tá, estamos em Ilhabela, então tem tudo isso. Você tem um erro
alimentar, falta de vitamina, crianças com anemia, remédio básico uma vez por ano para
verme, que a gente tem uma condição de água aquém do esperado mesmo, a água
supostamente passada da Sabesp, a maioria usa ainda água de cachoeira, então a gente
necessita de empenho e parece que agora tem o projeto Sagatiba também envolvido nessa
melhoria da qualidade da água (Entrevista à autora, T 02).
Fica a evidência de que a sociedade moderna cria necessidades e hábitos que estimulam a
rapidez dos processos da vida, fazendo inclusive propagandas que denotam um caráter positivo a
alimentação nos fast-foods, ao consumo de remédios com efeito imediato do tipo “tomou doril a
dor sumiu”, gerando uma situação em que as pessoas acabam depositando total confiança, por
exemplo, no poder do médico e do remédio, e não na sua contribuição como agente de um
tratamento que implica em transformações mais profundas e demoradas.
Esse processo de mudança tem uma abrangência enorme, englobando aspectos
ambientais, sociais, psíquicos, simbólicos que levam o indivíduo doente a reorganizar sua vida
para que a cura da doença ocorra, e a pessoa se ressitue no seu cotidiano reconstruído.
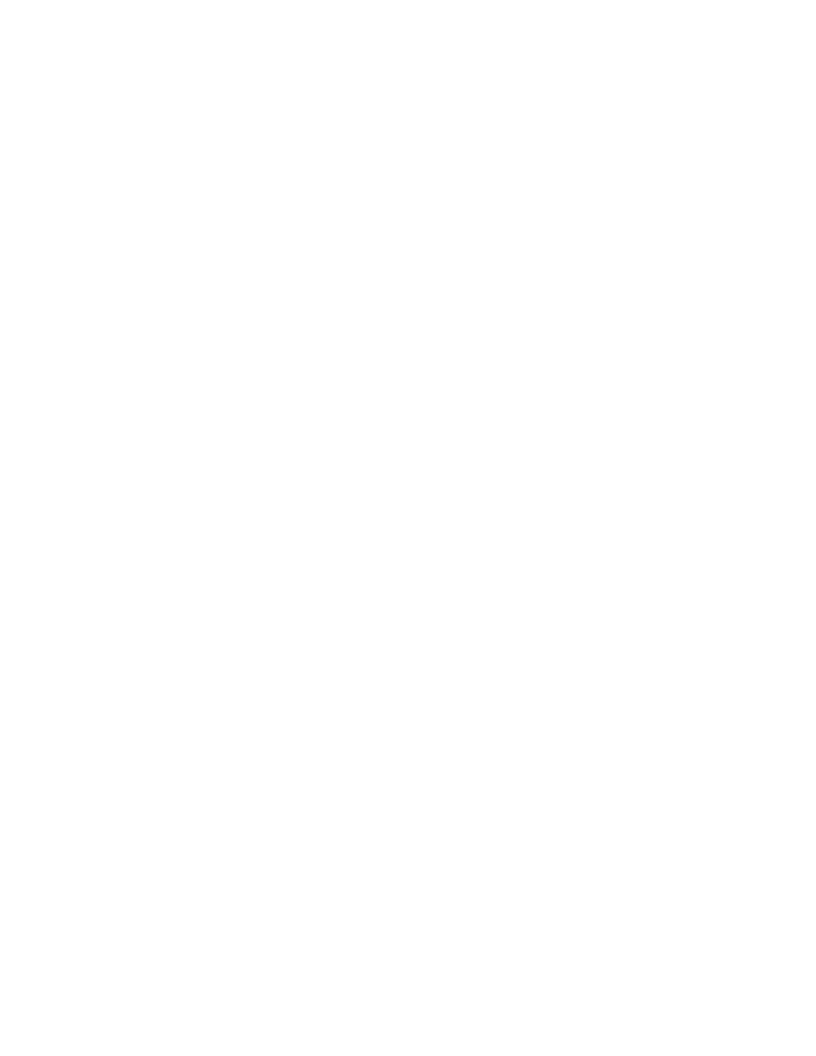
207
Nesse caso, quando não ocorre um processo de reinserção da pessoa a sua vida cotidiana,
ao seu ambiente de relações, o que pode ocorrer é um agravamento da dependência química com
relação ao medicamento. No CAPS, a psiquiatra cita como exemplo essa problemática:
Eu acho que é uma coisa inevitável, o uso abusivo de remédios. Abusivo assim, a pessoa
que toma diazepan, tem que tomar cada vez mais, cada vez mais, a gente trabalha nesse
sentido, de não acontecer, mas é difícil. É um problema que a gente não está vendo
solução... É um tratamento, por exemplo, a gente fala: eu vou te dar esse remédio por seis
meses, as vezes dá certo, as vezes não, esse período. Mas no mínimo o que a gente pode
fazer e está fazendo, é controlar pelo menos mensalmente ou quinzenalmente toda
medicação, então a gente não dá medicamentos pra dois meses, três meses, isso a gente
não faz. A gente tem o controle do paciente, a gente vê o paciente uma vez por mês pelo
menos... Mas tem os vícios. São pacientes que a gente fala: olha, você levou da última
vez 90 comprimidos, daria pra 30 dias, está fazendo 15 dias e você diz que não tem mais,
então nós não vamos fornecer. Então o que ele faz, isso é pela boca do próprio paciente:
tudo bem, eu vou não sei onde e eles me dão receita. E eles conseguem o medicamento...
Essa situação é muito complicada, a gente não quer que ele tome, e outros médicos dão
receita, e isso não é por falta da gente conversar com os médicos, tem um paciente que é
assim, ele fala: tudo bem, eu vou pra Caraguá, lá eu consigo. É o uso abusivo. Eu busco
evitar a prescrição dos benzodiasepínicos, que criam dependência. Tem casos que não
tem jeito da gente não dar, mas depois fica difícil de tirar também. É difícil, mas agora
com os novos medicamentos que a gente tem em mãos, tem mais possibilidades de não
ficar receitando remédios que viciam (Entrevista à autora, T 05).
Pelo depoimento citado se vê a complicada situação do médico, que prescreve o
medicamento e depois se encontra em uma briga par tirá-lo de alguns pacientes. Para esta
entrevistada, o remédio seria apenas um meio de se amenizar o quadro da depressão, sendo que o
doente precisa querer agir conjuntamente, para que as coisas melhorem na vida dele, no seu
ambiente, e ele não fique depositando todas as suas esperanças apenas no efeito do remédio, sem
se transformar em nenhum aspecto.
Formagio & Barbosa (2004) levantam a questão da intensa medicalização da sociedade,
ligada à grande venda de remédios que amenizam as tensões geradas pelas insatisfações com a
própria vida. E apontam a contradição entre os problemas que a saúde pública enfrenta ao mesmo
tempo em que as empresas farmacêuticas comemoram seus lucros abundantes. Tesser & Luz
(2002) contribuem para a crítica, quando salientam que o prestígio da biomedicina levou à crença
no brilhantismo do médico e na utopia de se curar todas as doenças pela via do remédio. Essa
ideologia tem levado à medicalização de qualquer sintoma ou sinal de desordem, isentando o
paciente de qualquer responsabilidade ou autonomia terapêutica, sendo este poder
exclusivamente designado à Indústria Farmacêutica e ao médico.

208
O uso abusivo de medicamentos pelo ser humano abre o tema para uma discussão maior,
ligada à contaminação tanto dos solos quanto dos organismos vivos, prejudicando os processos de
regeneração do equilíbrio dinâmico ligados a homeostase e a resiliência. Essa questão remete ao
campo terapêutico, quando se vê que é possível também se tratar a natureza sem a adição
incondicional de produtos químicos ou fertilizantes sintéticos, comprados das indústrias de bens
agrícolas, o que permite fazer a analogia com a Indústria Farmacêutica.
O uso indiscriminado de antibióticos, por exemplo, pode levar ao fortalecimento da
resistência dos microorganismos causadores de doenças (Freitas & Porto, 2006). Dessa forma, a
intensa utilização de produtos químicos na sociedade contemporânea interfere nos padrões de
auto-organização tanto do ser humano quanto da natureza, prejudicando o processo de cura
natural (AMORIM, 2000).
O paradigma sistêmico, ao considerar a ligação direta entre os seres e seus ambientes,
pressupõe que os serviços dos ecossistemas promovam saúde e qualidade de vida às pessoas, e
por esse motivo, as questões sociais e ambientais devem entrar em pauta conjuntamente nas
decisões políticas atuais. Para se pensar os problemas de saúde no Brasil, a análise deve
necessariamente incluir as condições de emprego, a distribuição de renda, as condições de vida,
associadas à qualidade e à sustentabilidade ambiental (FREITAS & PORTO, 2006, 33). Nas suas
palavras: “Dessa forma, a saúde pública poderia melhor considerar as interações que continuam
a ser ignoradas em várias visões e políticas de saúde orientadas pelo paradigma biomédico ou
por uma visão ecológica reducionista”.
No contexto de Ilhabela, a expectativa geral dos moradores evidenciada pelas entrevistas
com os terapeutas do CAPS, é de que a eficácia do tratamento ou a remissão dos sintomas ocorra
com a atuação exclusiva do remédio, como se ele fosse uma pílula milagrosa, não dependendo de
mais nada para sanar os problemas. Isso se constata quando a psicóloga do CAPS expõe que a
preocupação imediata em suprimir os sintomas é priorizada, visando esvaziar as filas e
possibilitar que outras pessoas sejam contempladas pelo serviço:
Aqui a gente faz mais a remissão de sintomas, trata a crise e tchau e benção, vamos
continuar vivendo da melhor maneira com os recursos que você tem. É lógico que isso
não é dito para o paciente, mas é de uma outra maneira, aqui a gente usa muito a linha
comportamental também, que é o preto no branco, seguir as regras, todas as instâncias da
vida têm as suas normas (Entrevista à autora, T 06).

209
O que se constata é que as pessoas apresentam resistência em mudar seus hábitos
cotidianos, e querem que a solução venha de fora, como mencionou a terapeuta que é professora
de ginástica postural do setor privado. Com relação a esse imediatismo existem outros
desdobramentos, como o mencionado fato de nas unidades básicas em saúde, algumas doenças
serem vistas como válvulas de escape dos indivíduos que não possuem meios cognitivos para
lidarem com os problemas pessoais, e vão procurar apoio médico para sanar suas dificuldades.
Essa problemática também é destacada pela médica do PSF da vila que também é acupunturista:
Se eu fosse o secretário da saúde eu contrataria mais psicólogo do que médico. Eu acho
que seria um avanço tremendo, se primeiro tratassem o lado psicológico. Daí a gente
acaba mandando um monte de pessoas para o CAPS. Aqui a gente tem nada de
psicólogo, a pessoa tem que enfrentar uma fila que quase não anda, para passar no
psicólogo. Na psiquiatria nem é tanto, porque a gente escolhe mais os casos. Tem dois ou
três para atender a ilha inteira com psicoterapia. Então as pessoas adoecem porque existe
um problema social, que está ligado à cultura, à falta de objetivo e às condições de vida
(Entrevista à autora, T 03).
Nesse caso, fica explícita a necessidade de se trabalhar mais a educação em saúde dos
moradores de Ilhabela, para levar a sociedade a uma maior conscientização com relação aos
processos saúde-doença, pois assim a responsabilidade dessa situação não recairia apenas nos
médicos, uma vez que dependeria de um esforço coletivo para gerar mudanças de comportamento
e também alterações nos ambientes onde as pessoas vivem.
Durante as entrevistas de campo, os terapeutas do lado urbanizado também opinaram
sobre o modelo de tratamento oferecido pelo PSF, que é operacionalizado pela equipe da
ambulancha em visitas rotineiras as comunidades oceânicas. O primeiro depoimento expõe como
a equipe do PSF da Armação atende as comunidades locais:
Deveria ser toda semana, mas dependendo da condição do mar você não consegue ir né,
tem semana que você não consegue sair porque o mar daqui é bem grosso. Aí nem eles
vem, e nem você vai, ou quando acontece uma coisa grave num dia, você tem que pedir
suporte pra marinha, embora o socorro, pelo menos os bombeiros dão uma retaguarda
(Entrevista à autora, T 02).
A acupunturista e clínica geral, que também possui a formação em medicina sanitarista,
expõe a sua crítica a esse tipo de tratamento efetuado:
E até hoje não se faz um PSF nas comunidades. Porque esse atendimento que a gente faz
é ridículo. Você vai lá, eles fazem aquela fila, e fica aquela coisa: um está com dor de

210
cabeça, isso e aquilo, continua como se fosse há dez anos atrás, resolvendo as urgências.
Não entra nenhuma área educacional, uma nutricionista, não existe isso. A gente vai lá
como médico, para fazer o que pode. O pessoal de Castelhanos e de Jabaquara vem mais
pra cá, mas os outros lugares dependem de barco, do mar, mas tem carona. Tanto é que
atualmente a gente vê muita gente de trás da ilha, e isso antigamente não acontecia. Mas
pra mim não se implantou o PSF nas comunidades. E eu acho que ainda é um remendo o
PSF aqui. Porque em saúde pública eu sei até onde a gente poderia chegar (Entrevista à
autora, T 03).
A médica que atendia o posto PSF da Armação, era também a responsável pelas
comunidades do lado oceânico. No depoimento abaixo, ela manifesta insatisfação com a
metodologia aplicada, uma vez que são duas realidades diferentes, a da praia da Armação e a das
comunidades locais:
Aqui na Armação, na verdade, eu faço um atendimento misto, que é o grande problema
no momento que eu tô passando. Porque eu faço o programa saúde da família, que tem
toda uma estratégia diferente, e eu atendo a comunidade da Armação, e é diferente dos
outros... mesmo porque aqui a gente consegue pegar uma comunidade caiçara, que os
outros não conseguem mais. E eu faço também o atendimento das comunidades
tradicionais, que estão atrás da ilha, e as Ilhas de Vitória e Búzios. Mas é uma dinâmica
diferente de PSF, a gente precisaria dar um enfoque diferente... mas é muito difícil a
gente articular as várias Secretarias (de Educação, do Meio Ambiente e a Assistência
Social), então há muitos anos vem funcionando de uma maneira que a gente não
gostaria... Pra mim é muito difícil porque não tem como realmente você fazer saúde da
família da Armação junto com as comunidades tradicionais. Isso é o que eu sempre
coloquei, e eu terminei o ciclo de viagens e vi que a dinâmica dos dois é diferente. Pra
fazer um trabalho legal em ambos, você tinha que fazer uma coisa só naquele lugar. Ou
só na tradicional ou só na Armação, por que a dinâmica é outra, a população é diferente,
lá você demandaria muito mais tempo do que só dois dias, você teria que fazer um
projeto de saúde articulado pras comunidades tradicionais, eu coloquei no relatório e já
entreguei pro Secretário da Saúde, o que eu acho que deveria ser feito né (Entrevista à
autora, T 02).
Abaixo, a mesma médica explica como teria que ser a atuação do PSF nas comunidades:
E quando você vem com a idéia de trabalhar com as comunidades tradicionais, você vem
com todo o ânimo de pegar uma riqueza mesmo cultural, que é pegar os caiçaras que
estão desaparecendo, igual pegar comunidade de quilombo né, você vem com tudo aquilo
e vê que é complicadíssimo fazer... hoje em dia, eu me sinto meio que pajé, porque eu
não consigo fazer um projeto de saúde mesmo, apesar que tem pouco tempo para essas
comunidades... Na verdade, isso envolveria a intersecção de todas as Secretarias para se
fazer um projeto mesmo, por que são questões mínimas e básicas, a gente não tem um
substrato nutricional pra aquele povo, diminuiu bastante a perspectiva da pesca, então
tem um empobrecimento violento aliado a todo impacto mental que isso causa, então
você tem basicamente na saúde, uma visão assistencialista pra essas comunidades. E isso
é lamentável, porque você não vê um projeto para se fazer alguma coisa (Entrevista à
autora, T 02).

211
Este depoimento expressa que os problemas de saúde enfrentados pelas comunidades
deveriam receber um tratamento diferenciado por parte do setor público Por se tratar de outro
grupo cultural, as assistências deveriam estar mais orientadas a corresponder com as necessidades
daquele ambiente. Preservando e aproveitando as contribuições farmacêuticas e terápicas da
cultura local, valorizando a reprodução das relações com a natureza.
Vários médicos entrevistados ressaltaram o fato de Ilhabela não ter uma identidade
cultural, e não se preocupar com a preservação das suas tradições, pelo fato de sua administração
historicamente não ter oferecido nenhuma saída ao caiçara, que muitas vezes se viu obrigado a
vender sua terra e ir em busca de uma vida melhor:
Aqui a identidade do caiçara está indo embora, eles estão indo embora daqui, estão
vendendo tudo e indo pra Santos. Eu fiquei três meses atendendo na Barra Velha, e não
vi um caiçara. Aqui eu atendo um pouco o pessoal do norte da ilha, lá tem uma área mais
preservada. Se você quer ver caiçara, vai para o lado norte. Lá em Parati as crianças
participam de várias coisas. Isso aqui não existe, não tem vida cultural. Tem alguma
iniciativa lá na Pés no chão, mas é muito pouco. Lá em Parati tem festa religiosa o ano
inteiro. E você vê que a participação do povo é muito grande. O estrangeiro que gosta de
ver essas coisas diferentes da cultura brasileira não vem a Ilhabela ele vai a Parati. Agora
o paulistano vem a Ilhabela. Aqui é uma pobreza cultural muito grande, há uma falta do
que fazer, poucas iniciativas nesse sentido e é uma falta de objetivo. Eles não têm
objetivo e acabam ficando naquele núcleo familiar somente. Tem muita menina
engravidando, solteira, e que acaba morando com os pais e gera problemas (Entrevista à
autora, T 03).
E não se apresenta nenhuma solução para os efeitos da urbanização, que vem levando a
uma descaracterização da memória do município, hoje totalmente vinculado ao turismo de alto
padrão. As mansões construídas pelos milionários transformam intensamente o seu território,
prejudicando as antigas práticas de pesca e alterando a identidade construída pelo grupo caiçara.
Na opinião da médica abaixo, Ilhabela representa de forma singular, uma realidade enfrentada
pelo país:
É como eu falei pra você, a gente vem com uma expectativa sempre, mas também, depois
de pelo menos 10 anos de prática, você sabe que o paraíso não existe, e tão pouco
Ilhabela é o paraíso. Pode ser até paradisíaco, cenográfico, mas para o turista. Quando
você está aqui, você tem o problema de uma cidade que na verdade é o reflexo do país,
empobrecida, você tem cada vez mais pobre chegando, tem uma invasão de miseráveis
nos morros né, uma construção civil crescendo porque há um desmatamento horrível. Se
você vier de lá pra cá, você vê as construções dos bacanas né, e infelizmente a elite do
Brasil é desvinculada de cultura, é uma elite extremamente burra. Por isso que a gente
tem essas mansões com elevador, é inacreditável. Então você tem cada vez mais pessoas
vindo trabalhar de pedreiro, que depois acham bonito morar aqui e quem sabe viver da

212
pesca né, sempre tem um peixinho mesmo! Acabam trazendo a família, mas depois acaba
a construção e não tem o que fazer, então fica aquela horda voltada para o tráfico de
droga, que onde eu moro, por exemplo, tem um monte, é forte o negócio de droga. E é
isso (Entrevista à autora, T 02).
Entre os caiçaras a situação piora, uma vez que eles vão sendo pouco a pouco submetidos
a se desfazerem das suas áreas, para viabilizar a invasão dos turistas, das pousadas e hotéis, e
assim vão se distanciando lentamente das antigas práticas e conhecimentos advindos de épocas
não muito distantes, de intensas interações com a natureza local. A maior consequência é a
ignorância sobre o uso dos próprios remédios naturais evidenciados, situação presente na ilha de
Vitória. O discurso da clínica geral que trabalha no PSF da vila, confirma a desilusão dos
caiçaras:
Quem ta lá e tem um pouco mais de saber vai embora, porque tem escola acho que até a
4ª série, depois tem que vir pra cá para estudar, depois você não quer mais voltar. Então
têm todas essas dificuldades. Então tem um núcleo em Caraguá, um núcleo em São
Sebastião e um núcleo que veio pra cá, poucos ainda ficam mesmo morando lá, o que é
uma pena... Tudo o que você vê por aí você vê em Ilhabela também. Tem a balsa que é
um limitante um pouco, então é geral (Entrevista à autora, T 03).
Ilhabela vive atualmente um processo de degradação socioambiental e cultural, expresso
pela perda das referências locais, do conhecimento da fauna e da flora ligados à tradição
simbólica que vem se perdendo.
Conforme Formagio & Barbosa (2004) salientam, a prevenção das doenças envolve
sempre uma dimensão pública, coletiva e ambiental. Os entrevistados demonstraram possuir a
consciência de que o processo terapêutico envolve várias esferas da vida da pessoa, mas a
sociedade precisa ser educada, ao mesmo tempo em que as estruturas públicas de saúde são
transformadas. A partir dos problemas apresentados, percebe-se que a estrutura dos serviços de
saúde na município se encontra em constante desordem, devido aos diversos casos citados que
revelaram a ausência de comunicação entre os diferentes atores envolvidos nos processos
terapêuticos.
Por outro lado, a utilização de produtos químicos em grande quantidade, as poluições
urbanas, os resíduos industriais, as guerras e catástrofes naturais, vêm denunciar que todos os
eventos que causam danos aos ecossistemas, causam também impactos negativos à saúde das
pessoas, provocando, por exemplo, várias epidemias (CASTRO, 2003; CABRITA, 2003).
Desse modo, a partir da reflexão dos depoimentos citados, percebe-se que as relações

213
entre os sistemas de saúde possuem congruências, assim como também possuem grandes
descontinuidades, representando um grande desafio para o setor público gerenciar a saúde em
uma perspectiva mais participativa e ampla.
Para essa pesquisa é interessante também, apesar de não ser esse o propósito da tese,
refletir sobre os itinerários terapêuticos contados por alguns dos terapeutas entrevistados. Essa
análise abrirá a discussão para a perspectiva da eterna incerteza e da relatividade do processo
terapêutico, trazendo elementos para se pensar a discussão acerca da constante desordem das
estruturas e dos sistemas (terapêuticos e ecológicos) que as organizam, em virtude deles se
encontrarem sempre em perturbação.
3.4.1 Os Itinerários Terapêuticos e Algumas Estórias que Fogem dos Padrões
Convencionais
Diante de uma situação em que se constata a ocorrência da doença, são muitos os
caminhos e as articulações tomadas pelo doente em cada sociedade. Para abarcar essa
problemática, Augé (1984) formulou o conceito de itinerário terapêutico que significa, desde o
aparecimento do sintoma, os trajetos (família, benzedeiras, médicos, fisioterapeutas, buscas
religiosas, ervas, etc.) que a pessoa faz até a solução do problema. Trata-se de toda a rede
envolvida no processo, que deixa de ser individual e passa a guiar o destino do grupo do doente,
orientando ou confirmando as crenças e interpretações que surgem nesse percurso. Pelo itinerário
terapêutico pode-se alcançar o conjunto de eventos, de situações e relações sociais mobilizadas
para a compreensão das causas últimas do adoecer. É um conceito que alude à complexa
compreensão da causalidade das doenças, conjuntamente aos mecanismos de reprodução cultural
dos grupos simbólicos, pelos meios de nomeação dessas doenças.
O conceito de itinerário terapêutico de Augé (1984) é similar ao conceito de realidade
cultural da doença (sickness, da Antropologia Médica Americana) e similar também ao conceito
de pluralismo terapêutico, de Zémpléni (1994). A sickness pode abarcar também o sofrimento da
doença (illness) e a disease (doença confirmada pelo laboratório).
Para Zémpléni (1994), a questão das conexões causais implica na compreensão do
itinerário terapêutico, que se inicia de forma semelhante nas diversas sociedades, a partir do
momento em que se percebe a doença. No entanto, os procedimentos são muitos e as conexões
causais também. Quando ocorre a persistência do quadro sintomático do adoecimento nas

214
sociedades tradicionais, por exemplo, quando a doença se torna crônica, cria-se uma nova
interpretação que relaciona a causalidade a uma rede maior de fenômenos, não se vinculando
mais aos sintomas físicos apresentados inicialmente. O contexto da vida da pessoa assume
importância maior do que a doença que ela apresenta.
Para esta pesquisa em Ilhabela, algumas estórias foram contadas pelos terapeutas no
intuito de revelar importantes conexões entre o ambiente e a sociedade. De certo modo, elas
revelam em parte alguns itinerários terapêuticos, e possibilitam que a reflexão caminhe para
interpretações que relativizam a questão da eficácia terapêutica. As entrevistas realizadas
apresentam estórias que trazem à tona relações extra-corporais, que revelam a pluralidade das
articulações entre o ser humano e o ambiente construído. Segue abaixo um caso específico em
que a terapeuta conta o caso de uma paciente que melhorou em condições diferentes das
usualmente previstas:
Uma paciente tomava vários medicamentos, ela tinha um quadro de depressão e ela era
assim limítrofe entre neurótica e psicótica. Então ela, de vez em quando, tinha umas
alucinações e uns delírios também. Ela tomava uma porção de remédios e ela não
gostava de tomar, e ela fez tratamento durante um bom tempo, evoluindo com crises,
depois de mais espaços ela voltava a ter crises, e ela não aderia bem aos medicamentos,
ela estava enjoada de tomar remédio. Aí um dia a levaram, ela não sabe onde é, ela foi de
olhos vendados, para um sítio, um local que era alguma coisa religiosa, eu acho que era
evangélico... E depois desse “tratamento” ela voltou pra me contar como é que foi. Que
ela recebeu uma iluminação, que ela conversou com Cristo, que foi uma experiência
maravilhosa, e ela disse que ficou totalmente mudada aí ela parou de tomar a medicação,
e ela voltou pra casa, voltou a trabalhar, voltou a fazer tudo o que ela fazia antes de
adoecer. Aí no caso eu não sei o que aconteceu, porque ela também não sabe o que
aconteceu, mas ela fala que foi uma revelação que ela teve. E isso já está fazendo mais de
um ano que ela não voltou mais aqui. Ela é daqui de Ilhabela. Ela está ótima, e veio me
contar, e eu falei que o importante era ela ter ficado bem. Que foi muito bom ela ter
vindo me contar, como experiência pra mim, isso foi ótimo! Eu como médica fico com
um pé atrás, será que ela vai voltar, será que não vai voltar aqui, para tratamento, será
que não vai entrar em surto? Até agora ela não entrou, isso já faz mais de um ano. Não
sei se ela curou para sempre né, nem na medicina, esses problemas mentais são muito
difíceis de curar pra sempre (Entrevista à autora, T 05).
Esse caso expressa uma situação que remete à análise da atuação do setor público,
representado pelo conhecimento do sistema biomédico convencional, que muitas vezes não
alcança as raízes dos problemas socioculturais. Uma experiência sobrenatural, coletiva, levou a
paciente que apresentava problemas psiquiátricos sérios a uma mudança de comportamento, que
não foi conseguida pelos meios institucionais da Prefeitura. A dimensão definitiva da cura ficou

215
em aberto, uma vez que a médica relatou que para a medicina esses casos são complicados de se
tratar, pois há sempre uma recaída da pessoa. Porém, o quadro não foi alterado, o que a médica
sabe é que, depois da experiência vivida, a paciente não voltou mais a procurar pelos serviços do
CAPS.
Outro caso relatado faz menção a uma caiçara da ilha de Búzios, que apresentava-se em
surto e necessitava de ajuda terapêutica com urgência:
Eu vou falar da Judite, da Ilha de Búzios, ela é um caso assim pra livro. Na verdade ela
foi a primeira paciente que eu fui resgatar em Búzios, só me passaram assim: A lancha
está esperando a senhora no píer, e é pra senhora trazer esta paciente, que ela está em
surto. Eu não sabia o que era Búzios, e fui em uma lancha maravilhosa, chegou num
estante. Aí começaram a chamar os caiçaras para trazerem canoa pra gente desembarcar.
Eles conversavam entre eles gritando, eu não entendia uma palavra, eles têm um dialeto.
Aí pra ir até onde morava a Judite precisava subir, era assim 90 graus, num sol de
janeiro, de rachar, eu de tamanquinho, salto, subindo, as pedras eram tão quentes e eu
não sabia se tirava o tamanco e pisava no quente, ou se eu agüentava o tamanco que tava
doendo no meu pé. Bom depois de muito sacrifício eu consegui chegar lá em cima que é
onde eles moram, são uns casebres, é um negócio horroroso, aí eu pedi água, e veio uma
água barrenta, eu não tive coragem de tomar... Aí cadê a Judite, me trouxeram a Judite e
ela estava surtada, ela queria pular ao mar, eu não sabia o que iria encontrar, eu tinha
levado algumas injeções, e então falei, pelo menos vai ter que fazer as injeções... Ela
conversava sozinha, gesticulando, coisas que a gente não entendia, bom aí tinha ido um
enfermeiro comigo, e só ele não dava conta de imobilizar a paciente para eu aplicar a
injeção, então precisávamos pedir ajuda aos moradores. Foi uma cena de violência, a
gente não faz mais isso, mas não tinha outro jeito, então a gente fez com que a paciente
deitasse no chão e aplicamos a injeção. Daí a gente precisava imobilizá-la para colocá-la
na canoa pra chegar na lancha. Mas imobilizar e descer aquela ladeirona. Por bem ela
não ia, eu falava pra ela lá do alto: Olha, você ta vendo aquela lancha, vamos passear na
Ilhabela. Precisa de ver o piloto que lindo que ele é, vamos lá pra ver. Ela olhava assim e
falava: Não, pode ficar com ele pra você, eu vou de helicóptero. E nisso já estava
escurecendo, ficando tarde e a gente tinha que levar, aí nesse meio tempo estava toda a
população, toda comunidade estava lá, junto com a gente gritando, alguns xingando a
gente, porque estávamos fazendo assim uma violência contra a moça, e outros gritando
com quem estava gritando. Então foi uma coisa horrível, muito estressante. Nós não
conseguimos levá-la. Aí eu voltei no dia seguinte, 7 horas da manhã, foram vários
rapazes da defesa civil, e conseguimos resgatar a moça. Mas foi um ato de violência
pura. Amarraram, enrolaram ela no cobertor, como uma lingüiça e puseram na canoa,
porque ela estava agitada, quase virava a canoa, dois caras nadando e segurando a canoa
pra ela não pular. Chegando na lancha a gente agradou, deu coca-cola, deu lanche e ela
veio numa boa, paquerando os rapazes. Naquele tempo não havia o CAPS. A gente só
tinha o posto de saúde, e a gente não tinha onde deixá-la, o que fazer com ela, então a
gente teve que interná-la. Ela ficou três meses internada no manicômio. Depois que ela
voltou, a família não queria ela, o marido não queria ela, ele já tinha vindo embora aqui
pra Ilha com os filhos e estava em uma casinha trabalhando. Quando a Judite voltou do
manicômio, ela simplesmente foi orientada pela família de Búzios que não voltasse pra
Búzios e ficasse com o marido... Então ela está aqui na Ilha, o marido foi embora com
outra mulher e ela está na casa que era do marido. Aí deu uma confusão muito grande,

216
uma filha se prostituiu, ela na verdade tem quatro filhos e nenhum está com ela. E
preferem ficar com o pai e ela teoricamente está em tratamento aqui, em
acompanhamento. Só que ela não adere muito, ela não faz o tratamento corretamente. Eu
acho que ela está no normal dela, é que a gente não conhecia o normal dela, ela não está
em surto, mas na minha opinião ela não sabe se cuidar. Ela tem um déficit mental, está
assim em uma situação difícil. Ela está vivendo de cesta básica, aí a gente sugeriu se ela
não queria trabalhar na frente de trabalho, a gente poderia tentar conseguir pra ela, aí ela
falou: Mas para que é? É para varrer rua? Eu falei: acho que é o mais provável. E ela me
respondeu: Ah varrer rua eu não vou não. E deu risada! Acho que pela cultura dela,
varrer rua, ser gari, envergonha. Aí ela se recusou. A filha dela se prostituiu, e aí eu
percebi o alcance dela, ela falava assim: Agora minha filha está namorando com um
velho, e ela dá as coisas pra mim, ela traz dinheiro, ela dá roupa, olha essa blusa aqui é
dela. Ela acha até bom. Eu acho que é um caso lindo de Antropologia esse da Judite, me
marcou muito mesmo, até hoje eu tenho um carinho especial por ela. Ela não teve mais
surto, de alguma forma ela está vivendo. E daí que a gente não vê muita maneira de
resolver as coisas, mas a experiência é muito rica (Entrevista à autora, T 05).
O caso da Judite revela que o conceito de cura construído pelo médico e o saber que ele
representa, muitas vezes não se encaixa ao ambiente reconstruído pelo doente. Os ambientes se
confrontaram no caso citado acima, e os médicos do CAPS invadiram uma realidade de símbolos
e linguagens de maneira ofensiva, o que ocasionou uma situação de extrema violência. Contudo,
no decorrer do processo, a doente acabou arranjando uma maneira para reconstruir sua vida de
acordo com seus valores, que não incluíam a possibilidade de trabalhar em setores considerados
desqualificantes pela maioria da sociedade. Desse modo ela não aceitou o emprego público
oferecido, e considerou-se satisfeita com os privilégios conquistados pela prostituição da filha.
Essa situação confirma o sentido contextual do processo terapêutico, já que ele só adquire um
resultado positivo, se estiver conivente as relações socioculturais e ambientais estabelecidas pelo
doente. Essa situação também se expõe de maneira singular, em outro caso relatado pela caiçara
da praia da Figueira:
Não é só médico não que cura, tem muito médico que não cura não, esse aí ó (se
referindo ao seu marido) faz seis anos, seis anos que toma só comprimido... É que ele
tem um problema, quando ele era novo... ele foi trabalhar em uma fazenda de cana, de
fazer pinga, engenho, aí naquele tempo não tinha balsa para atravessar, pra transportar as
coisas, era canoa a remo, de barquinho pequenininho, e ele foi de barquinho pra
município e caiu um barril, ele foi botar na escada e caiu um barril, nós era menino isso
daí. E quebrou a cabeça dele. Aí ele ficou entre a vida e a morte. Aí levaram ele a São
José dos Campos e eu tava em Santos, aí eu tava doente. Aí meu irmão foi lá e falou pra
mim pra eu ir embora... Mas aí o médico falou que ele tem problema na cabeça, tem uma
hérnia, tem um marcapasso, tudo ele tem. Aí o médico de São José mandou ele procurar
um médico em São Paulo. O médico tinha me desenganado, disse que uma parte de
cérebro dele secou, ele só tem uma parte, juntou as parte. E por isso que ele ficou assim
com a cabeça sabe? E não tem cura. Aí o médico falou pra mim: a senhora vai ter muita
paciência, um dia ele vai fazer tudo, faz que não tem nada, outro dia ele vai ficar na cama

217
pra morrer...É assim que o médico falou pra mim. Paciência, muita paciência (Entrevista
à autora, T 31).
O problema não se resolveu de maneira totalmente completa, com a supressão do quadro da
enfermidade. Abaixo, o próprio doente interpreta o resultado:
Eu não tenho as duas parte do cérebro, então uma parte não tá funcionando (Entrevista à
autora, T 32).
O que houve foi uma adaptação ao problema, que gerou a necessidade de comportamentos
que levassem a aceitação do diagnóstico e a transformação das relações com o enfermo, pois seu
caso dispenderia de paciência da parte de todos os familiares.
Outro caso relatado ocorreu na praia da Serraria, onde uma esposa de pescador teve um
problema no seio que não foi identificado e não se conseguiu tratar pela biomedicina, foi resolvido
com garrafadas:
A única coisa é que eu tive um problema no seio e o médico marcou aquele exame.
Como é que chama? Mamografia, isso. Eu tive problema, mas meu sogro (já falecido)
fez garrafada pra mim, faz cinco anos isso. Veio um homem e ensinou pra ele. Eu tinha
um negócio que saiu no meu seio, formava um caroço, aí eu furava e vazava pus. Foi
tirado até um pedaço, lá no posto da Armação. Então eu fui no médico, e ainda tomei 24
bezetacil. Fiquei na casa da Dina que é minha cunhada. Fiquei lá quase um mês, dia sim
dia não, eu tomava remédio. Mas não curou não. Aí veio o cara da Água Branca, mas ele
não era da Água Branca, ele era de São Sebastião. E ele mandou meu sogro fazer a
garrafada pra mim, e essa fruta veio da Água Branca, mas eu não lembro o nome. Foi a
Dona Verônica que fez, aí eu tomei, sarei e não tive mais nada. Tomei duas garrafas. Aí
eu tive agora uma dor no braço, mas é de ficar trabalhando, de pegar criança no colo, e o
médico achava que podia vir daquele negócio que eu tive no seio. Mas pelos meus
exames não deu pra eles constatarem nada (Entrevista à autora, T 25).
No caso acima, os médicos do município não obtiveram êxito com o tratamento, já que
este envolvia injeções de bezetacil e implicava na permanência da doente no município, na casa
de parentes, de favor. Os remédios não funcionaram, o que funcionou de fato foram as garrafadas
feitas pela sogra, que é a benzedeira mais antiga da comunidade. O conhecimento de um tipo de
fruta, que serviu de ingrediente para a garrafada, veio de um migrante de São Sebastião, morador
do bairro Água Branca. Mas a relação estabelecida foi entre o conhecimento de uma pessoa da
mesma situação social da enferma, passado para a curadora que sempre atuava nos casos de
enfermidades da comunidade da Serraria. A relação afetiva ocorreu, e o machucado no seio
acabou sarando. O novo sintoma surgido, a dor no braço, foi posteriormente interpretado com
mais tranqüilidade e segurança, e não tendo sua dimensão ampliada pelo medo da ignorância do

218
seu sistema cultural.
3.5 As Vertentes Terapêuticas na Perspectiva da Sustentabilidade
O ponto de partida para esta reflexão é a relação complementar entre as vertentes
terapêuticas pesquisadas em Ilhabela e a visão ecossistêmica de saúde. Pelo teor das entrevistas,
assim como da análise teórica que embasou a discussão a respeito do paradigma biomédico e da
abertura cognitiva do próprio modelo, associado à mudança de visão dos terapeutas com relação à
amplitude dos processos saúde-doença, é possível pressupor que as diferentes abordagens possam
ser pensadas de maneira complementar, a partir de conceitos que abarquem o âmbito individual e
o âmbito ecossistêmico, na busca de simetrias que contribuam para a constituição de relações
mais saudáveis com o ambiente.
Acredita-se também que as soluções apresentadas pelas vertentes terapêuticas abarquem
elementos para se pensar a sustentabilidade local, já que a conservação de Ilhabela é do interesse
de todos os que dela dependem, incluindo os representantes de setores econômicos e sociais que
indiretamente estão ligados a sua degradação, como os donos de hotéis, restaurantes, lojas e
pousadas, assim como os caiçaras, migrantes e turistas, se constituindo todos, ao mesmo tempo,
como atores participantes da rede de relações que fundamenta a estrutura e as inter-relações
presentes nos sistemas de saúde do município.
Para Hoeffel et al (2006), a sustentabilidade de um ambiente só pode ser alcançada
quando o processo é participativo, ou seja, ele deve necessariamente envolver todos os segmentos
sociais que vivem no local estipulado, em uma tentativa de diálogo. Nesse processo, as diferentes
representações de ambiente, assim como interesses antagônicos entram em questão, portanto, os
conflitos e as disputas de poder são situações inevitáveis. O que o autor salienta é que, mesmo
não havendo um equilíbrio nessas inter-relações, a tentativa de se construir um veículo de
comunicação entre os atores locais abre possibilidades para uma maior adequação da pluralidade,
direcionada nesse exercício à preocupação com a conservação ambiental. Em Ilhabela, já existem
iniciativas que visam o desenvolvimento a partir de planos de gestão local mais participativos,
que envolvem os diferentes representantes da sociedade, inclusive os caiçaras. Essa necessidade
de inclusão está exposta de maneira explícita na agenda 21 do litoral norte.
Para Rapport, Costanza e McMichael (1998), existe uma urgência no que tange a criação
de mais indicadores para medir a saúde dos ecossistemas, incorporando os aspectos biofísicos e

219
as considerações do próprio campo da saúde agregados às questões socioeconômicas. Os
impactos do estresse das florestas sobre as comunidades humanas também devem ser
considerados, em virtude desses ambientes se constituírem como vitais para os grupos sociais
(como os caiçaras de Ilhabela) que vivem ao seu redor. Porém, é necessário que tanto a ciência
quanto as esferas políticas e administrativas considerem como importantes as tradições das
relações dos caiçaras com a natureza local, e as valorize do ponto de vista da memória, da
preservação ambiental e do desenvolvimento. Afinal, são eles os que mais conhecem a floresta de
fato, sua fauna e sua flora, e podem trazer contribuições interessantes às teorias científico-
acadêmicas, com relação às possibilidades abertas pelas analogias que criam.
A respeito da discussão sobre a sustentabilidade, Marques (2001) traz contribuições
baseadas em sua pesquisa realizada na região de Marituba, situada no baixo São Francisco, em
Alagoas37. Nesse contexto, o autor chama atenção para as conexões simbólicas que os nativos
dessa área mantêm com a natureza local, que a seu ver, devem ser compreendidas como co-
responsáveis pela sobrevivência dos grupos a que pertencem, assim como co-responsáveis
também pela conservação da biodiversidade. Essas considerações são importantes, pois
reconhecem que o modo de vida local é parte de uma grande rede que tece também a organização
do ecossistema, ou seja, qualquer transformação ou ruptura socioambiental mal encadeada nessa
relação com a natureza, pode ocasionar prejuízos ambientais, assumindo no seu dizer: “um
caráter contra-adaptativo” (MARQUES, 2001: 83).
A reflexão de Marques (2001) remete a questão da sustentabilidade de Ilhabela, quando se
constata que as comunidades caiçaras que vivem em áreas ao redor, ou mesmo no interior do
Parque Estadual, tecem com ele relações simbólicas fundamentadas em interações antigas e
imprescindíveis para a sobrevivência, podendo ser vistas então como partes do seu ecossistema.
Essas interações são variáveis, uma vez que algumas espécies mudam de nome (assim como
algumas doenças) e são utilizadas de maneira diferente por cada comunidade caiçara. Desse
modo, a rede de relações simbólicas com a natureza de Ilhabela é grande, em virtude de se
constatar a existência de várias comunidades no arquipélago (algumas situadas em diferentes
ilhas, como Búzios e Vitória) e pressupor que devido a isso, exista uma grande diversidade de
conhecimentos e práticas terapêuticas.
37 Essa pesquisa se encontra publicada no livro Pescando Pescadores, de sua autoria, e consta no item Referências Bibliográficas
desta tese.

220
Existe um caloroso debate na Ecologia e na Sociologia Ambiental acerca dos aspectos
presentes nas culturas caiçaras no tocante à conservação ambiental. Begossi (2001) utiliza a
categoria ecológica de resiliência para pensar essa questão, vista como a capacidade de um
sistema ecológico em absorver as perturbações antes de se transformar. A partir da crítica à idéia
de que as espécies de um ecossistema se organizam em comunidades padronizadas em termos de
comportamentos, é salientada a idéia da singularidade dos indivíduos, que respondem
diferentemente aos problemas de alteração temporal e espacial que prejudicam os padrões de
organização de um sistema ecológico. A autora destaca a existência de respostas singulares das
espécies diante das perturbações sofridas, citando como exemplo parasitismos, competições,
concentração abundante em algumas regiões e diminuição em outras.
Nessa perspectiva, a autora considera que as culturas locais possuem conhecimentos que
podem contribuir positivamente ou negativamente para a resiliência de um ambiente, seja pelo
tipo de agricultura que realizam ou por meio de classificações específicas sobre os elementos da
natureza local. Ela cita como exemplos positivos a prática das roças, a policultura do plantio da
mandioca associada ao feijão, inhame, milho, arroz, abóbora, mamão, entre outros, o plantio em
áreas abertas rodeadas por floresta, a alteração de períodos de queimada e pousio, sendo que a
primeira colabora para aumentar os teores de cálcio e magnésio no solo, e ao mesmo tempo
diminuir o teor de alumínio, e a segunda utiliza o cultivo de leguminosas que contribuem para a
fixação de nitrogênio (BEGOSSI, 2001: 211-212).
Raimundo (2007) também destaca que a influência indígena na agricultura caiçara gerou
algumas práticas, tais como a agricultura de coivara, itinerante, de corte-e-queima, e de
subsistência, alternando fases de cultivo e de descanso da terra, contribuindo para o processo de
regeneração da floresta. O autor destaca que a insistência em se cultivar sempre na mesma área a
partir da sua limpeza, com plantio e posterior queimada, auxilia a fertilidade do solo por algumas
gerações de cultivos, entretanto, em período posterior, acaba desgastando o solo, que perde
minerais pela ação das correntes das chuvas. Por outro lado, o mesmo autor salienta que o
conhecimento local a respeito da recuperação dos solos é respeitável, em virtude desse grupo
saber identificar as espécies que evidenciam quando uma área está recuperada, reiniciando o
plantio.
A conservação de um ambiente como o de Ilhabela envolve questões ligadas também ao
seu processo de desenvolvimento, atualmente voltado para as atividades turísticas. Escobar

221
(2005) evidencia a preocupação com a influência de políticas desenvolvimentistas, que têm
provocado a descaracterização de vários ambientes na América Latina, levando à perda de valores
antigos e à desestruturação de práticas de subsistência devido à mercantilização da natureza. O
autor cita que as comunidades locais possuem relações econômicas baseadas no uso do lugar, que
as situa no interior das relações de mercado, porém, incorporando conhecimentos ancestrais,
espaços comuns de produção, atividades comunitárias, espirituais, etc. (ESCOBAR, 2005).
Em Ilhabela essa questão pode ser pensada a partir da inserção dos hábitos modernos, da
influência da medicina biomédica, das atividades do turismo, assim como da crescente penetração
da religião evangélica, a diminuição dos recursos pesqueiros, as restrições importas pelas
legislações ambientais, a relação tensa dos pescadores com setores pesqueiros mais poderosos,
enfim, todos esses elementos são vistos como fatores que vêm trazendo reflexos e mudanças a
uma cultura que sempre conservou seu caráter dinâmico e aberto às transformações.
Begossi (2001) cita que na ilha de Búzios, por exemplo, houve uma diminuição do
conhecimento medicinal sobre as plantas, perda identificada principalmente entre as gerações
mais jovens, o que para ela diminui a capacidade da cultura reagir aos impactos das mudanças
ambientais, contribuindo desse modo para a diminuição da resiliência ambiental. Nesse sentido, a
autora considera fundamental pra a resiliência a preservação do conhecimento local, como força
atuante sobre os infortúnios.
A questão que se coloca é: como conservar as práticas e simbolizações dos caiçaras sobre
a natureza, sem descaracterizá-las pelas tendências a que estão expostos? Seria possível garantir a
conservação da Mata Atlântica, que se constitui praticamente como o hábitat das comunidades
locais, sem incorporar a visão simbólica de natureza produzida pelo padrão de relações que eles
tecem com o ambiente? Acredita-se nesta tese que não.
A preservação do conhecimento medicinal dos caiçaras, poderia colaborar para viabilizar
planos mais eficazes de atuação do PSF, do manejo florestal, ajudando a abrir novos caminhos
para se pensar a sustentabilidade socioambiental de Ilhabela. E ainda nesse aspecto, Escobar
(2005) destaca que o conceito de biodiversidade - desenvolvido pela parceria entre os ativistas
negros (pertencentes à floresta tropical da região do Pacífico) e as comunidades locais, o Estado,
as ONGs e os setores acadêmicos - é bastante oportuno para a discussão, uma vez que a
biodiversidade está associada à multiplicidade de sentidos e significados que emergem das
diversas formas de interação entre o território e a cultura.

222
Leff (2002) considera essencial para o questionamento da conservação dos ambientes a
incorporação da diversidade cognitiva, e convida o conhecimento científico a se abrir para a
pluralidade de identidades que produzem estratégias baseadas em outras dimensões de
apropriação da natureza. A perspectiva da sustentabilidade para este autor é alcançada pela
conjunção de saberes e interesses diversificados.
A partir dessa proposta, e pensando na sua mediação para a realidade de Ilhabela, acredita-
se que o conceito de biodiversidade possa então ser ampliado para a sua dimensão sociocultural,
partindo do pressuposto que a visão de ambiente possa ser construída a partir de diferentes
identidades e grupos socioculturais presentes no município. No caso das entrevistas com os
terapeutas atuantes no lado urbanizado, por exemplo, foi possível também identificar elementos
que contribuem de certa forma para a sustentabilidade ambiental, como a prescrição de mudanças
de hábitos, alimentação e modos de vida, a preocupação com as condições ambientais, de
moradia, uma vez que pelo conceito de saúde ecossistêmica se entende que quando a pessoa cuida
dela mesma e do ambiente (visto tanto do aspecto biofísico quanto do aspecto sociocultural) ao
seu redor, ela está também contribuindo para a preservação da natureza.
Freitas & Porto (2006) consideram essencial compreender as questões que nascem das
relações entre saúde e ambiente a partir de um enfoque polissêmico integrado, sistêmico e
participativo, incorporando todos os saberes representados pelas diversos segmentos sociais.
Nesse caso, as entrevistas feitas em Ilhabela demonstram que, apesar das diferenças
epistemológicas e ontológicas, os terapeutas possuem compreensões que convergem com a visão
integradora da natureza e da cultura. Estes depoimentos evidenciam essa co-relação:
Saúde é você estar bem com você mesma, com o mundo, saber aproveitar a sua vida,
plenamente, as relações com as pessoas também (Entrevista à autora, T 05).
Acho que a saúde é você atingir um estágio na sua caminhada, você tem que ir lá no
fundo mesmo, mas isso aí não é qualquer um que pode ter não, acho que saúde não é
qualquer pessoa que tem, nem eu tenho. A gente está caminhando. É você saber que é
uma pessoa que está se desenvolvendo, saber respirar, que é muito importante, oxigenar
suas células, seu cérebro, seu corpo, pra poder ser o veículo para você poder ter a tal
chamada saúde. Esse termo foi muito revisto e hoje é o bem-estar bio-psico-social. É
tudo isso. Antes do biológico eu acho que tem o espiritual. Apesar da gente vir todo
bombardeado de influências, inconscientes, genéticas, e esse mundo tão doente, saúde é
quando aquela varredora de rua sorri pra você, e ela limpa o chão que você vai passar
com seu carro. Mas você tem também que incentivar a saúde das pessoas. Um lugar
como esse, Ilhabela, é um lugar que você pode ter muita saúde, é um refúgio, é uma
negação da vida lá fora. É e não é. Quem quiser consegue aqui essa qualidade de vida.
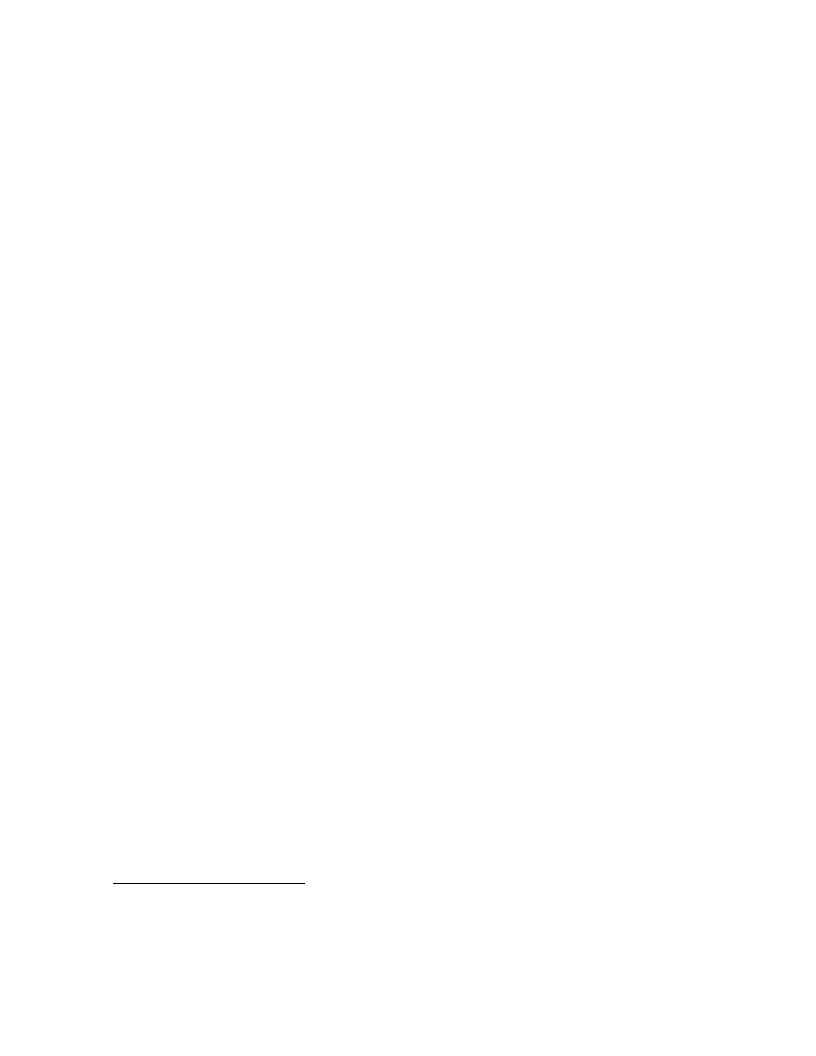
223
Você tem que se cuidar para cuidar do outro. Saúde é isso pra mim (Entrevista à autora,
T 06).
Os depoimentos relacionam a saúde diretamente a sua dimensão processual, ou seja, ela
não é vista como uma categoria estática, e sim, como um percurso a ser percorrido. Foi possível
notar a existência de elementos objetivos e subjetivos comuns presentes nas opiniões dos
diferentes entrevistados sobre o significado da saúde, identificada como resultado da boa
articulação entre os mecanismos bio-psíquicos, sociais e ambientais.
Maluf (2005) considera que os procedimentos desenvolvidos pelas terapias alternativas
atuam de acordo com técnicas, práticas e intervenções38 que almejam levar o doente a um
processo de auto-conhecimento mais profundo, também visto como algo sagrado, apontando para
uma dimensão religiosa. No entanto, o ritual terapêutico assume esse caráter apenas quando dele
emerge um significado singular para cada experiência. Aí reside a importância da pluralidade
terapêutica segundo a autora, na criação de explicações que reintegrem a vida da pessoa ao
contexto do seu quadro de morbidade, e apresente possibilidades de rearticular todos os
elementos para a transcendência e o alcance de uma vida melhor.
O depoimento da psiquiatra do CAPS de Ilhabela remete a saúde também ao seu caráter
dinâmico, ligada ao aspecto emocional, relacionando-a ao enfrentamento dos problemas
cotidianos, ou seja, para se viver bem é preciso se confrontar com os próprios medos e desafios:
Saúde é muito dinâmica, porque, se você está bem emocionalmente, você não adoece.
Você tem que se esforçar todos os dias pra não estar doente. Por exemplo, uma pessoa
que fica o dia inteiro dentro de casa, está olhando mais pra dentro de si, então fica
reparando muito o que tem, aí, parece que meu olho está desse jeito, parece que eu estou
com problema de ouvido, começa a descobrir defeitos em si que tomam proporções
grandes e acabam formando doença. E a saúde é justamente o contrário, é você superar
essas deficiências por você mesma. Então é uma questão de atitude da pessoa, de aceitar
e lutar contra isso mais de uma maneira que dependa de você, não de um fator externo
que é botar um comprimido pra dentro de você (Entrevista à autora, T 05).
De acordo com a visão exposta, a pessoa tem a co-responsabilidade de buscar a própria
homeostase, fortalecendo seu lado espiritual, para não procurar no remédio a solução de
38 A autora cita como exemplo a diversidade das linhas e atuações que misturam a dimensão terapêutica à religiosa, tais como a
meditação, a astrologia, os florais, cartomancia, tarot, Santo Daime, terapia de vidas passadas, enfatizando que a formação do
profissional em muitos casos é múltipla, e o processo de tratamento é realizado pelo arranjo e rearranjo das técnicas e saberes de
acordo com a intuição. Existe a conjunção de saberes que no plano epistemológico podem ser contraditórios, mas na prática são
usados de forma complementar (MALUF, 2005: 2).

224
problemas que possuem várias origens, já que a vida em um ambiente de risco afeta a capacidade
do ser humano se equilibrar emocionalmente.
Maluf (2005) destaca que para haver a recuperação da saúde, as medicinas alternativas
reconhecem em muitos casos a necessidade de uma transformação pessoal por meio do
sofrimento, do esforço para se superar as fragilidades, em um processo doloroso de aprendizado
através da experiência.
O discurso a seguir confirma que a busca pelo equilíbrio somente é possível quando a
pessoa, compreendida como um ente biológico, se inter-relaciona bem com as várias dimensões
da sua vida:
Mas eu acho que o que a gente está vendo hoje é que se esse ser biológico está
desequilibrado, todos os componentes, todas as unidades relacionais ficam
comprometidas. Tem o como nos movemos, que eu trabalho o lugar da estrutura
corporal, e o porquê de nos movermos, que eu levo para o relacional. O porquê tem um
significado social, e aí juntamos os dois. Existem uma série de pessoas que trabalham de
forma amorosa, amorosa no sentido de respeito com a pessoa humana. Eu acho que tudo
o que mexe com o afetivo, funciona de alguma forma. Nós somos um corpo, nós somos
essa estrutura biológica da qual tudo emerge. Então se tudo estiver funcionando bem, o
relacional também reage bem (Entrevista à autora, T 08).
O entrevistado salientou que sua opinião era baseada na análise fenomenológica realizada
por Maturana & Varela (2001), que fundamenta as bases biológicas da cognição humana. Em
linhas gerais (e sem pretender dar conta do real discurso dos autores citados), eles consideram
todos os seres vivos como estruturas que se inter-relacionam com uma estrutura maior, porém,
diferentes do ponto de vista das inter-relações que as compõem, que corresponde ao meio onde os
organismos vivem.
Nesse sentido, os autores contribuem para o debate estrutural, quando consideram que as
estruturas que condicionam a organização do meio não são as mesmas que orientam a dinâmica
dos organismos. Nesse aspecto, os autores procuram explicar os fenômenos de perturbações das
estruturas, dentro do contexto corporal e do ambiental, mas não do ponto de vista da causalidade
linear, mas partindo da desordem ocasionada no sistema todo pelos agentes ou pelas relações
perturbadoras.
Segundo o entrevistado, a analogia entre o pensamento de Maturana & Varela (2001) e a
sua postura profissional ocorre pela visão do ser humano como uma estrutura biológica, na qual
as diferentes relações vão compor a organização da sua totalidade. Nesse aspecto, quando um
agente nocivo desorganiza o padrão estrutural das relações, como a perda de um emprego, ou a

225
exposição à água contaminada por vermes, desencadeia impactos em todo o sistema, como
temores, angústias ou intoxicações, dores de barriga, depressão (no plano subjetivo e espiritual
e/ou objetivo e orgânico).
Na interpretação ecológica, Rapport, Costanza e McMichael (1998), consideram que para
um ecossistema ser considerado saudável, por exemplo, ele precisa agregar uma condição
sustentável autônoma no tempo e manter um nível de resiliência ao stress, ou aos agentes
perturbadores.
Já foi visto que o stress ambiental provocado em Ilhabela pelos ciclos econômicos da
cana-de-açúcar, do café e atualmente do turismo, vem causando há séculos a perda da
biodiversidade local, associada ao aumento das desigualdades sociais decorrentes do intenso
crescimento populacional e da valorização imobiliária. Esses fenômenos podem ser vistos como
agentes desorganizadores do padrão de organização dos níveis ecológicos, biológicos, sociais,
demográficos, econômicos, espirituais, que por sua vez desequilibram a organização psíquica dos
seus habitantes desencadeando medos, tensões, depressões, assim como doenças manifestadas no
plano biofísico, tais como hipertensões, diabetes, doenças infecciosas, decorrentes também da
contaminação gerada pela ausência de saneamento básico e infra-estrutura urbana para dar conta
desse crescimento.
Sendo assim, a questão da busca individual e socioambiental pelo equilíbrio dinâmico se
inserem nesse complicado contexto de Ilhabela, e a questão da saúde se torna muitas vezes o
resultado de uma procura muitas vezes difícil de alcançar:
Então saúde é essa coisa complexa, que todo mundo procura e pouca gente tem, eu acho.
Mas o que é saúde? Médico só pensa em doença né! (risos) Eu acho que é procurar esse
bem estar, esse equilíbrio, senão desvia, é trabalhar seu corpo de uma forma harmônica,
coesa, que aí não vai desequilibrar nada (Entrevista à autora, T 04).
Portanto, para todos os terapeutas entrevistados no lado urbanizado de Ilhabela, a
dimensão exclusivamente biológica da organização físico-estrutural do corpo foi colocada em
simetria às outras dimensões da vida da pessoa e do meio onde ela vive. A dimensão biológica da
degradação ambiental de Ilhabela, representada pelas condições de vida, foi situada como uma
das principais causas de adoecimentos, agindo em conjunto com as questões sociais, econômicas
e biológicas na produção de quadros de desequilíbrios subjetivos e objetivos, que se expressam
em várias ordens de compreensão de ambiente e de corpo. Por outro lado, para que a eficácia do
tratamento ou a reorganização do equilíbrio ocorra, foi destacada pelos terapeutas a necessidade

226
de reconhecimento do doente no tocante as transformações exigidas, em uma postura de
enfrentamento dos problemas e das questões que desorganizam sua vida. Do mesmo modo, pela
literatura se constatou que para alcançar a sustentabilidade, ou a conservação da biodiversidade
local, todos os atores (turistas, políticos, migrantes e caiçaras) de diferentes instâncias devem se
envolver no processo de gestão das unidades de conservação e do seu entorno (que no caso é a
município de Ilhabela e a região do litoral norte), se comprometendo a viabilizar um conjunto de
atuações que possibilitem uma melhora na qualidade de vida assim como na qualidade ambiental.
A partir desses pressupostos, conclui-se que os depoimentos de alguns dos entrevistados
contribuíram para se pensar a sustentabilidade de Ilhabela, uma vez que cada ator foi visto como
um agente ativo da conservação ambiental, ao se incomodar com os processos globais e locais de
degradação não apenas da natureza externa, mas também da natureza interior de cada ser
humano.
No tocante às intervenções terapêuticas, tanto do âmbito individual quanto do
ecossistêmico, a análise apontou para a problemática do uso excessivo de agentes químicos39, que
vêm contaminando tanto as pessoas quanto os outros organismos e populações que fazem parte
dos ecossistemas, e precisam, dessa maneira, ser usados com mais critério e de modo mais
restritivo, em virtude dos microorganismos e as pragas estarem se tornando cada vez mais
resistentes, o meio ambiente estar cada vez mais contaminado e as pessoas cada vez mais
dependentes dos remédios.
A crítica também remete ao comportamento imediatista da sociedade, ao buscar soluções
que atuem somente sobre os sintomas das desordens, não abrangendo a totalidade do
desequilíbrio dos sistemas, como se o remédio ou o agente tóxico fossem resolver sozinhos todas
as desordens sociais, ambientais, ecológicas, econômicas e psíquicas. Essa questão está
intimamente ligada aos interesses do mercado e das indústrias que vendem esses tipos de
produtos, que incentivam a representação de que eles são bons e que geram efeitos milagrosos,
sem nenhum impacto negativo nas corporalidades e nas relações ecossistêmicas. Essa situação
tem distanciado as pesquisas científicas e a sociedade de uma visão mais abrangente da saúde e
dos processos de cura.
Na realidade, não existe nenhum menosprezo quanto ao desenvolvimento epistemológico
da biomedicina e da agricultura bioquímica, mas existe a crítica com relação à representação

227
mecanicista e exclusivamente biológica do corpo e da natureza, como se ambos não possuíssem
cognição e não reagissem às perturbações. Os conceitos de resiliência e de auto-organização vêm
mostrar que os sistemas e suas estruturas possuem capacidade, embora limitada, de se
restabelecer. Mas a intoxicação química vem prejudicando essa capacidade de recuperação, e os
seres humanos podem passar a desacreditar que possam sozinhos buscar sua homeostase, através
da mudança de comportamentos e de relações.
Nessa perspectiva, o corpo foi visto pelos terapeutas de Ilhabela como o hábitat do ser,
que sente, que vive, que pensa, que age, que se relaciona. No momento em que se aceita essas
representações sociais no ato da construção dos significados das doenças, torna-se possível
transcender a dualidade interior/exterior, sendo possível ver o interno e o externo como
dimensões vividas e construídas pelo ato da cognição humana. Desse modo, as diferentes
vertentes terapêuticas associam a eficácia do tratamento ao princípio da não-separação entre as
dimensões da vida (natureza e cultura), ou seja, compreendem a cura sob várias óticas. Elas
articulam as dimensões ambientais, sociais e simbólicas, e a relação entre o local e o global de
diferentes maneiras, mas sempre olhando, independentemente da formação acadêmica ou
institucional, para o ser humano de forma mais abrangente, ligado ao seu meio, que também é
biofísico.
Representando o ser humano como um organismo biológico que vive sempre em
perturbação, pode-se pelo conceito de saúde ecossistêmica, realizar uma analogia com a própria
natureza, que também busca pela resiliência o seu equilíbrio dinâmico, tentando, como um
organismo vivo, se reconstituir dos impactos gerados pelas ações humanas. A idéia de ambiente
reconstruído, de reorganização da vida em uma nova ordem, foi exposta para afirmar a
importância da transformação do antigo padrão estrutural para se alcançar a saúde, o que remete a
sua dimensão ecológica.
Diante dessa constatação a respeito do eterno desequilíbrio dos diversos padrões de
organização da realidade, e da tentativa constante dos organismos, dos terapeutas, dos
ecossistemas e dos sistemas de saúde estabelecerem a homeostase, torna-se possível explorar a
reflexão sobre o mundo imaginário, criador de possibilidades terapêuticas reais que atravessam as
dimensões da natureza e da cultura, do natural e do sobrenatural, do ser humano e do ambiente,
permitindo que se extravase todos os sentimentos e todos os medos com relação ao futuro,
39 O uso indiscriminado de medicamentos e de agentes químicos (tais como os agrotóxicos) é referente a prescrições realizadas

228
reacendendo esperanças fundamentadas em outras relações, outros valores, que fogem das saídas
propostas pelas ciências normais (FUNTOWICZ e RAVETZ, 1997, PORTO et al, 2004;
FREITAS & PORTO, 2006), pautadas na valorização econômica criadora de um mercado do
patrimônio natural e da saúde humana.
Assim, no plano epistemológico, a discussão das vertentes terapêuticas de Ilhabela vem
mostrar que é possível ver todos os organismos e todos os ecossistemas como resultado de
interações em diferentes escalas, na sua singularidade. Essa constatação empodera a cognição
terapêutica de uma inteligência capaz de elaborar diferentes situações de complexidade do
ambiente, identificando de forma heterogênea alguns aspectos necessários para a sua
reorganização, visando alcançar a saúde ou a sustentabilidade. Vale a pena destacar que, quando
um processo terapêutico ocorre, o padrão de organização antigo e problemático nunca volta a ser
o mesmo, ou seja, sempre há transformação, e o desequilíbrio é permanente.
Desse modo, ao se elencar e analisar algumas vertentes terapêuticas em Ilhabela, foi
possível ampliar o conceito de adoecimento individual para a dimensão ambiental, como ensinam
Freitas & Porto (2006), para que a dimensão da saúde seja relacionada a uma multiplicidade de
eventos e questões, e não seja reduzida a mera ausência de doenças.
3.6 A Saúde na Perspectiva da Integração com a Natureza
Esta tese reconhece a importância da biomedicina e de todas as suas descobertas,
incluindo o seu desenvolvimento tecnológico e químico, possibilitando que as doenças fossem
combatidas de maneira eficiente e rápida. O que nela se questiona é o fato dela propor-se como o
único sistema presente nos cursos universitários de medicina, e a maneira como é usada
indiscriminadamente, por meio do consumo abusivo de remédios que alimenta o mercado
farmacêutico e produz comportamentos alienados na sociedade, tais como o imediatismo citado
nas entrevistas em Ilhabela.
Sendo assim, este trabalho pretende mostrar que é possível se tratar as doenças tanto pela
atuação química do medicamento, como por exemplo, a utilização da biomedicina realizada pelas
instituições públicas de Ilhabela, tais como o PSF, o CAPS, o Hospital e o Pronto-Socorro,
quanto pela atuação vibracional, representada pelas vertentes terapêuticas alternativas (presentes
paradoxalmente nos setores públicos), assim como nos setores privados do município. As
por representantes do paradigma biomédico e do paradigma da monocultura.

229
medicinas populares praticadas pelos caiçaras e pelas instituições religiosas também estão
inclusas, uma vez que evidenciam a possibilidade de articulação de muitos símbolos para se
alcançar a saúde. Alguns depoimentos evidenciaram que os terapeutas do PSF valorizam esse
saber, estimulando o uso das plantas locais em muitos casos de enfermidades.
Todos os saberes são considerados aqui, como possibilidades terapêuticas reconhecidas
em parte pelas instituições e pelos atores sociais, evidenciando que na estrutura dos sistemas de
saúde em Ilhabela, há intersecções, interações, ruídos e rupturas, que configuram desordens e
novas ordens, sucessos e fracassos, na articulação dos instrumentos materiais, naturais,
ambientais, simbólicos, contextuais, sociais, econômicos e históricos presentes em cada
tratamento de saúde.
A partir dessa idéia, pensa-se que nos momentos de desequilíbrio, ou de transformações,
tanto os organismos quanto a natureza reorganizam os infinitos relacionamentos e interações
existentes no seu contexto de vida para, assim, continuar seu caminho de co-evolução, ou de
equilíbrio dinâmico. Essa idéia foi bastante presente em alguns depoimentos dos terapeutas de
Ilhabela na questão do adoecer. O ser, ao se identificar com a natureza, ao reconhecer que é fruto
de suas conexões mais complexas, pode vir a ser capaz de ver que possui capacidade de auto-
equilíbrio e de transcendência.
Ao analisar as entrevistas e todo o trabalho de campo de uma maneira geral percebeu-se
que, para os terapeutas, as doenças são como desorganizações do organismo, que se inicia no
desequilíbrio gerado pelo sofrimento (que remete a conexões analógicas recuperadas pela
homeopatia, biomedicina, acupuntura, medicina floral, rolfing, ginástica postural, aura-soma e
pelas medicinas populares), este visto como um caminho situado num momento de busca por
uma nova integração com a realidade e com a natureza. Integração que também ocorre no plano
da consciência, no plano das relações sociais, naturais e simbólicas, ou seja, pelos desequilíbrios
orgânicos e simbólicos, enxerga-se um caminho de reorganização da subjetividade (a consciência
no mundo). Nela, estas esferas se expressam no ser, em sua saúde, e percebe-se então que todas
as relações são, também, ressonâncias que atuam nos diversos padrões de individualidade.
Do mesmo modo, os depoimentos de Ilhabela mostraram que a intenção de alguns dos
terapeutas é primeiramente identificar o(s) padrão(s) de desequilíbrio dos pacientes, para depois
iniciar o tratamento – pela abrangência do medicamento químico ou vibracional, ou pela terapia
verbal, ou pela influência da energia das cores, ou pelas massagens e exercícios corporais, pelas

230
rezas e benzeções, banhos, chás e emplastros – buscando com ele estruturar novas relações, ou
criar uma nova ordem ou uma nova visão de mundo, mais equilibrada ou mais adequada ao
contexto da vida e do ambiente da pessoa.
Nesse sentido, a questão do contexto foi muito salientada nas entrevistas como um
importante aspecto que leva a pessoa a compreender os por quês (em vários âmbitos) de ter
ficado doente, e não somente o mecanismo instrumental da doença, ou o como40 o organismo
ficou doente.
Se pela teoria sistêmica interpretada por Amorim (2000), todos os seres estão interligados
num plano mais profundo de indivisibilidade; e se pelo debate antropológico, sociológico e
ecológico as representações simbólicas sobre o mundo nascem das relações socioambientais, é
possível compreender o adoecimento humano como uma tentativa das corporalidades em se
organizar com a natureza local. Esta auto-organização pode ocorrer pelo processo de cura natural,
ou no vocabulário ecológico, pela resiliência, ou seja, por meio de uma força que atua na
regeneração dos processos de desequilíbrio do todo, expresso nas partes, como no corpo, ou no
meio ambiente. Se existe um principio organizador inerente na natureza, inclusive no corpo, ao
entrar pela parte (órgão), o todo pode ser acessado, sem que ocorra uma fragmentação.
Essa idéia permite compreender que também a atuação dos remédios receitados pela
biomedicina, com efeitos químicos sobre os sintomas, percorrendo os caminhos da subjetividade
para acessar a totalidade, recuperando o equilíbrio dinâmico no interior de uma relação
denominada de contigüidade, em que a entrada pela parte, se contribui para a reorganização do
todo (PERES, 2003). Resta saber se assim é organizado o todo numa causalidade ascendente co-
evolutiva, ou se contamina ainda mais o organismo, aumentando a gravidade da doença ou a
dependência com relação ao remédio.
Existe também no debate sobre as doenças, ambientais e humanas, a questão da prevenção
e na perspectiva ecológica, da precaução. Freitas & Porto (2006) abordam o surgimento do que
eles chamam de novo paradigma precaucionário, que implica no reconhecimento de que os
problemas ambientais atuais, ligados às contaminações químicas e nucleares, as consequências do
desenvolvimento tecnológico e da engenharia genética, entre outras atividades destrutivas
presentes no modo de vida moderno, provocam perigos e riscos que são imprevisíveis do ponto de
40 Consultar a tabela 9, referente as diferentes maneiras de elaboração das causalidades das doenças, interpretadas pela
Antropologia da Doença francesa representada por Zémpléni (1994).

231
vista científico e real. Segundo os autores, essa constatação produz uma sensação de mal-estar e
medo, semelhante ao medo da sociedade atual com relação às grandes catástrofes ambientais e
climáticas. Para eles, a única diferença é que as consequências das ações humanas podem ser
controladas, escolhidas e entendidas dentro do princípio da prevenção, mas mesmo assim é
imprescindível o reconhecimento da incerteza epistemológica, e de se aceitar a possibilidade de
novos problemas surgirem no futuro, como desdobramentos do passado. Nas palavras dos
autores:
É muito importante tratar e remediar os efeitos onde o mal já foi criado. Mas um futuro
sustentável somente será construído se enfrentarmos, além dos riscos conhecidos através
de estratégias claras de prevenção e controle, as tecnologias e processos potencialmente
perigosos, nos quais a ignorância sobre os futuros cenários e a plausibilidade de possíveis
tragédias estejam presentes. Nesses casos é fundamental aplicar o princípio da precaução.
Da remediação, passando pelo controle e prevenção, até a precaução, a promoção da
saúde e da sustentabilidade exige profundas mudanças na ciência e nas práticas
institucionais e sociais (FREITAS & PORTO, 2006: 37).
Sendo assim, é necessário o reconhecimento da necessidade de uma mudança
epistemológica nas análises dos problemas de saúde ambiental e humana, que reflita a diversidade
cognitiva que nasce das diferentes relações do ser humano com a natureza, de onde emergem
símbolos e signos que abrem caminhos para uma compreensão do mundo (e uma atuação sobre
ele) menos linear e mais plural. Essa constatação é importante, uma vez que leva o conhecimento
a se abrir para diferentes esferas de causalidade na interpretação dos problemas, interligando
dimensões objetivas, subjetivas, reais, imaginárias, para depois reconhecer que existem
mecanismos que podem atravessar essas dimensões e possibilitar tanto a cura, como processos de
co-evolução natural e espiritual.
Espera-se com isso, contribuir para a construção de uma realidade onde o ser humano se
identificará com o lugar onde vive, com as pessoas, com as relações materiais e produtivas, com o
ecossistema local, e com o conhecimento que produz acerca da realidade. Isso pode não ser uma
ilusão, na medida em que se assume a incerteza, os ruídos, os desequilíbrios e as perturbações
como eternas dimensões da existência ecossistêmica.

232
3.7 A Pluralidade Terapêutica e a Desordem das Estruturas
Esta tese pretendeu, inicialmente, elaborar uma totalidade estrutural que desse conta de
organizar as relações entre os sistemas terapêuticos, as instituições e os atores sociais, partindo do
conceito clássico de estrutura vista como modelo formal, presente em Lévi-Strauss (1996).
No entanto, ao realizar o trabalho de campo, a pesquisadora percorreu as diferentes
esferas presentes nas representações dos terapeutas, assim como percorreu os diferentes
ambientes terapêuticos, o que levou o pensamento científico a dimensionar o conhecimento
fundamentado pelo estruturalismo formal, que construiu em muitos casos um modelo enrijecido
por relações funcionalistas. Como exemplo dessa questão, encontra-se a forma como o modelo
funcionalista construiu a totalidade de uma organização social nas ciências humanas (sistema-
função-integração), que se assemelha à forma aplicada pela ciência biomédica na construção da
totalidade do ser humano (órgão-função-integração), que por sua vez se assemelha à forma com
que a Astronomia enxerga o universo (sistema solar-planetas-integração), que por sua vez se
assemelha com a maneira da Ecologia ver os ecossistemas (sistemas-organização-função).
Partindo da crítica ao funcionalismo metodológico realizada por Minayo (2006) na área
da saúde, reconhece-se que ele está presente na episteme biológica, ecológica, sociológica e
antropológica, podendo ser visto como um modelo de pensamento dominante na sociedade
ocidental moderna.
Desdobrando esse pensamento, alcança-se a crítica ao mecanicismo e ao organicismo
(BRANCO, 1999), que são correntes desenvolvidas por essa maneira de se enxergar a realidade
individual, social, ambiental, ecossistêmica e cosmológica, aprofundando o conhecimento das
partes ou dos elementos que compõem o sistema, e que possuem uma função específica na
organização das relações que fundamentam a estrutura dinâmica.
Funtowicz & Marchi, (2003) também contribuem para essa discussão, quando afirmam
que o pensamento científico sempre confiou na possibilidade de ultrapassar a ignorância e
superar as interpretações apaixonadas presentes nas antigas tradições, enaltecendo a dicotomia
“saber algo/saber como”. No entanto, os problemas ambientais e de saúde têm cobrado mais do
conhecimento do que apenas as metodologias de investigação, aplicação e exposição de
resultados. Nas suas palavras:
Por um lado, as análises científicas não são suficientes para determinar as exigências de
sustentabilidade sem ambigüidades. Isto ocorre em parte porque a maioria dos problemas

233
ambientais se caracteriza por um estado fluido e incompleto de conhecimento científico,
acompanhado por imprevisibilidade inerentes aos sistemas complexos (FUNTOWICS &
MACHI, 2003: 81).
Os mesmos autores também destacam que para além da imprevisibilidade inerente a todos
os sistemas, seja ele social ou biológico, aberto ou adaptativo, existe uma questão epistemológica
fundamental para a discussão, ligada à idéia de que a complexidade41 dos sistemas ecológicos não
envolve relações de intencionalidade, ou de propositividade, ou de consciência, ou seja, a
natureza é vista pela ciência como uma estrutura de relações que não possui cognição. As
sociedades, ao contrário, são vistas como sistemas reflexivos que possuem inteligência e
cognição para resolver ou amenizar os problemas complexos que envolvem as interações ser
humano-ambiente (FUNTOWICS & MARCHI, 2003).
Por outro lado, Haila (1999; 2000) critica a abordagem ecológica que trata as interações
entre os organismos e o ambiente de uma maneira dualista, ou seja, na visão de que os
organismos são agentes que interagem de maneira a resolver os problemas ambientais, no interior
de uma compreensão de ambiente visto como algo externo ao organismo. Para o autor, o limite
entre externo e interno é permeável, e as relações entre os organismos e seus ambientes são
construídas de maneira conjunta e indissociável.
A seu ver, o fato da dinâmica de organização de sistemas não-lineares operarem longe do
equilíbrio é reconhecido como um ponto de partida heurístico necessário, que elaborou uma idéia
de complexidade social decorrente de estruturas que se encontram em interação mútua. No
entanto, a utilização de uma análise linear que escala os processos dinâmicos torna-se
problemática, em virtude de os problemas ecológicos criarem seu próprio espaço e escala de
tempo, em um mundo que não se constitui mais como um abstrato espaço euclidiano, pois se
configura como um ambiente vivo, que interage com organismos vivos. O autor salienta que os
processos ecológicos e socioeconômicos diferem no tocante à duração do tempo e da sua
extensão, por isso, se torna difícil identificar uma unidade de análise para dar conta desses
fenômenos (HAILA, 1999).
Na mesma perspectiva crítica, Oliveira (2007) também realiza o questionamento do
modelo de estrutura formalizado pelas ciências sociais, avançando para o paradigma do
imaginário, quando ressalta que “a estrutura desentranha níveis ampliados de cognição para

234
realizar sua entrada no mundo mitológico. Reinstitui assim a dimensão ontológica do real”
(OLIVEIRA, 2007: 16). Para a autora, os sistemas que compõem as estruturas devem ser
pensados como produtores de significados a partir das relações que tecem com a realidade
singular que representam, propiciando a criação de signos e símbolos que ultrapassam as
dualidades presentes no pensamento estrutural, que evidencia a separação entre a natureza e a
cultura, o ser e o mundo, o material e o imaterial, o espiritual e o racional, entre outras relações
de oposição binária. Nesse caso, as ciências que ainda obedecem ao paradigma clássico fisicalista
(FUNTOWICS & MARCHI, 2003) tendem a ignorar que a realidade sempre ultrapassará
qualquer interpretação unívoca do mundo.
Para se criar uma esfera que incorpore a pluralidade cognitiva, Oliveira (2007) propõe que
o pensamento se abra a um paradigma que se situe como propulsor da reflexão sobre os destinos
do ser e do mundo, assumindo a responsabilidade, reconhecendo a incerteza (também pelo
princípio da indeterminação) e enfrentando os desafios epistemológicos de mergulhar em mundos
cognitivos despreocupados com as cisões ontológicas.
A essa discussão a autora propõe o conceito de campo cultural, que incorpora as
contradições, os paradoxos, as analogias e as ambigüidades presentes nas relações humanas e
simbólicas, que para a autora são esferas que atuam independentemente das condições sociais
(OLIVEIRA, 2007). Na perspectiva ecológica, Branco (1999) propõe o conceito de campo
ecossistêmico, fazendo referência ao relacionamento dinâmico entre as populações e as diferentes
espécies, inseridas no contexto do hábitat e se relacionando com ele e entre si, enaltecendo o
caráter probabilístico que envolve os processos evolutivos, também ligados a conservação
ambiental. Para o autor, “o ser vivo forma, com o meio físico e com as demais espécies, um
continuum solidário e essencialmente dinâmico” (BRANCO, 1999: 55).
Sendo assim, as indagações que as doenças suscitaram nesta tese, e as representações
presentes nas diferentes vertentes terapêuticas exploradas pelo trabalho em Ilhabela, revelaram
mecanismos analógicos que fundamentaram as intervenções na corporalidade, as linhas de
pensamento e as práticas diferenciadas entre os setores público, privado e o popular. As
abordagens dos diferentes terapeutas revelaram o alcance da cognição humana e do seu poder de
regenerar relações sociais, naturais, espirituais e simbólicas partindo de diferentes filosofias e
mecanismos.
41 O autores definem sistemas complexos como estruturas portadoras de relações que não podem ser compreendidas a partir de

235
O caráter subjetivo do adoecimento e dos processos terapêuticos abarcou a questão da
eficácia simbólica, da causalidade denominada como conjunção constante, da causalidade
ascendente, da causalidade sistêmica ou ecossistêmica, da doença como metáfora e como ajuste
social, da relação afetiva, dos poderes sobrenaturais, que revelaram como o ser humano e o meio
ambiente são singulares e complexos ao mesmo tempo, difíceis de interpretar.
No entanto, as representações presentes entre os diferentes atores sociais pesquisados em
Ilhabela, não serão situados nesta tese apenas como um âmbito que comporta uma função, na
complexa42 estrutura do sistema de saúde e dos processos terapêuticos do município. Elas
ganharam novos contornos, decorrentes das mudanças ambientais, históricas, sociais, econômicas
e simbólicas, pautadas no reconhecimento da existência das interações presentes entre os sistemas
de saúde e as instituições, entre os atores sociais. No interior do novo desenho, se reconhece que
os processos terapêuticos não estão isentos de contradições, fracassos, dilemas, perigos e riscos a
serem enfrentados, que são considerados nesta tese como perturbações que denotam a eterna
mutabilidade dos sistemas e das estruturas.
O ambiente nessa tese converge então com a definição exposta por Leff (2002), como
“um campo heterogêneo e conflitivo, no qual se confrontam saberes e interesses diferenciados”
(LEFF, 2002: 214), mas que abre para a compreensão da natureza e da cultura a partir da
pluralidade, ou do que ele chama de outridade, ou de “um mundo feito de muitos mundos e a
partir de uma diversidade de sentidos” (LEFF, 2002: 215). Oliveira (2007) amplia essa idéia ao
evocar o conceito de multiplicidade do real, que emerge como um campo que ressitua as
dimensões heterogêneas da existência como agentes produtoras de significados, criadoras de
imagens e de signos que revelam um mundo rico e uma natureza cheia de cognição.
Nesse sentido, Oliveira (2007) constrói a indagação a respeito das causalidades que
afetam os processos naturais, corporais e socioculturais, ou seja, na mediação com as dimensões
desenvolvidas por essa tese, essa idéia implica na compreensão dos motivos pelos quais as
doenças, os contágios, as contaminações, as pragas, os acidentes, as catástrofes, as brigas, as
disputas, pegam, rondam, envolvem, perseguem as pessoas, as sociedades e os ecossistemas. A
autora questiona se existe continuidade entre o que ela chama de mundus imaginalis, na
comunicação com a ordem das coisas, dos seres e da natureza existente em planos não visíveis,
uma única perspectiva de análise.
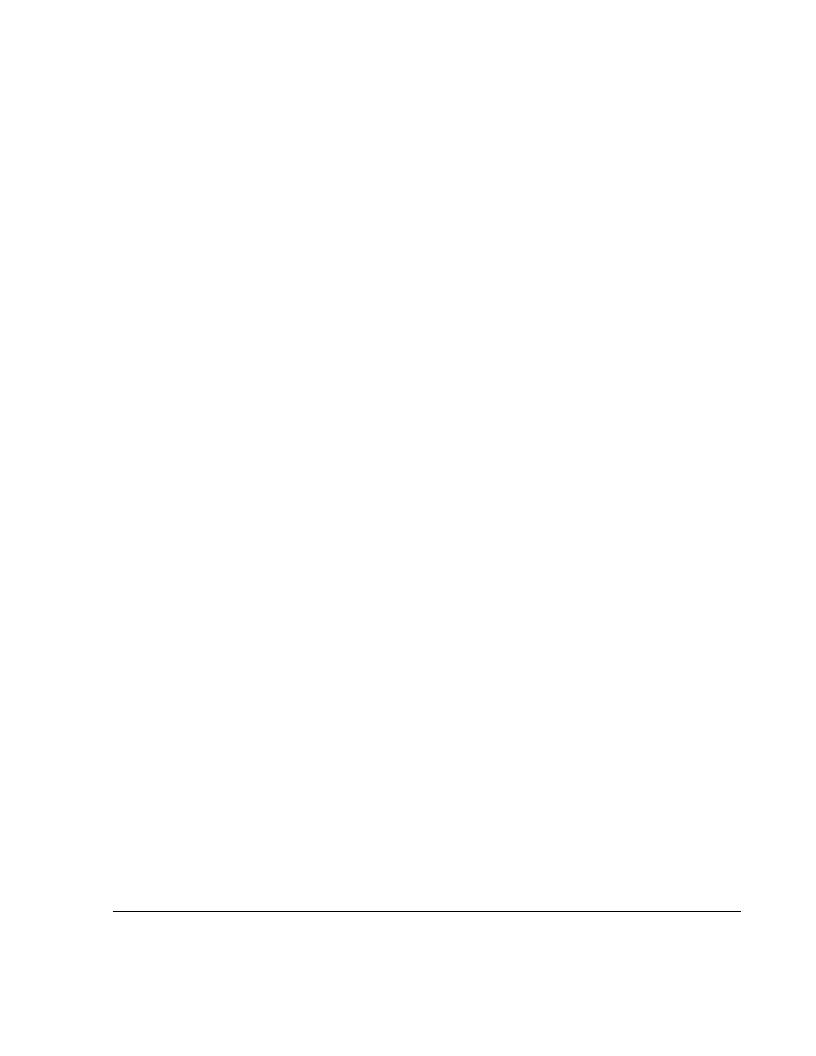
236
ou seja, no plano das ressonâncias.
Pelas revelações encontradas no trabalho de campo em Ilhabela, e pelas considerações dos
autores que vêm criticando a epistemologia linear e a organização estrutural dos sistemas vivos, e
que levam à crítica para o modelo produtivo capitalista, decorrente do desenvolvimento do
paradigma racionalista que busca resultados, lucros, quantidades e soluções milagrosas e rápidas
para os problemas que se apresentam para a sociedade, acredita-se que sim. Existe uma
continuidade entre o pensamento e a dimensão real, delineada pelas contribuições das teorias que
evidenciam a inseparabilidade das coisas e dos seres, das coisas e dos fenômenos que as
acometem, assim como as coisas se conectam, se aglutinam e se fundem em erupções, capazes de
levar o conhecimento às profundezas da alma e dissipar padrões estagnados de organizações
(OLIVEIRA, 2007). E por analogia, levam a curar doenças, recuperar ambientes contaminados e
trazer novas formas de interagir com o mundo, sempre visto como fruto e resultado da
imaginação humana projetada.
Considerações Finais
O alcance das analogias foi evidenciado pelas diferentes vertentes terapêuticas
pesquisadas em Ilhabela, como práticas de cura baseadas em diferentes lógicas de pensamento,
atuando na tentativa de se construir uma nova realidade para o doente. A partir das propostas por
elas apresentadas, foi possível entender o adoecimento por meio de dimensões da existência
difíceis de serem reconhecidas no interior dos pressupostos do positivismo, pois ele é
evolucionista e pensa essas relações como algo já superado pelo pensamento lógico racional
newtoniano.
Acredita-se neste final de tese, que o modelo estruturalista formal proposto na sua
introdução foi ultrapassado, pois as analogias evidenciadas pelas vertentes terapêuticas levaram o
pensamento a um percurso que cortou transversalmente as dimensões da vida evidenciadas pela
ciência normal (dimensão corpo-alma, objetivo-subjetivo, ciência-magia, natureza-cultura),
transcendendo-as em articulações simbólicas que foram pensadas na perspectiva da relação com o
ambiente vivido e construído pelos processos de cura.
42 Agora já é possível chamar de complexa a estrutura dos sistemas de saúde de Ilhabela, já que ela se mistura em relações
indecifráveis, possui grandes nós, e ultrapassa compreensões lineares, articula elementos naturais e sobrenaturais, alcançando
efeitos terapêuticos no mundo pensado como um continuum ecossistêmico.
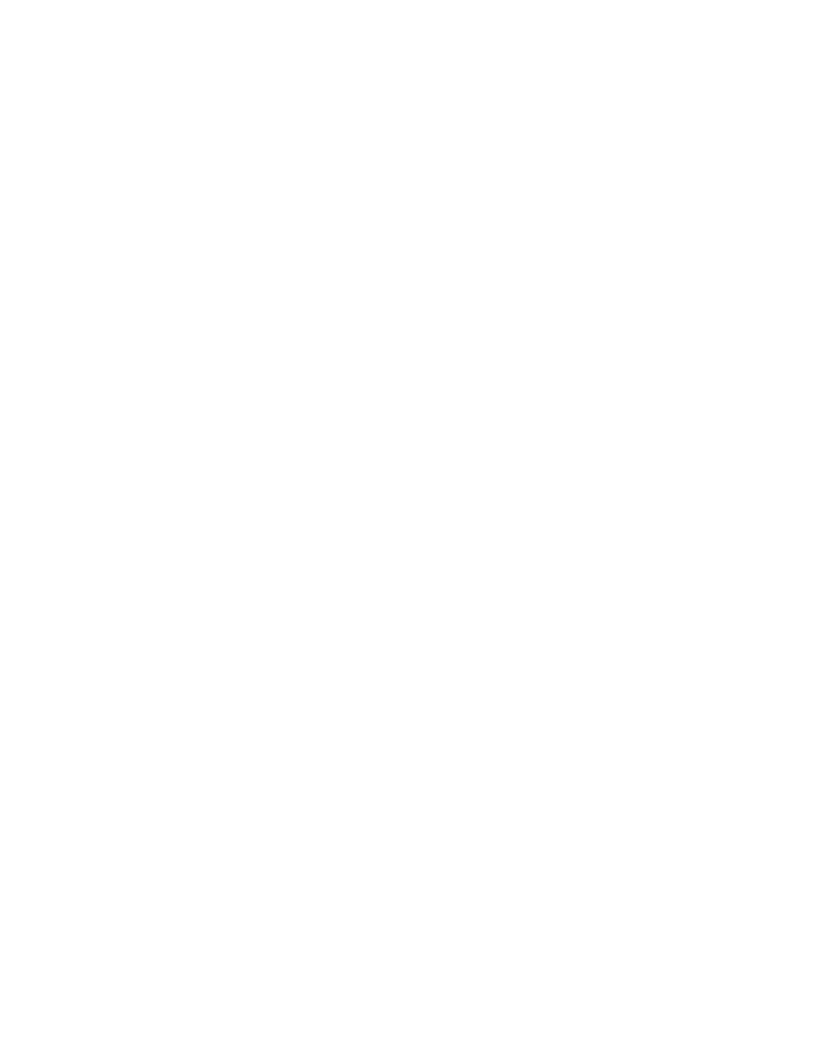
237
Nesse contexto, os terapeutas entrevistados em Ilhabela apresentaram visões heterogêneas
com relação ao adoecer e a prática terapêutica. As relações socioambientais e a força psíquica
foram consideradas por eles como o principal meio de restabelecer o equilíbrio dinâmico e
tortuoso, entendido por eles como saúde. Uma nova postura diante dos problemas, ligada a uma
nova maneira de ver as coisas e interagir, levaria a pessoa a construir um ambiente melhor para si,
e assim sua vida seguiria com menos impactos destrutivos. Os depoimentos evidenciaram que a
pluralidade cognitiva aponta para heterogêneas articulações simbólico-culturais, apropriando-se
do ambiente de acordo com o conhecimento adquirido, na proposta de reintegrar o paciente em
sua própria vida. Constatou-se que para alcançar essa reintegração, não são utilizados sempre os
mesmos meios, e nem o uso restrito da técnica ou de um único saber epistemológico, como uma
receita de bolo para se tratar cada problema.
As interpretações de doença ultrapassaram a classificação universal do paradigma da
biomedicina, evidenciando a abertura cognitiva nas compreensões tanto de adoecimento quanto
de cura, ambos situados em dimensões mais amplas e relativas. As desordens corporais e
psíquicas foram situadas nos contextos das vidas de cada paciente, e diagnosticadas como
consequências de problemas ambientais, biofísicos, culturais, emocionais, ligados à interação da
pessoa com o universo ao seu redor.
Para tanto, o uso de animais, de plantas na forma de chás, banhos, benzeções, rezas, de
medicamentos vibracionais, como os homeopáticos e os florais, a aura-soma, a atuação das
agulhas da acupuntura, a massagem crânio-sacral, a terapia verbal, a clínica geral realizada nas
unidades básicas em saúde, assim como as atividades terapêuticas de reinserção social ou até
mesmo o próprio uso de medicamentos químicos da medicina convencional, foram considerados
como atuações que buscam contribuir para esse processo de reorganização dos padrões
estruturais do organismo, estimulando relações mais saudáveis com o ambiente, na medida em
que se prescrevem também, comportamentos ligados à qualidade da alimentação, a qualidade
ambiental, a importância de exercícios físicos e bons pensamentos para se atingir uma vida
saudável e assim, sustentável.
Obedecendo a essa visão aberta entre a natureza e a cultura, os processos de intervenção,
por sua vez, foram diferenciados de acordo com os respectivos saberes associados à arte de cada
terapeuta lidar com o próprio conhecimento e experiência. A esse respeito, eles salientaram que a
eficácia do tratamento não ocorre somente pela ação do médico, da benzedeira, do massagista ou

238
do remédio. Alguns depoimentos mostraram a necessidade de se unir forças em prol de uma
transformação das condições externas e do próprio modo do doente enxergar e vivenciar seus
problemas. E nesse aspecto, se pressupõe que o paciente deve estar atento ao seu papel de co-
participante, no interior de um processo no qual o terapeuta é apenas o guia, é o meio, é a ajuda
coadjuvante para a reconstituição das relações necessárias à criação de uma nova organização da
sua complexidade estrutural, ou antropologicamente falando, da sua corporalidade.
As dimensões causais elencadas pelo debate antropológico (causa instrumental ou
mecanismo, causa eficiente ou força eficaz, causa última ou acontecimentos conjunturais),
associadas ao conceito de conjunção constante de Zémpléni (1994), abriram para o
questionamento do determinismo da relação de causa e efeito linear, mostrando que várias
dimensões alteram a organização humana, ultrapassando a dualidade corpo – alma.
A partir da discussão dos processos de adoecimento e das vertentes terapêuticas
localizadas no município de Ilhabela, esta tese também alcançou perspectivas de análise que
ampliaram as dimensões da discussão a respeito das relações ser humano - natureza, em vários
aspectos.
Primeiramente, o aspecto histórico ligado ao uso e ocupação do território de Ilhabela no
contexto do litoral norte, a história ambiental da mata atlântica, a emergência do Parque Estadual
e da cultura caiçara, os ciclos econômicos de exploração da cana, do café, da cachaça e do
turismo, o crescimento populacional ligado à especulação imobiliária e a consequente exclusão
socioterritorial vivida pelos segmentos menos favorecidos da município, conformando as áreas de
favelização e ocupação desordenada. Todas essas questões foram situadas no contexto da
modernidade vivida pela sociedade globalizada e homogeneizada no tocante às relações
produtivas e materiais, que enaltecem o desenvolvimento tecnológico e a evolução científica, mas
que desconhecem de fato os efeitos na saúde dos moradores advindos das transformações
decorrentes desse processo social, econômico e histórico de transformação do mundo, também
conhecido como a racionalização da sociedade.
A proposta desta tese visava inicialmente apresentar as perspectivas abertas pelo diálogo
de saberes, tanto do ponto de vista ontológico e epistemológico, como do ponto de vista cognitivo
representado pelos heterogêneos terapeutas entrevistados, para se entender a reemergência de
doenças antigas e a emergência de novas, no contexto socioambiental ligado à produção e à
reprodução do modo de vida moderno constituído em Ilhabela. Também se constituía como

239
proposta inicial se buscar soluções ou perspectivas de ação para os problemas emergentes, entre
os quais os ligados a saúde ecossistêmica, sem restrições culturais, epistêmicas, partindo de um
pensamento aberto a qualquer interpretação e apropriação do mundo simbolicamente construído.
Mas essa hipótese inicial foi se ampliando no decorrer das análises no processo de
elaboração da tese, pois as entrevistas realizadas com os terapeutas, assim como toda experiência
de campo acumulada, levaram à revisão e ao questionamento das epistemes científicas, dos
interesses políticos e do mercado, das relações produtivas e da produção da vida material baseada
no consumo de produtos industrializados e sintéticos. A co-relação entre os ciclos econômicos, os
processos de degradação socioambiental, a mobilidade demográfica e a urbanização foram
alterações que levaram à perda da qualidade de vida, à perda de valores mais profundos ligados à
identidade e ao ambiente construído e vivido, assim como à exclusão socioespacial dos
segmentos sociais menos favorecidos.
Nesse aspecto, as relações causais abrangentes citadas nas entrevistas serviram para
justificar a emergência das doenças no arquipélago, não vinculadas apenas aos aspectos
biológicos no interior da relação de causa e efeito linear provocada por um agente patogênico (tal
como o vírus ou a bactéria). Elas estariam ligadas aos processos de ruptura das relações ser
humano-natureza, referentes aos processos históricos em que o primeiro foi separado das esferas
que representam sua identidade com relação ao ambiente que o rodeia. Essa relação foi debatida
pela Antropologia da Doença, que organizou os diferentes sentidos atribuídos à causalidade do
adoecer humano (sintomas, terminologias, causa instrumental, causa eficiente, causa última),
terminando por elaborar o conceito de conjunção constante, em que diferentes eventos, de
diferentes naturezas, são encadeados na interpretação do desequilíbrio, ou da desordem, situando
o ser na sua vida, no seu contexto de relações e dos seus desvios, no seu universo simbólico, em
outras palavras, religando-o a sua própria natureza.
Do mesmo modo, o conceito de analogia foi explorado nesta tese como fundamento das
conexões simbólicas que permeiam as diferentes apropriações do ambiente, sendo reconhecidas
nas estratégias desempenhadas por todos os terapeutas entrevistados em Ilhabela. A partir de seus
pressupostos, a pluralidade cognitiva revelada pela heterogeneidade de soluções e apropriações,
operou a realidade da doença e da cura buscando religar, analogicamente (por meio dos
medicamentos, das conversas, das massagens, das cores, dos encantamentos, das rezas, dos chás,
dos banhos, das restrições alimentares e da orientação num plano mais amplo), o que foi separado

240
pelo pensamento científico funcionalista: o corpo ao ser, à natureza, ao mundo, à sociedade, às
idéias e à subjetividade.
O pensamento analógico também evidenciou o efeito das ressonâncias no processo
terapêutico - do medicamento homeopático, da reza, da benzeção, do encantamento, do floral, das
cores, das conversas, das massagens, do chá, dos banhos, do afeto e da fé - atravessando as
dimensões do ser (físicas, psíquicas, simbólicas) e formando um campo; um campo
multidimensional de ação que leva ao caminho da eficácia, integrando o indivíduo, já que opera
de modo a não produzir cisão entre os reinos animal, mineral, vegetal e simbólico. Há também
uma identidade de princípios que nasce da plena identificação do ser com o mundo, com a
natureza, ou seja, as mesmas regras que orientam a saúde de uma pessoa também orientam os
fluxos da natureza, produzindo co-ocorrência entre o ser e o mundo.
Nessa relação, o conceito de saúde ecossistêmica veio contribuir para a conformação de
um pensamento que religa os problemas individuais aos ambientais, pensando a saúde e a
sustentabilidade como dimensões mais alargadas, a partir da concepção de corpo e ambiente
vistos como espaços onde diferentes interpretações imprimem sua definição.
Por fim, a retomada do paradigma estrutural como um sistema de pensamento que orienta
as diversas áreas da ciência, sejam elas humanas ou naturais, é ampliado pela lógica imaginal
quando se reconhece que o imaginário é capaz de transcender as dimensões estruturais da
realidade e dos sistemas. A lógica imaginal também tece a eficácia simbólica de cura, ou seja, o
processo terapêutico só faz sentido se for inserido no contexto simbólico, cultural, social,
ambiental, ecológico e econômico do doente. A cura emerge do significado construído em torno
dela, baseado na experiência empírica e nos elementos subjetivos, objetivos, espirituais e
ambientais que orientaram o seu trajeto. Sendo assim, a desordem da estrutura dos heterogêneos
sistemas de saúde existentes em Ilhabela abriram perspectivas para relações complementares
entre eles, para as contradições, os paradoxos, os erros, as descontinuidades, os desvios, as
similaridades, as identidades, que remetem a questão da terapêutica para o alcance das analogias
operacionalizadas pelos sistemas e pelos atores sociais.
Do mesmo modo, a dimensão imaginal evocada pelos feitiços e encantamentos praticados
pelos caiçaras, levaram a questionar a separação entre os seres vivos e não vivos, entre a natureza
e a cultura, já que eles conseguem interagir nos reinos que orientam a ordem do mundo e das
coisas por meio de suas rezas e promessas, conseguindo muitas vezes, realizar uma boa pescaria,

241
uma boa caçada, ou encontrar na floresta a árvore específica para a fabricação da canoa, ou a erva
necessária para tratar alguma enfermidade. No trabalho de campo, percebeu-se que existe uma
comunicação entre os caiçaras e os reinos da natureza, os ouvidos são educados para escutar os
recados dos pássaros, dos ventos, das marés, os sentidos e significados dos sons emitidos pelos
animais e pela floresta. A natureza é representada por esse grupo social como uma entidade
inteligente, permeada de intencionalidades e propositividades, mostrando que as dualidades
criadas pelo mundo ocidental não passam de instrumentos cognitivos, assim como os deles, para
se entender e se comunicar com a realidade inventada.
Para finalizar, a tentativa fundamental nesta tese foi a de explorar visões polissêmicas de
doenças e dos processos terapêuticos para se pensar, a partir daí, a questão da sustentabilidade de
Ilhabela. O que se conseguiu de fato não foram respostas e nem receitas, mas novas indagações,
que resultaram da consciência de que o ambiente é algo extremamente contextual e individual, se
for pensado no âmbito da corporalidade e da saúde.
O importante nisso tudo, para a pesquisadora, é entender que o ser humano e a sociedade
podem inventar meios para se conservar a natureza baseados em conhecimentos antigos e novos,
e para que isso seja alcançado, ou melhor, para que qualquer processo terapêutico se efetive, é
imprescindível seguir o caminho de integração, assumindo a responsabilidade e a co-autoria para
a invenção de propostas criativas, mesmo que os conflitos, os fracassos e os riscos submetam
sempre o conhecimento e a realidade a eternas revoluções cognitivas.

242
Referências Bibliográficas
ALBUQUERQUE, E. & CASSIOLATO, J. As especificidades do sistema de inovação do setor
saúde: uma resenha da literatura como introdução a uma discussão sobre o caso brasileiro.
Estudos FeSBE I. USP, São Paulo, 2000.
ADAMS, C. As populações caiçaras e o mito do bom selvagem: a necessidade de uma nova
abordagem interdisciplinar. Revista de Antropologia, São Paulo, USP, 2000, v.43, n. 1.
ALMEIDA & COUTINHO. Prevalência de consumo de bebidas alcoólicas e de alcoolismo em uma
região metropolitana do Brasil. Revista de Saúde Pública, 1993, vol.27, n. 1.
AMARAL, L. Sincretismo em movimento – O estilo Nova Era de lidar com o sagrado. In:
Carozzi, M. J. (org.) A nova era no Mercosul. Petrópolis: Vozes, 1999.
AMORIM, M. Uma sincronicidade para cura. Rio de Janeiro: Hipocampo, 2000.
ANDRADE, L. O. M. & BARRETO, I. C. H. C. Promoção da saúde e municípios/municípios
saudáveis: propostas de articulação entre saúde e ambiente. In: Saúde e ambiente sustentável:
estreitando nós. Minayo, M. C. S. e Miranda, A. C. (Orgs). Rio de Janeiro: Fio Cruz, 2002.
AUGÉ, M. (org.). A construção do mundo. São Paulo: Edições 70, 1974.
AUGÉ, M. Ordre biologique, ordre social; la maladie, forme élémentaire de l’ évènement. In: M.
Auge e C. Herzlich (Eds.) Le sens du mal. Anthropologie, histoire et sociologie de la maladie.
Paris: Editions dês Archives Contemporaines (Ordres sociaux), 1984.
AUGUSTO, L. G. S. Saúde e ambiente. In: Saúde no Brasil: contribuições para a agenda de
prioridades de pesquisa. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
BARBOSA, S. R. S. Qualidade de vida e necessidades sentidas: uma aproximação teórica.
Humanitas. Campinas, v. 2, n.2, p. 39-62, agosto, 1998.
BARBOSA, S. R. S. Qualidade de vida e ambiente: uma temática em construção. In: Barbosa, S.
R. C. S. (org) A temática ambiental e a pluralidade do ciclo de seminários do NEPAM/
Campinas, UNICAMP, NEPAM, 1998.
BARBOSA, S. R. S. Complexidade social, risco e qualidade de vida. Dores sentidas, dores
vividas. Cadernos do ICH, Campinas, n.18-44, 1999.
BARBOSA, S. R. S. Ambiente, subjetividade e complexidade: um estudo sobre depressão no
litoral norte paulista. Projeto de Pesquisa, FAPESP, n. 04/10685-3, 2004.
BARBOSA, S. R. S. Identidade social e dores da alma entre pescadores artesanais em Itaipu, RJ.
BARBOSA, Ambiente e Sociedade, Campinas, v. 7, n. 1, 2004.
BARBOSA, S. R. S. Ambiente, subjetividade e complexidade: um estudo sobre depressão no
litoral norte paulista. Relatório final, FAPESP, n. 04/10685-3, 2007.

243
BARBOSA, S. R. C. S. e CINTRA, S. B. O percurso da temática qualidade de vida e risco na
teoria social latino-americana: uma abordagem preliminar. Artigo apresentado ao IV
Encontro Nacional da ANPPAS. Brasília, DF, 2008.
BASSUK, S. S. & MANSON, J. E. Epidemiological evidence for the role of physical activity in
reducing risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease. Journal of Applied Physiology. 99
(3), 2005.
BECK, U. Risk society. Towards a new modernity. Sage Publications. London. Thousands Oaks.
New Delhi, 1998.
BEGOSSI, A. Resiliência e populações neotradicionais: os caiçaras (Mata Atlântica) e os
caboclos (Amazônia, Brasil). In: Diegues, A. C. & Moreira, A. C. (orgs.) Espaços e recursos
naturais de uso comum. São Paulo: NUPAUB - USP, 2001.
BEGOSSI, A. HANAZAKI, N.; TAMASHIRO, J. Y. Medicinal plants in the Atlantic Forest
(Brazil): knowledge, use, and conservation. Human Ecology. v.30, n.3, 2002.
BEGOSSI, A. Ecologia de pescadores da Mata Atlântica e da Amazônia. São Paulo: Hucitec,
2004.
BONTEMPO, M. Medicina Floral. Um estudo holístico sobre o uso das flores na medicina. Rio
de janeiro: Ediouro, 1994.
BORGES, H. E MARTINS, A. Migração e sofrimento psíquico do trabalhador da construção
civil: uma leitura psicanalítica. Physis, 2004, vol 14, nº 1, p.129-146.
BRAGA, J. C. S. & SILVA, P. L. B. S. A mercantilização admissível e as políticas inadiáveis:
estrutura e dinâmica do setor saúde no Brasil. In: Negri, B. & Giovanni, G. (orgs.) Brasil:
radiografia da saúde. Instituto de Economia/Unicamp, Campinas, 2001.
BRANCO, S. M. Ecossistêmica. Uma abordagem integrada dos problemas do meio ambiente.
São Paulo: Edgard Blücher, 1999.
BUCHILLET, D. A antropologia da doença e os sistemas oficiais de saúde. Medicinas
tradicionais e política de saúde na Amazônia. Belém do Pará: CEJUP, MPEG/UEP, 1991.
BUSS, P. M. Promoção da saúde e qualidade de vida. Ciência e Saúde Coletiva (on line) v. 5,
n.1, 2000.
BUSS, P. M. & PELLEGRINI FILHO, A. A saúde e seus determinantes sociais. Physis: Revista
Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, 17 (1), 2007.
BUTTEL, F. Sociologia ambiental, qualidade ambiental e qualidade de vida: algumas
observações teóricas. In: Herculano, Selene; Porto, Marcelo Firpo de Souza e Freitas, Carlos
Machado de (orgs.). Qualidade de vida & riscos ambientais. Niterói: Eduff, 2000.
BUTTEL, F. Instituições sociais e mudanças ambientais. Idéias, ano 8 v.2, Campinas, 2001.
CABRITA, M. T. O ambiente como meio e sistema de relações. In: Castro, A. G.; Duarte, A.;
Santos, T. R. (orgs.) O ambiente e a saúde. Lisboa: Instituto Piaget, 2003.

244
CALVENTE, M. C. M. H. Ilhabela: turismo e território. Ilhas e sociedades insulares. São Paulo:
NUPAUB – USP, 1997.
CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.
CARDOSO, E. S. Vitoreiros e monteiros: ilhéus do litoral norte paulista. Dissertação
apresentada junto ao Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de São Paulo, 1996.
CARDOSO, E. S. O vento, o fundo, a marca: diálogos sobre a apropriação da natureza no
universo pesqueiro. In: Diegues, A. C. (org.). Enciclopédia Caiçara, v. 1. São Paulo: HUCITEC,
NUPAUB, CEC/USP, 2004.
CARVALHO, M. C. V. O pescador no litoral do Estado de São Paulo. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA, 9, 1940, Florianópolis. Anais... Rio de Janeiro: conselho
Nacional de Geografia, 1940, vol III. P. 680-88.
CASTRO, A. G. Prefácio. In: Castro, A. G.; Duarte, A.; Santos, T. R. (orgs). O ambiente e a
saúde. Lisboa: Instituto Piaget, 2003.
CASTRO, A. G.; DUARTE, A.; SANTOS, T. R. (orgs). O ambiente e a saúde. Lisboa: Instituto
Piaget, 2003.
CORRÊA, I. F. L. & NOGUEIRA, M. C. F. Lendas e causos de Ilhabela. In: Diegues, A. C.
(org.). Enciclopédia Caiçara, v. 5: festas, lendas e mitos caiçaras. São Paulo: HUCITEC,
NUPAUB, CEC/USP, 2006.
COSTA, A. R. Hipertensão arterial sistêmica. Seção 1: Cardiologia. Diagnóstico e tratamento.
Volume 1. Barueri, SP: SBCM (Sociedade Brasileira de Clínica Médica) e Manole, 2006.
COSTANZA, R. A vision of the future of science: reintegrating the study of humans and the rest
of nature. Futures. 35: 651, 2003.
DANTAS, F.; TANIGAWA, R. Y.; YAMAMURA, Y. Acupuntura. Seção 3: Medicina
Heterodoxa. Diagnóstico e tratamento. Volume 1. Barueri, SP: SBCM (Sociedade Brasileira de
Clínica Médica) e Manole, 2006.
DELAMATER, A. M.; JACOBSON, A. M.; ANDERSON, B.; COX, D.; FISHER, L.;
LUTSMAN, P.; RUBIN, R.; WYSOCKI, T. Psychosocial Therapies in Diabetes. Diabetes Care.
24, 2001.
DIEGUES, A. C. Pescadores, camponeses e trabalhadores do mar. São Paulo: Ática, 1983.
DIEGUES, A. C. O mito do paraíso desabitado: as áreas naturais protegidas. In: Ferreira, L. C.,
Viola, E. (orgs). Incertezas de sustentabilidade na globalização. Campinas, SP: Editora da
UNICAMP, 1996.
DIEGUES, A. C. A mudança como modelo cultural: o caso da cultura caiçara e a urbanização.
In: Diegues, A. C. (org.). Enciclopédia Caiçara, v. 1. São Paulo: HUCITEC, NUPAUB,
CEC/USP, 2004.

245
DURAND, G. As estruturas antropológicas do imaginário. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
DURKHEIM, E. Representações individuais e representações coletivas. Sociologia e filosofia.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1970.
ESCOBAR, A. O lugar da natureza e a natureza do lugar: globalização ou pós- desenvolvimento?
In: Lander, E. (org.). A colonialidade do saber. Eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas
latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005.
FERREIRA, L. Dimensões humanas da biodiversidade: mudanças sociais e conflitos em torno de
áreas protegidas no Vale do Ribeira, SP, Brasil. Ambiente e Sociedade. v.7, n. 1, 2004.
FERREIRA, L.; SIVIERO, S. O.; CAMPOS, S. V.; SILVEIRA, P. C. B.; OLIVEIRA, V. G.;
MENDES, A. B. V; PINTO, A, O. Conflitos sociais em áreas protegidas no Brasil: moradores,
instituições e ONGs no Vale do Ribeira e litoral sul, SP. Idéias. Ano 8 v.2, 2001.
FREITAS, C. M. & PORTO, M. F. Saúde, ambiente e sustentabilidade. Rio de Janeiro: Editora
Fiocruz, 2006.
FUNTOWICZ, S. e RAVETZ. Ciência pós-normal e comunidades ampliadas de pares face aos
desafios ambientais. História, Ciências, Saúde. v. IV, n.2, 1997.
FUNTOWICZ, S. & MARCHI, B. Ciência pós-normal, complexidade reflexiva e
sustentabilidade. In: Leff, E. (org.) A complexidade ambiental. São Paulo: Cortez, 2003.
GADELHA, C. A. G. O complexo industrial da saúde e a necessidade de um enfoque dinâmico
na economia da saúde. Ciência & Saúde Coletiva. v. 8, n. 2, pp. 521-535, 2003.
GADELHA, C. A. G.; QUENTAL, C.; FIALHO, B. C. Saúde e inovação: uma abordagem
sistêmica das indústrias da saúde. Cad. Saúde Pública. v. 19, n. 1, pp. 47-59, 2003.
GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos
Editora S.A., 1989.
GIDDENS, A. Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.
GIDDENS, A. Mundo em descontrole. Rio de Janeiro: Record, 2005.
GIDDENS, A. As consequências da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991.
GODELIER, M. Horizontes da antropologia. Lisboa: Edições 70, 1973.
GODELIER, M. Godelier: Antropologia. In: CARVALHO, E. A. (org.). São Paulo: Ática,
1981.
GOMEZ & MINAYO. Enfoque ecossistêmico de saúde: uma estratégia transdisciplinar.
Interfacehs – Revista de Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio Ambiente, v.1, n.1,
2006.
GRECCO, O.; BARROS, M. T. Mecanismos de hipersensibilidade. Seção 2: Imunologia clínica
e alergia. Diagnóstico e tratamento. Volume 1. Barueri, SP: SBCM (Sociedade Brasileira de

246
Clínica Médica) e Manole, 2006.
GULBENKIAN. Comissão para a reestruturação das ciências sociais. Para abrir as ciências
sociais. São Paulo: Cortez, 1996.
HAHNEMANN, S. Exposição da doutrina homeopática ou organon da arte de curar. São
Paulo: Benoit Mure, 1984.
HAILA, Y. Socioecologies. Ecography 22, 337-348. Copenhagen, 1999.
HAILA, Y. Beyond the nature-culture dualism. Biology and Phylosophy 15, 155-175, 2000.
HANNIGAN, J. Environmental sociology - a social constructionist perspective. Routledge.
London and New York, 1997.
HAZARD, P. O pensamento europeu no século XVIII. Lisboa: Presença, 1989.
HE, F. J. & MacGREGOR, G. A. Blood pressure is the most important cause of death and
disability in the world. European Heart Journal Supplements. 9 (supl B), 2007.
HOEFFEL, J. L.; FADINI, A. A. B.; MACHADO, M. K.; REIS, J. C. Percepção ambiental e
conflitos de uso dos recursos naturais – um estudo na APA do Sistema Cantareira, São Paulo,
Brasil. III Encontro da ANPPAS, Brasília – DF, 2006.
HOGAN, D. J. Mobilidade populacional, sustentabilidade ambiental e vulnerabilidade social.
Revista Brasileira de Estudos de População. V.22, n.2, 2005.
HOGAN, D. J. Indicadores socioambientais de sustentabilidade. In: Hogan, D.; Baeninger, R.;
Cunha, J. M. P. e Carmo, R. L. (orgs). Migração e ambiente nas aglomerações urbanas.
Campinas: NEPO/UNICAMP, 2001.
HOGAN, D. J.; CUNHA, J. M. P.; CARMO, R. L.; OLIVEIRA, A. A. B. Urbanização e
vulnerabilidade socioambiental: o caso de Campinas. In: HOGAN, D.; BAENINGER, R.;
CUNHA, J. M. P.; CARMO, R. L. (orgs). Migração e ambiente nas aglomerações urbanas.
Campinas: NEPO/UNICAMP, 2001.
HOGAN, D.; BAENINGER, R.; CUNHA, J. M. P.; CARMO, R. L. (orgs). Migração e
ambiente nas aglomerações urbanas. Campinas: NEPO/UNICAMP, 2001.
HOGAN, D. J. e MARANDOLA Jr, E. Para uma conceituação interdisciplinar da
vulnerabilidade. In: Novas metrópoles paulistas. População, vulnerabilidade e segregação.
Campinas: Núcleo de Estudos de População – NEPO/Unicamp, 2006.
IBÁÑEZ, N.; MARSIGLIA, R. Medicina e saúde: um enfoque histórico. In: CANESQUI, A. M.
(org.). Ciências sociais e saúde para o ensino médico. São Paulo: Hucitec/ Fapesp, 2000.
ILLICH, I. A expropriação da saúde. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1975.
LALLEMAND, S. Cosmologia, Cosmogonia. In: AUGÉ, M. (org.). A construção do mundo.
(Religião, Representações, Ideologia). São Paulo: Edições 70, 1974.

247
LANGDON, E. J. A doença como experiência: a construção da doença e seu desafio para a
prática médica. Palestra proferida na Conferência 30 Anos Xingu, Escola Paulista de Medicina,
São Paulo, 1995.
LAPLANTINE, F. Antropologia da doença. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
LATOUR, B. Jamais fomos modernos. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994.
LATOUR, B. A historicidade das coisas. Por onde andavam os micróbios antes de Pasteur? In: A
esperança de pandora. Ensaios sobre a realidade dos estudos científicos. Bauru: EDUSC, 2001.
LEFF, E. Tiempo de sustentabilidad. Ambiente e Sociedade. Ano III, n. 6/7, 2000.
LEFF, E. Epistemologia Ambiental. São Paulo: Cortez, 2002.
LEFF, E. Pensar a complexidade ambiental. In: Leff, E. (org.) A complexidade ambiental. São
Paulo: Cortez, 2003.
LEROY, J. P. Debatendo o capítulo ambiente, espaço, território e o campo da saúde: a
agricultura. Saúde e ambiente sustentável: estreitando nós. In: Minayo, M. C. S. e Miranda, A.
C. (orgs). Rio de Janeiro: Fio Cruz, 2002.
LÉVI-STRAUSS, C. O pensamento selvagem. Rio de Janeiro: Nacional, 1970.
LÉVI-STRAUSS, C. O feiticeiro e sua magia. Antropologia estrutural. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1996.
LÉVI-STRAUSS, C. A eficácia simbólica. Antropologia estrutural. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1996.
LÉVI-STRAUSS, C. Natureza e cultura. As estruturas elementares do parentesco. Petrópolis:
Vozes, 1976.
LEWINSOHN, T. M. A evolução do conceito de biodiversidade. Conciênciaonline, 2001.
LUCHIARI, M. T. Urbanização turística: um novo nexo entre o lugar e o mundo. In: Cruz, L.
(org.) Da cidade ao campo: a diversidade do saber fazer turístico. Fortaleza: UECE, 1998.
LUCHIARI, M. T. O lugar no mundo contemporâneo: turismo e urbanização em Ubatuba –
SP. Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas da UNICAMP, 1999.
LUCIF, Jr; N.; VANNUCCHI, H.; CREDÍDIO, E. V.; MORIGUTI, J. C.; OLIVEIRA, E. B.;
RORIZ-FILHO, J. S. Vitaminas: abordagem nutrológica no uso e no abuso. Seção 4: Nutrologia.
Diagnóstico e tratamento. Volume 1. Barueri, SP: SBCM (Sociedade Brasileira de Clínica
Médica) e Manole, 2006.
LUZ, T. M. A arte de curar versus a ciência das doenças: história social da homeopatia no
Brasil. São Paulo: Dynamis, 1996.
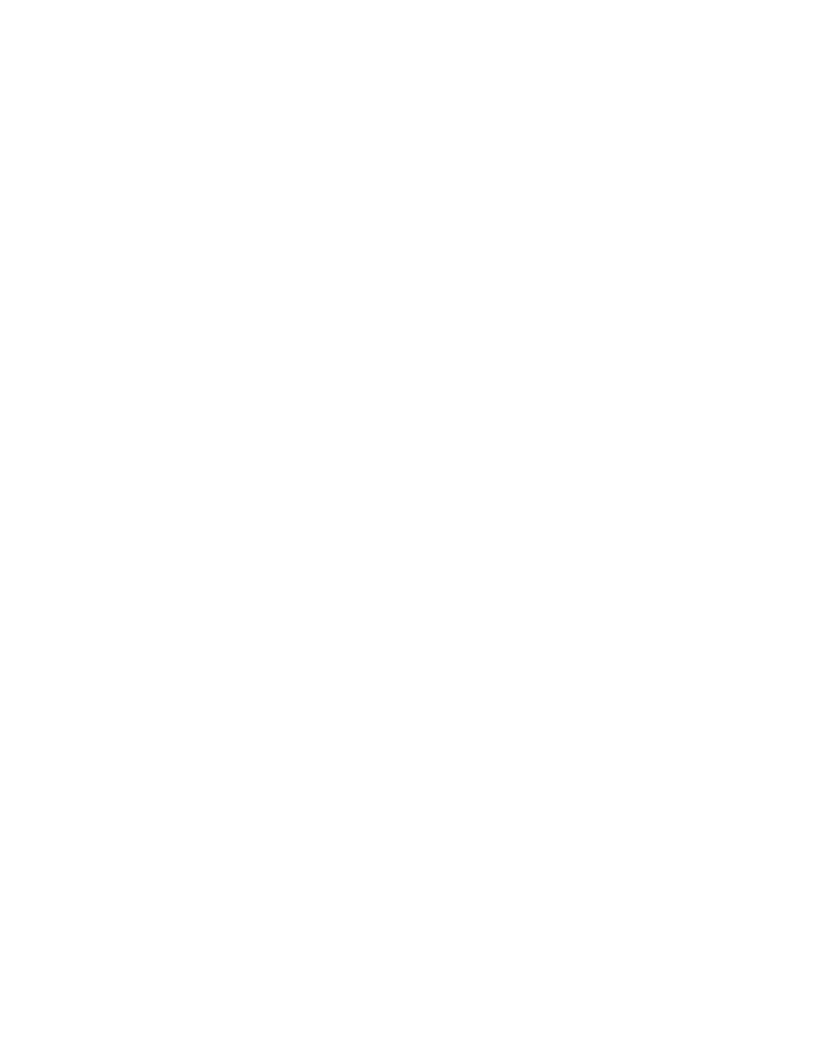
248
LUZ, T. M. Natural, racional, social: razão médica e racionalidade científica moderna. Rio de
Janeiro: Campus, 1988.
LUZ, T. M. Medicina e racionalidades médicas: estudo comparativo da medicina ocidental,
contemporânea, homeopática, tradicional chinesa e ayuvérdica. Ciências sociais e saúde para o
ensino médico. In: CANESQUI, A. M. (org.). São Paulo: Hucitec/Fapesp, 2000.
LUZ, T. M. Cultura contemporânea e medicinas alternativas: novos paradigmas em saúde no fim
do século XX. PHYSIS: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 15 (suplemento), 2005.
MAGNANI, J. G. C. O circuito neo-esotérico na município de São Paulo. In: Carozzi, M. J.
(org.) A nova era no Mercosul. Petrópolis: Vozes, 1999.
MALDONADO, W. Comunidades caiçaras e o parque estadual de Ilhabela. Ilhas e sociedades
insulares. São Paulo: NUPAUB – USP, 1997.
MALDONADO, W. A construção material e simbólica da canoa caiçara em Ilhabela. In:
Diegues, A. C. (org.). Enciclopédia Caiçara, v. 1. São Paulo: HUCITEC, NUPAUB, CEC/USP,
2004.
MALHEIROS, T. F.; VITORIANO, D.; PHILIPPI Jr, A.; CEZARE, J. P.; SALLES, C;
SOBRAL, M. M. Saneamento ambiental em comunidades tradicionais no entorno do
Parque Estadual de Ilhabela –SP . São Paulo: Faculdade de Saúde Pública, 2005.
MALUF, S. W. Mitos coletivos, narrativas pessoais: cura ritual, trabalho terapêutico e
emergencia do sujeito nas culturas da “nova era”. Mana. v.11, n.2. Rio de Janeiro: 2005.
MANSUR, J. C. La unión cuerpo y alma desde el lenguaje analógico. In: XIV Congresso
Interamericano de Filosofia, IX Congresso de la Associação Filosófica de México, I Colóquio
Internacional de Estética, México, 2000.
MARANDOLA Jr, E. Vulnerabilidades e riscos na metrópole: a perspectiva da experiência.
Artigo apresentado no XI Encontro Nacional da Associação Nacional de pós-graduação e
Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional – ANPUR. Salvador, 23-27 de maio, 2005.
MARANDOLA Jr, E. e HOGAN, D. J. Vulnerabilidades e riscos: entre geografia e
demografia. Revista Brasileira de Estudos Populacionais, São Paulo, v.22, n.1, p. 29-53, 2005.
MARCELINO, D. B. & CARVALHO, M. D. B. Reflexões sobre o diabetes tipo 1 e sua
relação com o emocional. Psicologia. Reflexão e Crítica, 2005, v.18, n. 1.
MARQUES, J. G. Pescando pescadores. São Paulo: NUPAUB – USP, 2001.
MARTINS, P. H. As terapias alternativas e a libertação dos corpos. In: Carozzi, M. J. (org.) A
nova era no Mercosul. Petrópolis: Vozes, 1999.
MATURANA, H. R. & VARELA, F. J. A árvore do conhecimento. As bases biológicas da
compreensão humana. São Paulo: Palas Athena, 2001.
MAUSS, M. A. Sociologia e antropologia. São Paulo: EPU, Edusp, 1974.

249
McMICHAEL, A. J., BUTLER, C. D., FOLKE, C. New visions for addressing sustainability.
Science. v. 302, 2003.
MELO, T. Espaço, comunicação e cultura: breve relato de observações sobre a comunidade da
cachoeira do Guilherme. In: Diegues, A. C. (org.). Enciclopédia Caiçara, v. 1. São Paulo:
HUCITEC, NUPAUB, CEC/USP, 2004.
MERETKA, A. C.; GIORELLI, P. C. L.; FILHO, R. D.; QUEROZ, L. R. Obesidade. Seção 4:
Nutrologia. Diagnóstico e tratamento. Volume 1. Barueri, SP: SBCM (Sociedade Brasileira de
Clínica Médica) e Manole, 2006.
MERLO, M. Memória de Ilhabela: faces ocultas, vozes no ar. São Paulo: EDUC/FAPESP,
2000.
MERLO, M. Faces e vozes de Ilhabela. In: Diegues, A. C. (org.). Enciclopédia Caiçara, v. 1.
São Paulo: HUCITEC, NUPAUB, CEC/USP, 2004.
MERLO, M. Religiosidade: entre negociação e conflito. Pentecostais, católicos e adeptos de
religiões afro-brasileiras em Ilhabela e Ubatuba. Revista Nures, n. 8, janeiro/abril, 2008.
MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo:
Hucitec, 2008.
MINAYO, M. C. S.; MIRANDA, A. C. (Orgs.) Saúde e ambiente sustentável: estreitando nós.
Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2002.
MINAYO, M. C. S. & SOUZA, E. R. Violência para todos. Cadernos de Saúde Pública. Rio de
Janeiro, 9 (1), 1993.
MINAYO, M. C. S.; HARTZ, Z. M. A.; BUSS, P. M. Qualidade de vida e saúde: um debate
necessário. Ciência e Saúde Coletiva (on line) v.5, n.1, 2000.
MORIN, E. O paradigma perdido. Portugal: Publicações Europa-América, 1973.
MORIN, E. Complexidade e ética da solidariedade. In: CASTRO, G.; CARVALHO, E. A. ;
ALMEIDA, M. C. (Org.) Ensaios de complexidade. Porto Alegre: Sulina, 1997.
MOURA, G. J. C. Da praia ao morro: Peculiaridades no processo de segregação
socioterritorial em Ilhabela - SP. Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto de
Geociências. UNICAMP. Campinas, 2005.
MOURA, L. A. A. Qualidade e gestão ambiental. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2004.
MOURÃO, F. A. A. Os pescadores do litoral sul de São Paulo. Um estudo de sociologia
diferencial. São Paulo, tese. Universidade de São Paulo, 1971.
MOZAFFARIAN, D.; WILSON, P. W. F.; KANNET, W. B. Beyond established and novel risk
factors: lifestyle risk factors for cardiovascular disease. Circulation. 117 (23), 2008.
MUSSOLINI, G. O cerco da tainha em São Sebastião. Revista de Sociologia, 8 (3). São Paulo,
1946.

250
MUSSOLINI, G. Os japoneses e a pesca comercial no litoral norte de São Paulo. In: Carone, E.
(org.). Ensaios de antropologia indígena e caiçara. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.
NEGRI, B. & GIOVANNI, G. Brasil: radiografia da saúde. Instituto de Economia/Unicamp,
Campinas, 2001.
NOVAES, R. L. O tempo e a ordem: sobre a homeopatia. São Paulo: Abrasco, 1989.
OJIMA, R.; HOGAN, D. J. População, urbanização e ambiente no cenário das mudanças
ambientais globais: debates e desafios para a demografia brasileira. Artigo apresentado no XVI
Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em CAXAMBU, MG – Brasil,
de 29 de setembro a 3 de outubro de 2008.
OLIVEIRA, E. R. Doença, cura e benzedura: um estudo sobre o ofício da benzedeira em
Campinas. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social apresentada ao Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP. 1983.
OLIVEIRA, E. R. Representações sociais sobre doenças: os magos da ciência e os cientistas da
magia. In: BOTAZZO, C.; FREITAS, S. F. T.(Org.) Ciências sociais e saúde bucal: questões e
perspectivas. São Paulo: Edunesp; Bauru: Edusc, 1998.
OLIVEIRA, E. R. Curas, do estruturalismo formal ao estruturalismo figurativo, o reino das
analogias. Artigo apresentado no I Simpósio Internacional de Ciências das Religiões, João
Pessoa, julho, 2007.
OLIVEIRA, R. R. Mata atlântica, paleoterritórios e história ambiental. Ambiente & sociedade.
Campinas, v. X, n.2, 2007 b.
PÁDUA, J. A. Dois séculos de crítica ambiental no Brasil. In: MINAYO, M. C. S.; MIRANDA,
A. C. (Orgs.) Saúde e ambiente sustentável: estreitando nós. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2002.
PAES, S. R. Oralidade caiçara em Caraguatatuba. In: Diegues, A. C. (org.). Enciclopédia
Caiçara, v. 5: festas, lendas e mitos caiçaras. São Paulo: HUCITEC, NUPAUB, CEC/USP,
2006.
PÉRES, D. S.; MAGNA, J. M.; VIANA, L. A. Portador de hipertensão arterial: atitudes,
crenças, percepções, pensamentos e práticas. Revista de Saúde Pública. v. 37, n. 5, 2003.
PERES, S. M. P. Homeopatia e pensamento mágico. (Monografia de conclusão de curso em
ciências sociais - UNESP). Araraquara, 1999.
PERES, S. M. P. Homeopatia e pensamento analógico. (Dissertação de Mestrado em
Sociologia – UNESP). Araraquara, 2003.
PERES, S. M. P. A homeopatia, o mana e a ratio hermética. Política & Trabalho, nº21, 2004.
PERES, S. M. P. O corpo como linguagem e a linguagem dos sinais. Humanitas. v.8, n.1/2,
2005.
PLATON, J. M. Ilhabela e seus enigmas. Histórias, lendas, tesouros, naufrágios. São Sebastião:
Editora do Autor, 2006.

251
PIGNATTI, M. G. Saúde e ambiente: as doenças emergentes no Brasil. Ambiente e
Sociedade, v. 7(1), 2004.
PIRRÓ, M. S. A. & MATTOS, M. F. Ilhabela: diagnóstico socioeconômico e ambiental das
comunidades isoladas. São Paulo: Geografia, USP, 2002.
PORTO, M. F. S.; PIVETTA, F.; SOARES, M.; MOREIRA, J.; FREITAS, C. M. Abordagens
ecossociais: Pensando a complexidade na estruturação dos problemas em saúde e ambiente.
Artigo apresentado para o II Encontro da ANPPAS – Associação Nacional de Pós-Graduação em
Ambiente e Sociedade – GT 05: Ambiente e Saúde, Indaiatuba, 2004.
RAIMUNDO, S. As ondas do litoral norte (SP): Difusão espacial das práticas caiçaras e do
veraneio no Núcleo Picinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar (1966-2001). Tese de
doutorado apresentada ao Instituto de Geociências como parte dos requisitos para obtenção do
título de Doutor em Ciências. Campinas, UNICAMP, 2007.
RAMIRES, M. Etnoictiologia, dieta e tabus alimentares dos pescadores artesanais de
Ilhabela. Tese de doutorado apresentada ao Programa de doutorado Ambiente e Sociedade do
NEPAM/ Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Campinas, UNICAMP, 2008.
RAPPORT, D. J.,COSTANZA, R. AND McMICHAEL. Assessing ecosystem health. Trends
in Ecology and Evolution. V. 13, n.10, 1998.
RAPPORT, D. J., HOWARD, J. M., LANNIGAN, R., ANJEMA, C. M., McCAULEY , W.
Strange bed fellows: ecosystem health in the medical curriculum. Blackwell Science v. 7, n. 3,
2001.
REIS, C. O. O. Desigualdade no acesso aos serviços de saúde. In: Negri, B. & Giovanni, G.
(orgs.) Brasil: radiografia da saúde. Instituto de Economia/Unicamp, Campinas, 2001.
RIMOLI, A. P. C. Festas em São Sebastião: cultura caiçara e seu espaço simbólico. In: Diegues,
A. C. (org.). Enciclopédia Caiçara, v. 5: festas, lendas e mitos caiçaras. São Paulo: HUCITEC,
NUPAUB, CEC/USP, 2006.
ROSENBAUM, P. Homeopatia e vitalismo. Um ensaio acerca da animação da vida. São
Paulo: Robe Editorial, 1996.
SABROZA, P. C. Estudos epidemiológicos na perspectiva do aumento da vulnerabilidade dos
sistemas socioambientais brasileiros. Epidemiologia e Serviços de Saúde. 16 (4): 245-250,
2007.
SANCHES, R. A. Caiçaras e a estação ecológica de Juréia-Itatins: litoral sul de São Paulo.
São Paulo: Annablume; Fapesp, 2004.
SANTOS, G. M.; SOUZA, S. F.; FIGUEIREDO, V. M.; LIMA, V. M. G. C. Migração e perfil
socioeconômico da população do bairro Barra Velha no município de Ilhabela. Universidade
do Vale do Paraíba. Trabalho de pós-graduação Lato Sensu, São José dos Campos, 2005.
SCLIAR. M. Do mágico ao social. São Paulo: L & PM Editores S/A, 1987.

252
SCLIAR. M. História do conceito de saúde. Physis. Rio de Janeiro, 2007.
SHIVA, V. Monoculturas da mente. Perspectivas da biodiversidade e da biotecnologia. São
Paulo: Gaia: 2003.
SILVEIRA, G. R. Utopia e cura: a homeopatia no Brasil Imperial (1840-1854). Dissertação de
mestrado apresentada no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – IFCH – UNICAMP.
Campinas, 1997.
SIMÕES, N. Uma viagem pela história do arquipélago de Ilhabela. São Paulo: Noovha
América Editora, 2005.
TARNAS, R. A epopéia do pensamento ocidental. Para compreender as idéias que moldaram
nossa visão de mundo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
TESSER, C. D.; LUZ, M. T. Uma introdução às contribuições da epistemologia contemporânea
para a medicina. Ciência & Saúde Coletiva, v. 7, n.2, 2002.
THOMAS, K. O homem e o mundo natural. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
TOMAZZONI, M. I; NEGRELLE, R. R. B.; CENTA, M. L. Fitoterapia popular: a busca
instrumental enquanto prática terapêutica. Texto Contexto – Enferm, v.15, n.1, Florianópolis,
2006.
UNFPA – United Nations Population Fund. Situação da População Mundial 2007:
Desencadeando o Potencial do Crescimento Urbano. Fundo de População das Nações Unidas.
Nova York: UNFPA, 2007.
VIANA, A. L. D. As políticas de saúde nas décadas de 80 e 90: o (longo) período de reformas.
In: CANESQUI, A. M. (org.). Ciências sociais e saúde para o ensino médico. São Paulo:
Hucitec/ Fapesp, 2000.
WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Livraria Pioneira de
Ciências Sociais, 1997.
YAZIGI, E. A. A alma do lugar. Turismo, planejamento e cotidiano em litorais e
montanhas. São Paulo: Contexto, 2001.
ZÉMPLÉNI, A. A “Doença” e suas “Causas”. Cadernos de campo. São Paulo, n.4, 1994.
Fontes Documentais
Prefeitura Municipal de Ilhabela:
1. Secretaria Municipal de Saúde
- Oficina de Territorialização do Município de Ilhabela - Programa Municipal de Saúde da
Família, 1999.

253
- II Mostra de Produção em Saúde da Família de junho, 2004.
- Treinamento Introdutório: a Implantação da Unidade Saúde da Família, slide adquirido junto à
coordenação do PSF autorizada pela Secretaria da Saúde no ano de 2006.
- Vigilância Epidemiológica – dados 2006.
2. Diretoria das Comunidades Tradicionais
- Prontuário de Comunidades Tradicionais, documento obtido junto à chefia de Seção de Pesca e
Agroindústria, 2005.
3. Secretaria do Meio Ambiente
- Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Instituto Florestal. Subsídios para o
Plano de Manejo do Parque Estadual de Ilhabela: Inserção das Comunidades Caiçaras, 2005.
- Agenda 21 – Diagnóstico Regional do Litoral norte, 2006.
Ministério da Saúde, Brasil:
- SIAB – Sistema de Informação de Atenção Básica: Consolidado das Famílias Cadastradas do
ano de 2007. Secretaria de Assistência à Saúde/ DAB DATASUS; Secretaria Municipal de
Saúde.
- SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Total de Ligações de
água e esgoto no município de Ilhabela. Dezembro, 2006.
Sites consultados
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA,
www.ibge.gov.br
PARQUE ESTADUAL DE ILHABELA,
www.ilhabela.com.br/parqueestadual/index.html
BANCO DE DADOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE,
http://w3.datasus.gov.br/datasus/datasus.php
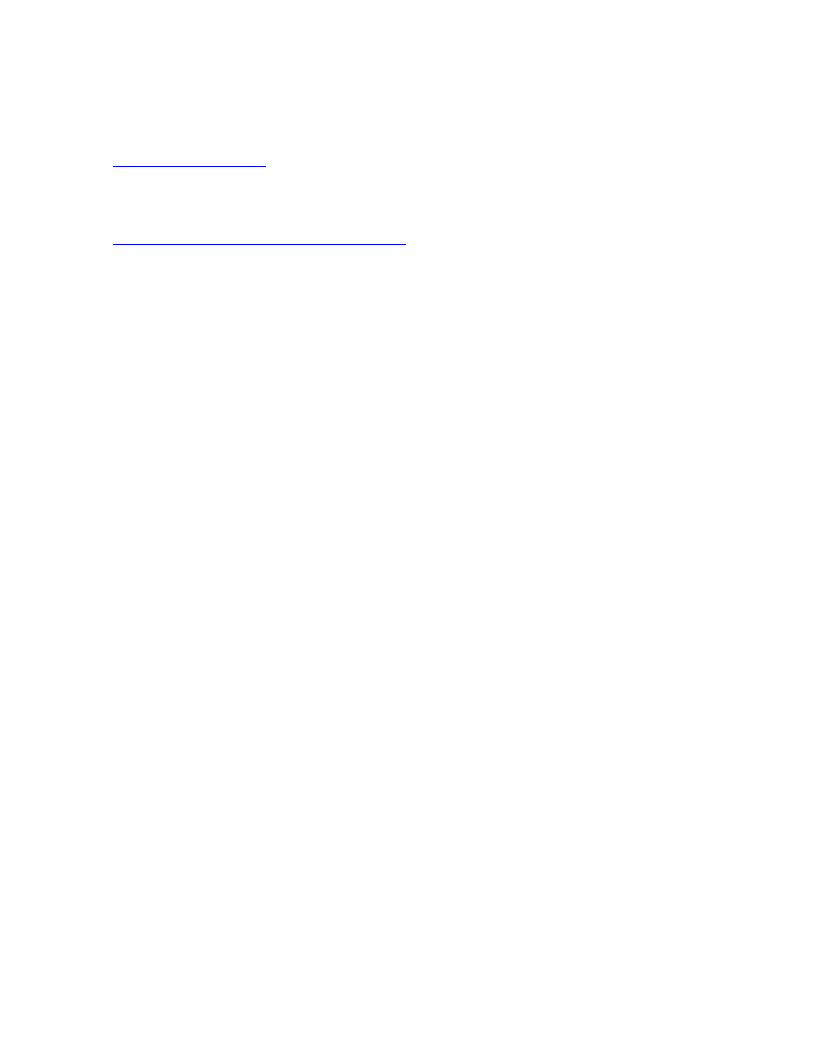
254
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA,
www.ilhabela.sp.gov.br
HISTÓRIA DE ILHABELA,
www.ilhabela.sp.gov.br/ilhabela_historia.htm
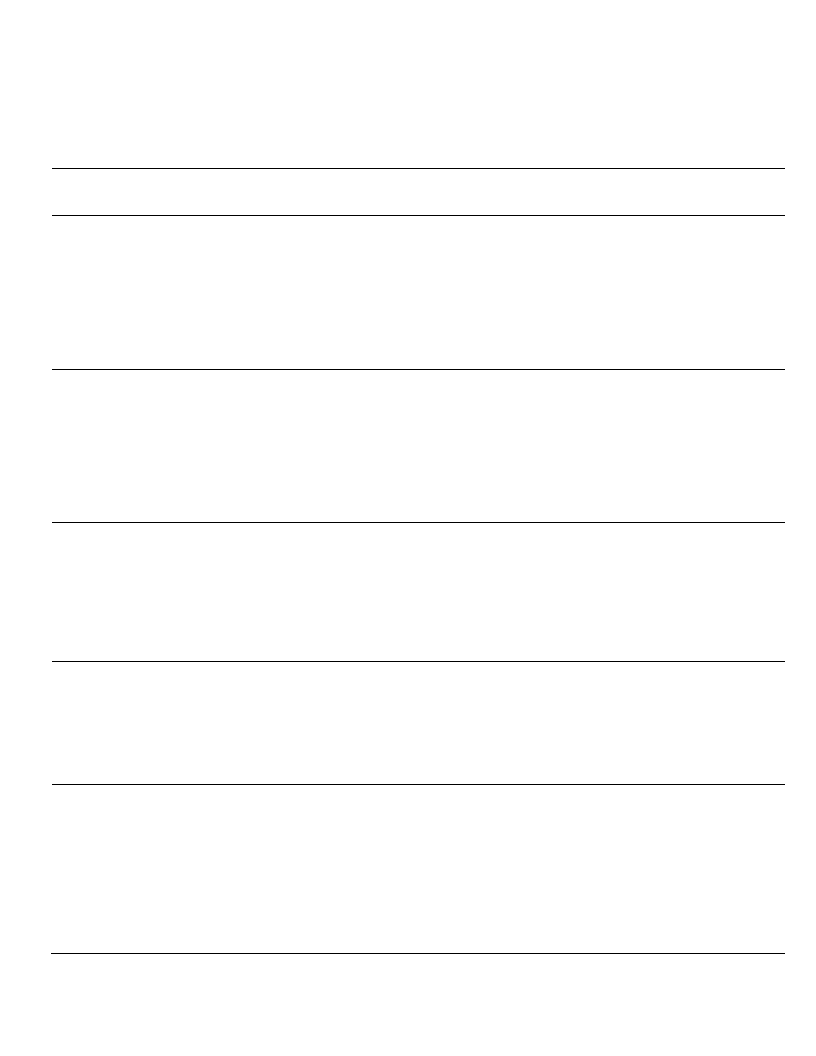
255
Anexo
Tabela: Relação das Comunidades com a Gestão do Parque Estadual de Ilhabela
Comunidades
Ilha de Búzios –
Guanxuma
Relação Comunidade
X
Gestão do PEIB
Pouca relação entre
moradores e o PEIB.
Ilha de Búzios -
Porto do
Meio/Pitangueiras
Apesar de eventuais
conflitos ligados à
construção de casas, a
líder comunitária é
bastante atuante e tem
boa relação com o PEIB.
Ilha da Vitória /
Pescadores
Comunidade tem boa
relação com o PEIB;
Moradores freqüentam a
sede do parque e as
reuniões do Conselho
Consultivo.
Praia da Figueira
Apesar de eventuais
conflitos ligados ao uso
da terra para agricultura,
moradores vêm
participando do Conselho
Consultivo do PEIB.
Saco do Sombrio
Relação conflituosa;
Parque ausente, conflitos
fundiários, imobiliários e
restrições à agricultura.
Limitações
Decreto de criação do PEIB e
incompatibilidade com a
presença da população;
Distância e dificuldade de
acesso;
Falta de organização
comunitária para representar
os moradores.
Decreto de criação do PEIB e
incompatibilidade com a
presença da população;
Distância e dificuldade de
acesso;
Conflitos comunitários;
Especulação imobiliária
ocorrendo na comunidade,
com existência de casas e
lotes de veranistas;
Decreto de criação do PEIB e
incompatibilidade com a
presença da população;
Distância e dificuldade de
acesso;
Falta de organização
comunitária formalizada para
representar os moradores.
Decreto de criação do PEIB e
incompatibilidade com a
presença da população;
Comunidade inserida em
área de domínio privado;
PEIB gera restrições às
atividades agrícolas;
Decreto de criação do PEIB e
incompatibilidade com a
presença da população;
Cobertura vegetal bastante
degradada;
Falta de organização
comunitária para representar
moradores;
Especulação imobiliária
ocorrendo na comunidade,
com existência de casas e
Diretrizes sugeridas para Superar as Limitções
Considerar no plano de manejo do PEIB como
Zona Histórico-Cultural;
Fomentar a organização comunitária por meio de
atividades econômicas de uso indireto da natureza
e de manejo e recuperação ambiental, como
ecoturismo e produção de artesanato e maricultura;
Construção de cais de acesso para comunidade;
Apoiar proteção e gestão do ambiente marinho
com vistas ao ordenamento da pesca e do turismo
subaquático (caça submarina e autônomo).
Considerar no plano de manejo do PEIB como
Zona Histórico–Cultural;
Apoiar a organização comunitária por meio de
atividades econômicas de uso indireto da natureza
e de manejo e recuperação ambiental, como
ecoturismo e produção de artesanato;
Restaurar cais existente para facilitar acesso à Ilha;
Apoiar proteção e gestão do ambiente marinho
com vistas ao ordenamento da pesca e do turismo
subaquático (caça submarina e autônomo).
Considerar no plano de manejo do PEIB como
Zona Histórico–Cultural;
Apoiar a organização comunitária por meio de
atividades econômicas de manejo de recursos
naturais e recuperação ambiental, como
maricultura e artesanato;
Construção de cais de acesso para comunidade;
Estabelecer projeto de gestão conjunta dos
recursos pesqueiros, protegendo entorno das ilhas.
Realizar desapropriação da área privada e garantir
permanência das 5 famílias de moradores no
interior do PEIB, através da elaboração de Termo
de Compromisso;
Apoiar famílias locais por meio de atividades
econômicas de uso indireto da natureza e de
manejo e recuperação ambiental, como ecoturismo
e maricultura.
Realizar desapropriação das áreas privadas e
garantir permanência das 7 famílias de moradores
no interior do PEIB, através da elaboração de
Termo de Compromisso;
Instalar base do PEIB para controlar ocupação de
veranistas, disseminar informações ambientais e
desenvolver ações de educação e recuperação
ambiental, com plantio de espécies utilizadas para
produção de canoas;
Apoiar famílias locais por meio de atividades
econômicas de uso indireto da natureza e de
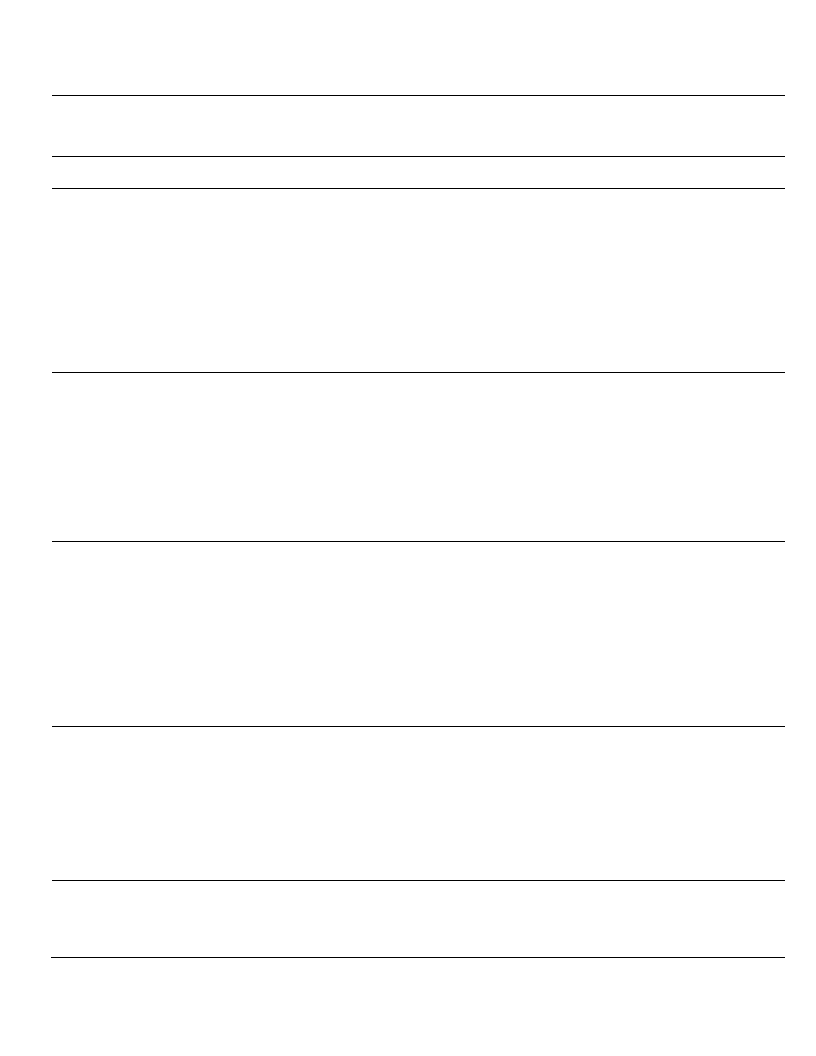
256
Saco das Tocas
Castelhanos
Canto do
Ribeirão
Não há comunidade.
Pouca relação entre os
moradores e o PEIB.
Moradores participaram
do projeto de
monitoramento da trilha
do gato (2004)
Castelhanos
Canto da Lagoa
Moradores têm boa
relação com o PEIB;
participam do Conselho
Consultivo.
Praia Mansa
Moradores têm boa
relação com o PEIB;
participam do Conselho
Consultivo.
Praia Vermelha
Moradores têm boa
relação com o PEIB;
participam do Conselho
Consultivo.
Saco do
Eustáquio
Não há comunidade.
lotes de veranistas;
Ocupação do Iate Clube da
Ilhabela enfraquece poder de
legislação do PEIB.
Área de domínio privado
inserida nos limites do PEIB;
Histórico de proibição para
as atividades agrícolas/roças
e restrições quanto à
melhoria da estrada de
Castelhanos;
Comunidade sem
organização comunitária;
Forte processo de
descaracterização cultural e
venda de lotes para
veranistas;
Área de entorno do PEIB.
Proibição do corte de árvores
para construção de canoas;
Forte especulação imobiliária
sobre as áreas comunitárias;
Área de entorno do PEIB.
Proibição do corte de árvores
para construção de canoas;
Área de entorno do PEIB.
Proibição do corte de árvores
para construção de canoas;
Comunidade inserida em
área sob domínio privado,
com conflitos fundiários e
com restrições de ocupação
da praia;
Área de entorno do PEIB.
Área de entorno do PEIB,
agora sob domínio particular.
manejo e recuperação ambiental, como maricultura
e ecoturismo.
Desapropriar área particular para fins de
preservação ambiental.
Garantir cumprimento da legislação ambiental;
Considerar no Plano de Manejo, como Zona de
Uso Sustentável;
Fomentar a organização comunitária por meio de
atividades econômicas de uso indireto da natureza
e de manejo e recuperação ambiental;
Instalar base do PEIB, para controlar ocupação de
veranistas, disseminar informações ambientais e
desenvolver ações de recuperação ambiental;
Apoiar o cumprimento do Decreto Estadual nº
49.215 - Gerco, que protege a baía contra a pesca
de arrasto de fundo.
Garantir cumprimento da legislação ambiental;
Considerar no Plano de Manejo, como Zona de
Uso Sustentável;
Apoiar a Associação dos Moradores da Baía de
Castelhanos;
Promover ordenamento da ocupação da praia de
Castelhanos garantindo a área comunitária no
plano de manejo do PEIB;
Apoiar o cumprimento do Decreto Estadual nº
49.215 - Gerco, que protege a baía contra a pesca
de arrasto.
Garantir cumprimento da legislação ambiental;
Considerar no Plano de Manejo, como Zona de
Uso Sustentável;
Apoiar a Associação dos Moradores da Baía de
Castelhanos;
Fomentar atividades de maricultura;
Fortalecer parceria com a comunidade e
disseminar experiências de canoa de fibra e câmara
fria;
Apoiar o cumprimento do Decreto Estadual nº
49.215 - Gerco, que protege a baía contra a pesca
de arrasto de fundo.
Garantir cumprimento da legislação ambiental;
Considerar no Plano de Manejo, como Zona de
Uso Sustentável;
Apoiar a Associação dos Moradores da Baía de
Castelhanos;
Fomentar atividades de maricultura;
Garantir livre acesso à praia e pelos caminhos de
servidão;
Apoiar o cumprimento do Decreto Estadual nº
9.215 – Gerco.
Garantir cumprimento da legislação ambiental;
Garantir acesso à praia e passagem por caminho
de servidão;
Proteger bacia hidrográfica da captação de grandes
volumes de água.
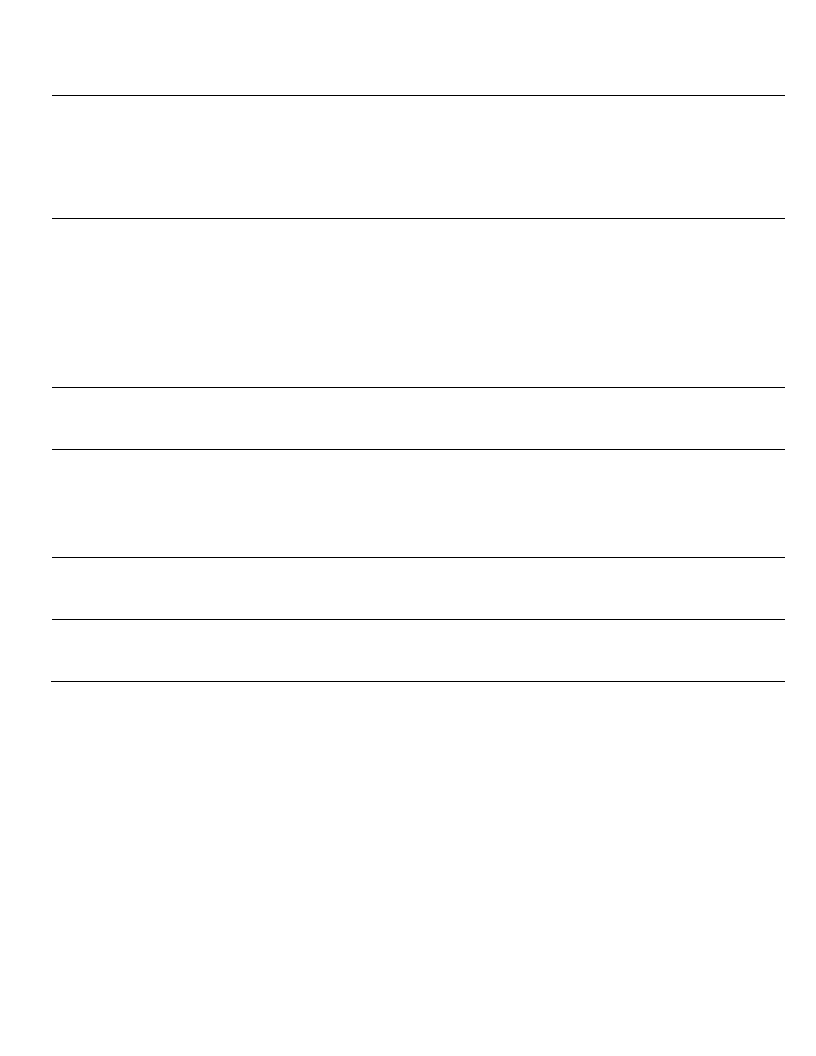
257
Praia da
Guanxuma
Pouca relação entre
moradores e o PEIB.
Área de entorno do PEIB.
Praia da Serraria
Relação conflituosa;
Conflitos com o PEIB
relacionados à derrubada
de árvores e ocorrência
de tráfico de animais.
Área de entorno do PEIB,
sob domínio privado;
Histórico conflitante entre
policia ambiental e
comunidade;
Comunidade inserida em
área sob domínio privado,
com conflitos fundiários e
com restrições de ocupação
da praia;
Garantir cumprimento da legislação ambiental;
Considerar no Plano de Manejo, como Zona de
Uso Sustentável;
Garantir livre acesso à praia e passagem por
caminho de servidão;
Proteger bacia hidrográfica do excesso de captação
de água;
Fomentar maricultura e ecoturismo.
Garantir cumprimento da legislação ambiental;
Considerar no Plano de Manejo, como Zona de
Uso Sustentável;
Garantir livre acesso à praia e pelos caminhos de
servidão;
Fomentar a organização comunitária por meio de
atividades econômicas de uso indireto da natureza
e de manejo e recuperação ambiental;
Praia da Fome Pouca relação entre
moradores e o PEIB.
Área de entorno do PEIB,
com conflitos fundiários.
Garantir cumprimento da legislação ambiental;
Garantir livre acesso à praia e passagem por
caminho de servidão.
Praia do Bonete
Relação conflituosa;
Conflitos com o PEIB
pelo corte de árvores para
canoas e uso intensivo do
fogo para demarcar
posses.
Comunidade com alto índice
de crescimento populacional
e de ocupação por veranistas;
Ponto turístico da Ilhabela
sob gestão da Prefeitura
Municipal.
Garantir cumprimento da legislação ambiental;
Garantir livre acesso à praia e passagem por
caminhos de servidão;
Realizar ações de educação ambiental com
moradores e veranistas durante alta estação.
Saco das
Não há comunidade,
Área de entorno do PEIB, Garantir cumprimento da legislação ambiental;
Enchovas
apenas famílias que
sob domínio particular.
Garantir livre acesso e passagem por caminho de
prestam serviço como
servidão, inclusive futuro fluxo turístico.
caseiros.
Praia de
Não há comunidade,
Área de entorno do PEIB, Garantir cumprimento da legislação ambiental;
Indaiatuba
apenas famílias que
sob domínio particular.
Garantir acesso e passagem por caminho de
prestam serviço como
servidão, inclusive futuro fluxo turístico;
caseiro.
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Instituto Florestal. Subsídios para o Plano de Manejo do Parque
Estadual de Ilhabela: Inserção das Comunidades Caiçaras, 2005.
