
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE LETRAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA
HELOANNY DE FREITAS BRANDÃO
O DIREITO AMBIENTAL CONSTITUCIONAL BRASILEIRO: PERSPECTIVA DA
ANÁLISE DO DISCURSO ECOLÓGICA (ADE)
Goiânia
2016
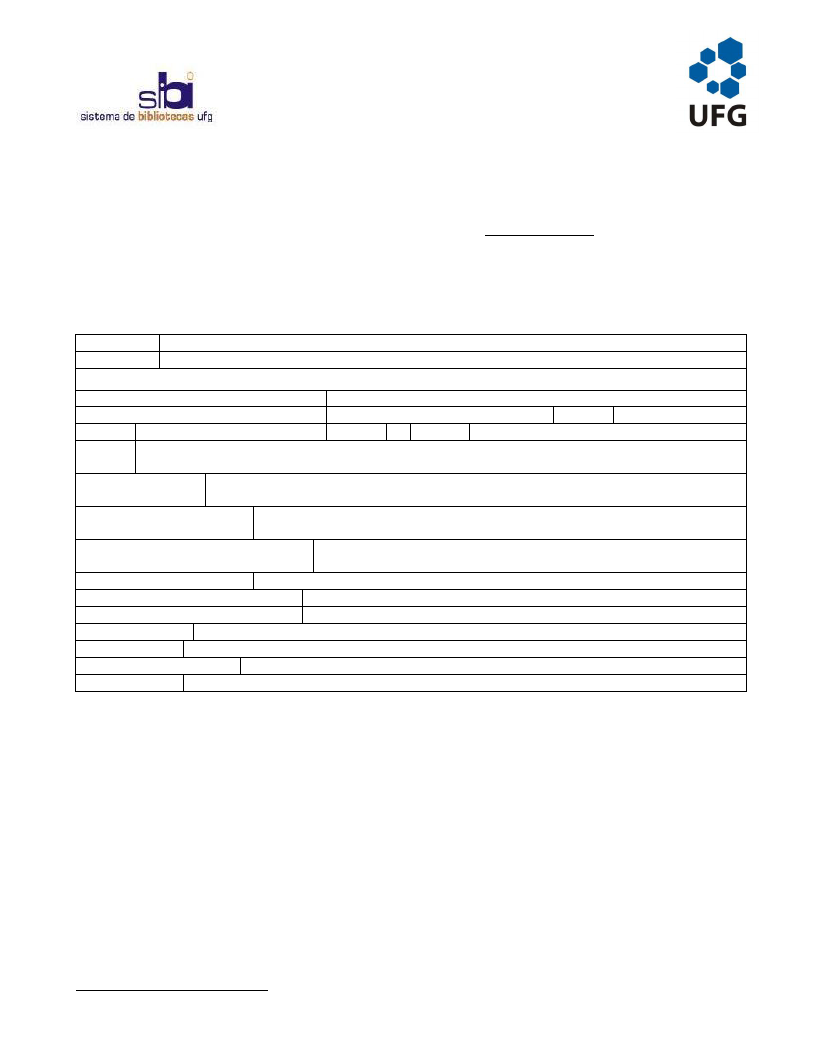
TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E
DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG
Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás (UFG)
a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD/UFG),
sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o documento conforme
permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação
da produção científica brasileira, a partir desta data.
1. Identificação do material bibliográfico:
[ x ] Dissertação
[ ] Tese
2. Identificação da Tese ou Dissertação
Autor (a): HELOANNY DE FREITAS BRANDÃO
E-mail:
heloannybrandao.adv@gmail.com
Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?
[ x ]Sim
[ ] Não
Vínculo empregatício do autor
Agência de fomento:
Sigla:
País:
UF:
CNPJ:
Título: O DIREITO AMBIENTAL CONSTITUCIONAL BRASILEIRO: PERSPECTIVA DA ANÁLISE DO
DISCURSO ECOLÓGICA
Palavras-chave: Antropocentrismo. Direito Ambiental. Ecolinguística. Ecologia Profunda.Meio
ambiente.
Título em outra língua: Brazilian constitutional environmental law: prospects of Ecological
Discourse Analysis
Palavras-chave em outra língua: Anthropocentrism. Environmental Law. Ecolinguistics. Deep
Ecology. Environment.
Área de concentração: Estudos Linguísticos
Data defesa: (dd/mm/aaaa)
29/02/2016
Programa de Pós-Graduação: FACULDADE DE LETRAS - LINGUÍSTICA /UFG
Orientador (a): ELZA KIOKO NAKAYAMA NENOKI DO COUTO
E-mail:
kiokoelza@gmail.com
Co-orientador (a):*
E-mail:
*Necessita do CPF quando não constar no SisPG
3. Informações de acesso ao documento:
Concorda com a liberação total do documento [ x ] SIM
[ ] NÃO1
Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o envio
do(s) arquivo(s) em formato digital PDF ou DOC da tese ou dissertação.
O sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que os arquivos
contendo eletronicamente as teses e ou dissertações, antes de sua disponibilização, receberão
procedimentos de segurança, criptografia (para não permitir cópia e extração de conteúdo,
permitindo apenas impressão fraca) usando o padrão do Acrobat.
_________________________________
Assinatura do (a) autor (a)
Data: ____ / ____ / _____
1 Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste prazo suscita justificativa
junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão disponibilizados durante o período de embargo.

HELOANNY DE FREITAS BRANDÃO
O DIREITO AMBIENTAL CONSTITUCIONAL BRASILEIRO: PERSPECTIVA DA
ANÁLISE DO DISCURSO ECOLÓGICA (ADE)
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Letras e Linguística da
Universidade Federal de Goiás, como
requisito para obtenção do título de Mestre
em Letras e Linguística.
Área de concentração: Letras e Linguística.
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Elza Kioko
Nakayama Nenoki do Couto.
Goiânia
2016
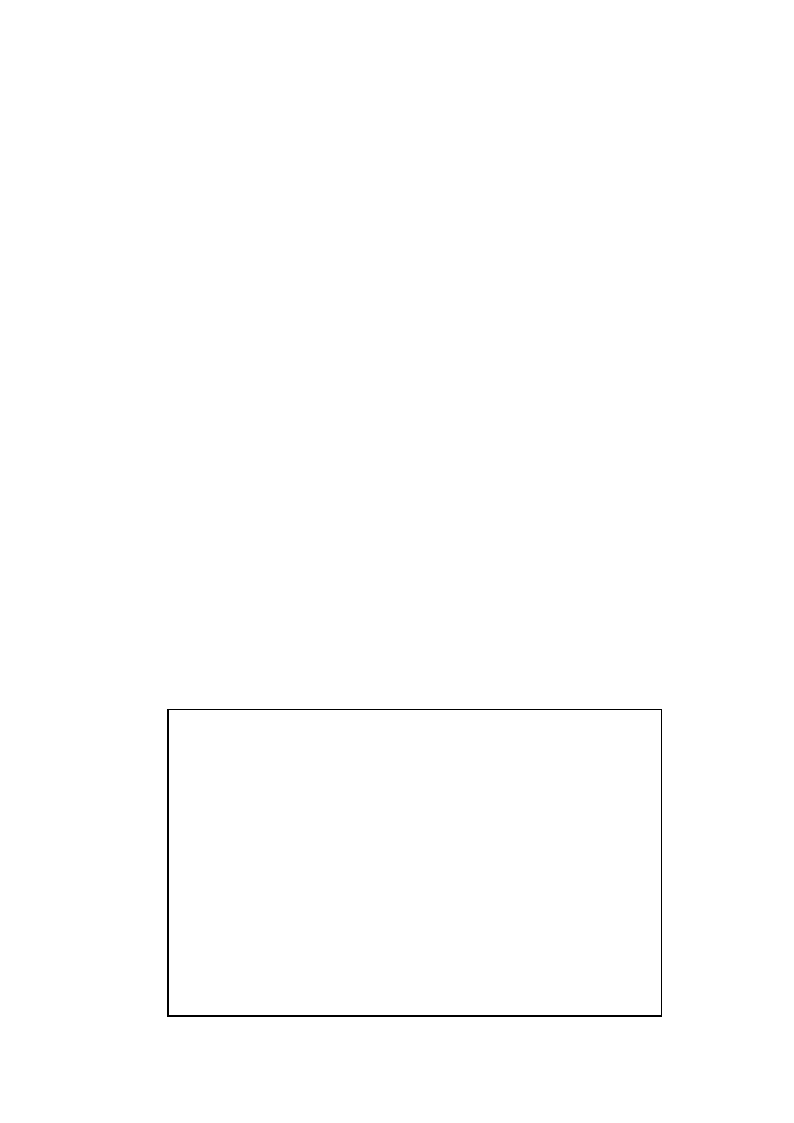
Ficha catalográfica elaborada automaticamente
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob orientação do Sibi/UFG.
Brandão, Heloanny de Freitas
O DIREITO AMBIENTAL CONSTITUCIONAL BRASILEIRO:
PERSPECTIVA DA ANÁLISE DO DISCURSO ECOLÓGICA (ADE)
[manuscrito] / Heloanny de Freitas Brandão. - 2016.
CLXVIII, 168 f.
Orientador: Prof. Elza Kioko Nakayama Nenoki do COUTO.
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Faculdade
de Letras (FL) , Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística,
Goiânia, 2016.
Bibliografia. Anexos.
1. Antropocentrismo. 2. Direito Ambiental. 3. Ecolinguística. 4.
Ecologia Profunda. 5. Meio Ambiente. I. COUTO, Elza Kioko
Nakayama Nenoki do, orient. II. Título.

Às matrizes fundadoras de tudo isso, meus
amados pais, Izaqueu Alves Brandão e
Solange de Freitas Brandão, por terem me
concedido o direito de viver, por me darem
toda a base econômica, social, intelectual e
religiosa pra chegar até aqui. Obrigada por me
amarem incondicionalmente, por sofrerem
junto comigo a cada obstáculo e por me
auxiliarem a realizar mais este sonho.
Ao meu único e amado irmão, Marko Antonio
de Freitas Brandão, por todo o incentivo dado
e por sempre me fazer acreditar que valeria a
pena cada esforço, cada sofrimento e cada
dificuldade.

AGRADECIMENTOS
Cada momento vivido, cada dificuldade encontrada, cada vitória conquistada são
compartilhados por aqueles que nos cercam. Assim, em primeiro lugar agradeço a Deus, ser
soberano que me concedeu a graça de chegar até aqui. A Ele toda a honra e toda a glória, por
me permitir realizar meus sonhos e alcançar os meus objetivos traçados, pois eu sei “que até
aqui o Senhor me ajudou”.
Agradeço aos meus pais e familiares, que me deram todo o suporte necessário
emocional, econômico, social, intelectual, espiritual para enfrentar todas as dificuldades
vividas.
À Universidade Federal de Goiás, que gentilmente abriu suas portas e me possibilitou
realizar sonhos. Obrigada pela oportunidade de crescer intelectualmente e desfrutar de
experiências únicas e por todo o respeito com que fui tratada por todos os seus integrantes.
À banca examinadora, que respeitosamente se dispôs a ler, opinar e criticar este
trabalho e, também, por compartilhar comigo deste momento e contribuir neste processo.
À minha querida orientadora, Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto, que caminhou
junto a mim no longo percurso, opinando, ensinando e me auxiliando em cada etapa.
Agradeço por ter me apresentado a necessidade de reconhecer o caráter holístico das coisas,
inclusive da vida, por me fazer reconhecer o valor de um sim e de um não, enfim, por me
tornar preparada para enfrentar os desafios da vida que estão por vir.
Ao grupo Nelim, pelas calorosas discussões, pelas descobertas feitas, pelos risos que
compartilhamos, pelas viagens que desfrutamos, pela audácia de poder pensar ousadamente e
unir diversos ramos do saber.
Aos meus colegas de sala, que respeitosamente me deram a honra de compartilhar
momentos de descoberta, aprendizagem, sofrimentos, stress, e por saberem, assim como eu, a
importância da gostosa sensação do dever cumprido ao término de cada dia, de cada semestre
e de cada ano.
Ao CNPQ que me concedeu um ano de bolsa, o que sem dúvida contribuiu para a
dádiva de poder ser uma pesquisadora.
A vocês, o meu muito obrigada.

RESUMO
As questões sobre o meio ambiente e sua preservação têm sido amplamente discutidas
atualmente, motivando diversas pesquisas. Neste estudo se propõe uma análise linguística dos
princípios do Direito Ambiental brasileiro, do artigo 225 da Constituição da República
Fderativa do Brasil e de suas leis complementares. A partir desse corpus e dos
questionamentos que dele emergem temos o objetivo geral de averiguar as consonâncias e
dissonâncias entre Direito Ambiental brasileiro e os valores da Ecologia Profunda, incluída no
arcabouço teórico da Analise do Discurso ecológica. Essa área sugere novos paradigmas a
serem seguidos, em que o homem estabeleça uma relação mais próxima e respeitosa com
todos os seres do ecossistema, inclusive por meio da compreensão de que faz parte do
ecossistema, ou seja, ela possui e sugere uma visão holística e integralizadora de mundo.
Nesse sentido, recorremos à vertente da Ecolinguística intitulada Análise do Discurso
Ecológica como base teórica, cuja finalidade é o estudo da formação de discursos por uma
perspectiva ecológica, incluindo em seus estudos aspectos do meio ambiente físico, mental e
social, diferente de outras vertentes que se restringem apenas ao meio ambiente social. Essa
vertente de estudos propõe, ainda, estudos linguísticos baseados em uma ideologia de vida e
em uma ética ecológica, além de ter a Ecologia Profunda como uma de suas fontes de
inspiração e, portanto, fazer parte da ADE. Pela análise, foi possível compreender que as leis
e os princípios que compõem o corpus apresentam uma tendência embrionária que seguem os
valores da Ecologia Profunda. No entanto, a forma como as leis e os princípios são escritos
demonstram que há uma forte subordinação das leis e dos princípios ambientais à ideologia
capitalista e antropocêntrica, sem que sejam priorizada uma ética ambiental, o que
compromete a garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado
Palavras-chave: Antropocentrismo. Direito Ambiental. Ecolinguística. Ecologia Profunda.
Meio ambiente.

ABSTRACT
The environment matters and its preservation have been large discussed nowadays fostering a
variety of academic researches. In this term paper, a linguistic analysis of the contents of the
of the Brazilian Environmental Law is proposed, regarding the art. 225 of Brazilian
Constitution and its complementary legislation. From this corpus and its emerging demands it
is targeted as a general scope to research the harmony between Brazilian Environmental Law
and the values of the Deep Ecology included in the theoretical framework of the Ecological
Discourse Analysis – EDA. This area suggests new paradigms to be pursued in which
mankind establishes a closer and respectful relation with all living beings, including the
comprehension of what makes part of the ecosystem. This new area possesses and suggests a
holistic and integrated view of the world. In this direction, it is appealed the Econliguistic
strand entitled Ecological Discourse Analysis (EDA) as the theoretical basis, which scope is
the speech construction study from an ecological perspective considering a range of
environment aspects, such as physical, mental and social ones, and not only the social
environment reckoned in other strands. Furthermore, this aspect of analysis proposes
linguistic studies based on an ideological and eco-ethic lifestyle, also having the Deep
Ecology as one of its inspiration sources, thus making part of the EDA. Taking into account
the analysis, it was possible comprehend that laws and principles, which assemble the corpus,
reveal an embryonal tendency that follows the Deep Ecology values. Nevertheless, the
manner in which laws and principles are written demonstrate a strong subordination of laws
environment and environment principles to the capitalist and anthropocentric ideologies with
priority over environmental ethics, which can harm the assurance of a balanced environment.
Keywords: Anthropocentrism. Environmental Law. Ecolinguistics. Deep Ecology.
Environment.
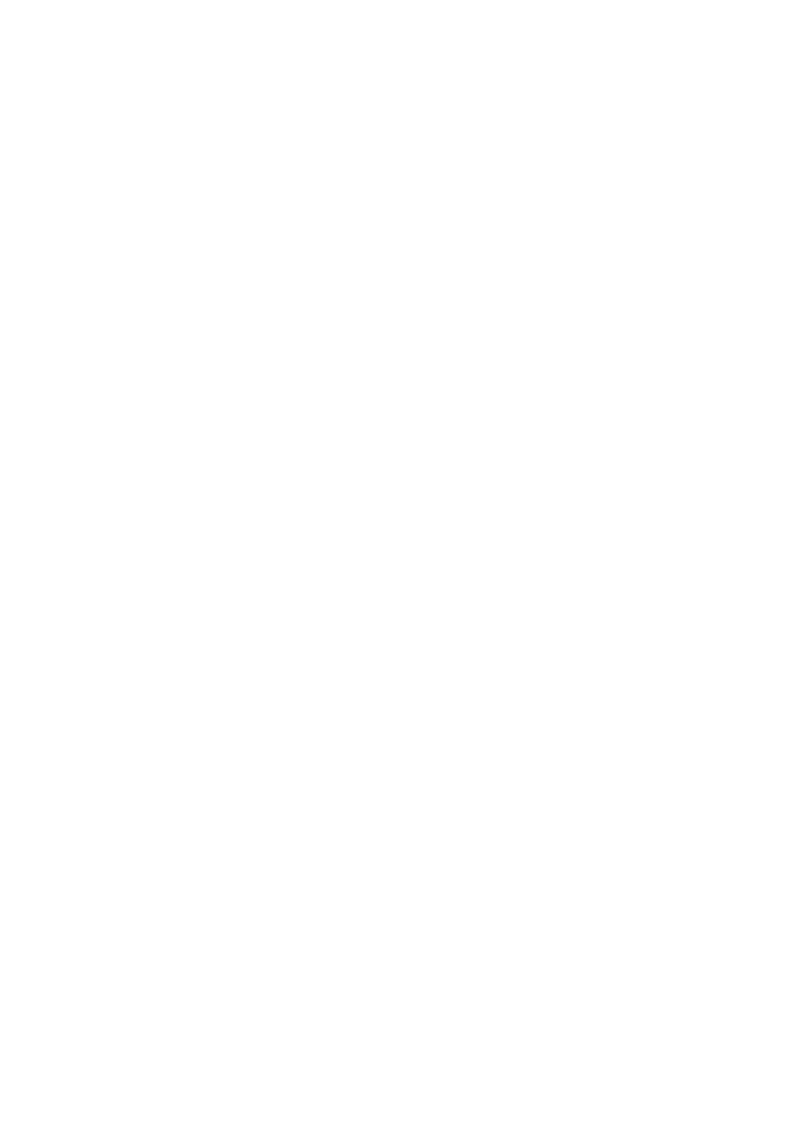
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO........................................................................................................................... 9
1 ORIGEM DO DIREITO E EMERGÊNCIA DO DIREITO AMBIENTAL
BRASILEIRO..............................................................................................................................16
1.1 PERCURSO HISTÓRICO E CONCEITUAÇÃO DO DIREITO......................................17
1.2 AS CORRENTES FILOSÓFICAS DA CIÊNCIA DO DIREITO..................................... 21
1.2.1 O Direito Natural........................................................................................................... 22
1.2.2 O Direito Positivo...........................................................................................................26
1.2.3 O Pós-Positivismo Jurídico........................................................................................... 28
1.3 ÉTICA E DIREITO............................................................................................................ 31
1.4 O NASCIMENTO DO DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO......................................36
1.4.1 O Direito Ambiental Internacional e suas Influências............................................... 36
1.4.2 Direito Ambiental Constitucional Brasileiro...............................................................38
1.4.3 Fontes e Princípios do Direito Ambiental Brasileiro.................................................. 39
1.4.4 Direito Ambiental: o Conceito de Meio Ambiente e seus Desdobramentos............. 43
2 O CAMPO DA ANÁLISE DO DISCURSO ECOLÓGICA................................................ 45
2.1 ENTENDENDO A ECOLOGIA........................................................................................ 49
2.1.1 Ecologia Social e Ecologia Profunda............................................................................ 51
2.2 O NASCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA ECOLINGUÍSTICA......................... 57
2.2.1 Linguística Ecossistêmica..............................................................................................63
2.3 LINGUÍSTICA ECOSSISTÊMICA CRÍTICA OU ANÁLISE DO DISCURSO
ECOLÓGICA........................................................................................................................... 65
2.3.1 A Ideologia na ADE....................................................................................................... 70
2.3.2 A Ética na ADE.............................................................................................................. 73
3 METODOLOGIA.................................................................................................................... 78
4 O DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO: PERSPECTIVAS DA ADE......................... 84
4.1 ANÁLISE DISCURSIVO-ECOLÓGICA DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO
AMBIENTAL........................................................................................................................... 85
4.1.1 Princípio do Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado........................................85
4.1.2 Princípio do Desenvolvimento Sustentável..................................................................86
4.1.3 O Princípio da Prevenção..............................................................................................88
4.1.4 Princípio da Precaução..................................................................................................89
4.1.5 Princípio do Poluidor-Pagador versus Usuário-Pagador versus Protetor-Recebedor
...................................................................................................................................................90
4.1.6 Princípio da Informação................................................................................................92
4.1.7 Princípio da Educação...................................................................................................93
4.1.8 Princípio da Cooperação............................................................................................... 94

4.1.9 Algumas Considerações sobre os Princípios Jurídicos Ambientais.......................... 95
4.2 O ARTIGO 225 DA CF/88 E SUAS LEIS COMPLEMENTARES PELO OLHAR DA
ADE.......................................................................................................................................... 95
4.2.1 As Obrigações Estatais de Preservação Ambiental.................................................... 98
4.2.2 Deveres Constitucionais do Particular para a Defesa do Meio Ambiente..............116
4.2.3 Demais Prescrições do Artigo 225 da CF/88..............................................................116
4.3 DAS PENALIDADES IMPOSTAS NAS LEIS...............................................................120
4.4 OS VALORES ÉTICOS: ANTROPOCENTRISMO VERSUS ECOCENTRISMO NO
DIREITO AMBIENTAL........................................................................................................ 123
CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................................... 127
REFERÊNCIAS.......................................................................................................................... 133
ANEXOS................................................................................................................................132

9
INTRODUÇÃO
O conhecimento é um processo discursivo e acumulativo para o qual
necessitamos de atualização, ajuda e complementação. Por isso, nós
nos associamos uns aos outros como átomos do saber, na tentativa de
compreender o mundo que nos cerca. [...] É preciso que nos
identifiquemos com o ambiente e como parte dele.
(MILARÉ, 2015, p. 51).
Pensar o meio ambiente requer considerar, segundo a Ecologia, que todos os seres
vivos são igualmente importantes para a manutenção do equilíbrio homeostático. Cada ser
possui uma função no ecossistema e estabelece, com aqueles que compartilham o território
com ele, uma relação simbiótica e holística. Quando o papel desempenhado por determinado
organismo no ecossistema é respeitado, desenvolve-se um equilíbrio ambiental que garante
uma melhor qualidade de vida para todos. A falta desse equilíbrio, entretanto, provoca
transtornos naturais, que, por serem muitas vezes irreversíveis, causam sofrimento a todas as
demais espécies. Exemplos disso são a extinção de espécies e o esgotamento de recursos
naturais, oriundos da ação desenvolvimentista humana.
A intensificação desses desequilíbrios ocorreu, entre outros fatores, pela emergência
da civilização industrial, uma vez que os avanços tecnológicos da revolução industrial do
século XVIII fizeram com que o homem encarasse o meio ambiente como um objeto do qual
seria possível extrair os recursos naturais de forma ilimitada. Essa revolução se baseou em
três fatores de produção: natureza, capital e trabalho, e, no século XX, um quarto fator foi
acrescentado, a tecnologia. Esse último elemento provocou uma automatização nos processos
industriais que levou à produção de bens industriais numa quantidade e brevidade antes
impensáveis (SPARAMBERGUER; SILVA, 2005). Assim, à medida que o século XX foi
chegando ao fim, as preocupações com o meio ambiente se acentuaram e a sociedade se
deparou com uma série de problemas globais, que ameaçavam a biosfera e a vida humana
(CAPRA, 2006).
Ainda segundo Capra (2006), os problemas relacionados ao meio ambiente são facetas
de uma única crise que é, em grande parte, de percepção da realidade, ou seja, há, por parte da
sociedade e, principalmente, das grandes instituições, uma visão obsoleta, uma percepção da
realidade inadequada para lidar com o mundo habitado pelos humanos, o que intensifica os
problemas ambientais. Pode-se dizer, ainda, que essa realidade é fruto da visão capitalista
que gera a necessidade de avanços industriais e de lucros a todo custo e antropocêntrica
que tem levado o homem a se colocar como o centro do universo, estabelecendo uma relação

10
de dominação com o meio ambiente. Para Milaré (2005), o antropocentrismo deve ser
compreendido como o pensamento ou a organização que torna o homem o centro do universo.
Ao redor desse homem gravitam todos os demais seres, que desenvolvem papel meramente
subalterno e condicionado.
Existe uma possibilidade de reverter esse quadro alarmante de dano ao meio ambiente,
intensificado tanto pelo antropocentrismo como pelo capitalismo (modo de produção em que
a riqueza e produção são baseadas no mercado), que está relacionada a uma mudança radical
nas percepções, nos pensamentos e valores, o que ainda não se verifica na sociedade atual
(CAPRA, 2006).
Nesse contexto de preocupação com o meio ambiente e de surgimento de normas
ambientalistas, destacam-se os estudos da Ecologia, entendida como o estudo das inter-
relações entre organismos e entre estes e seu meio ambiente, ou, ainda, a ciência das inter-
relações que ligam os organismos vivos ao seu ambiente (ODUM, 2004). O termo “Ecologia”
foi utilizado pela primeira vez em 1935, por A. G. Tansley, em sua obra Generelle
Morphologie der Organismen, para designar a relação estabelecida entre seres vivos e meio
ambiente. A partir de então se considera, na Ecologia, que os seres vivos e os fatores abióticos
estão inseparavelmente ligados e interagem entre si. Embora tratasse das questões das
relações entre organismos e meio ambiente, a Ecologia tradicional estava pautada em valores
antropocêntricos, visando alcançar, por meio de estudos das interações entre seres e ambiente,
o bem-estar humano, tendo sido considerada por alguns, como Arne Naess (1972), uma
Ecologia rasa ou superficial.
Assim, ciente das possíveis superficialidades em torno de um pensar e agir ecológicos
propostos pela Ecologia tradicional, Naess (1972) propôs a Ecologia Profunda que defende a
ideia de que o ser humano é apenas mais um integrante do macrocosmo, ou seja, não possui
uma posição superior aos demais seres na cadeia ecossistêmica, devendo estabelecer com eles
uma relação horizontal, ou seja igualitária e de irmandade, e não de dominação. Naess sugeriu,
assim, uma nova forma de estudos filosóficos, denominada “ecosofia”, em que predomina a
autorrealização dos seres, ou seja, o bem-estar de todos os seres, e não só dos humanos
(COUTO, 2012). A Ecosofia defende a ideia de que todos os seres têm igual importância no
funcionamento do ecossistema, devendo haver uma relação de harmonia e equilíbrio entre os
humanos e os outros seres.
A Ecologia Profunda sugere novos paradigmas os quais sugerem uma mudança de
pensamentos e percepções humanas em torno da relação estabelecida com o meio ambiente,
pautada em valores ecológicos, uma nova visão de mundo, uma visão holística. Trata-se de
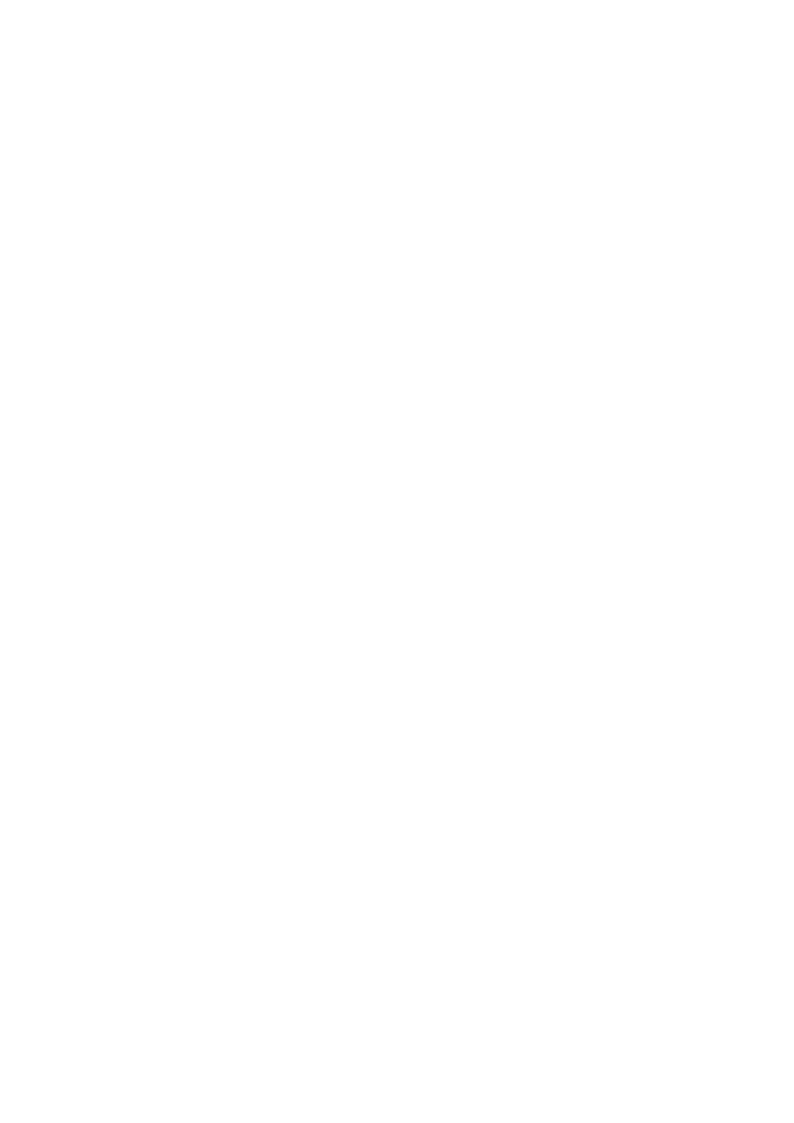
11
considerar o mundo como um todo integralizado, e não como a junção de partes dissociadas
(CAPRA, 2006). Nela o mundo deve ser visto "não como uma coleção de objetos isolados,
mas como uma rede de fenômenos que estão fundamentalmente interconectados e são
interdependentes” (CAPRA, 2006, p. 25). A ideia de holismo está voltada justamente ao fato
de que todos os seres vivem em interdependência e que a sobrevivência depende das relações
estabelecidas, pois, como metaforizado por Couto (2007, p. 30), “o sabor do açúcar não está
presente nos átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, que constituem seus
componentes, mas no todo”.
Além da Ecologia, a ciência do Direito, que para Reale (2001, p. 13), “é um fenômeno
histórico-social sempre sujeito a variações e intercorrências, fluxos e refluxos no espaço e no
tempo”, possui um papel relevante no processo de preservação ambiental, uma vez que, além
de ser a responsável pela normatização das relações sociais, também pode coibir a desordem e
o abuso causados ao meio ambiente (SPARENBERGUER; SILVA, 2005). É exatamente a
imposição de normas que possibilita ao Direito coibir o homem de praticar ações danosas ao
meio ambiente. Nos dizeres de Milaré (2015, p. 232), “entre as várias terapias ecológicas
sugeridas para a preservação e o tratamento da doença, ressalta-se o recurso ao Direito como
elemento essencial para coibir, com regras coercitivas, penalidades e imposições oficiais a
desordem e a prepotência dos poderosos”.
A partir dessa perspectiva, surgiu o desejo de pesquisar as normas do Direito
Ambiental Constitucional Brasileiro, comparando-o com os valores da Ecologia Profunda que,
como já sugerido, são apropriados pela ADE. Em outras palavras, o desejo de pesquisar surge
exatamente nesse ponto de encontro da necessidade de instauração de um novo paradigma
social, voltado para a preservação ambiental e o fato de essa instauração ser possível também
pelo exercício do Direito, considerando que por meio dele moldam-se os comportamentos
sociais ou, como afirma Reale (2001, p. 5), tendo em conta que ele é “o manto protetor de
organização e de direção dos comportamentos sociais” (REALE, 2001, p. 5). Nesse estudo,
essa aproximação será feita a partir de uma análise linguística e discursiva do corpus.
Assim, sabe-se que o Direito Ambiental Brasileiro tem o objetivo de normatizar a
relação que os seres humanos estabelecem com o meio ambiente, a fim de evitar que este seja
prejudicado. Como o seu foco está nessas relações estabelecidas entre homem e meio
ambiente, alguns questionamentos importantes emergem, como: as leis do Direito Ambiental
Brasileiro conseguem acompanhar e ordenar as novas necessidades sociais relacionadas ao
meio ambiente de forma eficiente, ou seja, de maneira a respeitar a vida e o bem-estar de
todos os seres? As leis do Direito Ambiental Brasileiro despertam uma consciência social de

12
preservação ambiental ou reforçam subrepticiamente as visões antropocêntricas e capitalistas
da sociedade? Que tipo de relação – dominação, subordinação ou igualdade – entre homem e
meio ambiente é propiciada pelos enunciados das leis do Direito Ambiental? Esses
enunciados permitem inserir o Direito Ambiental em uma vertente de estudos baseada em
valores de uma ecosofia, tal como sugere a Ecologia Profunda, e de uma ecoética, como
sugere a ADE? Para responder os questionamentos supramencionados propõe-se uma
pesquisa que, baseada na forma como as leis são escritas (análise linguística) e nos sentidos
que emergem do corpus (análise discursiva), trate dos enunciados do Direito Ambiental.
Ao verificar o estado da arte não foram constados muitos estudos da perspectiva aqui
defendida. O mais próximo foi o artigo “A relação homem, meio ambiente, desenvolvimento
e o papel do Direito Ambiental” (SPARAMBERGUER; SILVA, 2005)1, que, embora analise
as questões entre homem, meio ambiente e Direito, não parte de uma análise linguística das
leis, e sim de uma base sociológica de análise, abrangendo aspectos éticos e jurídicos. Além
dele, outros trabalhos com essa temática são “Entendendo o conceito de sustentabilidade nas
organizações” (AMANCIO; CLARO, 2008), que estuda o conceito de sustentabilidade e
como ele é tratado pelas empresas, a partir também de um viés sociológico; e a dissertação
“Direito ambiental e constituição: a educação ambiental como parâmetro para a implantação
do desenvolvimento sustentável” (PEREIRA, 2006), que parte de uma vertente jurídica,
abordando o conceito e a importância da educação ambiental como forma de preservar o meio
ambiente.
Considerando a escassez de estudos pelo viés aqui sugerido, propomos um estudo
discursivo ecológico cujo corpus é constituído por textos jurídicos que compõem o Direito
Ambiental. Essa vertente do Direito é composta por uma grande quantidade de leis esparsas, e,
pelo tempo destinado à pesquisa, não seria possível analisar todas. Além disso, atualmente há
uma forte tendência, no Direito brasileiro, em tornar as decisões dos tribunais, os valores
normativos dos princípios e a ética mais relevantes do que as leis propriamente ditas na
solução dos conflitos, tal como propõem algumas correntes filosóficas contemporâneas. Por
vezes, decisões, valores e ética são aplicados aos casos concretos em detrimento das leis
positivadas, mas analisá-los exigiria um tempo maior do que o existente para este estudo.
Assim, este corpus está limitado às leis e aos princípios do Direito Ambiental brasileiro, tendo
sido feito um recorte nas leis e escolhido, para compor o corpus da análise, o artigo 225 da
CF/88, específico sobre o meio ambiente, bem como suas leis complementares, além de
1 Publicado em 2005, na revista Veredas do Direito, p. 81 a 99.

13
princípios do Direito Ambiental importantes para a compreensão dos dispositivos legais
escolhidos.
A escolha do artigo constitucional 225 é embasada na importância e na supremacia da
norma constitucional sobre as demais normas e por essa razão surge o interesse de
compreender o Direito Ambiental Brasileiro por meio de uma análise do Direito
Constitucional Ambiental brasileiro. Para Milaré (2015, p. 171), cabe “à constituição, como
lei fundamental, traçar o conteúdo, os rumos e os limites da ordem jurídica”, portanto, a
compreensão do Direito Ambiental depende da compreensão de sua base normativa
constitucional, que é exatamente o artigo 225. Além disso, esse artigo é “tido como o mais
avançado do planeta em matéria ambiental” (MILARÉ, 2015, p. 161), o que também justifica
a sua escolha como corpus da pesquisa.
A Constituição da República Federativa Brasileira é classificada, pela doutrina, como
“analítica”, ou seja, aborda todos os assuntos que os representantes do povo entenderem como
fundamentais, estabelecendo regras que deveriam estar em leis infraconstitucionais (LENZA,
2012). Assim, a Carta Magna brasileira normatiza os mais variados temas, mas de forma geral
ou ampla, e, por vezes, é necessário criar leis que os complementem. A compreensão jurídica
desse dispositivo da Constituição Federal depende de um estudo intertextual, por haver nele
lacunas ou omissão de algumas regras ou, ainda, por não estar normatizado um tema de
forma minuciosa , que só podem ser sanadas com o auxílio de outras leis. Sua interpretação
requer a análise das duas leis que o complementam, e, por isso, também recorremos às leis
complementares nº 9.985/2000 e nº 11.105/2005, que normatizam temas específicos ou
restritos mencionados na Constituição. Os conceitos jurídicos possuem significação própria, e
isso faz com que seja necessário recorrer a algumas fontes, como doutrinas e princípios, para
compreender os sentidos que emergem de seus textos. Fazem parte dessa investigação
conceitos doutrinários e princípios jurídicos que auxiliam na interpretação das normas
constitucionais do Direito Ambiental. Além disso, surgiu uma corrente filosófica, intitulada
pós-positivista, que, a partir da proposta de aproximação entre direito natural e direito positivo,
defende a ideia de que atualmente os princípios jurídicos possuem supremacia sobre as leis
positivistas, e, portanto, torna-se imprescindível uma análise dos princípios jurídicos do
Direito Ambiental.
O objetivo geral desta pesquisa é averiguar as consonâncias e dissonâncias entre o
Direito Ambiental Brasileiro e os valores da Ecologia Profunda, incluída no arcabouço teórico
da Análise do Discurso Ecológica. Para atingir a esse objetivo geral, propõem-se como
objetivos específicos:

14
o Analisar semântico-jurídicamente o corpus. Na linguagem jurídica, cada termo é
empregado com um significado específico, portanto, essa etapa de análise parte da
compreensão dos significados jurídicos das leis, o que será feito com o auxílio de
dicionários e doutrinas jurídicas, bem como das próprias leis, à medida que a análise
solicitar.
o Saindo desse nível de análise, partimos dos conceitos ecológicos, subscritos pela ADE, de
interação, adaptação, holismo, evolução, porosidade, evolução e outros, para apontar que
tipo de relação homem/meio ambiente é sugerida pelos enunciados da lei.
o Realiza-se uma comparação entre os princípios da Ecologia Profunda, da ADE e os
sentidos que emergem dos enunciados do corpus, com o intuito de verificar as
consonâncias e dissonâncias entre eles.
o Mostrar se o Direito Ambiental brasileiro, em especial o Direito Ambiental Constitucional
brasileiro, é ou não suficientemente ecológico para os padrões da EP e da ADE.
o A partir da conclusão das etapas anteriores, faz-se um levantamento de quais ideologias
são predominantes, bem como sob quais conceitos éticos são produzidos os enunciados das
leis.
Ancoramos nosso trabalho no referencial teórico da Ecolinguística, que estuda as
relações entre língua e meio ambiente físico, mental e social (COUTO, 2007), e, mais
precisamente, na vertente da Análise do Discurso Ecológica (ADE), disciplina que analisa os
enunciados de forma crítica e ecológica, por meio de uma ideologia de vida e de valores
ecológicos, defendendo a autorrealização dos seres. Trata-se de uma teoria que estuda a
Língua e os sentidos que dela emergem. Os estudos da Análise do Discurso Ecológica são
baseados em uma visão ecológica que permite olhar o mundo (COUTO, 2014), holísticamente,
em que todos os seres sejam respeitados por apresentarem valores em si mesmos. Além disso,
busca, a partir da compreensão da língua, restaurar o homem em sua complexidade
ecossistêmica, além de propor maneiras de tornar o mundo um lugar melhor, como sugerido
pela Análise do Discurso Positiva (VIAN JR. 2010).
A ADE tem uma visão de mundo diferente da capitalista, que é antropocêntrica,
buscando um equilíbrio ecossistêmico, respeitando e tolerando o outro, enfim a diversidade.
Outra peculiaridade dessa disciplina é não se limitar apenas ao contexto social. Ela leva em
consideração também o natural e o mental, a fim de compreender os sentidos e as relações
estabelecidas entre homem e homem e entre homem e natureza.

15
Esta pesquisa está dividida em introdução, quatro capítulos, considerações finais e
referências. No primeiro, são feitas considerações iniciais acerca da Ciência do Direito,
apresentando seus diversos significados, o percurso histórico de sua constituição e seus
aspectos basilares. Tais considerações são essenciais à compreensão de como o Direito evolui
a partir das mudanças sociais, de como o homem tem se relacionado com o meio ambiente e
de como essas relações homem/meio ambiente são alteradas no decorrer da história. São
estudadas, ainda, as duas vertentes filosóficas clássicas do Direito: Natural e Positiva, e uma
vertente moderna, intitulada “pós-positivista”, que, a partir de uma visão crítica e social do
Direito, propõe a união das outras correntes mencionadas, dentre outras inovações teóricas.
Tais correntes filosóficas auxiliam na compreensão de como a Ciência do Direito acompanha
as relações sociais humanas e que tipo de relação o homem estabelece com a natureza. Por
fim, demonstra-se como o Direito Ambiental brasileiro se consolidou, permitindo o
entendimento das condições de produção dos enunciados estudados e de quais princípios são
importantes à interpretação das normas.
No capítulo 2, apresenta-se a fundamentação teórica utilizada, a Ecolinguística, mais
precisamente a Análise do Discurso Ecológica. Este capítulo inclui também uma breve
discussão das fontes de suas bases epistemológicas, ou seja, Linguística Ecossistêmica,
Ecologia Profunda, Análise do Discurso Positiva e Ecologia Social.
No capitulo 3 são apresentadas algumas considerações sobre a metodologia empregada,
que também é algo peculiar da ADE.
O capítulo 4 traz a análise do corpus. Busca-se compreender os sentidos que emergem
dos textos analisados e as consonâncias e dissonâncias entre eles e a Ecologia Profunda. O
tipo de relação entre homem e meio ambiente que é sugerida nos enunciados de lei, e se, a
partir dos enunciados das leis, e com base na ADE pode-se dizer que o Direito tem evoluído
na mesma proporção dos anseios sociais sobre a preservação ambiental. Por fim, analisam-se
as questões éticas das leis do Direito Ambiental, propondo-se algumas recomendações,
embasadas em uma ecoética e ecosofia, capazes de auxiliar na criação e na melhoria das
formas jurídicas de tutelar o meio ambiente.
Nas considerações finais, são retomadas as principais ideias apresentadas no decorrer
de pesquisa, os resultados obtidos pela análise e as recomendações feitas pela ADE. Todo
esse longo percurso, passa agora a ser exposto.

16
1 ORIGEM DO DIREITO E EMERGÊNCIA DO DIREITO AMBIENTAL
BRASILEIRO
Estudar a ciência do Direito não é tarefa fácil, principalmente considerando ser ela um
dos fenômenos mais notáveis da vida humana e conhecê-la significa compreender parte de
nós mesmos (FERRAZ JUNIOR, 2003). Além disso, essa ciência possui um caráter social e
histórico e se atualiza na medida em que as relações sociais mudam. Para assegurar a ordem
social, ela cria normas que regem, direcionam e, por vezes, limitam o comportamento humano.
O Direito possui um caráter prescritivo, intervindo na sociedade em prol do bem-estar
humano. Essa característica é similar aos valores pregados pela Ecologia Profunda, que
também propõe formas de comportamentos a serem seguidos para garantir o bem-estar de
todos os seres. No âmbito jurídico, a criação das leis jurídicas tem como intuito criar medidas
que propiciem o bem-estar da coletividade humana, em que direitos e deveres sejam
resguardados, respeitando-se o espaço do outro, evitando, quando possível, a instauração de
conflitos, e buscando solucioná-los, caso ocorram. No âmbito da Ecologia e, em especial, da
Ecologia Profunda, a sugestão de comportamentos tem como intuito assegurar o bem-estar do
todo ecossistêmico, já que tem como foco tratar do meio ambiente de forma geral.
A história do Direito permite compreender o contexto de instauração das leis e como
acontece a intervenção estatal na sociedade. Uma das mudanças ocorridas nas últimas décadas
e que necessitou dessa intervenção foi a relação estabelecida entre o homem e a natureza, que,
assim como ocorre em outras esferas, está relacionada e imbricada às visões de mundo
predominantes. Para Milaré (2005, p. 36),
as formas de relacionamento da espécie humana com o mundo natural são ditadas
pelas diferentes cosmovisões ou modos de enxergar o mundo que nos cerca. As
cosmovisões, por seu turno, são inspiradas pelas diversas culturas que se sucedem
com o fluir do tempo, e em vários espaços do globo, ou seja, ao longo da História.
[...] Por aí se pode ver que nos distintos contextos históricos as relações do Homem
com a Natureza são também muito diferentes, além de serem permanentemente
complexas.
Por muito tempo, o homem, subordinado às visões antropocêntricas e capitalistas de
mundo, considerava-se “dono” do meio ambiente, utilizando de forma exagerada os recursos
naturais, o que culminou em diversos problemas ambientais, como esgotamento de recursos,
extinção de espécies, aumento da temperatura, desequilíbrio do ciclo da água, dentre outros.
Entretanto, a percepção de que esses recursos são esgotáveis, junto à ameaça de um
desequilíbrio maior no ecossistema, fez surgir a necessidade de intervenção jurídica na

17
relação estabelecida entre o homem e o meio ambiente. Assim, surgiram as primeiras medidas
jurídicas sobre as questões ambientais, culminando, na década de 1970, no surgimento do
Direito Ambiental brasileiro. A complexidade do tema se dá devido ao fato de a preocupação
não ser apenas com o homem, e sim com todos os seres do ecossistema, razão pela qual se
torna necessária a criação de estudos que demonstrem quais os pontos de encontro entre a
ciência do Direito e a Ecologia.
Esse cenário é exposto neste primeiro capítulo, que, em primeiro lugar, demonstra
como se deram as mudanças ocorridas no Direito, a partir das evoluções das relações e visões
sociais humanas, e como ele atuava para assegurar o bem-estar do todo. Posteriormente, se
demonstram as correntes filosóficas tradicionais do Direito Natural e Positivo e a mais
contemporânea intitulada Pós-positivista. Além das correntes filosóficas, se apresenta como
a ética jurídica se constituiu no decorrer do tempo e quais visões de mundo são predominantes
no ordenamento jurídico brasileiro. Por fim, se historiciza a constituição do Direito Ambiental
brasileiro.
1.1 PERCURSO HISTÓRICO E CONCEITUAÇÃO DO DIREITO
Ao estudar a ciência do Direito é necessário examinar, primeiramente, sua definição,
considerando que à ciência do Direito são dadas várias acepções, isso porque “o Direito se
apresenta sob múltiplas formas, em função de múltiplos campos de interesse, o que se reflete
em distintas e renovadas estruturas normativas” (REALE, 2001, p. 2).
Para Montoro (2015), pode-se falar em dois tipos de definição: nominal, que consiste
em dizer o que é uma palavra, delimitando seu significado; e real, que consiste em dizer o que
uma coisa ou uma realidade é em meio ao seu contexto. No campo da origem, há dois
conjuntos de termos para exprimir a ideia de direito. O vocábulo “direito” tem suas raízes no
baixo latim directum ou rectum, que significa direito ou reto. Ademais, há outro termo,
representado por jurídico, jurisconsulto, judiciário, sendo a sua origem também latina, “jus”,
que pode representar a ideia de direito, de justiça e, até mesmo, de uma ordem (MONTORO,
2015).
Além das significações etimológicas do termo “direito”, partindo-se de uma análise
social do termo, pode representar norma, faculdade, justiça, ciência e fato social (MONTORO,
2015). Como norma, é “o conjunto de preceitos ou regras, a cuja observância podemos

18
obrigar o homem por uma coerção exterior ou física”2. Nessa acepção do termo se encontram
as bases para a compreensão do conceito de Direito Natural e de Direito Positivo, os quais
serão minuciosamente explicados posteriormente, no tópico subsequente.
Segundo Reale (2001, p. 1),
aos olhos do homem comum o Direito é lei e ordem, isto é, um conjunto de regras
obrigatórias que garante a convivência social graças ao estabelecimento de limites à
ação de cada um de seus membros. Assim sendo, quem age de conformidade com
essas regras comporta-se direito; quem não o faz, age torto.
Como faculdade, é uma forma de poder de uma pessoa a determinado objeto. Pode ser
conceituado, também, como o poder moral de fazer, exigir ou possuir alguma coisa (MEYER,
1937, apud MONTORO, 2015).
Quando o Direito está relacionado à justiça propriamente dita, assume uma posição
diferente das anteriores e se desdobra em duas vertentes: ele pode ser algo que deve estar em
conformidade com a justiça, como, por exemplo, na frase “não é direito condenar um anormal,
ou seja, aquele considerado insano; e ainda a posição de designar um bem devido, por
exemplo, o salário é direito do trabalhador” (MONTORO, 2015). Assim, entendido como
forma de justiça, o direito é aquilo que pertence ou é devido a outrem segundo uma igualdade,
considerando que, para o Direito, a igualdade é alcançada tratando desigualmente os desiguais,
na medida de suas desigualdades.
Por uma ótica de direito como ciência, é muitas vezes utilizado para designar a
“ciência do direito” (MONTORO, 2015) propriamente dita, como, por exemplo, a utilização
da expressão “formar-se em Direito”. Por meio dessa concepção, o Direito é compreendido
como um curso universitário, uma ciência em desenvolvimento.
Em relação ao fato social, é considerado um setor da vida social que deve ser estudado
sociologicamente. Para Reale (2001), o direito é um fato ou fenômeno social; não existe senão
na sociedade e não pode ser concebido fora dela. Uma das características da realidade jurídica
é a sua sociabilidade, a sua qualidade de ser social. Essa visão característica do Direito
Positivo. Para Reale (2001, p. 133),
o Direito é um processo de ordem costumeira. Não se pode nem mesmo dizer que
haja um processo jurídico costumeiro, porquanto as regras jurídicas se formam
anonimamente no todo social, em confusão com outras regras não jurídicas. Os
costumes primitivos são como que uma nebulosa da qual se desprenderam,
paulatinamente, as regras jurídicas, discriminadas e distintas das regras morais,
higiênicas, religiosas e assim por diante.
2 AUBRY, C.; RAU, C. Cours de droit Civil francais. Paris, 1936, §1º.Citado por Montoro, 2015.

19
Entretanto, antes do nascimento de leis materiais jurídicas, havia um direito oriundo
dos costumes da sociedade, que conduziam ou organizavam as relações sociais. Esse direito,
dito costumeiro, é o mais antigo e longo da sociedade, tendo milhares de anos, desde a fase
em que a sociedade não conseguia fazer distinção de vida religiosa, jurídica (REALE, 2001).
Esse direito costumeiro primitivo é um direito independente e não são conhecidas suas
motivações. Ele é um direito anônimo por excelência, um direito sem paternidade, que vai se
consolidando em virtude das forças da imitação, do hábito ou de “comportamentos
exemplares” (REALE, 2001, p. 134). Nas cavernas habitadas pelo homem primitivo, foram
encontrados desenhos que retratam as divisões de tarefas e, portanto, nota-se que já naquele
tempo havia regras a serem seguidas. Posteriormente, embora não seja relatado na história o
momento ou as razões especificas, quando as civilizações já estavam mais bem organizadas
em sociedade, surgiram os primeiros órgãos de jurisdição, encarregados de conhecer e
declarar o direito. Em cada caso concreto, os indivíduos, pertencentes a esses órgãos, eram
denominados jurisconsultos e declaravam o que era o direito de cada um.
Nesse período de surgimento dos órgãos de jurisdição, teve destaque o Direito
Romano, até hoje inspiração do exercício e aplicação de Direito de diversos povos, como por
exemplo, povo brasileiro. Nele, o direito costumeiro foi aos poucos dando espaço ao exercício
de outra forma de direito, o direito jurisprudencial, pois, para o povo romano, o Direito não
deveria ser doutrinário e sim vivido, ou seja, criado a partir das experiências e não de uma
teoria imposta. Em cada caso concreto, ou seja, em cada conflito específico entre as partes, os
jurisconsultos diziam o que é o direito. Para Reale (2001, p. 137):
A grandeza de Roma não consistiu em doutrinar o Direito, mas em vivê-lo. Não
existe uma teoria jurídica romana, na qual se procure, de maneira clara e intencional,
distinguir o jurídico do não-jurídico. Existiu, entretanto, uma experiência jurídica
bem clara e bem consciente de sua especificidade. Quando surgia uma demanda, os
juízes julgavam segundo a ratio juris e não segundo critérios morais.
Até essa época, o exercício do Direito, fosse ele costumeiro ou jurisprudencial, estava
fortemente ligado à religião. Muitas vezes, o quesito sanguíneo era esquecido e a constituição
da família se dava essencialmente pelas práticas religiosas, como por exemplo, era o caso da
mulher em Roma, a quem era dado o direito de fazer parte da família do marido (REALE,
2001).
O contato dos romanos com outros povos permitiu que diferentes costumes fossem
compartilhados e, aos poucos, o direito romano passou a ser exercido pelos romanos e

20
estrangeiros, surgindo o chamado Direito das gentes, o qual, mais tarde, por influência grega,
foi alargado ainda mais, numa noção de valor universal que é a de jus naturale ou direito
natural (REALE, 2001).
A invasão dos bárbaros fez com que a civilização romana se desintegrasse e novos
usos e costumes culturais invadiram a nação europeia: era a influência dos costumes
germânicos. Surgia, então, o Direito medieval, preconizado pela junção de elementos
germânicos e românicos, gerenciados especialmente por questões éticas do cristianismo, que
atingia o ápice de sua disseminação entre os povos, pois, nesse período, houve um
crescimento e expansão do cristianismo pela aproximação do clero ao governo, o que
culminou em uma forte influência religiosa sobre o Estado. Essa influência do Cristianismo
nas esferas sociais reforçou a instauração de uma visão antropocêntrica, exemplificada no
segundo capítulo do livro de Gênesis, que determina: “crescei, multiplicai-vos e enchei a terra,
subjugai e dominai”. Com o passar do tempo, esse foi se tornando um axioma do
relacionamento homem-natureza, transformando-se na base do comportamento despótico do
ser humano sobre os demais seres e de sua prepotência na busca por se sobrepor ao todo
(MILARÉ, 2005).
Nesse contexto o homem, além de navegar pelos mares para descobrir novos
continentes, também buscava criar formas de dominar a natureza, como, por exemplo,
navegando e explorando territórios até então desconhecidos. Não se contentando em
permanecer apenas naquele território em que habitava, buscava outras regiões, o que
propiciou o surgimento de diversas nações modernas, como a portuguesa, a espanhola, etc.
Devido a essas inovações, e com o crescimento da indústria, o aumento do contato entre
diferentes povos e o aumento dos conflitos e a consequente mudança de relação estabelecida
entre homem-homem e homem-natureza, tornou-se necessária a criação de normas escritas
que evidenciassem quais condutas deveriam ser praticadas. A intensificação do capitalismo
fez aumentar a possibilidade de desordem nas relações sociais Por essa razão, os direitos
costumeiro e jurisprudencial já não eram suficientes para regê-las, e, por isso, a criação de leis
tornou-se indispensável. Nascia, assim, o Direito Positivo.
As primeiras leis foram denominadas ordenações por se tratarem de ordens do rei, e o
século XVIII foi considerado um marco tanto na história do Direito como na vida política e
econômica, devido ao desenvolvimento de estudos feitos pelos enciclopedistas e pensadores,
possibilitando uma base puramente racional da ciência jurídica.
Foi exatamente nessa época que os primeiros códigos jurídicos surgiram, sendo o
principal deles o Código de Napoleão, que, trazendo prescrições para a conduta humana,

21
objetivava pôr ordem nas relações sociais. Esse código preconizou a lei positivada em
detrimento as leis do Direito natural e costumeiro. A Revolução Francesa, por sua vez, refletiu
na esfera do Direito, principalmente na criação de um Direito nacional, isso porque até então
ele resolvia apenas conflitos locais, ou seja, até então, não havia um código único e a lei era
aplicada a regiões menores. Para Reale (2001, p. 242):
Com a Revolução Francesa, por conseguinte, surge uma realidade histórica de cuja
importância muitas vezes nos olvidamos: o Direito nacional, um Direito único para
cada Nação, Direito este perante o qual todos são iguais. O princípio da igualdade
perante a lei pressupõe um outro: o da existência de um único Direito para todos que
habitam num mesmo território
A instauração de um código nacional fez com que as leis se estendessem a todo o
território nacional. As decisões específicas impostas a cada conflito específico deram lugar à
criação de leis anteriores, abstratas, que deveriam ser aplicadas aos posteriores litígios.
A história do Direito brasileiro segue as raízes das tradições românicas. Atualmente,
há uma supremacia do processo legislativo, não se fundamentando apenas nos costumes para
se constituir, ao contrário, criam-se as leis de maneira abstrata e as aplicam ao caso concreto
quando e se necessário.
Como é possível perceber, na história da ciência jurídica houve mudanças relacionadas
à sua constituição e às suas fontes. As correntes filosóficas tradicionais que demonstram como
o Direito era aplicado são intituladas de Direito Natural e Direito Positivo. Além delas, surge,
na contemporaneidade, uma nova corrente, intitulada Pós-positivista, como passa a ser
exposto.
1.2 AS CORRENTES FILOSÓFICAS DA CIÊNCIA DO DIREITO
A história do Direito e suas principais vertentes filosóficas seguem três momentos
históricos distintos, que se relacionam com o Direito Natural, com o Direito Positivo e com o
Pós-positivismo e suas vertentes, que representam, respectivamente, o Estado pré-moderno de
fontes de direito diversas (como leis e costumes), o Estado legislativo, marcado pelo
positivismo jurídico, em que havia uma supremacia das leis sobre as demais fontes do direito,
e, por fim, o Estado constitucional, fundamentado pela hegemonia da constituição como
norma jurídica fundamental, irradiante e aplicável a todo o sistema jurídico (BARROSO,
2005). Tais correntes filosóficas possuem suas peculiaridades e são indispensáveis à
compreensão da pesquisa, considerando-se a importância tanto das normas escritas propostas

22
pelo Direito Positivo como os valores humanitários do Direito Natural e a imbricação de
ambos, como propõe a teoria pós-positivista para compreender a escolha do corpus e as bases
filosóficas de constituição de um Direito Ambiental brasileiro.
1.2.1 O Direito Natural
O Direito Natural possui também passou por mudanças de concepções ao longo do
tempo, sendo possível afirmar que ele possui três principais vertentes: cosmológica, teológica
e antropológica (TEIXEIRA, 1990).
A visão cosmológica do Direito Natural entende que as leis são oriundas da natureza
humana em si mesma, relacionando-se à ordem cósmica. Desse modo,
o Direito Natural clássico dos gregos compreende uma concepção essencialista ou
substancialista do Direito Natural: a natureza contém em si a sua própria lei, fonte
da ordem, em que se processam os movimentos dos corpos, ou em que se articulam
os seus elementos constitutivos essenciais. A ordem da natureza é permanente,
constante e imutável. Trata-se da concepção cosmológica da natureza, que marcou o
pensamento grego pré-socrático, destacando-se três pensadores - Anaximandro,
Parmênides e Heráclito. (TEIXEIRA, 1990, p. 126).
Para a visão teológica, as regras são criadas por um ser superior e devem ser
respeitadas universalmente. De acordo com os adeptos a essa vertente, a influência do
cristianismo fez com que as leis de Deus fossem consideradas superiores às demais, devendo
ser seguidas por todos os indivíduos antes deles seguirem quaisquer leis humanas. Para alguns
juristas, os preceitos jusnaturalistas se baseiam na própria razão humana, conceituada como
aquilo que move as ações humanas. Essa é a visão antropológica do Direito Natural,
considerada a sua última fase, em que as leis naturais se relacionavam com atos de vontade e
razão humana.
A ideia de um Direito natural, embora muito antiga foi mais bem explorada pelo
pensamento grego. Para Reale (2001, p. 292):
A idéia de Direito Natural brilha de maneira extraordinária no pensamento de
Sócrates para passar pelo cadinho do pensamento platônico e adquirir plenitude
sistemática no pensamento de Aristóteles, ordenando-se segundo estruturas lógicas
ajustadas ao real. Seu conceito de lei natural, como expressão da natureza das
coisas, não se esfuma em fórmulas vazias, mas tem a força de uma forma lógica
adequada às constantes da vida prática.
Quem primeiro levantou a possibilidade desse direito foi Sófocles, na tragédia
Antígona, quando a irmã de Polinices, chamada Antígona desrespeita a ordem recebida e

23
sepulta seu irmão, alegando que, acima das normas escritas, ela deveria cumprir, naquele caso,
normas não escritas e que não são nem de hoje nem de ontem. Assim se pronuncia a
personagem:
Não foi, com certeza, Zeus que as proclamou (as leis positivas), nem a Justiça com
trono entre os deuses dos mortos as estabeleceu para os homens. Nem eu supunha
que tuas ordens tivessem o poder de superar as leis não-escritas, perenes, dos deuses,
visto que és mortal. Pois elas não são de ontem nem de hoje, mas são sempre vivas,
nem se sabe quando surgiram. Por isso, não pretendo, por temor às decisões de
algum homem, expor-me à sentença divina. (SÓFOCLES, 1996, p. 35-36).
Nesse contexto, o Direito Natural, para os gregos, fundava-se em preceitos superiores,
que eram imutáveis. A autoridade era exercida por uma natureza do Cosmos ou por algo
superior, e não pela vontade humana. Já em Roma, o Direito Natural foi principalmente
discutido por Miguel Cícero, que desenvolveu a ideia de que havia uma lei eterna, acima de
qualquer lei humana, que, ao transcender tempo e espaço (BITTAR, 2005), é de aplicação
universal e igualitária a todos os seres humanos. Ele ainda afirmava que a epistemologia do
Direito, como ciência, só poderia ser alcançada pelo estudo da natureza do próprio homem.
Segundo Bittar (2005), Cícero defendia que, na natureza, há uma certeza de justiça e uma
prevalência da justiça e que a lei natural é anterior ao homem e tem de servir-lhe como guia
na construção das estruturas de organização social, considerando que o viver social é uma
necessidade humana. De forma similar, as bases epistemológicas da Análise do Discurso
Ecológica defendem a ideia de que, para haver uma compreensão dos fenômenos sociais, é
necessário compreender antes a natureza humana e não humana. Para essa disciplina, pela
compreensão holística do homem e de suas relações ecossistêmicas é possível compreender os
fenômenos sociais.
Cícero acreditava, ainda, que o Direito deveria ser visto como um instrumento de
organização humana, devendo pautar-se nos mandamentos da natureza. E mais, para ele, o
Direito nasce de um fator natural para a organização justa e reta dos homens em sociedade
(BITTAR, 2005). O homem, como único ser dotado de razão, foi criado pela Natureza e dela
recebeu as leis naturais, que estão acima de qualquer lei material escrita. Para esse filósofo,
portanto, a lei natural é um “presente dos deuses” para a organização social humana. Ele trata
o Direito natural como leis verdadeiras de ordem racional, as quais servem de base às leis
positivas.
No período medieval, o conceito de Direito Natural também sofreu influências do
cristianismo. Até então, acreditava-se que as fontes das leis eram oriundas da natureza
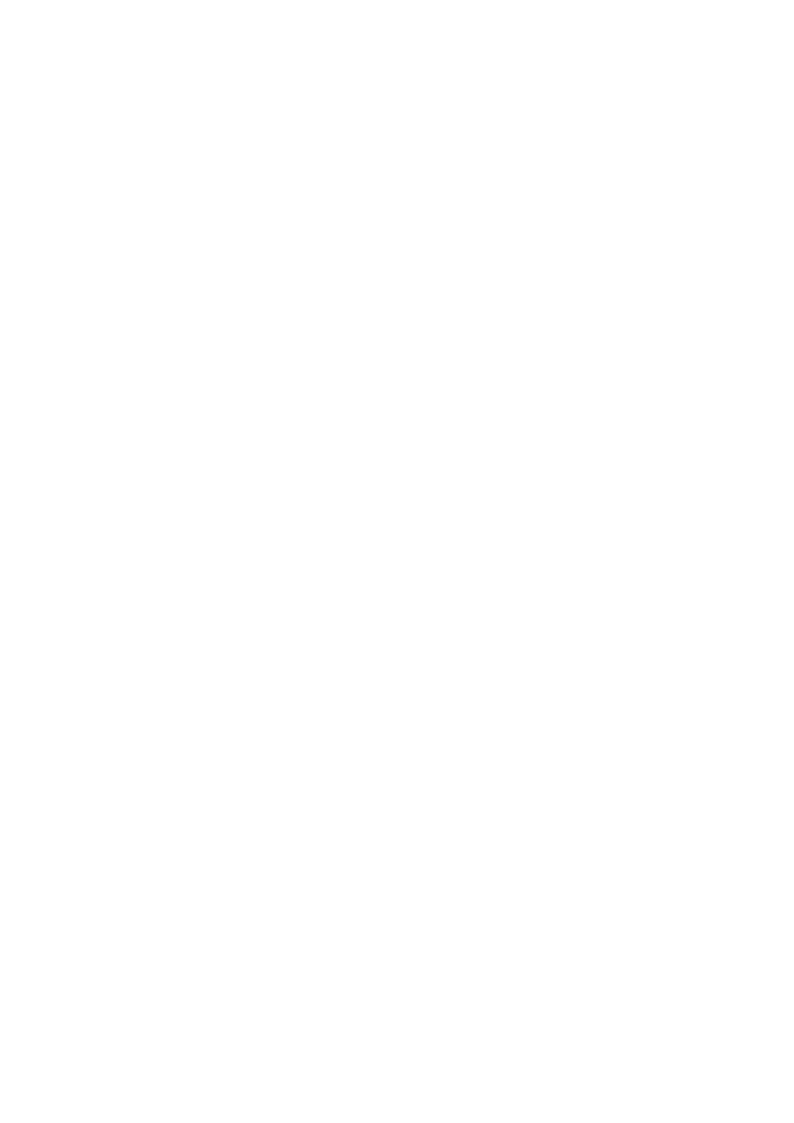
24
humana, entretanto, o cristianismo fez com que as leis naturais fossem vistas como a vontade
de Deus e as regras prescritas na Bíblia fossem concebidas como superiores à razão e à
vontade humanas. Um dos pensadores dessa época que trouxe grandes contribuições sobre o
direito natural foi São Tomas de Aquino, cujas ideias são até hoje utilizadas por aqueles que
dele tratam, além de terem constituído uma nova visão do Direito Natural.
Para São Tomas de Aquino, há uma natureza humana, criada por Deus, e por isso o
Direito Natural deve obedecer a dois princípios: o divino, por que nele estão contidas as leis
eternas criadas por Deus; e o humano, considerando que esse Direito está totalmente ligado à
criatura humana.
Dessa forma, por ser o Direito uma ciência que rege as relações humanas na busca
pela justiça, não há que se falar em um Direito Divino, mas em um direito humano, natural,
influenciado pela vontade do Criador. A visão tomasiana é sintetizada por Moura (2004), que
considera a lei natural, proveniente da disposição divina, eterna. É uma lei soberana, que está
relacionada ao absoluto poder de Deus, e o homem não pode modificá-la, anulá-la, nem
desconhecê-la. Quem promulga essa lei é o próprio Deus e ela é válida para todos os homens
ao tornar-se por ele conhecida. Além de soberano, é um direito imutável.
São Tomás de Aquino trata o Direito Natural como a existência de uma fonte divina,
de um sujeito humano e de uma formalidade racional. Ele define a lei natural como “o
conhecimento naturalmente dado ao homem, pelo qual ele é dirigido para convenientemente
operar nas ações que lhe são próprias” (IV, Sent. 33,1).
Miguel Reale, por sua vez, apresenta duas maneiras de se conceber o Direito Natural:
a transcendente e a transcendental. Os adeptos da corrente transcendente postulam que havia
um Direito maior, acima das leis positivadas, que deveria ser seguido universalmente, e as leis
positivas, aquelas criadas pelos homens, deveriam ser subordinadas às leis naturais. A teoria
de São Tomas de Aquino exemplifica bem essa corrente de pensamento. De acordo com
Reale (2001, p. 293):
O Direito Natural, acorde com a doutrina de Santo Tomás de Aquino, repete, no
plano da experiência social, a mesma exigência de ordem racional que Deus
estabelece no universo, o qual não é um caos, mas um cosmos. À luz dessa
concepção, a lei positiva, estabelecido pela autoridade humana competente, deve se
subordinar à lei natural, que independe do legislador terreno e se impõe a ele como
um conjunto de imperativos éticos indeclináveis, dos quais se inferem outros
ajustáveis às múltiplas circunstâncias sociais. Desse modo, haveria duas ordens de
leis, uma dotada de validade em si e por si (a do Direito Natural) e outra de validade
subordinada e contingente (a do Direito Positivo).
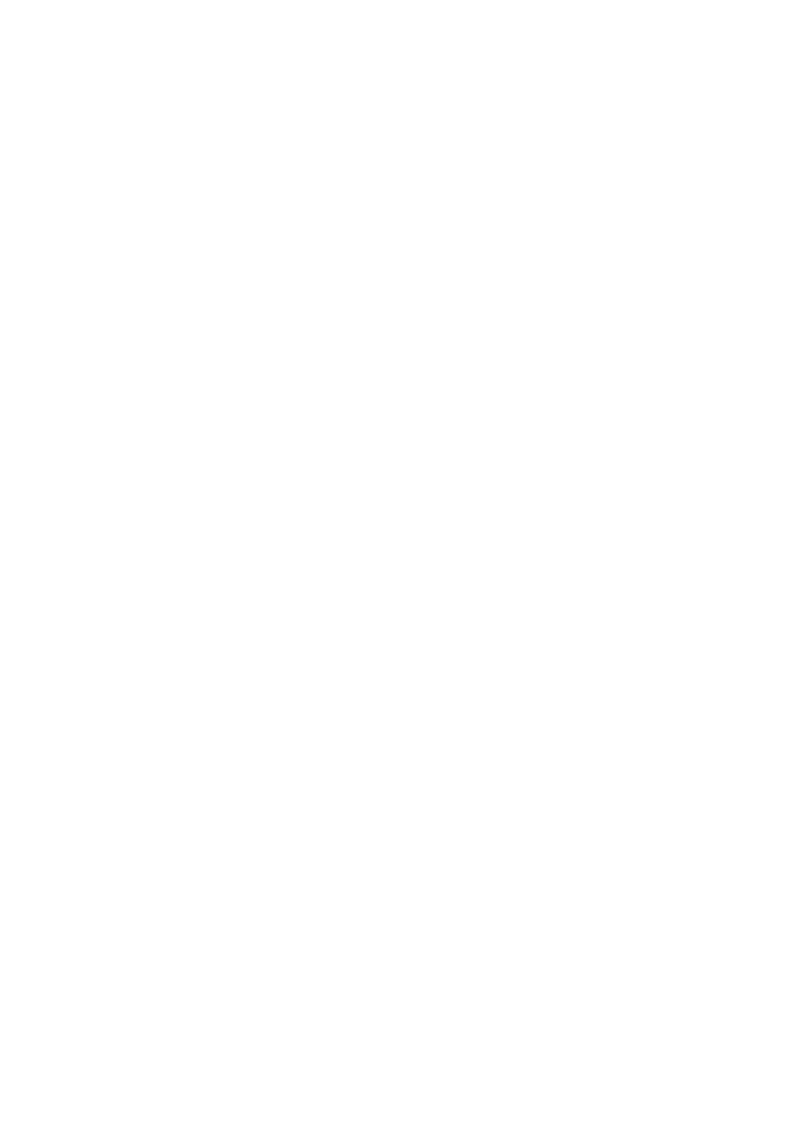
25
Já para aqueles adeptos à maneira transcendental de conceber o Direto Natural, este é
admitido como uma experiência histórica e por isso as questões de ordem sobrenaturais e
divinas são esquecidas, dando lugar aos fatos históricos e à experiência humana como bases
do Direito Natural. Essa é a visão dos filósofos Immanuel Kant e Giorgio Del Vecchio.
Na visão kantiana, as leis positivas, ou escritas, devem seguir uma lei natural maior,
criada a partir da experiência e da liberdade do indivíduo, ou seja, para esse autor, o
conhecimento só é possível a partir do momento em que interage com a experiência humana
(BITTAR, 2005). É a partir dessa lei maior, oriunda da experiência, que o Estado deve
intervir nas relações sociais e criar as leis positivas. O Direito Natural, nessa visão, é o
conjunto de normas que obrigam o sujeito a praticar determinadas ações ou omissões sem que
haja coerção estatal. Já Del Vecchio (1979) analisa, em primeiro lugar, a natureza humana e
afirma que ela é um complexo absoluto no qual ocorrem todas as relações humanas, sendo,
nesse sentido, apenas parte de um todo. Ele analisa, ademais, as finalidades das condutas
humanas e reconhece a racionalidade e a autonomia humana para agir.
Nessa vertente transcendental, o Direito Natural é visto como um conjunto de
princípios, gerados pela própria experiência histórica, que propiciam ao homem o agir com
liberdade, mas, ao mesmo tempo, cria deveres e responsabilidades no que tange a sua relação
com os outros indivíduos. Trata-se de uma maneira moderna de conceber o Direito Natural.
O Direito Natural, embora não seja considerado suficiente para tratar das relações
sociais e normatizar as condutas humanas, acompanha a sociedade e auxilia na implantação e
na obediência de valores éticos e morais. A forma como a sociedade deve lidar com o meio
ambiente transcende as normas escritas e se aproxima dos valores do Direito Natural, visto
que a sociedade, independente de normas postas, sabe que há algum tipo de relação com o
meio ambiente e que algo deve ser feito em prol do equilíbrio ambiental. Isso significa dizer
que, ao se perguntar sobre o que deve ser feito para preservar o meio ambiente, a resposta é
inerente ao seres humanos e está relacionada aos valores éticos, morais, sociais e naturais dos
seres humanos, independente das leis postas e escritas.
Essa vertente filosófica do Direito acompanha a sociedade desde seus primórdios,
como demonstrado no histórico da Ciência do Direito e auxilia na fixação, na sociedade, dos
valores éticos e morais relacionados ao meio ambiente. Assim, não é possível desvincular a
preservação ambiental dos valores do Direito Natural. Nesse sentido, há uma necessidade de
preservar o meio ambiente como um direito natural que confere ao homem e a sociedade
condições favoráveis para a concretização não somente da dignidade da pessoa humana, mas

26
de todos os direitos outros direitos tidos como natural”3, como por exemplo, o direito à vida e
ao bem-estar humano.
A vertente contrária ao Direito Natural é o Direito Positivo. Para Bobbio (1995, p.
119), “o positivismo jurídico nasce do impulso histórico para a legislação, se realiza quando a
lei se torna a fonte exclusiva – ou, de qualquer modo, absolutamente prevalente – do direito, e
seu resultado último é apresentado pela codificação”. Como passa a se expor.
1.2.2 O Direito Positivo
A criação da Constituição francesa, que serviu de modelo a diversos países, fez surgir
uma obediência e uma supremacia da lei escrita sobre os valores sociais e sobre os princípios
do Direito Natural. Destarte, a lei, instrumento conformador da liberdade dos cidadãos,
passou a legitimar a limitação dos direitos dos próprios cidadãos (BICALHO; FERNANDES,
2011), predominando, assim, o Direito Positivo sobre o Natural. O exercício da justiça passou
a ser praticado por meio da lei escrita e, se determinado conteúdo fosse positivado, deveria ser
considerado como reto e justo (KELSEN, 1998).
O positivismo pode ser resumido em três preceitos chaves:
(a) acreditar o direito como “um conjunto de regras especiais utilizado direta ou
indiretamente pela comunidade com o propósito de determinar qual o
comportamento será punido ou coagido pelo poder público”, regras essas que são
aferidas quanto a sua validade (pedigree); (b) caso não se encontre uma solução
dentro do direito (conjunto de regras) para uma determinado fato, o aplicador da
norma deve ir “além do direito na busca de algum outro tipo de padrão que o oriente
na confecção de nova regra jurídica ou na complementação de uma regra jurídica já
existente”; e (c) dizer que “alguém tem uma ‘obrigação jurídica’ é dizer que seu
caso se enquadra em uma regra jurídica válida que exige que ele faça ou se abstenha
de fazer alguma coisa. [...] Na ausência de tal regra jurídica válida não existe
obrigação jurídica”. (DWORKIN apud BICALHO; FERNANDES, 2011, p. 5).
Nota-se que o positivismo jurídico busca reduzir o mundo ao que está escrito, e, nesse
sentido, princípios e valores morais passam a figurar apenas como fontes interpretativistas,
sendo meros auxiliadores da lei. A criação das normas deve-se à vontade estatal e as normas
possuem caráter mutável, sendo impostas à medida que o contexto social exige.
A supremacia do Direito Positivo sobre o Natural foi apresentada, primeiramente, por
Tomas Hobbes, pois, para ele, era preferível um direito imposto por uma autoridade do que as
regras não obrigatórias do Direito Natural. Além disso, para esse autor, o homem possui uma
natureza má e, por isso, deve haver um pacto social em que regras sejam criadas e o convívio
3 Disponível em: http://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/2p7e8wdv/3bb5e2n07SEB175Q.pdf.

27
em sociedade seja possível, transferindo-se o direito de exigência dessa regra para o Estado
(RODRIGUES, 2007).
Jean Jacques Rosseau (1999), a partir de uma visão mais democrática, defendia a ideia
de que as regras devem ser criadas a partir de um contrato social estabelecido pela vontade
dos indivíduos, tornando o Direito como algo encontrado nas mãos do povo. Mesmo sendo
criadas pelo Estado, elas poderiam ser modificadas a qualquer momento, desde que essa fosse
a vontade soberana do povo.
Outro jurista adepto da corrente do positivismo jurídico foi Kelsen, que apresenta uma
visão mais radical e defende o estudo de uma teoria pura do Direito. Para ele (1998, p. 1), a
teoria pura do direito
se propõe garantir um conhecimento apenas dirigido ao Direito e excluir deste
conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto, tudo quanto não se possa,
rigorosamente, determinar como Direito. Quer isto dizer que ela pretende libertar a
ciência jurídica de todos os elementos que lhe são estranhos. Esse é o seu princípio
metodológico fundamental.
Além disso, de acordo com Kelsen (1998), a aplicação da lei deve ser feita de maneira
única, se baseando nas interpretações jurídicas, e não deve ser influenciada por outros fatores
senão aqueles puramente jurídicos. Ele defendia a instauração de um Direito livre de qualquer
ideologia e de qualquer influência de outras ciências, cujas fontes deveriam ser buscadas nele
próprio, excluindo-se qualquer valor extrajudicial Ainda que ele buscasse uma teoria pura do
Direito, reconheceu que as normas necessitam de interpretação, o que é feito pela Ciência
Jurídica ou nas decisões dos tribunais.
Tal reconhecimento da possibilidade de conflitos de interpretações dentro do Direito
positivo, já demonstravam sua insuficiência para tratar de todas as questões sociais, visto ser
impossível reduzir a escrito todas as necessidade humanas. A interpretação jurídica, a
prevalência de valores morais e éticos e não apenas jurídicos, nos casos concretos,
demonstram mais uma vez a necessidade do reconhecimento do Direito natural nas soluções
dos conflitos.
É na visão kelseana que nasce a noção da pirâmide hierárquica do direito, em que a
constituição do Estado deve estar no seu ápice (KELSEN, 1998). A norma inferior deve
respeitar e ser influenciada apenas por suas normas superiores. A norma jurídica, para ele,
corresponde a um juízo hipotético, ou seja, cria-se normativamente a possibilidade de um fato
ocorrer, e, caso ocorra, deve ser entregue à prestação jurisdicional prescrita.

28
No âmbito do Direito ambiental há que se falar em um direito positivo Ambiental,
criado pelas normas e regras como será demonstrado a seguir, as quais necessitam de
interpretação dos legisladores.
As leis escritas, ou seja, positivadas, preveem determinados comportamentos, e,
quando eles ocorrem, há uma aplicação da medida proposta pela lei hipotética. Entretanto,
muitas vezes os fatos acontecem sem que haja uma lei anterior, o que gera uma insuficiência
das leis positivadas para dirimir os conflitos, além de haver sempre uma necessidade de
interpretar a lei o que transcende aos valores escritos nelas. Embora o positivismo jurídico
tenha buscado encontrar meios eficientes de manter a ordem social, por vezes era insuficiente,
considerando a impossibilidade de prever todos os fenômenos sociais que poderiam ocorrer, o
que torna as leis também insuficientes e, por vezes, desatualizadas para tratar de todos os
fenômenos sociais. Ademais, estudiosos do Direito, inclusive os adeptos do Direito positivo,
tem concluído que, assim como ocorre com outras vertentes de estudos, essa ciência não pode
ser estudada sem uma aproximação com outras vertentes do conhecimento e, por isso,
atualmente surgiu uma nova corrente filosófica, intitulada “pós-positivista”, que, além de
entender a impossibilidade de existência isolada das correntes filosóficas tradicionais, defende
a supremacia dos princípios jurídicos sobre as leis positivistas.
Atualmente, pode-se dizer em o Direito Natural apresenta uma melhor essência e um
melhor conteúdo, visto ser marcado pela substancialidade dos direitos que o compõem, como
o direito à vida, ao passo que o Direito positivo é mais bem caracterizado por sua forma,
sendo positivado por suas formalidades de criação, como é o caso das constituições (ALVES
BRITO, 2011).4 Por essa razão, é perfeitamente possível considerar a naturalização do Direito
positivo, ou a positivação do Direito Natural e a imbricação dessas duas vertentes do Direito,
tal como é demonstrado pela teoria pós-positivista. Essa imbricação é bem demonstrada pela
atuação do próprio Direito Ambiental brasileiro, visto que, por meio de leis criadas por
homens, alguns valores naturais e a consciência da necessidade de preservação do meio
ambiente são impostos à sociedade.
1.2.3 O Pós-Positivismo Jurídico
Diante das críticas feitas positivismo jurídico, tornou-se necessária uma atualização da
teoria positivista ao contexto atual, relativizando-se, assim, o conceito de positivismo, e
4 Disponível em: https://jus.com.br/artigos/18523/a-dialetica-direito-natural-positivismo-juridico-e-sua-
superacao/2

29
permitindo uma abertura do Direito aos valores morais e naturais. Por isso, surgem novas
vertentes de estudo, inclusive a chamada Pós-positivista, que perpetrou a “confluência das
duas grandes correntes de pensamento que oferecem paradigmas opostos para o Direito: o
jusnaturalismo e o positivismo” (BARROSO, 2005), cujo intuito é buscar ir além da
legalidade estrita, mas sem desprezar o direito posto.
Nessa corrente, a interpretação e a aplicação do ordenamento jurídico hão de ser
inspiradas por uma teoria de justiça, mas que não comportam voluntarismos ou personalismos,
sobretudo judiciais, além de atribuir normatividade aos princípios. Nesse ambiente, promove-
se uma reaproximação entre o Direito e a Filosofia (BARROSO, 2005), o que associa-se à
ideia de holismo defendido pela ADE. Além disso, o que se pode extrair desse pensamento
filosófico contemporâneo é que a complexidade das normas não pode ser explicada de forma
exclusiva pelo positivismo ou pelo naturalismo; e ambas as teorias possuem valores
imprescindíveis para a compreensão das normas jurídicas (VALE apud BICALHO;
FERNANDES, 2011). Nota-se que a tradicional dicotomia entre Direito Natural e Direito
Positivo está enfraquecida e não possui mais razão de ser. Para Ferraz Júnior (2003, p. 170):
Se o direito positivo se define por sua mutabilidade, sua regionalidade, sua
circunstancialidade, sua especialidade, a busca do direito natural expressa a angústia
do homem num mundo em que tudo, sendo positivo, é relativo. A relatividade
universal o fato de que um direito, ao ser posto, só existe em relação a outros
direitos postos e a perda da valia intrínseca o fato de que todo direito, por ser posto,
deixa de possuir valor objetivo, independente da avaliação mutável dos interesses
são inerentes à positivação do direito. Apesar disso, o motivo pelo qual estes fatos (a
relatividade e a perda da valia), que parecem inevitáveis na sociedade
contemporânea, chegam não obstante a constituir um problema central para a ciência
dogmática do direito localiza-se, provavelmente, nesta insuportabilidade consistente
na perda de padrões e normas universais, sem os quais a trivialização do próprio
direito positivo se revela uma conseqüência angustiosa e inquietante.
Tal afirmativa demonstra as razões do enfraquecimento dessa dicotomia, bem como
justifica a emergência de uma teoria que comungue dos ideais tanto do Direito Natural como
do Direito Positivo. Assim, as principais características do pós-positivismo são: a abertura
valorativa do sistema jurídico e, em especial, da Constituição; b) os princípios e as regras são
considerados normas jurídicas; c) a Constituição passa a ser o locus principal dos princípios; e
d) o aumento da força política do Judiciário em face da constatação de que o intérprete cria
norma jurídica (BICALHO; FERNANDES, 2011). Para a teoria pós-positivista, a constituição
é o centro do sistema jurídico, e, assim sendo, deve conter os valores máximos da sociedade,
os quais estão contidos nos princípios (BICALHO; FERNANDES, 2011), o que também
justifica a escolha dos princípios e artigos constitucionais para compor o corpus da pesquisa.

30
De acordo com essa teoria, há uma constante aproximação entre a ciência do Direito e
outras vertentes de conhecimento, a exemplo do que prescrevem as leis n. 9.958/2000 e n.
11.105/2000, que determinam a consulta aos comitês de ética e profissionais especializados
para normatizar e limitar o comportamento humano. Nota-se, assim, uma nova postura
jurídica e uma nova metodologia, que visa o bem-estar coletivo e um direito mais humanizado.
A própria Constituição de 1988, “imbuída por todo o sentimento de justiça e paz, busca, por
meio de inovações neoconstitucionalistas e pós-positivistas, o bem-estar social, bem como a
dignidade de todos os que se encontram sob sua jurisdição”.5 Com relação à proteção
ambiental, é possível encontrar, no âmbito constitucional, várias prescrições de preservação
ambiental, o que a torna, para muitos, uma “constituição verde”, visto que nela estão
reproduzidas as determinações impostas na Conferência de Estocolmo, realizada em 1972,
como se demonstra adiante.
Além disso, esse pensamento contemporâneo ainda reconhece a importância dos
intérpretes para compreender a norma, visto que é pela interpretação que se constroem seus
sentidos, o que demonstra, também, que o Direito não pode ser reduzido ao que está posto,
escrito, mas deve ser considerado em sua totalidade, que engloba tanto as leis escritas, seus
princípios e a atitude dos tribunais frente aos conflitos gerados na sociedade.
A ciência do Direito caminha em uma direção de se tornar mais humanizado e os
valores do Direito natural se aproximam das regras impostas pelo Direito positivo, em uma
nova tendência jurídica. Destarte, torna-se necessário pensar qual o lugar da ética na aplicação
das normas jurídicas, considerando-se que a vida em sociedade é conduzida por um conjunto
de preceitos legais carregados de valores morais e que se subordinam às interpretações e a
ideologias que conferem às normas seus sentidos.
5 Disponível em: http://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/2p7e8wdv/3bb5e2n07SEB175Q.pdf.

31
1.3 ÉTICA E DIREITO
A etimologia do termo ética, ethos, revela uma relação com as ideias primeiras ou
primordiais e com o comportamento humano oriundo de sua natureza e do convívio social.
Entre os principais interesses estão “moral, comportamento, costumes, hábitos, atitude perante
si e perante o outro, limites da ação humana fins e meios da decisão do agir, regras de
proceder social, defesa de interesses sócio-humanos” (BITTAR, 2005, p. 29).
Um dos primeiros a propor o estudo da ética foi Sócrates, um polêmico pensador que,
a partir de uma metodologia maiêutica, impôs novos paradigmas (BITTAR, 2005) à filosofia
da época. Entre seus principais temas de estudo estavam a moral e as questões relacionadas ao
homem, assim, ele deixou de lado a visão cósmica das coisas e passou a se dedicar à natureza
humana como fonte do conhecimento.
Sócrates acreditava que todo o conhecimento parte do interior do homem e mais, para
ele, a ética está vinculada ao conhecimento e à felicidade humana. Assim, “em primeiro lugar,
a ética significa conhecimento, tendo-se em vista que, ao praticar o mal, crê-se praticar algo
que leve à felicidade e, normalmente, esse juízo é por impressões e aparências puramente
externas” (BITTAR, 2005, p. 67) e a compreensão do bem e do mal é alcançada pelo próprio
interior do homem; em segundo lugar, para ele, a felicidade, ou a ética, pouco tem a ver com a
busca de coisas materiais, com o conforto ou com a boa situação do homem, mas assemelha-
se ao que os deuses valoravam como felicidade, que era o cultivo da virtude, “no controle
efetivo das paixões, e na condução das forças humanas para a realização do saber” (BITTAR,
2005, p. 67).
Os ideais socráticos transcendiam os valores puramente humanos e buscavam o
respeito à vida após a morte, devido a suas crenças religiosas. Para Sócrates, os filósofos
trabalhavam durante toda a sua vida na preparação de sua morte e para estar mortos, momento
em que desfrutariam de infinitos bens (BITTAR, 2005). Entretanto, ainda que os valores
socráticos transcendessem os valores de ordem humana, esse filósofo tinha a convicção de seu
dever de respeitar e obedecer às leis humanas, pois acreditava que elas eram um conjunto de
preceitos cuja obediência era indispensável. Desse modo, a ciência do Direito é vista, na visão
socrática, como um meio de garantir, pela coação social, a realização do bem comum,
consistente “no desenvolvimento integral de todas as potencialidades humanas, alcançável por
meio do cultivo das virtudes. Em seu conceito, que nos foi transmitido pelos diálogos
platônicos de primeira geração, as leis da cidade são inderrogáveis pelo arbítrio da vontade
humana” (BITTAR, 2005, p. 70).

32
Sócrates defendia tanto suas ideias que não hesitou em cumprir sua sentença de morte,
acreditando que esse ato serviria como exemplo aos outros em relação ao respeito às leis
humanas e aos deuses em que ele acreditava. Assim, buscou servir de exemplo aos outros
cidadãos, demonstrando que, mesmo diante da morte, os valores éticos deveriam prevalecer.
Esse ensinamento socrático pode ser um auxiliar na implementação de uma visão ecológica de
mundo, se for pensado que os valores morais e éticos devem estar acima das vontades
individuais e as ações humanas devem ser pautadas no respeito ao que é ético. O respeito ao
meio ambiente, portanto, deve permanecer nas ações sociais de forma a que os seres humanos
deixem de praticar ações que sejam danosas ao “todo” ecossistêmico.
Também Aristóteles, ao tratar da justiça, fundamentou-se na ética. Para ele, as
questões éticas estão imbricadas nas questões políticas e os estudos da ética estão
relacionados aos desdobramentos individuais e coletivos dos seres humanos. Isso significa
dizer que o bem coletivo, que a coletividade alcança, afeta ou reflete no bem individual, e este,
por sua vez, interfere ou influencia na construção do bem coletivo (BITTAR, 2005). Dessa
maneira, é pela observância do homem em seu convívio social que se pode chegar ao que é
justo ou injusto.
Além disso, para Aristóteles, a felicidade seria uma noção humana e, portanto,
alcançada por meio de condutas éticas, que tem a tarefa de permitir, elucidar e tornar
realizável, por meio da prática reiterada de atos virtuosos, a harmonia do comportamento do
homem tanto no âmbito individual como social.
A visão ética aristotélica é um pouco mais relativizada do que a socrática, uma vez que,
para Sócrates, a justiça deve ser feita e aplicada igualmente a todos os indivíduos por ser o
ético; já para Aristóteles, “os princípios éticos não se aplicam a todos de forma única (a
coragem não é a mesma para todos, a justiça não é a mesma para todos etc.), estando
condicionados ao exame do caso particular, para que a cada um de maneira personalizada e
singularizada se aplique o justo meio” (BITTAR, 2005, p. 93). Considerando a justiça como a
virtude de observância da lei e como o respeito às leis que regem o bem da sociedade
(BITTAR, 2005, p. 95), o dever do legislador seria o de conduzir a sociedade, almejando o
bem-estar coletivo e a felicidade de uma forma geral.
É possível notar que, tanto na visão socrática como na aristotélica, a ética está
vinculada à felicidade tomada como o bem maior a ser alcançado pelo homem, em ambas a
justiça deve ser alcançada em meio ao seu exercício prático.
No período medieval, entretanto, a ética esteve vinculada à religião, a qual também
influenciou a constituição do Direito como ciência. São Tomas de Aquino e Santo Agostinho

33
defendiam que a ética não está vinculada à polis ou ao indivíduo, mas, ao contrário,
vinculava-se aos mandamentos do Criador, sendo as duas virtudes principais a fé e a caridade
(BITTAR, 2005). O homem, então, era possuidor de uma natureza má e, no exercício de seu
livre arbítrio, tendia sempre para o mal (pecado). Nesse caso, as leis divinas poderiam auxiliá-
lo na busca por atitudes corretas.
Os pensadores dessa época também tratam a justiça como uma questão ética. São
Tomás de Aquino, por exemplo, apoiando-se no pensamento aristotélico, da prática, trouxe à
tona o conceito de justo e injusto. Para ele, a justiça consistia em dar a cada um o que é seu,
praticando-se, assim, um ato justo, nem mais e nem menos do que lhe é devido, considerando-
se que essa desproporcionalidade era considerada um ato injusto.
Da visão tomasiana ainda é possível se extrair as classificações do termo “lei” lei
eterna, lei natural e lei comum. A lei eterna seria a ordem eterna dada por Deus, a qual não se
submete às variações humanas, e tudo aquilo que foi divinamente promulgado (BITTAR,
2005). As leis naturais estabelecem uma relação com as leis divinas, considerando que, para
São Tomás de Aquino, a natureza é parte do todo divino. Elas não existem porque foram
promulgadas, mas simplesmente porque a natureza existe e nela estão embutidos os valores de
uma justiça natural, o que demonstra também a importância de serem resgatados tantos os
valores éticos como os valores do Direito Natural para alcançar uma preservação ambiental
condizente com as necessidades ambientais atual. Por fim, a lei humana seria aquela criada
pela vontade humana, devendo o legislador se ater às questões naturais e divinas para criá-la.
Já no período posterior ao Medieval, Emmanuel Kant apresentou as principais ideias
sobre o conceito de ética. Para ele, o alcance da felicidade não estava na racionalidade
humana, ao contrário, a prática ética fundamentava-se não na pura experiência, mas em uma
“lei inerente à racionalidade universal humana; quer-se garantir absoluta igualdade aos seres
racionais ante à lei moral universal, que se expressa por meio de uma máxima, o chamado
imperativo categórico” (BITTAR, 2005, p. 271), ou seja, tudo o que é válido sem que haja
imposição deriva da experiência.
Agir de uma forma ética corresponderia ao agir respeitando esse imperativo máximo.
A felicidade não deveria ser a finalidade, e sim a consequência do respeito à ética, pois, para
Kant, o dever ético não deve ser praticado em busca da felicidade, mas apenas por ser um
dever, por ter valor em si mesmo. O homem, por sua vez, também possui um valor em si
mesmo e é capaz de governar a si apenas de acordo com o imperativo categórico, ainda que
para isso tenha que abrir mão de seus próprios desejos. Para ele, o dever consistia em agir de
forma que as ações pudessem se transformar em normas universais. Infelizmente, por muito
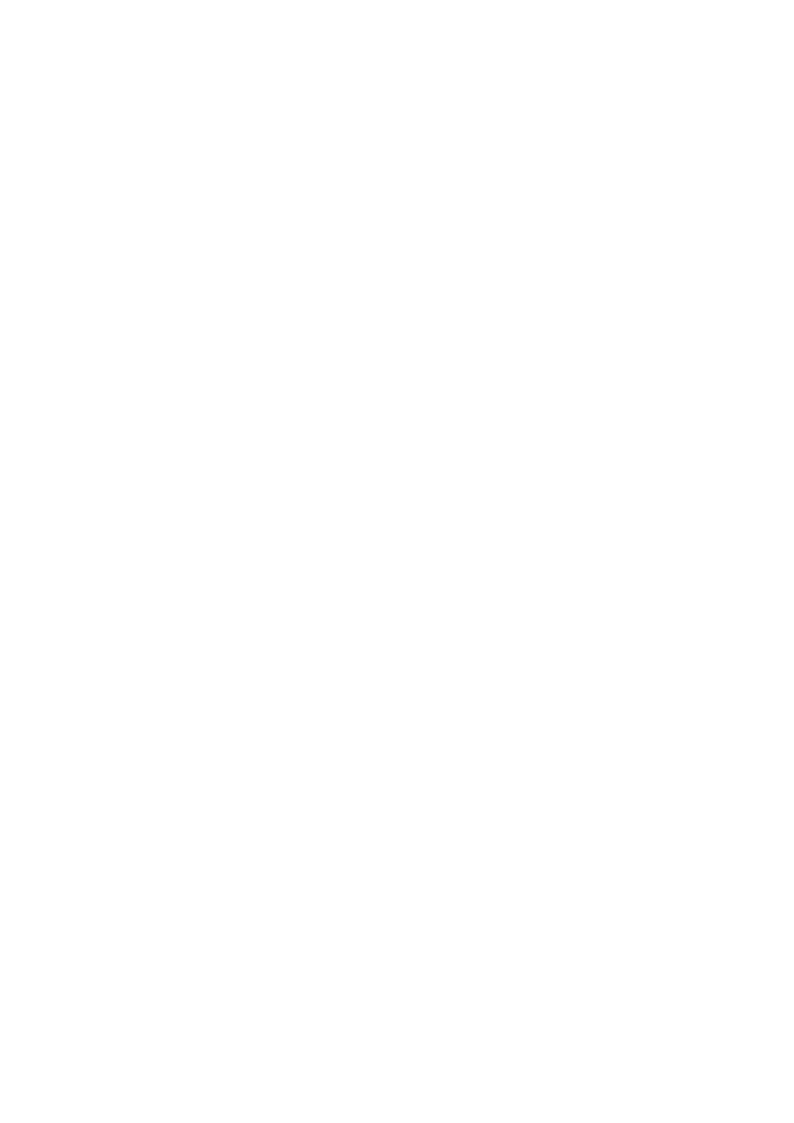
34
tempo, as ações humanas fizerem emergir um pensamento voltado à dominação do meio
ambiente, e por muito tempo esse pensar antropocêntrico foi uma norma universal. Entretanto,
atualmente, ciente dos possíveis problemas relacionados ao meio ambiente, é que as ações
humanas devem caminhar de forma a alcançar um reequilíbrio homeostático, o que implica
uma mudança de percepções e comportamentos que criem “normas universais”
suficientemente ecológicas para defender e preservar o meio ambiente.
Embora existam diversos filósofos que contribuem para o exercício da ética no Direito
e que demonstrem a necessidade de respeitar o Direito Natural e o Direito Positivo, a
contemporaneidade é marcada por certos conflitos relacionados à ética. Nota-se que, em todos
eles, o homem é colocado como o centro das preocupações e todas as ações devem ser
praticadas visando um bem, seja ele coletivo ou individual. Esse bem, a felicidade, é
considerada apenas no âmbito humano, ou seja, a intervenção jurídica na sociedade tem como
finalidade garantir o bem-estar humano, sem que seja considerada a existência de outros seres
do ecossistema. Nesse contexto, a natureza é concebida como um instrumento ou uma coisa
de uso humano.
Todo o saber ético está relacionado com aquilo que é percebido, a partir da
experiência e da história, como bom ou mal, ou como o que traz ou não felicidade, o que
também está relacionado com as visões de mundo instauradas na sociedade. Desse modo, o
saber ético é construído pelo equilíbrio entre aquilo que o indivíduo lança à sociedade por sua
experiência e pelo que a sociedade inculca nele, há uma troca de “energias” entre os
indivíduos e a sociedade, que é indispensável para constituição e manutenção do ecossistema
como um todo. Mesmo com toda uma preocupação com o homem e com suas ações, existem
dificuldades para se aplicar a ética à sociedade.
O Direito, base normativa que permite o convívio social humano, muitas vezes não
consegue fazer com que a ética seja plenamente aplicada, mesmo que seja ele o instrumento
pelo qual é instituída a ordem social. Ou seja, a ética e o Direito, mesmo imbricadas, por
vezes convergem e por vezes divergem. Assim, considerando que a raiz das preocupações
éticas está no comportamento humano, surgem alguns questionamentos como, por exemplo,
“do que é que somos capazes por sermos seres que pensam causas e fins, meios e métodos,
por sermos seres que intentam, que confabulam, que refletem, que agem e que são capazes da
criação?” (BITTAR, 2005, p. 459).
A grande questão, nesse sentido, é o paradoxo humano, considerando que o homem,
ao mesmo tempo em que é capaz de construir ou criar, é capaz de destruir. Ao mesmo tempo
em que protagoniza a vida, gera sua destruição; ao mesmo tempo em que as indústrias

35
crescem e geram lucros, destroem a natureza; ao mesmo tempo em que o Estado visa o bem-
estar da comunidade ou da coletividade, beneficia um parcela minoritária; ao mesmo tempo
em que um exército defende um povo, destrói outros; isso dentre outras questões paradoxais
das ações humanas. Diante dessas questões, o Direito se apresenta com a finalidade de atuar
nas relações sociais, de forma a equilibrar as ações humanas, estabelecer a igualdade a todos
os indivíduos e assegurar a defesa dos direitos de todos. Nesse sentido é que a ética deve ser
aplicada ao Direito, e, embora nem sempre um ato jurídico seja ético ou um ato ético seja
jurídico, essas duas vertentes caminham juntas, uma vez que a ética deve perpassar o Direito e
este, por sua vez, pode interferir na vida social.
Todo esse paradoxo humano demonstra a necessidade de um retorno da ética voltado
às questões da vida, destino do planeta, e consolidação dos valores humanos em dimensões
culturais e sociais (MILARÉ, 2015), e é nesse contexto que surge uma nova ética jurídica
intitulada ética ambiental, a qual caminha junto ao Direito Ambiental. Assim, nos últimos
anos, o Direito e os problemas ambientais defrontaram-se, havendo uma necessidade social e
até mesmo ética de tratar juridicamente os problemas ambientais. O meio ambiente é,
sobretudo, “uma realidade dinâmica e mutante, holística e sistêmica; ele é objeto de ciências
teóricas e técnicas aplicadas, é realidade interdisciplinar e mesmo transdisciplinar que desafia
abertamente qualquer competência exclusiva, seja científica de investigação, seja normativa
de usos e costumes” (MILARÉ, 2015, p. 148).
Na ciência do Direito, como demonstrado, a ética possui raízes do Direito Natural,
partindo das concepções naturais para a criação de um Direito Positivo. Além disso, o Direito
Natural funda-se na natureza das coisas e do homem. Assim, pode-se dizer que “as relações
ecossistêmicas do mundo natural dão subsídios tanto à moral e aos direitos naturais quanto à
moral e aos direitos positivos” (MILARÉ, 2015, p. 149). Além disso, por meio da ética
ambiental, que deve ser seguida pelo Direito, nenhum ordenamento jurídico deve contrariar a
finalidade natural das coisas, desde o menor ecossistêmico até o maior, sendo respeitado
assim a função e o valor de cada ser no ecossistema.
Nesse sentido, é possível encontrar um ponto de encontro entre a ética ambiental
proposta na ciência do Direito e a ecoética desenvolvida na Análise do Discurso Ecológica,
visto que em ambas consideram-se as relações ecossistêmicas para compreender as relações
sociais, visando um bem-estar coletivo. A ética ambiental, que deve ser seguida pela ciência
do Direito, considera a importância do meio ambiente e das relações ecossistêmicas para a
sobrevivência humana e não humana, o que é defendido tanto pela Ecologia Profunda como
pela Análise do Discurso Ecológica.

36
Essa aproximação entre Direito, Ética, meio ambiente e Ecologia é materializada
também no chamado Direito Ambiental, o qual surgiu da necessidade de um ponto de
encontro entre essas vertentes do conhecimento. Considera-se, portanto, o Direito Ambiental
como uma vertente do Direito que visa, dentre outros aspectos, tutelar o meio ambiente e
assegurar a qualidade de vida dos seres humanos por um equilíbrio ambiental. Desse modo, é
necessário compreendê-lo desde o seu surgimento até os aspectos atuais de atuação e, a partir
disso, entender sua eficiência ecológica, no que tange à preservação do meio ambiente.
1.4 O NASCIMENTO DO DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO
O Direito Ambiental pode ser considerado um ramo novo do Direito Brasileiro, isso
porque a preocupação com o meio ambiente é recente, assim como a consequente necessidade
de normatização. Por muito tempo o homem se apropriou dos recursos naturais
ilimitadamente, devido, dentre outros aspectos, a uma visão antropocêntrica que permeava a
sociedade. Entretanto, os sinais de esgotamento da natureza e o desequilíbrio das relações
entre homem e meio ambiente desencadearam a necessidade de um direito autônomo, que
regesse essas relações, como se expõe a seguir.
1.4.1 O Direito Ambiental Internacional e suas Influências
A partir da Revolução Industrial, a busca incessante pelo lucro culminou no uso
desordenado dos recursos naturais: a ordem era produzir a qualquer custo, aumentar o lucro e
extrair o máximo possível dos recursos naturais.
A sede insaciável de lucro, junto ao aumento do crescimento demográfico, acelerou
desordenadamente os impactos ambientais. Até então não havia leis específicas sobre a ação
do homem no meio ambiente e esse tema não estava sendo muito discutido. O aumento das
respostas ambientais gerou, na sociedade, um interesse por essas questões, que começaram, na
década de 1970, a ser tratadas em diversas conferências pelo mundo.
A Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano, o Relatório de
Brundtland, a Rio-92, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a
Agenda 21, a Convenção-quadro sobre mudanças do clima, dentre outros documentos,
criaram normas de preservação a serem seguidas por todos os países participantes.
A Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano aconteceu em 1972,
em Estocolmo, e configura o marco do nascimento do Direito Ambiental Internacional, tendo

37
proposto relacionar o Direito ao ambiente saudável ou de qualidade. Esse ambiente passou,
então, a representar um direito fundamental. Da Conferência de Bruntland, realizada em 1983,
nasceu o conceito de desenvolvimento sustentável como aquele que “atende às necessidades
do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas
próprias necessidades”.
Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(Rio-92), na cidade do Rio de Janeiro, representou o ápice das preocupações relativas ao meio
ambiente e desenvolvimento econômico. Dela resultaram cinco documentos internacionais
que tratam das questões do desenvolvimento sustentável: a Declaração do Rio sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento; a Agenda 21; a Convenção-Quadro sobre Mudanças do Clima;
a Convenção sobre Diversidade Biológica ou da Biodiversidade; e a Declaração de Princípios
sobre Florestas. Todos esses documentos se relacionam, de alguma forma, com o
desenvolvimento sustentável, à medida que trazem regras a serem seguidas pelos países
participantes.
Em 2002, aconteceu a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, também
conhecida por Rio +10. Dela resultaram dois documentos oficiais: uma declaração política,
que reafirma os compromissos feitos nas conferências anteriores e analisa a pobreza e a
desigualdade social no mundo; e o plano de implementação, que possui algumas metas a
serem seguidas com o intuito de erradicar a pobreza, alterar os padrões insustentáveis de
produção de consumo e proteger os recursos naturais para o desenvolvimento econômico e
social (MELO, 2014).
A Conferência Das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, ou Rio + 20,
de 2012, teve como temas a aplicação economia verde no desenvolvimento sustentável e na
erradicação da pobreza e a estruturação de um desenvolvimento sustentável (MELO, 2014).
Dessa conferência surgiu o documento intitulado “O Futuro que Queremos: Economia Verde,
Desenvolvimento Sustentável e Erradicação da Pobreza”, com a finalidade de renovar os
acordos firmados.
Dentre as regras instituídas nessas conferências se encontram a preocupação com a
pobreza no mundo; a má distribuição de renda; a repartição justa e equitativa dos benefícios
derivados da utilização dos recursos genéricos; o direito fundamental do homem à liberdade, à
igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade
tal que lhe permita levar uma vida digna (MELO, 2014), além de normas de diminuição de
gases efeito estufa, preservação ambiental para gerações futuras, e outras. Essas regras
ambientais em que o bem-estar humano prevalece nasceram porque, como afirma Melo (2014,

38
p. 99), “os seres humanos constituem o centro das preocupações com o desenvolvimento
sustentável, e para alcançá-lo, a proteção ambiental deve ser considerada parte integrante do
desenvolvimento e não pode ser dissociada dele”.
Essas convenções e suas determinações influenciaram a criação do Direito Ambiental
de diversos países, inclusive do Brasil. Essa influência ocorre devido ao fato de que os
acordos internacionais de proteção ao meio ambiente passaram a ter força de lei nos países
participantes, e, no Brasil, o tema adquiriu relevância a ponto de ser destinado um capítulo
próprio, na Constituição Federal, para tratar das questões relativas ao meio ambiente.
O Direito Ambiental brasileiro, assim como os demais ramos do Direito, possui leis
baseadas nos “mandamentos” da Constituição Federal brasileira. Ainda que haja uma
tendência de preconização dos princípios jurídicos, tal como defendido pela teoria pós-
positivista, o Direito brasileiro segue a hierarquia de normas propostas por Hans Kelsen, em
que a constituição de uma nação possui supremacia sobre as demais leis, as quais devem estar
em consonância com os ditames constitucionais. Caso contrário, devem ser suprimidas.
Nela está elencado um conjunto de comandos, obrigações e instrumentos para garantir
um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todas essas prescrições estão no artigo 225
da CF/88.
1.4.2 Direito Ambiental Constitucional Brasileiro
A lei nº 6.938/1981, em seu artigo 3º, inciso I, define meio ambiente como sendo “o
conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.
Direito Ambiental, Direito do Meio Ambiente ou Direito do Ambiente são expressões
designadas para dar nome à disciplina jurídica que trata das relações entre o homem e o meio
ambiente. Muitos doutrinadores jurídicos defendem que a expressão “meio ambiente” é
redundante ao considerar o meio como aquilo que envolve o próprio ambiente em que o
indivíduo se encontra. O termo “ambiente”, por sua vez, define “aquilo que rodeia”, sendo
recorrente sua utilização, principalmente por ele ser adotado pela própria Constituição Federal
brasileira.
Essa nova disciplina foi conceituada, pela primeira vez no Brasil, em 1972, e recebia o
nome de Direito Ecológico, dado “ao conjunto de técnicas, regras e instrumentos jurídicos
organicamente estruturados, para assegurar um comportamento que não atente contra a
sanidade mínima do meio ambiente” (FERRAZ apud MACHADO, 2015, p. 48). Atualmente,

39
o Direito Ambiental é caracterizado como “um direito sistematizador que faz a articulação da
legislação, da doutrina e da jurisprudência concernentes aos elementos que integram o
ambiente” (MACHADO, 2015, p. 50).
Depois dos tratados assinados pelo Brasil nas conferências internacionais e o
consequente tratamento dado a eles como força de lei, da criação de algumas leis ambientais e,
principalmente, da inserção de temas sobre meio ambiente na Constituição Federal brasileira,
nasceu, no Brasil, um Direito autônomo e singular, possuidor de leis e de princípios próprios
para tratar da relação do homem com o meio ambiente.
1.4.3 Fontes e Princípios do Direito Ambiental Brasileiro
As fontes do Direito podem ser conceituadas como o local em que o Direito nasce.
Para Reale (2001, p. 130), “por fontes do Direito designamos os processos ou meios em
virtude dos quais as regras jurídicas se positivam com legítima força obrigatória, isto é, com
vigência e eficácia no contexto de uma estrutura normativa”.
As fontes materiais do Direito Ambiental, ou aquelas advindas das motivações éticas e
sociais que propiciam o surgimento das leis, são a doutrina, os movimentos e as exigências
sociais, bem como as informações de cunho científico. Já as fontes formais ou aquelas pelas
quais efetivamente o Direito se manifesta do Direito Ambiental são a Constituição Federal,
os tratados internacionais assinados pelo Brasil, as leis, as normas administrativas e os
princípios.
Os princípios são alicerces do Direito, construídos a partir de ideias centrais do
sistema jurídico, que servem como norte aos intérpretes e executores das normas, permitindo
a interpretação e a compreensão das leis, além de certo equilíbrio, indispensável na aplicação
das leis, entre valores e interesses. Melo (2014), em sua obra Manual de Direito Ambiental,
apresenta os princípios mais relevantes e mais recorrentes ao estudo do Direito Ambiental,
que passam a ser expostos.
O primeiro princípio é o do meio ambiente ecologicamente equilibrado, cuja noção é
extraída do artigo 225 da Constituição Federal brasileira, a qual aduz que “todos têm direito a
um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
Trata-se do princípio matriz de todo Direito Ambiental, cuja reafirmação se deu na
conferência Rio-92, no qual “os seres humanos estão no centro das preocupações com o

40
desenvolvimento sustentável” e têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia
com a natureza. Esse princípio assegura os direitos de primeira (civis e políticos) e de segunda
dimensão (econômicos, sociais e culturais).
O princípio do desenvolvimento sustentável, por sua vez, nascido da conferência de
Bruntland, é “aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade
de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades”. A sustentabilidade, portanto, é
medida pelas ações humanas e pelos possíveis efeitos gerados ao longo do tempo, fundando-
se nos possíveis prognósticos do futuro.
Para o Supremo Tribunal Federal brasileiro:
O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter
eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos
internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do
justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no
entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre
valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não
comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos
direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de
uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e
futuras gerações. (ADI 3.540).
Segundo Machado (2015, p. 60), desenvolvimento pode significar “adiantamento,
crescimento, aumento ou progresso”. Portanto, aplica-se ao crescimento de diversos setores
da economia, como agricultura, indústria e outros, sendo, por isso, capaz de devastar o meio
ambiente.
É nesse princípio que a economia brasileira deve se amparar para se desenvolver, ou
seja, a Constituição Federal brasileira ordena que a economia do País seja gerada nos padrões
do desenvolvimento sustentável. O termo “desenvolvimento sustentável” está relacionado à
necessidade de preservar os recursos naturais para as gerações futuras, à exploração dos
recursos naturais de forma sustentável e ao uso equitativo desses recursos entre as gerações. É
por isso que esse princípio indica uma combinação de diversos elementos como economia e
meio ambiente, anteriormente mencionados.
Essas preocupações com o meio ambiente e com o dever jurídico de amenizar os
danos causados têm gerado a necessidade de prevenir o nascimento de riscos, dando origem
ao princípio da prevenção. Machado (2015) explica que a aplicação do princípio da prevenção
comporta ao menos doze itens: 1) identificação e inventário das espécies animais e vegetais
de um território, quanto à conservação da natureza; 2) identificação das fontes contaminantes
das águas e do ar, quanto ao controle da poluição; 3) identificação e inventário dos

41
ecossistemas, com a elaboração de um mapa ecológico; 4) planejamento ambiental e
econômico integrados; 5) ordenamento territorial ambiental para a valorização das áreas de
acordo com sua aptidão; 6) estudo de impacto ambiental; 7) prestação de informações
contínuas e completas; 8) emprego de novas tecnologias; 9) autorização ou licenciamento
ambiental; 10) monitoramento; 11) inspeção e auditoria ambientais; 12) sanções
administrativas ou judiciais. Nota-se que as políticas de preservação ambiental se
desenvolvem pelo respeito a esse princípio. Por fim, as prevenções não são estáticas e devem
se adequar ao contexto social, ou seja, devem ser feitas a partir da forma como a sociedade
age.
Outro princípio que de certa maneira se liga à prevenção do meio ambiente é o da
precaução, presente na Declaração do Rio (princípio 15). Ele diz respeito à proteção do meio
ambiente e deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades.
Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência absoluta de certeza
científica não deve ser utilizada para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis
para prevenir a degradação ambiental.
A incerteza científica, ou seja, a dúvida sobre o surgimento ou não de um dano
ambiental, é a base para a aplicação desse princípio, pois, em caso de certeza do risco, a
prevenção deve ser utilizada. Esse princípio atua na ausência da certeza, da informação, de
pesquisas, “[...] como mecanismo de gerenciamento dos riscos ambientais, notadamente para
as atividades e empreendimentos marcados pela ausência de estudos e pesquisas objetivas
obre as consequências para o meio ambiente e a saúde humana” (MELO, 2014, p. 105).
Esse princípio apregoa que o indivíduo é responsável tanto pelo que efetivamente sabe
sobre os riscos, e mais, pelo que deveria saber, quanto pelo que duvida. Ou seja, se o risco
pode existir, se a ciência não pode dar uma certeza, é necessário se precaver. Esses riscos
serão analisados de acordo com o setor da atividade desenvolvida, não sendo necessária uma
ameaça grave, basta que ela exista em qualquer grau.
Outro princípio utilizado como fonte do Direito Ambiental é o do poluidor-pagador.
Ele possui natureza econômica e impõe ao sujeito a responsabilidade de arcar
economicamente com os danos gerados ao meio ambiente, ou seja, o poluidor deve arcar com
os custos da poluição, indenizando e reparando os danos gerados. Possui um viés preventivo,
que tenta, a partir das medidas econômicas, evitar que o dano seja causado, e um viés
repressivo, que pune o sujeito praticante do dano, já que com a ocorrência do dano ambiental
é necessária a sua reparação, pois há responsabilidade civil (artigo 14, § 1º, da Lei
6.938/1981). Como princípio complementar há o do usuário-pagador, aplicado pela

42
recomendação jurídica de valoração econômica dos recursos naturais. Para Melo (2014, p.
110):
O princípio do usuário-pagador é decorrência da necessidade de valoração
econômica dos recursos naturais, de quantificá-los economicamente, evitando o que
se denomina custo zero, que é a ausência de cobrança para sua utilização. O custo
zero conduz à hiperexploração de um bem ambiental, e por consequência a sua
escassez. Como exemplo, ao não se valorar o custo pela utilização da água,
inevitavelmente ocorrerão sua exploração e utilização de forma excessiva, com a
diminuição da disponibilidade desse bem fundamental para a vida.
O princípio do protetor-recebedor se apresenta como uma oposição ao poluidor-
pagador e usuário-pagador, ou seja, aquele que defender o meio ambiente e adotar medidas de
proteção recebe benefícios econômicos, fiscais, tributários, etc. Por meio desse princípio,
confere-se aos indivíduos incentivos econômicos para agirem de forma a preservar o meio
ambiente, o que demonstra a forte tendência capitalista nas medidas de preservação ambiental.
O Direito Brasileiro assegura o direito à informação como exercício da democracia, e,
por isso, existe o princípio da informação ambiental, que assegura a qualquer indivíduo,
independente de interesse comprovado, o acesso às informações ambientais relativos a temas
como políticas de impactos ambientais, qualidade do meio ambiente, acidentes, risco ou
emergências ambientais, diversidade ambiental, alimentos transgênicos, entre outros (MELO,
2014).
A informação serve como uma forma de educação ambiental, e por isso há o princípio
da educação ambiental. O artigo 1º da Lei 9.795/1999 aduz que educação ambiental
são os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores
sociais, conhecimento, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial a sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade.
O Direito Ambiental também defende que a preservação do meio ambiente é
alcançada pela cooperação, ou seja, pela ação conjunta dos indivíduos e do Estado, tanto no
âmbito nacional como internacional. Esse princípio da cooperação pode ser extraído do
próprio artigo 225 da CF/88, que demonstra o dever da coletividade de preservar o meio
ambiente.
Todos esses princípios refletem o dever de preservar o meio ambiente e, então,
garantir a sadia qualidade de vida. Considerando-se que o ponto chave desses princípios é a
defesa do meio ambiente, é preciso compreender seu significado jurídico e como ele é tratado
nessa vertente de estudos.

43
1.4.4 Direito Ambiental: o Conceito de Meio Ambiente e seus Desdobramentos
A compreensão do Direito Ambiental, sua interpretação e a aplicação de suas leis
dependem da conceituação de alguns termos recorrentes nas leis e demais fontes dessa
disciplina. Para isso, é necessário entender, em primeiro lugar, o conceito de meio ambiente.
Segundo a Lei 6.938/1981, é “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. É
possível perceber que esse conceito é amplo e abrange tanto os elementos bióticos como os
abióticos da Terra. Para o Direito Ambiental, existem quatro tipos de meio ambiente: físico,
cultural, artificial e do trabalho.
O meio ambiente físico é composto por recursos naturais como solo, água, ar, flora e
fauna; pelos ecossistemas brasileiros; pela biodiversidade; e pelo patrimônio genético, e cada
um desses elementos possui um significado próprio no âmbito jurídico, O meio ambiente
artificial é aquele que sofreu alterações humanas, como por exemplo, cidades, ruas, praças,
edificações etc. É o espaço que não existe por si só, mas que passou por intervenções em sua
constituição.O meio ambiente cultural, também protegido pelo Direito Ambiental, é composto
pelo patrimônio cultural, artístico, arqueológico, etnográfico e paisagístico. O artigo 216 da
CF/88 prevê sua proteção, ao aduzir que “constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de
referência a identidade, ação, memória, dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira”. Por último, o meio ambiente laboral consiste no espaço em que as atividades
laborais se processam, ou seja, o local de trabalho, sendo assegurado aos trabalhadores um
local salubre, sem periculosidade e em que haja harmonia. A proteção desse meio ambiente
está contida no artigo 7º, incisos XXII, XXIII e XXXIII da CF/88, que preveem,
respectivamente, a redução de riscos do trabalho por meio de normas de saúde, higiene e
segurança; adicional de remuneração para atividades penosas e insalubres ou perigosas;
proibição de alguns trabalhos para menores de 18 anos e proibição total do trabalho para
menores de 14 anos. De acordo com a doutrina jurídica, cada elemento do meio ambiente
natural possui significação própria. O solo possui duas acepções: recurso natural e espaço
social. Como um recurso natural, defende-se que sua exploração excessiva gera danos ao
meio ambiente de forma geral e que, portanto, é necessário poupá-lo. Já como um espaço
social, a preocupação está voltada às mudanças no solo natural como criação de indústrias,
vias e estradas, o que também gera danos irreversíveis ao meio ambiente.

44
A água é protegida pela Constituição Federal, que estabelece aos estados e municípios
regras para seu uso como forma de proteção. Segundo a CF/88, o mar territorial, os recursos
naturais e a plataforma continental são bens da União; já as águas superficiais ou subterrâneas
são de propriedade do Estado.
O ar atmosférico é protegido e a atmosfera é considerada um bem público, ou seja,
pertencente, indistintamente, a todos os cidadãos. A proteção ao ar é feita a partir de dois
programas nacionais: o Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar e o Programa
Nacional de Controle da Qualidade do Ar. Entende-se, ainda, que a preservação atmosférica é
indispensável à obtenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
A flora é compreendida como “a totalidade de espécies vegetais que compreendem a
vegetação de uma determinada região, sem qualquer expressão de importância individual dos
elementos que a compõem” (IGLECIAS, 2015, p. 21).
A fauna, por sua vez, engloba os seres vivos de uma região e pode ser entendida como
o conjunto de animais que habitam determinado território. Sua proteção está prevista na
CF/88, em seu artigo 225, § 1º, VII, que proíbe práticas ofensivas à função ecológica, como,
por exemplo, a aplicação de pesticidas.
Finalmente, a biodiversidade é entendida como “a diversidade de genes, espécies vivas
e diferentes ecossistemas, pois dentro dos ecossistemas se desenvolvem as relações entre as
espécies e a interação dos elementos neles presentes” (IGLECIAS, 2015, p. 23).
Todos esses elementos figuram como a preocupação principal do Direito Ambiental,
sendo considerados o bem jurídico tutelado por essa disciplina. A Ciência do Direito possui
importante papel e grande responsabilidade no que tange à preservação ambiental. As
definições apresentadas nas leis e as prescrições feitas nos princípios do Direito Ambiental
demonstram a sua aproximação com outras vertentes de estudos, como,, por exemplo com a
Ecologia. Um estudo dessa aproximação entre Direito e Ecologia é possível, dentre outras
formas, por meio de um estudo linguístico que demonstre os sentidos que emergem dos textos
legais, e por essa razão é que se passa a expor a Teoria da Análise Do Discurso Ecológica,
referencial teórico adotado na pesquisa e principal meio de compreender as consonâncias e
dissonâncias entre Direito Ambiental e Ecologia Profunda.

45
2 O CAMPO DA ANÁLISE DO DISCURSO ECOLÓGICA
As últimas décadas foram marcadas por uma verdadeira crise social, que incluem
taxas elevadas de inflação e desemprego, crise energética, uma crise na assistência à saúde,
poluição e outros desastres ambientais, uma onda crescente de violência e crimes, e assim por
diante (CAPRA, 1982). As facetas dessa crise afetam todos os aspectos de nossa vida, como
saúde, modo de vida, qualidade do meio ambiente etc. Nos dizeres de Jatobá et al. (2009, p.
52),
o contexto socioeconômico era o do amadurecimento e a consolidação do fordismo
como regime de acumulação. O mundo vivia o boom econômico do período pós
guerra e o fordismo e o taylorismo impunham uma nova escala à produção industrial.
A produção e o consumo de massa, baseados no uso intensivo do petróleo e da
eletricidade como fontes energéticas, geraram uma mudança radical no uso dos
recursos naturais e nos seus efeitos ambientais. O uso militar da energia atômica e
desastres ambientais como os do Dust Bowl nos anos de 1930, nos Estados Unidos;
Donora na Pensilvânia USA (1948); o smog londrino de 1952; a contaminação da
baía de Minamata, no Japão (1956) e outros, alertavam para os grandes riscos das
atividades potencialmente poluidoras para o homem e para o meio ambiente.
Nota-se que todos esses fatores contribuíram para a intensificação dos danos ao meio
ambiente, e isso afetou a vida de todos. Diante disso, a partir da década de 1960 algumas
conferências mundiais foram realizadas em prol da preservação do meio ambiente (MILARÉ,
2015), como, por exemplo, a Conferência das Nações Unidas, em 1972. Todo esse cenário
propiciou o surgimento de estudos, em diferentes vertentes científicas, que tratavam dos
problemas ambientais. No âmbito da Ecologia, surgiram a Ecologia Social e a Profunda que,
diferente da Ecologia tradicional, consideravam o universo não como uma coleção de fatores
isolados, mas como uma rede de fenômenos conectados (CAPRA, 2001). No âmbito jurídico,
muitos países adotavam as medidas propostas pelas conferências realizadas e criavam leis que
prescreviam formas de preservar o meio ambiente (MILARÉ, 2015).
Além disso, as últimas décadas foram marcadas também pelo surgimento de um
pensamento ecológico que propõe novas formas de encarar o mundo. As bases desse
pensamento originam-se do próprio conceito tradicional de Ecologia dado por Haeckel em
1966, que afirma que a Ecologia
compreende a totalidade das relações dos organismos com o mundo externo em
geral, com as condições orgânicas de existência; o que temos chamado de economia
da natureza, as relações mútuas de todos os organismos que vivem no mesmo lugar,
sua adaptação ao meio ambiente ao redor deles, as transformações provocadas pela
sua luta pela existência. (HAECKEL apud GARNER, 2015, p. 56).

46
Garner (2015) então, a partir desse conceito, propõe as quatro principais características
do pensamento ecológico:
1) Fenômenos holísticos (totalidade das relações dos organismos com o mundo). A visão
holística de mundo contrapõe as visões cientificas dos séculos XIX e XX, que baseada nos
ideais mecanicistas, propunha a divisão do mundo em pequenas partes, para melhor
compreendê-lo. Assim, os pensadores ecológicos estão de acordo quanto ao fato de que
somente compreendendo a complexidade, a diversidade, e as inter-relações – em vez de
entidades isoladas – pode-se entender melhor o mundo;
2) Fenômenos Dinâmicos (...transformações provocadas pela sua luta de existência...): O
pensamento científico clássico metaforizava o mundo como uma máquina composta por
partes imutáveis e bem delimitadas. Para o pensamento ecológico essas partes são fluidas,
com características mutáveis, sistematicamente integradas e definindo-se mutuamente, ou
seja, é o dinamismo do sistema que determina a natureza de qualquer parte. Assim, cada
fenômeno social é único e difere-se de outros, ainda que envolva as mesmas partes;
3) Fenômenos Interativos ( ... relações mútuas de todos os organismos): um sistema dinâmico
é composto por interações. Assim o foco das ciências ecológicas deve estar nas interações
ocorridas no ecossistema.
4) Fenômenos situados (relações com mundo externo, organismos [...] que vivem no mesmo
lugar): não importa compreender os fatos e sim os contextos que lhe deram origem.
Essa forma de encarar o mundo propiciou o surgimento de diferentes formas de
estudos, como a emergência do Direito ambiental como vertente das ciências jurídicas; o
surgimento da Ecologia social e profunda como vertente da própria Ecologia Tradicional; e a
emergência da Ecologia da Língua como vertente da Ecolinguística.
No campo da Linguística, no ano de 1972, a publicação do trabalho de Haugen,
intitulado “A ecologia da linguagem”, foi pioneira na aproximação entre Linguística e
Ecologia, desencadeando o posterior surgimento da disciplina Ecolinguística, que trata das
questões da língua e do meio ambiente (COUTO, 2007). O intuito de Haugen (1972) era
aproximar os conceitos da Linguística aos da Ecologia, associando também língua e meio
ambiente a partir da utilização, nos estudos linguísticos, de conceitos próprios da Ecologia.
Essa associação foi possível devido a algumas mudanças paradigmáticas na sociedade, que
culminaram na manifestação da visão holística das coisas e do seu estado e pela ligação

47
íntima entre língua e mundo; pela consideração de um sistema global no qual a alteração de
uma parte interfere no todo, e também em que cada mudança do mundo tem efeitos na
linguagem e esta, por sua vez, repercute no mundo (RAMOS, 2008).
Posteriormente, no ano de 2011, nasceu, no Brasil, no eixo Goiânia-Brasília, uma nova
vertente de estudos ecolinguísticos, intitulada “Linguística Ecossistêmica”, que se diferencia
da Ecolinguística tradicional, dentre outros aspectos, por não considerar os conceitos
ecológicos como metafóricos, e sim como termos próprios da própria Linguística e não como
tomados por empréstimos. Até então, havia uma dúvida sobre a utilização, metaforizada ou
não, de termos da ecologia nos estudos linguísticos, haja vista que muitos autores utilizavam
vocábulos como diversidade, adaptação e evolução pra exemplificar a língua, como metáforas,
sem considerar que há um ecossistema da língua e que esses termos são próprios da
ecolinguística. A partir da criação da Linguística Ecossistêmica, houve uma recolocação do
lugar a que pertence essa disciplina, que faz parte dos estudos ecológicos. Assim, a
Linguística Ecossistêmica é uma disciplina da Macroecologia que trata dos fenômenos
linguísticos (COUTO, 2015), daí a razão da utilização do léxico da Ecologia como elemento
inerente aos estudos linguísticos.
Assim, a partir da noção de ecossistema, essa nova área insere os estudos linguísticos
no campo da Ecologia e traça, a partir disso, seu arcabouço teórico e metodológico.
Dessa corrente surge outra, ainda mais inovadora, intitulada Linguística Ecossistêmica
Crítica ou Análise do Discurso Ecológica (ADE), que propõe a instauração de uma nova visão
de mundo na sociedade, integralizadora e holística (COUTO; COUTO, 2015), baseada em
valores ecológicos. Nessa corrente teórica qualquer tema pode ser objeto de estudos, e, como
nas demais propostas de AD, a ADE reconhece as relações de poder, as lutas, as ideologias,
ainda que por um viés diferente, não enfatizando esses fenômenos, mas defendendo a vida de
todos os seres. Além disso, o holismo defendido permite, ainda, a sua aproximação com
outras vertentes de estudo, como se propõe na presente pesquisa.
Trata-se de uma disciplina que se aproxima das demais Análises do Discurso, como
Análise do Discurso Crítica, Francesa e Positiva, por estar voltada não apenas aos aspectos
linguístico-estruturais do texto, mas que, para entender os sentidos que dele emergem e as
relações estabelecidas entre homem e meio ambiente – físico, mental e social – adentra em
campos extralinguísticos pela compreensão de fenômenos do meio ambiente social, como
acontece nas outras AD e, de forma peculiar, fenômenos do meio ambiente físico e mental.
Por fim, a Análise do Discurso Ecológica se baseia em uma nova ética, ecológica, baseada em
valores da Ecologia Profunda – relacionados ao holismo, à igualdade entre os seres, ao

48
respeito à diversidade, à mudança de ideologia etc. – que, além de buscar a felicidade humana,
conceituada por alguns filósofos como um bem supremo almejado pelos humanos (BITTAR,
2005), defende a autorrealização de todos os seres do ecossistema, ou seja, preconiza o bem-
estar de todos (COUTO; COUTO, 2015). Por essa ética, é possível perceber que a visão
antropocêntrica de mundo deixa de ter o seu lugar central e prioritário e preconiza uma visão
biocêntrica, que defende que todas as formas da vida são igualmente importantes para o
equilíbrio e a manutenção do ecossistema; e outra ecocêntrica, cujos valores estão na natureza
como um todo, e não apenas no homem e nos demais seres com vida, atentando para os
fatores bióticos e abióticos do ecossistema.
Assim, a Ecologia Social e Profunda, a Análise do Discurso, a Ecolinguística e a
Linguística Ecossistêmica servem de arcabouço teórico à Linguística Ecossistêmica Crítica. A
Ecologia Social e Profunda servem de base epistemológica por trazerem à tona princípios que
demonstram, respectivamente, a importância do homem para a defesa do meio ambiente e os
paradigmas que devem ser seguidos na sociedade. A Ecolinguística, por sua vez, é
fundamental aos estudos da ADE por estarem contidas nela as principais ideias referentes à
aproximação entre Linguística e Ecologia. Por fim, as demais formas de AD são
indispensáveis aos estudos da ADE por trazerem à tona a necessidade de se considerar os
aspectos extralinguísticos, como história e ideologia, para compreender os sentidos que
emergem do texto.
Pelo exposto, nota-se que o referencial teórico da pesquisa é composto por um todo
complexo de disciplinas, caracterizando, inclusive, a visão holística de mundo por ela
defendida, que envolve aspectos linguísticos, estruturais e discursivos da língua, além de
outros da Ecologia. Portanto, a compreensão desse referencial requer uma explicação acerca
de cada uma dessas ramificações de estudos. Compreendem-se que se adotam determinados
autores em detrimento de outros considerando a necessidade de se entender, por meio da
ideologia de vida e de um viés ecológico, os aspectos linguísticos e extralinguísticos das leis
do Direito Ambiental brasileiro, acreditando-se ser essa a melhor forma de alcançar os
objetivos deste estudo e de entender as consonâncias e dissonâncias entre as leis do Direito
Ambiental e da Ecologia Profunda, apresentando possibilidades eficientes de defender o meio
ambiente. Por fim, segundo Capra (2006), os desdobramentos da crise ambiental estão
entrelaçados aos aspectos sociais e econômicos como uma teia, em que ações e reações
repercutem nos diferentes níveis da sociedade, daí a necessidade de se entrelaçar diferentes
vertentes de estudos, como Ecologia, Direito e Linguística, e, a partir da compreensão do todo
holístico, restaurar o equilíbrio ambiental perdido pelas ações humanas.

49
2.1 ENTENDENDO A ECOLOGIA
O homem, desde o início da sua existência, teve necessidade de conhecer o seu
ambiente e a força das plantas e dos animais para garantir sua sobrevivência. Além disso,
conhecer as leis naturais se tornou indispensável à adaptação do homem ao meio ambiente e à
garantia de vida (ODUM, 2004). Hoje, “toda a gente está perfeitamente ciente de que as
ciências do ambiente constituem instrumentos indispensáveis para criar e manter a qualidade
da civilização humana” (ODUM, 2004, p. 4), o que já é reconhecido inclusive pela Ciência do
Direito, que tem buscado tutelar o meio ambiente por ser indispensável à garantia da vida
humana.
O interesse do homem para com o meio ambiente é antigo, e, ainda que não tivesse o
nome “ecologia”, os estudos sobre esse assunto existem na sociedade há muitos séculos e
auxiliam na compreensão de mundo. Nos trabalhos de Sócrates, Hipócrates e outros
pensadores há vestígios de temas de cunho ecológico (ODUM, 2004) quando buscam
entender, por exemplo, fenômenos sociais a partir da compreensão da natureza humana.
Embora a ideia de ecologia já existisse na sociedade há muito tempo, o termo
“ecologia” foi proposto em 1869, por Ernest Haeckel, fato que propiciou o surgimento da
ciência da ecologia, consolidada por volta dos anos 1900. Já em seu conceito moderno, a
palavra ecologia se define como “ciência das inter-relações que ligam os seus organismos
vivos ao seu meio ambiente” (ODUM, 2004, p. 4). É, também, a parte da Biologia (ODUM,
2004) que trata do grupo de organismos e processos que ocorrem tanto na terra, como no mar
e na água e, por essa razão, é correto dizer que a Ecologia é o estudo da estrutura e do
funcionamento da natureza.
Alguns conceitos da Ecologia são utilizados no âmbito de estudos da Ecolinguística e
de suas vertentes. Como se demonstra nos tópicos subsequentes, para alguns autores da
Ecolinguística essas noções são utilizadas de forma metafórica; já na Linguística
Ecossistêmica esses conceitos são próprios. Por essa razão, a Linguística Ecossistêmica é
considerada pertencente à Macroecologia. Dentre os que servem à Ecolinguística e à
Linguística Ecossistêmica podemos citar, em primeiro lugar, o ecossistema, que é qualquer
unidade que inclui a totalidade de organismos de determinada área, interagindo com o meio
ambiente físico de forma a que uma corrente conduza energia a uma estrutura trófica, a uma
diversidade biótica e a um ciclo de materiais claramente definidos em um sistema (ODUM,
2004). Esse conceito é a unidade básica dos estudos da Ecologia por estarem nele inclusos

50
tanto os seres bióticos como os abióticos, os quais interagem entre si. Não há um tamanho
específico para a delimitação de um ecossistema, ele “pode ir do universo como um todo até o
átomo” (TANSLEY apud COUTO, 2007, p. 26). Ademais, uma de suas características
fundamentais é a existência das interações entre os seres pertencentes a ele, ou seja, para que
seja considerado ecossistema é preciso que os seres interajam entre si, ressaltando-se que a
Ecologia está voltada para a compreensão de como se dão essas relações. A noção de inter-
relações, em conjunto com o conceito de holismo, representa uma das mais importantes ideias
basilares da Ecologia.
O princípio do holismo determina que não podem ser dissociados elementos do
ecossistema. Desse modo, a compreensão de uma parte só pode ser alcançada estudando-se o
todo ecossistêmico, pois jamais um ecólogo poderia estudar uma árvore sem considerar a
floresta da qual ela faz parte (COUTO, 2007).
Outro conceito importante é o de comunidade biológica, compreendida como o
conjunto formado pelos seres vivos que habitam determinado território (COUTO, 2007),
incluindo os fatores abióticos que compõem o local em que habitam os seres vivos, intitulado
o habitat das espécies. É um conceito importante porque reflete a possibilidade de diferentes
organismos coexistirem em determinado território de forma ordenada, e não como seres
independentes. Além disso, é essencial aos estudos da Ecologia, porque, se há pretensões de
mudar um indivíduo em particular, é necessário mudar a comunidade em que ele habita. Para
a Ecologia, o bem-estar do homem, tal como o de outras espécies, depende da análise da
natureza das comunidades e dos ecossistemas sobre os quais ele impõe sua cultura (ODUM,
2004). Uma comunidade comporta diversas espécies e é o grande número de espécies raras
que determina a diversidade da comunidade.
Existe, ainda, o conceito de população, considerada como “um conjunto de
organismos da mesma espécie ocupando um dado espaço” (ODUM, 2004, p. 257). Esses
organismos possuem características de grupo que estão relacionadas à taxa de natalidade,
mortalidade, densidade e distribuição de idade, bem como características genéticas similares.
A sobrevivência dos seres em determinado ecossistema depende, também, de sua
capacidade de adaptação às condições que lhes são impostas, o que é indispensável à
homeostase ambiental ou do organismo. Isso significa que a incapacidade de um organismo
de se adaptar a uma condição do ecossistema implica a sua não sobrevivência e a
possibilidade de sua extinção. Além disso, o ecossistema está em constante evolução devido a
seu dinamismo e à consequente possibilidade de adaptação dos seres às mudanças no meio
ambiente. Para Couto (2015, p. 40),

51
a evolução, em ecologia conhecida como ‘sucessão ecológica’, é uma outra
característica ineludível do ecossistema. Na verdade, ela tem muito a ver com
adaptação. Adaptar-se é evoluir, evoluir é adaptar-se. O nascimento, envelhecimento
e morte de um organismo ou de uma espécie é evolução, que não tem uma teleologia.
Ela se dá ao acaso, mesmo que no sentido da teoria do caos.
Alguns autores preferem utilizar outros termos como, por exemplo, “transformação”,
por considerarem que nem sempre as mudanças são para melhor, como sugerido pelo
vocábulo ‘evolução’. Essa palavra, mantida tal como sugere o professor Couto (2007), indica
que tudo no mundo está em evolução e, por isso, as mudanças e os consequentes rearranjos no
meio ambiente ocorrem justamente pela característica dinâmica e evolutiva deste (COUTO,
2007). Em resumo, está intimamente relacionada à adaptação, pois os organismos devem
adaptar-se sempre que houver alguma mudança.
Por fim, o conceito de porosidade da Ecologia remete à ideia de que os ecossistemas
não existem de forma isolada, mas transferem energia entre si e interferem uns na existência e
no funcionamento dos outros (COUTO, 2007).
Na Ecologia tradicional, existe uma tendência de colocar os seres humanos em posição
de destaque, em detrimento das demais espécies habitantes do meio ambiente, e por isso, nos
últimos tempos, tem sido discutida e apontada como uma ecologia superficial e
antropocêntrica por colocar a espécie humana no topo da cadeia alimentar (LOVATTO et al.,
2011). Por essa razão, outras formas de ecologia surgiram, como a Ecologia Social e sua
vertente, a Ecologia Profunda.
2.1.1 Ecologia Social e Ecologia Profunda
Criada por Murray Bookchin, a Ecologia Social defende, por meio de uma visão
ecossistêmica, a ideia de que os grandes problemas ambientais são fruto das bases sociais
humanas. Para essa corrente, a causa primeira dessa crise está na mente humana, que
preconiza a dominação, desde antes da era do capitalismo, mas que por ele foi absorvida.
Segundo essa corrente filosófica, a dominação do homem sobre o próprio homem
gerou sua dominação sobre a natureza. O espírito de dominação de povos sobre povos
despertou um interesse maior do homem sobre a própria natureza, o que provocou um uso

52
desordenado dos recursos naturais e gerou, consequentemente, a crise ambiental enfrentada
atualmente. Para Bookchin6
Aos enormes problemas sistêmicos criados pôr essa ordem social devemos agregar
os enormes problemas sistêmicos criados pela mentalidade que começou a se
desenvolver muito antes do nascimento do capitalismo e que foi completamente
absorvida pôr ele. Refiro-me a mentalidade estruturada em termos da hierarquia e
domínio, na qual a dominação do homem pelo homem deu origem a concepção de
que dominar a natureza fosse o destino e inclusive a necessidade da humanidade.
Percebe-se, assim, que só é possível encontrar uma solução para os problemas
ambientais se houver uma profunda mudança social, ainda que seja necessário, por exemplo,
deter o uso de substâncias químicas mortíferas na agricultura e na indústria alimentar. No
entanto, antes é preciso estar convicto de que as forças que conduzem a sociedade para a
aniquilação planetária têm suas raízes numa economia mercantil de “crê ou morre”, num
modo de produção que deve se expandir enquanto sistema competitivo (BOOKCHIN). Além
disso, não é possível exterminar a crise ambiental a partir de soluções mínimas ou pequenas
como a diminuição de pesticidas, os reflorestamentos, a diminuição dos gases de efeito estufa,
sendo necessário mudar os paradigmas sociais na mente humana, na estrutura social, e,
principalmente, transformar a forma de enxergar o mundo.
A Ecologia Social propõe a instauração de uma “sociedade ecológica” sem hierarquias,
sem diferenças sociais, sem dominação sobre o homem e a natureza e, para tanto, é preciso
resgatar os valores do ecoanarquismo de Kropotkin e os valores éticos iluministas de razão,
liberdade e força emancipadora dos ensinamentos (BOOKCHIN7). Por meio dessa forma de
pensar, Bookchin defende a ideia de que a implementação de uma sociedade anarquista-
comunista promoveria, dentre outros aspectos, relações sociais mais igualitárias, com menor
escala hierárquica, um maior incentivo à democracia, diminuição do consumismo e adoção de
valores éticos que pudessem estimular o equilíbrio entre seres humanos e natureza
(CARVALHO, 2005).
A biodiversidade, aqui, é defendida como sendo a responsável pelo equilíbrio
ecossistêmico, pois quanto maior a diversidade de espécies, mais equilibrado o ecossistema
será, principalmente considerando o papel que cada ser nele possui.
Essa corrente defende, ainda, que os seres humanos não são meros integrantes da
natureza, mas, por serem seres pensantes, deveriam ser os primeiros a contribuir, de maneira
6 “Por uma ecologia social”. Disponível em:
<https://www.nodo50.org/insurgentes/textos/ecosocial/02porumaecosocial.htm>.
7 “Por uma ecologia social”. Disponível em:
<https://www.nodo50.org/insurgentes/textos/ecosocial/02porumaecosocial.htm>.

53
consciente, para a evolução biótica. Ou seja, considerando a racionalidade humana, eles são
seres únicos e diferenciados, que devem usar esse privilégio da natureza não para a
dominação, e sim como um auxílio à evolução ecossistêmica por ações e intervenções
autoconscientes e benéficas ao meio ambiente.
Nasce, ademais, uma vertente da Ecologia Social, a Ecologia Profunda, criada em
meados da década de 1970 por Arne Naess como uma resposta à Ecologia tradicional. Para
Naess (1973), essa última era uma ecologia superficial, preocupada apenas com a poluição e
com o esgotamento de recursos, que preconizava a defesa do meio ambiente somente por ser
ele algo importante para os seres humanos (CAPRA, 2001). Diante dessa perspectiva, Naess
propõe novos paradigmas para a Ecologia, com o intuito de fomentar uma nova compreensão
ecológica de mundo. Até aquele momento, os postulados da Ecologia eram apreendidos de
forma superficial e, consequentemente, o meio ambiente não era encarado como deveria em
toda a sua complexidade. Com a propositura de novos valores éticos, ela criou o conceito de
ecosofia, que, conforme esclarece Couto (2014), é a forma pessoal de ele se referir à filosofia
que se interessa pelo meio ambiente, o que será mais bem explicado no tópico que discorre
sobre a ética.
Nesse sentido, a preservação do meio ambiente não deveria ser feita apenas para
beneficiar o homem e evitar malefícios à sua existência, como pregavam as ideologias
antropocêntricas que vigoravam na própria Ecologia tradicional, chamada por Naess de
“Ecologia Rasa”, mas a partir de valores éticos de respeito aos demais seres, que
apresentavam valor em si mesmos e igual importância na manutenção do equilíbrio
homeostático (NAESS, 1973). No âmbito da Ecologia tradicional, o homem é considerado
superior aos demais seres e a preservação ambiental deve ser vista como algo que evite
prejuízos à vida humana. Já a Ecologia Profunda entende que todo ser possui valor em si
mesmo, independente da utilidade econômica que viesse a ter para o homem. Para ela, o ser
humano é apenas um constituinte do meio ambiente, um ser microcósmico que, com outros
seres, integra o Macrocosmo. Notam-se, assim, diversas diferenças entre a Ecologia Profunda
e a Ecologia Tradicional:
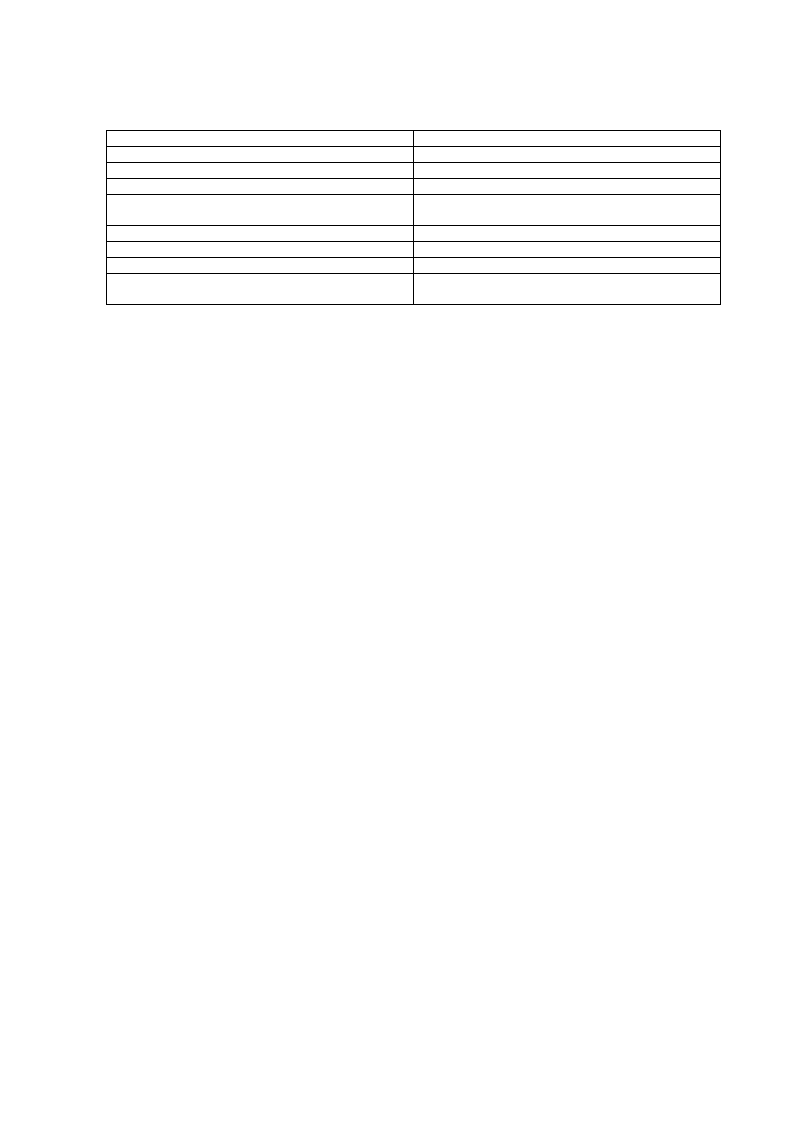
54
Quadro 1 Diferenças entre Ecologia Tradicional e Profunda
Ecologia Tradicional
Ecologia Profunda
Domínio da natureza
Harmonia com a natureza
Ambiente natural com recursos para os seres humanos Toda natureza tem valor intrínseco
Seres humanos são superiores aos demais seres vivos Igualdade entre as diferentes espécies
Crescimento econômico e material como base para o Objetivos materiais a serviço dos objetivos maiores da
crescimento humano
autorrealização
Crença em amplas reservas de recursos
Planeta tem recursos limitados
Progresso e soluções baseadas em alta tecnologia
Tecnologia apropriada à ciência não dominante
Consumismo
Fazendo o necessário e reciclando
Comunidade nacional centralizada
Biorregiões e reconhecimento de tradição das
minorias.
Fonte: Lovato et al. (2011).
Essa nova forma de enxergar a relação do homem com o meio ambiente permite que
haja mais respeito por tudo que nos cerca. Assim, a sensação de que se pertence ao todo é
fundamental para o desenvolvimento de uma nova ordem dos valores a serem adotados, que
não esteja pautada em um valor utilitarista da natureza, isso porque será um sentimento
respeitoso e de irmandade a tudo que está a nossa volta.
A Ecologia Profunda tem uma visão de longo prazo e “defende a diversidade em todas
as suas manifestações, com todos os seres vivendo numa espécie de simbiose” (COUTO,
2012, p. 53).
Ao propor a Ecologia Profunda, Naess estabelece uma série de “mandamentos” ou
princípios, os quais, como aponta o professor Couto (2007, p. 37), são:
I. O bem-estar e o florescimento da vida humana e da não humana sobre a terra têm valor
em si próprios (sinônimo, valo intrínseco, valor inerente). Esses valores são
independentes da utilidade do mundo não humano para propósitos humanos.
II. A riqueza e a diversidade das formas de vida contribuem para a realização desses
valores e são valores em si mesmas;
III. Os humanos não têm nenhum direito de reduzir essa riqueza e diversidade, exceto para
satisfazer necessidades humanas vitais;
IV. O florescimento da vida humana e das culturas é compatível com uma substancial
diminuição na população humana. O florescimento da vida não humana exige essa
diminuição;
V. a interferência humana atual no mundo não humano é excessiva e a situação está
piorando rapidamente;

55
VI. As políticas precisam ser mudadas. Essas políticas afetam estruturas econômicas,
tecnológicas e ideológicas básicas. O estado das coisas resultante será profundamente
diferente do atual;
VII. A mudança ideológica é basicamente a de apreciar a qualidade de vida (manter-se em
situações de valor intrínseco), não a de adesão a um sempre crescente padrão de vida.
Haverá uma profunda consciência da diferença entre grande e importante;
VIII. Aqueles que subscrevem os pontos precedentes têm a obrigação de tentar implementar,
direta ou indiretamente, as mudanças necessárias.
O primeiro desses princípios defende a vida em sua totalidade, a partir de uma visão
ecocêntrica e biocêntrica, e não a partir de uma visão antropocêntrica. “Tudo que é vivo
merece respeito e deve ser preservado” (COUTO, 2012, p. 56). Nesse sentido, o conceito de
“todos os seres” deve englobar, também, os seres inanimados, como rios, mares, paisagens etc.
Pelo segundo princípio a diversidade é respeitada, ou seja, todos os seres são valorizados,
inclusive o diferente, como já demonstrado no conceito de diversidade. O terceiro princípio
afirma que os seres humanos não têm o direito de reduzir a diversidade ecossistêmica,
gerando uma permissão para o homem retirar do meio ambiente físico somente o necessário
para sua subsistência, assim como os demais seres, que podem utilizar os recursos naturais do
meio ambiente físico. O quarto princípio, o mais polêmico deles, afirma que o reflorestamento
só será possível se as populações humanas diminuírem. O intuito não é destruir, mas sim
controlar a proliferação, a fim de diminuir os impactos ambientais. O quinto princípio retrata
a ação humana desordenada sobre o meio ambiente, seja para fins de subsistência ou não.
Dessa maneira, o aumento do número de pessoas implica em mais utilização dos recursos
naturais. Além disso, as práticas mercantis também aumentam a interferência do homem
sobre o meio ambiente, gerando um desgaste ainda maior.
O sexto princípio trata da necessidade de mudanças políticas, que, atualmente, estão
relacionadas ao capitalismo e ao aumento de geração de lucros. Por isso, “se a economia levar
em conta a ecologia, se houver mudança para melhor, poderá haver um realinhamento
ideológico que ponha a qualidade de vida em primeiro lugar, em que as coisas mais
importantes da vida (que tem valor intrínseco) preponderem.” (COUTO, 2012, p. 60). Essa
mudança nas políticas está relacionada a uma mudança de paradigmas, que deixe de lado os
interesses mercantis e preconize a defesa da vida. Para tanto, é necessária uma mudança geral,
que permeie todas as esferas sociais no âmbito familiar, escolar, político, dentre outros, e isso
é o que recomenda o sétimo princípio, para o qual é necessário valorizar as coisas mais

56
importantes da vida, que não estão relacionadas ao dinheiro, mas ao amor, à amizade, à saúde
etc. “O consumismo capitalista levou muitas pessoas à neurose das compras, mesmo de coisas
desnecessárias para a vida como tal. É preciso que haja uma mudança radical” (COUTO,
2012, p. 60), o que só poder ser alcançado pela instauração de novos paradigmas. Por fim, o
oitavo princípio recomenda aos seguidores da Ecologia Profunda que convençam as outras
pessoas dessas questões, ou seja, que seus seguidores auxiliem na instauração de novos
paradigmas.
Pelo exposto é possível perceber que a Ecologia Profunda não possui apenas um
caráter descritivo, mas também prescritivo. Além desses mandamentos, como afirma Couto,
George Sessions e Arne Naess propuseram os princípios supramencionados, reconhecendo
mais doze tendências recomendadas pela Ecologia Profunda, que são:
1) usar meios simples; 2) anticonsumismo; 3) apreciação das diferenças étnicas e
culturais; 4) esforço para satisfazer necessidades vitais de preferência a desejos; 5)
procurar profundidade de experiência de preferências a intensidades; 6) tentativas de
viver na natureza e promover a comunidade de preferência a sociedade; 7) apreço
por todas as formas de vida; 8) esforço para proteger ecossistema locais; 9) proteção
de espécies selvagens em conflito com animais domésticos; 10) agir não
violentamente; 11) preocupação com a situação do terceiro e do quarto mundos e
tentativa de evitar um padrão de vida excessivamente diferente de e superior ao
necessário; 12) apreço por estilos de vida que são universalizáveis e não claramente
impossíveis de ser mantidos sem injustiça para como próximo e outras espécies.
(COUTO, 2014, p. 61).
Por meio desses princípios, é possível perceber que a Ecologia Profunda apresenta-se
como uma solução adequada e eficiente aos problemas ecológicos atualmente enfrentados,
considerando que tem como foco recolocar o homem na natureza. Para tanto, é necessário
deixar de lado os paradigmas antropocêntricos que vigoram na sociedade e fazer com que
emerjam novos paradigmas voltados a essa integração do homem com a natureza. Uma forma
de resgatar esses valores é a criação e a aplicação de normas jurídicas condizentes com esses
valores. Por isso, propõe-se uma análise que verifique se as leis do Direito Ambiental, que
podem auxiliar nas condutas sociais, bem como na instauração de valores que defendam o
meio ambiente de forma holística, estão de acordo com os princípios da Ecologia Profunda.
É possível perceber que a Ecologia Social e a Ecologia Profunda buscam uma
interação e integração entre os seres, e uma defesa da diversidade, o que pode ser manifestado
inclusive nas mais variadas formas de estudos científicos. O conceito de holismo, de interação
e de ecossistema permite integrar, ao campo da Ecologia, disciplinas da Linguística, já que a
língua é considerada a interação verbal dos seres humanos e, portanto, um componente do

57
ecossistema. Dessa aproximação entre estudos ecológicos e linguísticos surgiu a chamada
Ecolinguística e suas vertentes de estudos.
2.2 O NASCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA ECOLINGUÍSTICA
A Ecolinguística é o estudo das interações verbais que ocorrem nos ecossistemas
linguísticos (COUTO, 2013, p. 12). Quem primeiro estudou a língua por uma perspectiva
ecológica foi Einar Haugen, um linguista que, na década de 1970, apresentou, em uma
palestra, os termos “ecology of language” e “language ecology”, ambos relacionados com as
interações entre a língua e o meio ambiente. Em 1972, publicou o livro Ecologia da
linguagem, no qual mostrou a ideia de meio ambiente da língua como sendo “a sociedade que
a fala” (COUTO, 2013).
Haugen, considerado o pai da Ecolinguística, definiu a ecologia como “o ramo da
Biologia que compreende as inter-relações entre plantas e animais e seus meios ambientes
inteiros” (COUTO, 2007, p. 39). Como forma de extensão desse conceito, mostrou a ecologia
da língua. Entretanto, “os estudos por ele desenvolvidos já foram examinados com nomes
como psicolinguística, etnolinguística, antropologia linguística, sociolinguística e sociologia
da linguagem” (FILL, 2015, p. 10).
Na perspectiva haugeniana, a língua era vista como uma coisa ou um organismo e
deveria ser estudada de maneira autônoma ou independente de quaisquer outros fatores, como,
por exemplo, o contexto de sua produção ou quem a utiliza (COUTO, 2015). Para ele, o
ambiente não é o mundo material para o qual determinada língua constitui um repertório de
nomes e regras de combinação. Ao contrário, o verdadeiro ambiente da língua é a sociedade
que a utiliza, o que demonstra que, para o autor, o ambiente possui um viés social e natural e
em parte psicológico (RAMOS, 2008).
Atualmente, essa disciplina engloba três vertentes distintas para estudar a língua e seus
meios ambientes, sendo elas: Ecologia linguística ou ecologia ambiental, que trata das
relações entre língua e problemas ecológicos; Ecologia da língua, que são os estudos entre a
língua e o meio ambiente social; e, por fim, Ecologia das línguas, que explica as inter-relações
entre línguas (COUTO, 2007).
Desde a década de 1980 diversos outros autores tem se dedicado ao estudo da
Ecolinguística, a exemplo de Alwin Fill, que define a disciplina como “o ramo das ciências da
linguagem que se preocupa com o aspecto das interações, sejam elas entre duas línguas
individuais, entre falantes e grupos de falantes, ou entre línguas e mundo, e que intervêm a
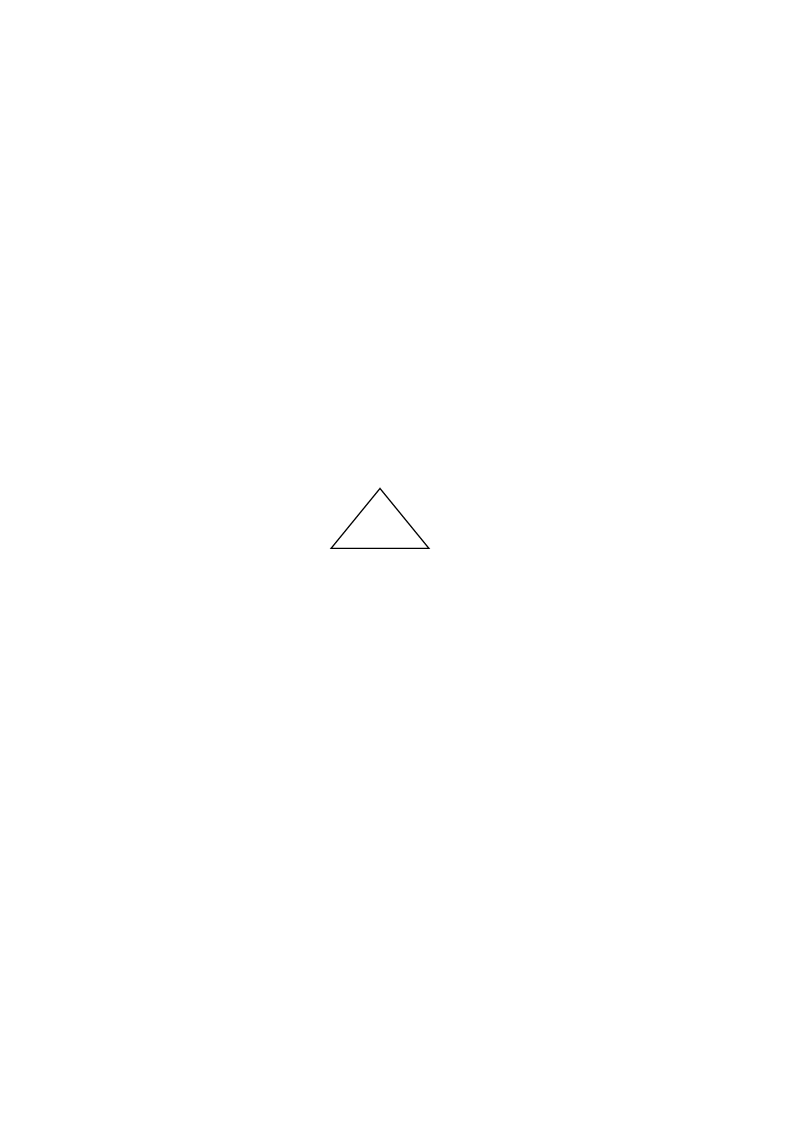
58
favor de uma diversidade das manifestações e relações para a manutenção do pequeno” (FILL
apud COUTO, 2007, p. 39).
Vários conceitos da Ecologia são utilizados na Ecolinguística, porém, para alguns
estudiosos, eles são tomados de forma metafórica, enquanto outros, como os adeptos da
Linguística Ecossistêmica, aludem a conceitos inerentes à própria disciplina, considerando ser
ela uma vertente da Macroecologia. Por isso, é necessário entender alguns termos ecológicos
usados na Linguística.
O ecossistema, de forma geral, inclui os seres vivos e o ambiente, com suas
características físico-químicas e as inter-relações entre ambos (COUTO, 2007, p. 26), como
demonstrado anteriormente. Na Ecolinguística há o ecossistema da língua, que é o conjunto
formado por língua, povo e território:
Língua
Povo
território
A língua é a interação verbal realizada entre indivíduos ou entre um povo que habita
determinado território, ou seja, “é como os membros da população interagem entre si
verbalmente” (COUTO, 2013, p. 23). Essa interação ocorre no “contexto da ecologia de
interação comunicativa, que normalmente ocorre no interior de uma comunidade de fala, que
se associa a uma comunidade de língua” (COUTO, 2013, p. 24). Toda essa interação se dá
dentro de um ecossistema linguístico e está intimamente relacionada à noção de ecossistema.
Na natureza, nada está isolado e é necessário que ocorram interações que possibilitem a
comunhão entre os seres. É a partir delas que a harmonia do todo, ou seja, o holismo é
alcançado.
Destaca-se a importância, nos estudos ecolinguísticos, da diversidade, já conceituada,
e que implica o respeito ao outro, o respeito ao diferente. Para a Ecolinguística, como
afirmam Couto e Couto (2015, p. 68), “sua aceitação implica uma atitude de tolerância para
com o outro, sobretudo quando é diferente. A não aceitação implica intolerância, o que pode
conduzir à agressividade e à violência”. No âmbito linguístico, está relacionada à cultura de
uma sociedade, por exemplo, quanto maior o número de dialetos ou línguas de um
determinado povo habitante de certo território, mais rico culturalmente ele será.

59
No ecossistema linguístico, conforme salientam Couto e Couto (2015, p. 68), “há uma
constante adaptação de organismos ao meio e do meio aos organismos, além da adaptação dos
próprios organismos entre si” e, ao observar os seres humanos, é possível afirmar que o
contexto histórico, a cultura e as ideologias são dinâmicos e mudam de acordo com novos
fatos, relacionando-se às questões sociais. Daí a importância de se considerar o ecossistema
social nas análises ecolinguísticas. Nesse contexto, é necessário que todos se adaptem, caso
contrário haverá uma desarmonia. Essa adaptação dos seres e o equilíbrio daí decorrente
promovem a homeostase, também chamada de estabilidade do ecossistema. No âmbito
linguístico, a adaptação está relacionada com a própria interação linguística. Além das
adaptações entre falante e ouvinte, em que este busca interpretar, à sua maneira, aquilo que foi
pronunciado pelo outro da forma em que imaginou que seu ouvinte entenderia, a própria
aprendizagem de uma língua pode ser considerada uma adaptação.
Atualmente, a interferência humana exagerada no ecossistema, pelo uso exagerado dos
recursos naturais, por exemplo, tem gerado um grande desequilíbrio e outros seres desse
ecossistema não têm conseguido se adaptar a essa realidade de maneira a reorganizar o meio
ambiente. Por isso, e devido a uma possível tentativa de adaptação dos próprios seres
humanos, surgiu o conceito de sustentabilidade, entendido como o “conjunto de processos e
ações que se destinam a manter a vitalidade e integridade da Mãe terra, a preservação dos seus
ecossistemas com todos os elementos físicos, químicos e ecológicos que possibilitam a
existência e a reprodução da vida” (BOFF, 2012, p. 34).
Na Ecolinguística, o conceito de evolução também é indispensável, pois a língua
também evolui, se transforma e até se dinamiza, de forma a se adaptar aos novos contextos
sociais. Assim, as mudanças linguísticas que acontecem num ecossistema linguístico são
evoluções, e, caso elas não ocorressem, as línguas rapidamente morreriam (COUTO, 2015),
aliás, as línguas só sobrevivem no decorrer do tempo porque elas evoluem e automaticamente
se adaptam aos novos contextos sociais. O conceito de porosidade, por sua vez, se relaciona
com as interferências ocorridas na interação verbal, como, por exemplo, a influência de uma
língua sobre outras.
Destarte, os ecossistemas biológico e linguístico possuem as características
supramencionadas, cada um sob sua perspectiva, como demonstrado no quadro a seguir:
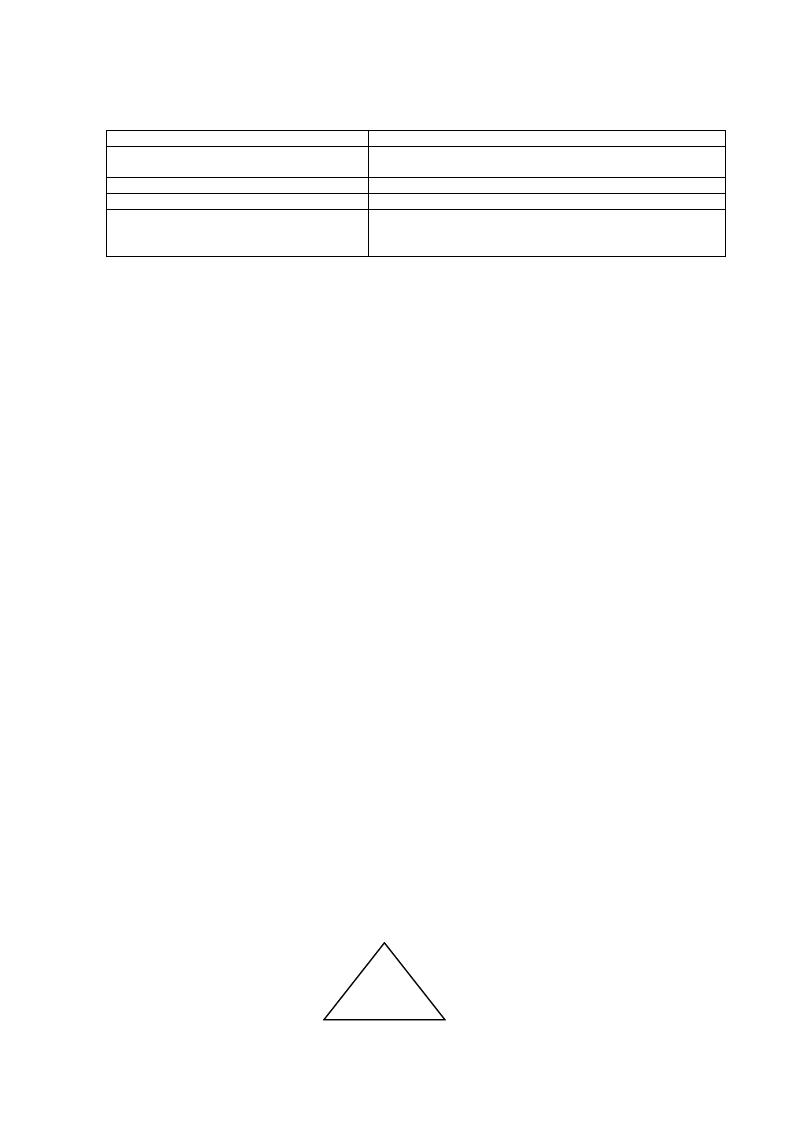
Quadro 2 Vertentes da Macroecologia
ECOLOGIA
Ecossistema biológico
População
Habitat
Inter-relações – interações
a) Interações organismos-mundo
b) Interações organismo-organismo
Fonte: Couto (2015, p. 105).
60
ECOLINGUÍSTICA
Ecossistema linguístico, comunidade linguística (Comunidade
de fala “CF” x Comunidade de Língua – CL)
Povo
Território
Linguagem/língua
- significação
- comunicação (interação comunicativa)
O ecossistema linguístico possui importantes peculiaridades. Como já mencionado, é
composto por um determinado povo, que, em certo território, interage entre si. Existem pelos
menos três ecossistemas linguísticos.
a) Ecossistema Natural da Língua
O ecossistema natural da língua está relacionado aos aspectos físicos da língua. Nele,
o povo e o território são encarados como entidades físicas, naturais, e a língua é a relação
natural entre o povo (COUTO, 2013). Esse é o ecossistema real, concreto, físico, palpável. É
o espaço físico no qual ocorrem as interações verbais, e, nesse ecossistema, povo e território
são considerados a partir de seus aspectos físicos. Para Couto, “o ecossistema natural da
língua é um ecossistema real, que consta da língua (L) falada pelo povo (P), que se encontra
no território (T)” (Couto, 2013, p. 30). Nesse ecossistema está o meio ambiente natural da
língua, onde ocorrem as relações ditas naturais; esse é o espaço físico no qual se processam as
interações e aos aspectos geográficos, ou seja, topografia, clima e regime de chuvas, bem
como o que se pode chamar de a base econômica da vida humana, além dos próprios seres
humanos (COUTO, 2009). Nele é possível realizar estudos fonéticos e outros de determinada
língua. Na relação língua-mundo, é constituído pelo mundo, ou seja, pelos aspectos físicos do
meio (ecossistema natural da língua), inclusive pelos povos. Podemos exemplificar o
ecossistema natural da Língua com o exemplo dos índios kamayurás (P), que habitam no
Parque Indígena do Xingu (T) e tem como língua específica o Kamayará (L).
A Ecolinguística natural é estudada por disciplinas como Fonologia, morfologia,
dentre outras, por elas tratarem do aspecto físico do processo de língua.
L¹
P¹
T¹
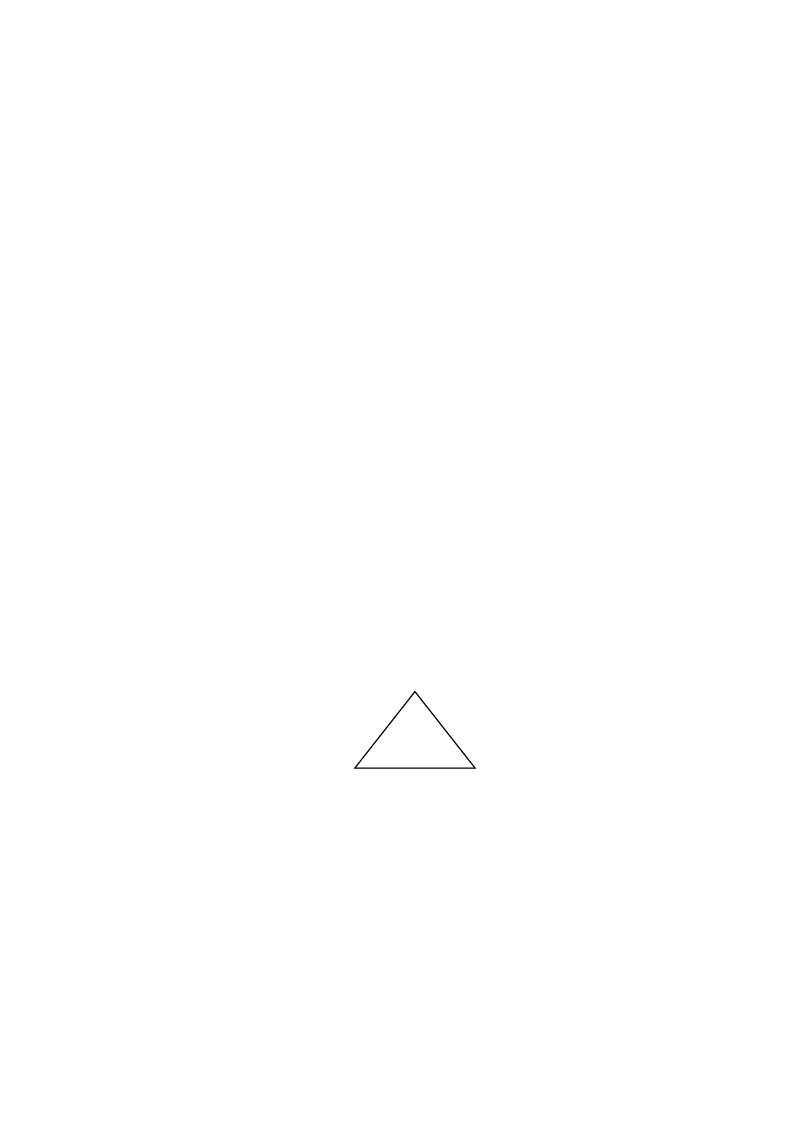
61
b) Ecossistema Mental da Língua
Esse ecossistema refere-se aos processos mentais do indivíduo falante, como, por
exemplo, a como se processa a língua na mente do indivíduo; o território é o cérebro humano
e as interações são as sinapses que nele se processam, sendo o povo a própria mente. Se a
percepção for o local, a forma como a língua é processada e armazenada no cérebro
(ecossistema mental da língua), o meio ambiente é o mental. Portanto, este diz respeito a tudo
o que ocorre no interior da mente do indivíduo. O conjunto das inter-relações mentais como
regras sistêmicas, vocabulário e outros é formado pelo como se processa a língua, ou seja,
pelo como se dá a interação verbal na mente (a qual é tida como sendo a movimentação
cerebral). As interações (L²) são o funcionamento do cérebro. O P² são as conexões neurais da
mente, ou seja, o local em que as interações se processam. Nos dizeres de Couto (2009), se
entendermos mente como o cérebro em funcionamento, então P² é a mente. Por fim, o T² é o
cérebro concreto, considerando-o como o suporte, local das conexões, o cérebro, massa
encefálica. No interior desse ecossistema se encontra o meio ambiente mental da língua. Os
seres humanos se diferenciam das demais espécies de seres vivos justamente por serem
portadores da mente e por meio dela são capazes de armazenar informações e ter uma
memória de fatos do passado (COUTO, 2015). As disciplinas voltadas a esse campo de
análise são, por exemplo, neurolinguística e psicolinguística, por estudarem o processo de
língua dentro da mente do indivíduo.
L²
P²
T²
c) Ecossistema Social da Língua
Esse ecossistema diz respeito ao caráter social da língua e a como acontecem as
relações interacionais entre os indivíduos. Nele estão contidas as regras de interação social.
Assim, a forma de organização da comunidade e suas relações sociais (ecossistema social da
língua) remetem ao meio ambiente social da língua, objeto da “esmagadora maioria dos
ecolinguistas” (COUTO, 2009, p. 124). Embora a Ecolinguística não esteja envolvida apenas
em trabalhar os fenômenos sociais, eles são importantes para compreender os fenômenos.
Para essa disciplina, é também pela compreensão dos fatores históricos e sociais que se torna
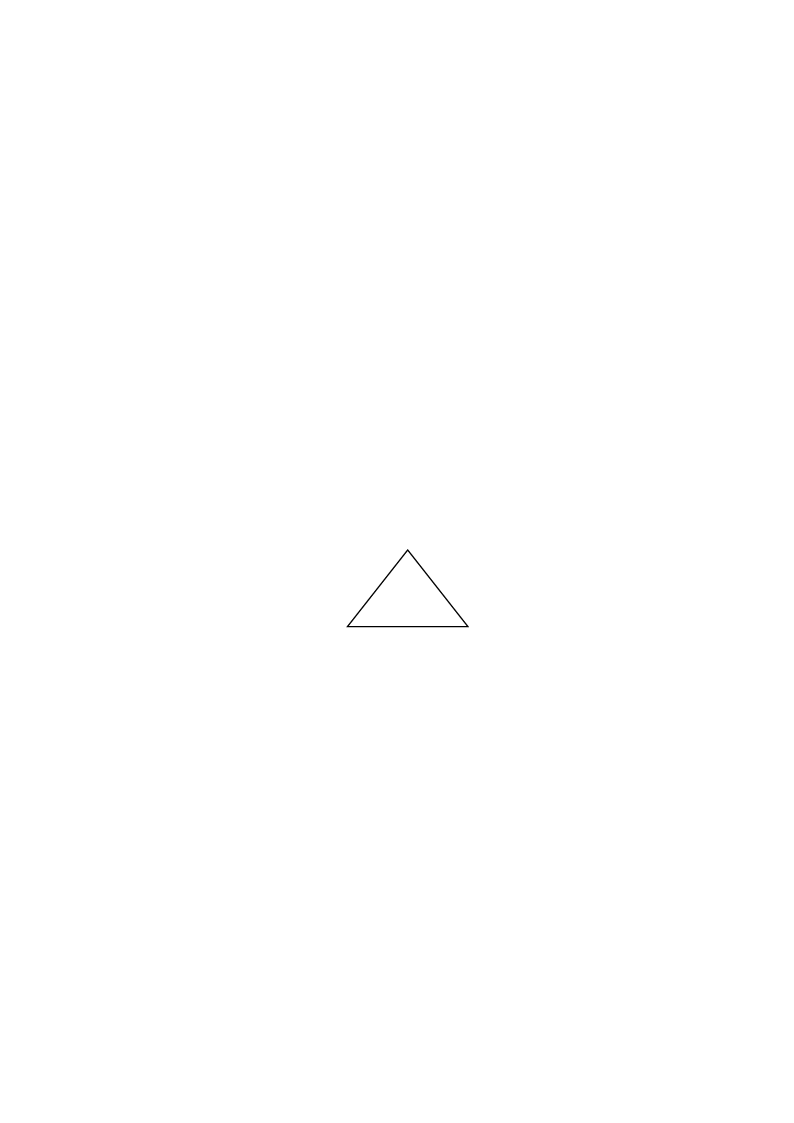
62
possível compreender a instauração de pensamentos, valores, ideologias na sociedade, e,
consequentemente, compreender o comportamento dos seres, sugerindo, então,
comportamentos a serem seguidos e auxiliando, ainda, na instauração de novos paradigmas e
de uma visão ecológica de mundo.
Entre os assuntos estudados por essa vertente se encontram a linguodiversidade, o
papel da língua na relação estabelecida entre seres humanos e meio ambiente e outros. O
ecossistema social da língua é obtido a partir da conceituação da língua (L³) como fenômeno
social. A língua assim se encontra no seio da população como um conjunto de indivíduos
organizados socialmente (P³), interindividualidades ou intersubjetividades (Couto, 2013, p.
32). Nesse ecossistema, o território (T³) é o local no qual se encontra organizada a sociedade.
Esse ecossistema, portanto, é o conjunto formado por L³, P³ e T³, no qual está o meio social da
língua.
L³
P³
T³
Estudar esses ecossistemas, e entender qual deles é prioritário no estudo, requer
compreender, primeiramente, sob qual ponto de vista deve ser analisado. Para Couto (2013, p.
33):
[...] tudo depende da pergunta que o investigador fizer. Se ele perguntar se a
língua é uma realidade genérica, específica do ser humano, está associando-a
ao meio ambiente fundamental da língua. Após essa pergunta fundamental,
ele poderá ainda querer saber se ela é algo natural, mental ou social. Se
procurá-la como fenômeno natural, encontrará as relações se dando no meio
ambiente natural da língua. Caso a pergunta seja pela língua como algo
mental, é no meio ambiente mental que as relações são encontradas. Se
procurar por ela como fenômeno social, vê-la-á como feixe de inter-relações
se dando na sociedade, no meio ambiente social da língua.
Nota-se que o conceito de ecossistema é de extrema importância nos estudos
ecolinguísticos, considerando que é no seu interior que os fenômenos ecológicos acontecem.
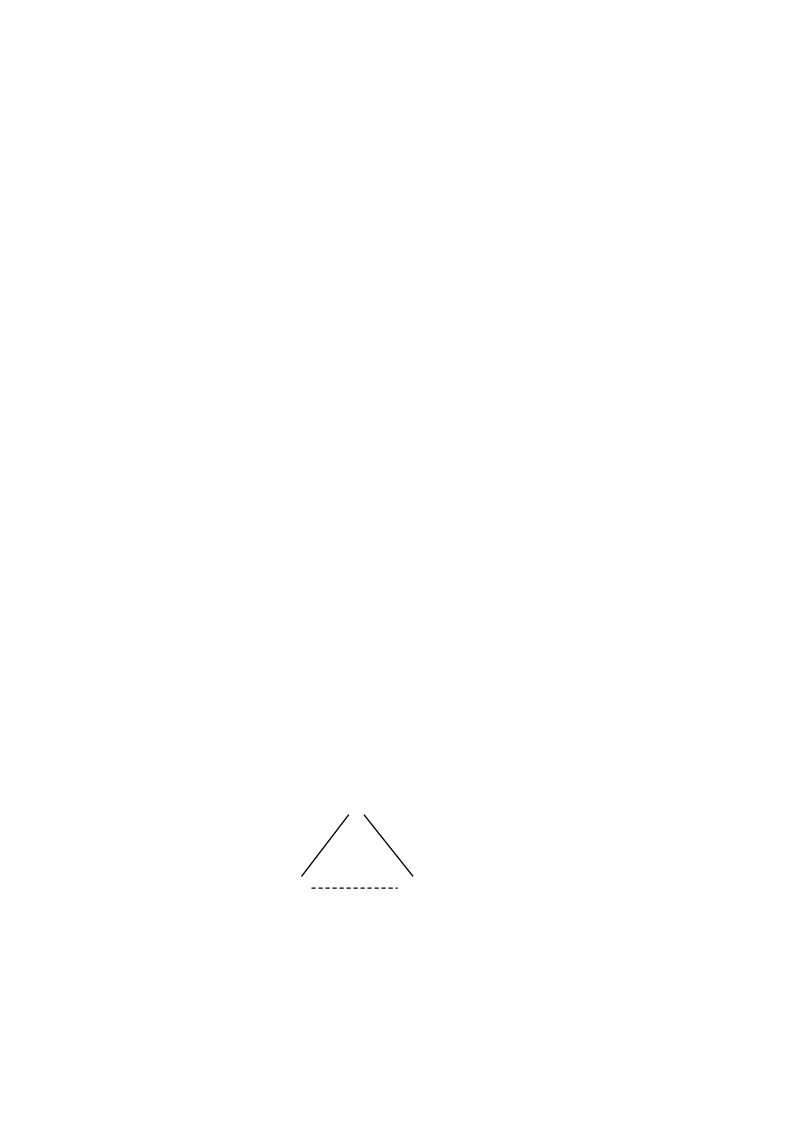
63
Por essa razão, é necessário priorizá-lo, considerando-o em sua totalidade e entendendo-o
como um todo que se subdivide em natural, mental ou social, o que não é feito pela
Ecolinguística Tradicional. Já a Linguística Ecossistêmica, parte do ecossistema para
compreender os fenômenos linguísticos, apresentando assim algumas inovações em relação a
Ecolinguística Tradicional.Assim, Hildo Honório Couto foi o pioneiro na apresentação da
disciplina Ecolinguística, a partir da escrita do livro intitulado Ecolinguística: estudo das
relações entre língua e meio ambiente (2007), e atualmente, juntamente com outros
estudiosos, desenvolve a Linguística Ecossistêmica.
2.2.1 Linguística Ecossistêmica
Para Couto (2015), ainda que Haugen seja considerado o pai da Ecolinguística, há
algumas lacunas em seus estudos, primeiro pelo fato de ele se voltar apenas ao meio ambiente
social da língua, apesar de existirem outros; segundo, porque sua concepção de língua reifica-
a, considerando-a como uma coisa em relação ao meio ambiente; por fim, a maioria dos
ecolinguistas utiliza os conceitos ecológicos como metáforas. Assim, depois de vários estudos
conjuntos com outros pesquisadores, algumas alterações foram realizadas na Ecolinguística,
como, por exemplo, a preconização do ecossistema e a consideração da visão de longo prazo
nos estudos desenvolvidos. Essas inovações permitiram o surgimento de uma nova vertente
de estudos ecolinguísticos, intitulada “Linguística Ecossistêmica”, desenvolvida no Brasil, no
eixo Goiânia-Brasília. Nela, a língua é vista como a interação verbal que se dá no ecossistema
linguístico, sendo este conceito central da Linguística ecossistêmica (COUTO, 2015).
A proposta de relação entre língua – povo – território na Linguística Ecossistêmica é
dada da seguinte maneira:
P
L
T
Tal representação deve ser lida da seguinte forma: uma população (P) de organismos
vivos e as interações (L) ou inter-relações estabelecidas com seu habitat (T). A segmentação
da linha entre L e T demonstra que não há uma relação direta entre elas. As interações só são
realizadas entre os membros de P. Assim, linearmente, a representação do ecossistema pode

64
ser dada da seguinte maneira: L-P-T (COUTO, 2015). Nota-se, também, que entre as
interações e o território sempre há organismos vivos.
Esse ramo da Ecolinguística rompe de vez com a dúvida entre os conceitos da
Ecologia serem ou não metafóricos e afirma ser essa disciplina um ramo da própria Ecologia
que estuda os fenômenos linguísticos. Esse posicionamento é verificado inclusive no nome
Linguística Ecossistêmica, que já sugere a importância do próprio ecossistema nos estudos
linguísticos. Para Couto (2014, p. 29), “ela é parte da macroecologia, em condição de
igualdade com a ecologia biológica”.
Para a Linguística Ecossistêmica existem pelo menos quatro ecossistemas: o físico, o
mental e o social, já demonstrados, e o ecossistema integral da língua, que engloba os outros
três como um todo. Cada um deles deve ser relacionado ao seu meio ambiente, físico, mental,
social e o integral da língua, respectivamente. Por essa razão, é possível perceber que, para a
Linguística Ecossistêmica, a língua é uma realidade biopsicossocial (COUTO, 2015).
Nessa vertente estão presentes dois conceitos inovadores para a Linguística e que estão
intimamente ligados ao ecossistema. O primeiro deles é a visão de longo prazo, ou seja, essa
disciplina não busca apenas resultados ou conclusões imediatos, ao contrário, procura
desenvolver paradigmas que possam ser utilizados no decorrer do tempo. Na natureza, não há
tempo cronometrado, ela não tem pressa, apenas segue o seu curso independente do homem
(COUTO, 2015), ainda que seu percurso seja maléfico ao homem e, por isso, não faça muito
sentido a expressão “protegê-la”. Ela age, se desenvolve, se transforma por si só, e o que
fizermos com ela agora apenas refletirá na forma como ela será no futuro, sem que se saiba
quais serão essas consequências. É por isso que, ao se pensar em quaisquer áreas científicas,
inclusive na Linguística Ecossistêmica, é necessário pensar no futuro e nas ações praticadas, a
fim de evitar um desequilíbrio no meio ambiente. Esse ponto de vista também deve ser
considerado nas políticas da língua, pois uma visão centralizadora, que imponha a utilização
de determinada língua em certo território, pode gerar consequências maléficas no decorrer do
tempo, como, por exemplo, preconceito linguístico e cultural no futuro. A visão de longo
prazo está relacionada ao conceito de sustentabilidade. Assim, já que não há como deter o
desenvolvimento, que ele seja pelo menos um desenvolvimento consciente, que considere a
necessidade de preservação ambiental para garantir um bem-estar futuro, isto é, que ele seja
sustentável.
Para a Linguística Ecossistêmica, a língua é interação e nasce dos atos de interação
comunicativa. Por essa razão, a existência de uma língua está condicionada ao seu uso por
pelo menos dois falantes, pois, caso exista penas um, ela já está morta (COUTO, 2015).

65
Considerando a língua dessa forma, propõe-se a Ecologia da Interação Comunicativa (EIC),
que é onde os atos de interação comunicativa nascem. A EIC conta com um cenário; um
falante e um ouvinte; com regras interacionais e sistêmicas; e com circunstantes (aqueles de
quem o falante fala). As interações constituem um diálogo, ou seja, um fluxo que consiste na
alternância entre falante e ouvinte, que seguem uma série de regras interacionais mais
voltadas aos atos de fala e sistêmicas, que, relacionadas às regras gramaticais, contribuem
para a eficácia da interação comunicativa (COUTO, 2015). Para a Linguística Ecossistêmica,
“a gramática não é mero inventário de regras estruturais (ou princípios e parâmetros) para se
formarem frases gramaticais. Como salientou Coseriu durante toda sua vida, isso é uma
abstração feita pelo linguista a partir da observação de atos de interação concretos” (COUTO,
2015, p. 50).
Pode-se perceber que algumas inovações foram trazidas por essa vertente da
Ecolinguística, que serviu de base, inclusive, a outra disciplina, a Linguística Ecossistêmica
Crítica, também chamada de Análise do Discurso Ecológica, arcabouço teórico desta pesquisa.
2.3 LINGUÍSTICA ECOSSISTÊMICA CRÍTICA OU ANÁLISE DO DISCURSO
ECOLÓGICA
Estudar a Análise do Discurso Ecológica (ADE) implica, em primeiro lugar, entender
suas bases epistemológicas, as quais justificam ou demonstram as inovações, as
singularidades e a necessidade de uma disciplina de linguística de cunho discursivo e
ecológico. A ADE se apoia nos valores da Ecologia Profunda, que, como sugere seu criador
Arne Naess, além de descritiva e crítica é prescritiva, lutando por todos os seres vivos e
criticando tudo que possa ir contra a vida na face da terra (COUTO; COUTO, 2015). Trata-se
de uma disciplina da Ecologia que, partindo da noção de ecossistema, busca entender a
relação que o homem estabelece com o seu meio ambiente e sugere comportamentos, com
base na Ecologia Profunda, a serem seguidos em prol do bem-estar do todo ecossistêmico.
Serviram de inspiração, de fundamento e de construção da ADE a Ecolinguística, já
apresentada, a Ecologia Social e sua vertente, a Ecologia Profunda, também já explicadas, e a
Análise do Discurso Positiva, criada por Martin, que, a partir de estudos iniciais de Halliday,
propôs um estilo de análise que sugere mudanças de comportamentos, a fim de transformar o
mundo em um lugar melhor.
A AD Positiva tem a finalidade de conscientizar os indivíduos do seu papel no mundo.
Ou seja, ela busca não somente analisar os discursos, mas inseri-los no contexto social de

66
produção, tentando entender como as pessoas se posicionam no mundo, redistribuindo o
poder, mas sem necessariamente lutar contra ele (VIAN JR., 2010, p. 79). É por essa
finalidade que ela se diferencia da AD Francesa e da AD Crítica, pois estas enfatizam as
desigualdades, evidenciando e descrevendo as relações de poder, e, ainda que a última busque
sugerir comportamentos, ela o faz de forma negativa, enfatizando os conflitos e a luta de
classes (COUTO; COUTO, 2015). Já a ADP tem por finalidade utilizar as conclusões das
análises para auxiliar na transformação do mundo em um lugar melhor. Ademais, as
investigações feitas por ela estão sedimentadas primordialmente no papel da gramática e no
pressuposto de que há uma relação entre a linguagem e a organização do contexto social
(VIAN JR., 2010, p. 81), ao passo que as demais formas de AD estão sedimentadas, em
primeiro lugar, no contexto histórico e na materialização das ideologias nos discursos.
A disciplina da ADE foi proposta por Couto, em 2013, com o objetivo de analisar
textos e discursos a partir de uma perspectiva ecológica. Por essa perspectiva, os valores da
Ecologia Profunda são retomados. Nela, a ecolinguística é vista como uma vertente da
Macroecologia, assim como outras ciências, como Ecologia Biológica, e por isso os conceitos
ecológicos são a ela inerentes, como ocorre com todas as ramificações da Linguística
Ecossistêmica.
Outras teorias como a Análise do Discurso Francesa e a Análise do Discurso Crítica
já serviram de base para estudos sobre questões relacionadas ao meio ambiente. Entretanto,
elas partem de referenciais teóricos imbuídos de um viés social e político (COUTO; COUTO,
2015), já que se sustentam numa ideologia política, ainda que na ADC, por exemplo, haja o
intuito de decifrar a ideologia para desmistificar o discurso. Ou seja, alguns estudiosos
buscaram compreender os discursos se posicionando a favor do meio ambiente, mas a partir
de um viés político, que está impregnado nas outras propostas de Análise do Discurso, o que
pode ser visto a partir de estudos dos discursos sustentáveis dos jornais impressos e
televisivos e da análise de discursos ecológicos objeto de alguns trabalhos acadêmicos.
Como já demonstrado, no ramo da Ecologia há o ecossistema, e, no ramo da
Linguística Ecossistêmica, fala-se em Ecossistema Integral da Língua, composto pelos meios
ambientes natural, mental e social. Cada um desses meios ambientes oferece possibilidade de
estudo da língua, mas o social processa as relações sociais e, por isso, diferentes discursos são
propostos, o que justifica um campo de estudos como a Análise do Discurso Ecológica. É por
meio da interação entre os indivíduos que os discursos emergem, e essas interações fazem
parte de um contexto social. Além disso, o discurso não pode ser desvinculado de aspectos

67
sociais como a ideologia, o contexto histórico e as relações sociais, isso porque os sentidos
que emergem da língua são ideológicos e históricos.
Embora a noção de discurso seja relativa ao meio ambiente social, a ADE não se
restringe a esse ambiente para embasar suas análises, ao contrário, uma característica peculiar
que ela possui é considerar os três meios ambientes (físico, mental e social), tornando-se mais
ampla em relação à forma de encarar o objeto de estudos do que as demais propostas de AD,
que se voltam mais ao contexto social.
Assim, qualquer discurso, conceituado como produto da interação comunicativa de um
povo, é passível de ser analisado pela ADE, que, depois de analisar discursos, utiliza suas
conclusões para auxiliar na transformação do mundo em um lugar, assim como na ADP.
Outra grande inovação dessa ciência é justamente o fato de a ideologia adotada ser diferente
das visões antropocêntricas e marxistas, o que será mais bem discutido adiante.
A ADE também possui um caráter prescritivo, recomendativo, e não apenas descritivo.
Embora haja um estranhamento na propositura desse termo, há uma prescrição de melhoria de
vida, já que ela propõe não apenas a análise de discursos, mas uma mudança das ações
humanas em prol da reestruturação do equilíbrio ambiental, seja no âmbito natural, mental ou
social. Esse caráter prescritivo da ADE é justificado pelo princípio 6 da Ecologia Profunda, o
qual recomenda mudanças nas políticas, ou, se preferirem, mudanças de paradigmas, pois
pelas políticas uma nova visão de mundo pode ser instaurada, visto que elas influenciam as
estruturas tecnológicas, econômicas, educacionais e, principalmente, ideológicas de uma
comunidade.
É importante ressaltar que a ADE não pretende analisar discursos apenas ecológicos,
mas, por seu caráter holístico, qualquer tema pode ser por ela analisado e discutido, uma vez
que seu ideal é a defesa intransigente da vida (COUTO; COUTO, 2015), Ainda, qualquer
discurso relacionado a essas questões pode ser objeto de investigação da ADE.
É necessário demonstrar à sociedade a importância que todos os seres possuem no
ecossistema. A homeostase só será alcançada se o homem tiver a consciência de que deve
viver em comunhão com os outros seres. Para Couto (2012, p. 70), “estar em comunhão é
compartilhar sentimentos, como por exemplo, o próprio fato de estar colaborando,
cooperando, ou pura e simplesmente a satisfação dos indivíduos em estar juntos formando um
todo”. Para que se efetue uma comunicação ou uma interação entre os seres, é indispensável
que, antes de qualquer coisa, haja comunhão entre os seres. Nos estudos linguísticos, o termo
“comunhão” foi utilizado sob o nome de comunhão fática e retomado por Jakobson ao propor
as seis funções de linguagem, tendo por função manter o canal da comunicação ativo

68
(COUTO, 2012). Essa comunhão fática é uma preparação para a comunicação, ou seja, é o
ponto de partida para que se estabeleça a linguagem.
A ADE, assim como toda a Linguística Ecossistêmica, se preocupa em estudar a
interação comunicativa, visto que ela propicia o nascimento da língua e dos discursos. Dela
surgem os enunciados, materializados no texto. Todo texto produzido por um falante é
dirigido a um ouvinte e, portanto, um texto só encontra-se pronto a partir do momento em que
chega ao ouvinte e em que esse o interpreta. Todo esse processo é de suma relevância à ADE
e, como afirma Couto (2015b):
O ecolinguista também vê no texto um produto da interação, mas um produto que é
parte de uma EIC. É claro que no caso de um romance é muito difícil partir do
momento em que o escritor o produziu e o leitor o leu, ou seja, é praticamente
impossível abordar esse processo como um todo, o processo da interação
comunicativa. É impossível reconstruir a EIC que lhe deu origem. No caso de textos
filosóficos, científicos, de ficção ou poético, a dificuldade é ainda muito maior. No
entanto, esse é o objetivo da concepção linguístico-ecossistêmica de texto. Ela faz
um percurso no sentido contrário ao da tradição. Esta vai do produto para o processo
de produção, à vezes ficando só no produto. A linguística ecossistêmica vai do
processo de produção para o produto, às vezes ficando só no processo de produção,
sendo o produto um componente desse processo.
Assim, na presente pesquisa, por se tratar de uma análise de textos jurídicos, torna-se
difícil resgatar o processo de produção dos discursos, visto que se parte do próprio texto.
Entretanto, as regras sistêmicas da EIC serão utilizadas, como forma de adentrar no campo de
produção desses discursos.
O conceito de texto está vinculado ao discurso conceituado pela ADE como “o
produto da interação comunicativa, ou uma parte dela” (COUTO, 2014). A palavra discurso
advém da palavra discursus, que, em latim, é o particípio passado de discurrere. O tempo
verbal particípio passado indica algo terminado, acabado e, logo, fechado. Por essa razão,
analisando-se a origem etimológica do termo, tem-se uma reificação da língua e o discurso
seria, então, uma coisa (COUTO; COUTO, 2015). Contudo, como demonstrado, o foco da
ADE não está no discurso em si, mas sim em seu processo de produção, nas interações
comunicativas das quais são produzidos, sendo preferível, por esse motivo, usar o nome
Linguística Ecossistêmica Crítica no lugar de Análise do Discurso Ecológica (COUTO;
COUTO, 2015).
O ponto central da disciplina não é o discurso em si, e sim a própria interação
(COUTO;COUTO, 2015). Para a análise do discurso tradicional, a figura do sujeito é
indispensável à compreensão do discurso; para a ADE, o sujeito não é o foco central, sendo
entendido como um sujeito ecológico, que deve estar à procura da autorrealização própria e
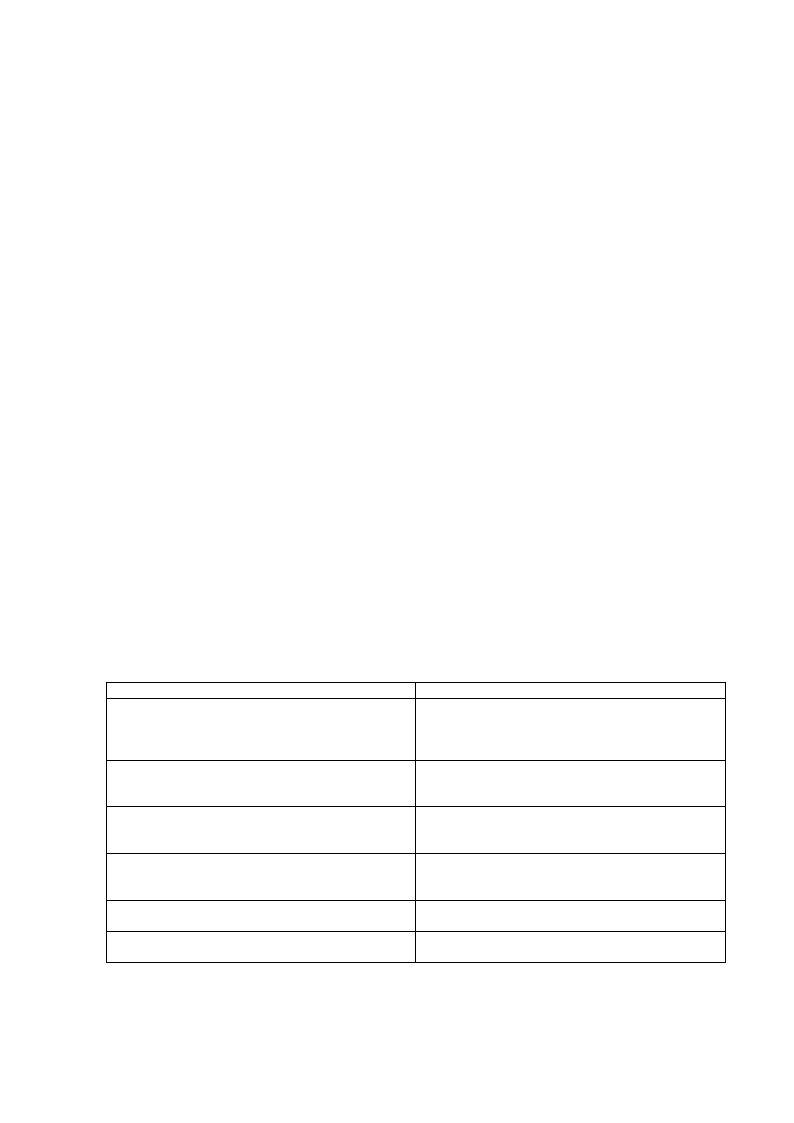
69
dos demais seres (COUTO, 2014). Assim, a capacidade de raciocinar, que apenas os humanos
possuem, deve conduzi-los a criar formas de auxiliar no equilíbrio ecossistêmico, e não
destruí-lo. Isso significa reclamar para si e defender o direito à vida, e ao não sofrimento, dos
demais seres. Trata-se de um sujeito social, mental e natural, sobre o qual recaem algumas
prescrições e recomendações da forma como deve agir no seu meio ambiente em busca de
atingir o bem-estar do todo ecossistêmico. Por fim, as condutas do sujeito ecológico devem
ser condizentes com os valores ecológicos, de forma que o holismo e a harmonia do todo
ecossistêmico sejam alcançados (COUTO, 2014).
As formas tradicionais de AD consideram o sujeito apenas como um ser social,
adentrando na esfera mental em casos pormenorizados, quando, por exemplo, adentram o
campo da Psicanálise (COUTOECOUTO, 2015). A ADE, em contrapartida, não considera,
primordialmente, a esfera social, mas considera-o como um ser natural que habita em
determinado ecossistema; um ser mental que possui a capacidade de pensar; e um ser social
capaz de interagir e de se comunicar linguisticamente com outros seres humanos, bem como
capaz de interagir e de estar em comunhão com outros seres do ecossistema.
Por fim, o título da disciplina, Linguística Ecossistêmica Crítica, é criado por sugestão
da Análise do Discurso Crítica (COUTOECOUTO, 2015), que com ela se assemelha em
alguns pontos, mas se distingue em diversos outros, como pode ser verificado no quadro a
seguir:
Quadro 3 Diferenças ADCxADE
ADC
Enfatiza o objeto de estudo do ponto de vista
ideológico-político, quando muito psicanalítico.
Está em sintonia com a filosofia ocidental, que enfatiza
a competição (marxismo: conflito). Ela pode levar ao
ódio.
Parte do ponto de vista lógico (from a logical point
ofview: Quine): não refuta nem critica a visão de
mundo ocidental, que é reducionista.
Tende a apenas analisar e criticar os estados de coisas
de que trata, com raríssimas exceções.
É humanista, logo, antropocêntrica como o marxismo,
cuja filosofia assimila.
Critica o estruturalismo, sobretudo a gramática
gerativa.
ADE
Coloca em primeiro plano a questão da vida na face da
terra, a ecologia, que é parte da biologia. Se é para
falar em ideologia, que seja a ideologia ecológica ou
da vida.
Tem mais afinidade com as filosofias orientais
(hinduísmo, budismo, taoísmo), que enfatizam a
cooperação, o que leva à harmonia, ao amor.
Parte do ponto de vista ecológico (fromanecological
point ofview:Finke), que é abrangente e holístico.
Combate a cosmovisão ocidental.
Analisa, critica e prescreve/recomenda
comportamentos que favoreçam a vida e evitem o
sofrimento.
É biocêntrica, ecocêntrica, como a ecologia profunda.
Critica o estruturalismo, a gramática gerativa e a
AD(C).
(continua)
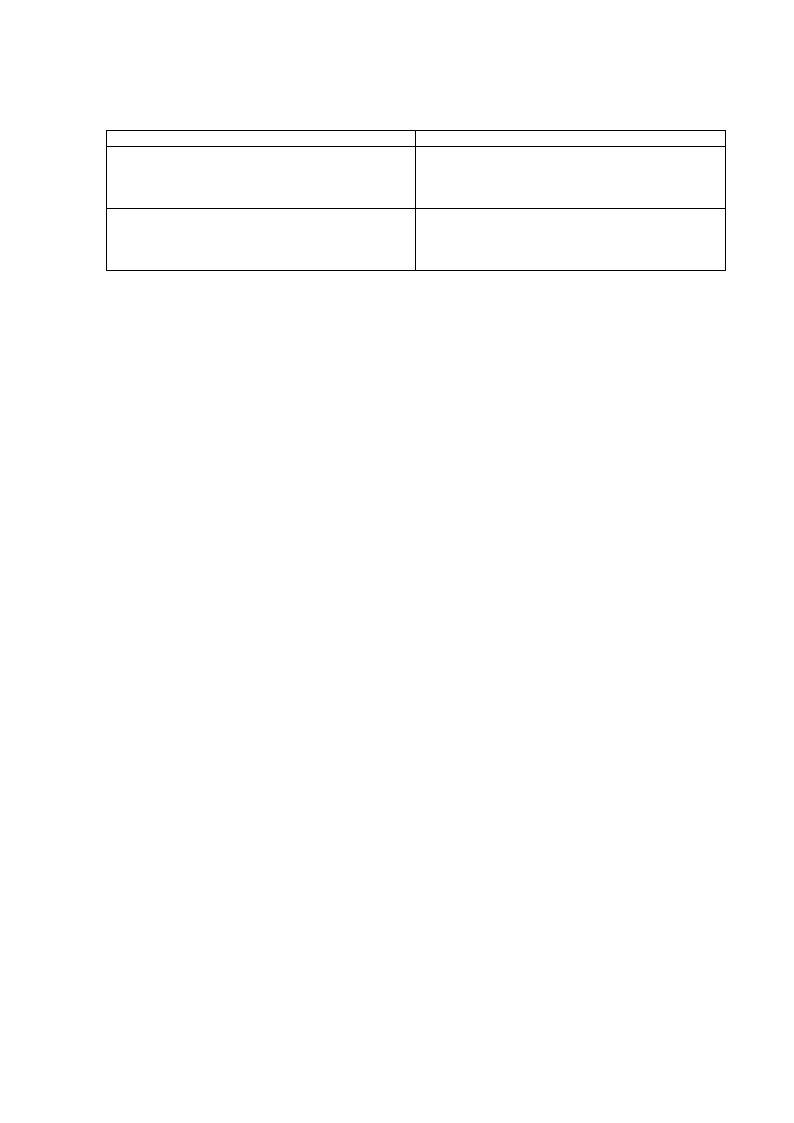
70
ADC
Dedica-se a discursos produzidos, logo, ao produto, a
algo feito, à coisa.
Dedica-se apenas ao ecossistema social, quando muito
chegando ao ecossistema mental (psicanálise).
Fonte: Couto;Couto (2015, p. 74).
(Continuação Quadro 3 Diferenças ADCxADE)
ADE
Dá preferência ao próprio processo de produção de
discursos (das Fliessenselbst [o próprio fluxo], Fill,
1993). A ecologia da interação comunicativa é o
núcleo central da linguística ecossistêmica.
Leva em conta não só o ecossistema social e o
‘mental’, mas também o natural, com o que se
aproxima da ecocrítica (ver Glotfelty). Tende a incluir
até mesmo a dimensão espiritual.
A partir da apresentação das peculiaridades, e das consonâncias e dissonâncias entre a
ADE e as demais formas de AD, é necessário também compreender a forma como a ideologia
é estudada. Diferente das outras formas de AD que enfatizam o viés político das relações
sociais, a ADE está voltada à defesa da vida, não considerando primordialmente os aspectos
políticos e capitalistas, e ao contrário, está embasada em uma ideologia de vida.
2.3.1 A Ideologia na ADE
O termo “ideologia” é um dos mais complexos nos estudos das ciências sociais,
devido a sua vasta gama de significações e concepções. No decorrer da história, diversos
autores dele se apropriaram, com diferentes percepções, para entender como aconteciam os
fenômenos históricos e sociais.
Utilizado pela primeira vez por Destutt de Trace, em 1801, em seu livro Elementos de
Ideologia (1801), esse termo definiu a ciência de estudos das ideias. O interesse desse
estudioso era o de entender a origem da formação das ideias de um grupo social, a partir do
comportamento de um indivíduo em seu meio ambiente. Posteriormente, Napoleão dele se
apropriou, mas com um sentido mais pejorativo, atribuindo-lhe o valor de falsa consciência ou
abstração da realidade (CHAUI, 1980). Nota-se, assim, que foram criadas duas vertentes do
termo “ideologia”. De um lado, foi-lhe atribuído um sentido positivo de estudo das ideias; de
outro, um sentido negativo de falsa percepção da realidade, de abstração.
Um dos pensadores que mais desenvolveu a ideia de ideologia e influenciou inclusive
o pensamento moderno foi Karl Marx. Sua visão de ideologia, apresentada no livro A
ideologia alemã, para muitos está atrelada a um sentido negativo, como falsa consciência
(LOWY, 1991). Além disso, seu conceito é visto como meio pelo qual se instaura a
dominação entre as pessoas (COUTO, 2012). Nessa perspectiva, Marx desenvolveu obras que
tratavam do trabalho humano e de sua relação com a natureza.

71
Para ele, os frutos do trabalho devem ser dados aos próprios trabalhadores e o meio
ambiente deve ser utilizado pelo homem apenas para dar-lhe o que é necessário para a
sobrevivência: “o processo de trabalho, como apresentamos em seus elementos simples e
abstratos, é atividade orientada a um fim para produzir valores de uso, apropriação do natural
para satisfazer a necessidades humanas” (MARX apud COLMAN; POLA, 2009,p. 179).
Entretanto, de acordo com o autor, a instauração do capitalismo propiciou um cenário
socioeconômico em que os benefícios do trabalho eram percebidos não pelos que o
desenvolviam, mas pelos detentores dos meios de produção.
Para Marx, na sociedade capitalista, o trabalho está vinculado ao propósito de
desenvolvimento e expansão material. Nesse processo, a maioria da população não possui
acesso a esse desenvolvimento, subordinando-se ao trabalho assalariado para garantir sua
subsistência. É por isso que ele propõe uma luta de classes, um conflito entre os diferentes
níveis sociais, no qual o proletariado deve lutar para alcançar uma igualdade social com a
burguesia. Desse modo, na ideologia marxista, a luta e o conflito figuram como elementos
essenciais e inerentes à sociedade (COLMAN; POLA, 2009). Assim, a ideologia de que ele
trata, embora tenha como foco a integralização e a igualdade entre classes, reconhece, permite
e até mesmo incentiva a luta e o conflito entre os indivíduos.
Os ideais marxistas foram retomados e até criticados por Louis Althusser, que, na obra
Aparelhos Ideológicos de Estado (1992), separa ideologia e ciência, afirmando que,
diferentemente do que ocorre com a ciência, que está num campo concreto, real, a ideologia
encontra-se em um campo duvidoso e perigoso, por estar no âmbito do abstrato, do imaterial.
Para ele, ainda, não há como dissociar a ideologia da ciência, porque a prática material e
histórica reflete na construção de uma prática científica.
Pode-se dizer que, na visão de Althusser, a ideologia “é, aí, um sistema de idéias, de
representações que domina o espírito de um homem ou de um grupo social” (ALTHUSSER
apud COUTO, 2014, p. 65). Para ele, todo acontecimento se dá sob os valores ideológicos,
existindo mais de uma ideologia em uma sociedade. É nesse contexto que propõe, na já citada
obra, a ideia de aparelhos repressivos e aparelhos ideológicos do Estado, sendo o primeiro
aqueles em que existe o uso da coerção e da força para se estabelecer a ordem, como a polícia,
as prisões etc., e o segundo aqueles em que não há o emprego da força para se instaurar o
poder e a dominação, como a escola, a igreja, a família etc.
Michel Pechêux, por sua vez, ancorado nas ideias de Luis Althusser, demonstrou a
importância e a necessidade de se considerar a ideologia nos estudos do discurso. Para ele, ela
está intrinsecamente relacionada às condições históricas de produção do discurso e seu

72
conceito ganha espaço na AD na medida em que elas passam a considerar os aspectos
exteriores à língua em maior ou menor proporção (PECHÊUX, 1966).
Embora os propositores da Análise do Discurso Ecológica não enfatizem a questão da
ideologia, por não estarem tão presos apenas aos aspectos sociais e históricos do discurso, eles
a reconhecem como uma realidade social (COUTO;COUTO, 2015) e, portanto, reconhecem,
inclusive pelo caráter englobante e holístico dessa disciplina, a necessidade de considerá-la
em suas análises para compreender os sentidos que emergem dos textos. Entretanto, a base é
uma ideologia de vida, pois “já que é pra falar em ideologia, que seja em uma ideologia de
vida” (COUTO, 2013).
Para a ADE, a ideologia deve ter tomada como um conjunto de ideias que motivam a
prática social, não de maneira falsa ou como um mascaramento da realidade, mas como um
mecanismo auxiliar de restabelecer o homem em sua complexidade (COUTO, 2014),
resgatando os valores ecológicos e naturais perdidos, no decorrer da história, pela visão
capitalista instaurada na sociedade.
Assim, o intuito de utilizar essa ideologia ecológica ou de vida é, justamente, trazer à
sociedade uma Visão Ecológica de Mundo (VEM) (COUTO, 2014). Nessa perspectiva, a luta
e o conflito não são negados e a ADE considera que esses elementos estão presentes na
sociedade, mas não devem ser enfatizados, como ocorre em outras vertentes de AD, ao
contrário, devem ser evitados na medida do possível. A ideologia de vida da ADE se difere
das ideologias políticas em cinco principais pontos: antropocentrismo, ênfase ao conflito,
ditadura do proletariado, finalidade da ideologia, e, por fim, monoculturalismo.
A visão de mundo ocidental preconiza o homem em detrimento das demais espécies
do ecossistema e considera-o superior aos demais seres, sendo estes, por sua vez,
considerados objetos usados para suprir as necessidades humanas e seu bem-estar. A ADE,
embora reconheça a presença de uma ideologia política na sociedade, defende valores
ecológicos e prega o respeito e o cuidado a todos os seres do ecossistema, não com a
finalidade de trazer benefícios aos seres humanos, mas por apresentarem valor em si (COUTO,
2014).
Em segundo lugar, diferentemente do que propôs Karl Marx, que buscava uma
igualdade entre as classes reconhecendo a necessidade de luta e conflito, a ADE busca a
igualdade entre todos os seres (COUTO; COUTO, 2015). A ideologia política prega que o
conflito existe para buscar a igualdade social, ou seja, ele seria uma justificativa para a busca
da igualdade entre os seres. Já a ideologia ecológica não adota o conflito como forma de
alcançar uma igualdade, mas sim os meios pacíficos, em forma de respeito à diversidade.

73
A ADE não pretende instaurar nenhum tipo de dominação, ao contrário, ela
recomenda comportamentos para que o equilíbrio homeostático seja alcançado (COUTO;
COUTO, 2015). Nesse contexto, a ideologia por ela proposta busca, também, evitar o
sofrimento de todos os seres na face da terra. Assim, com relação aos seres humanos, por
serem seres pensantes e também sociais, defende o não sofrimento físico, mental e social
(COUTO; COUTO, 2015). O sofrimento físico está relacionado à dor física, como, por
exemplo, as lesões corporais, os espancamentos e a morte cruel. O sofrimento mental está
relacionado aos abalos psíquicos individuais que o indivíduo pode sofrer, como a tortura, a
ameaça e os xingamentos. Por fim, o sofrimento social, reprovado pela ADE, é aquele sofrido
por um grupo indistintamente: a exploração de menores, as diferenças sociais entre classes da
sociedade, a discriminação cultural, a trabalhista, a étnica e a profissional. Por reconhecer
essas três esferas de sofrimento, a ADE defende a vida e a autorrealização de todos os seres.
Os conceitos de “vida” e de “autorrealização” relacionam-se à instauração, na
sociedade, de ética baseada em valores ecológicos. A ADE prima por uma ética ecológica,
também chamada de ecoética, entendida como “a ética do não sofrimento ou a ética da
harmonia das inter-relações entre os elementos e o todo de um ecossistema, é uma ética da
vida, que aprende com os próprios ecossistemas da natureza como se relacionar com ela e
entre nós mesmos” (COUTO; SILVA, 2014, p. 43). Por essa razão, se apresenta, nesta
pesquisa, a forma como a ADE encara a ética, o que, inclusive, deveria ser utilizado nas leis
jurídicas que tutelam o meio ambiente.
2.3.2 A Ética na ADE
Como demonstrado no primeiro capítulo, os valores éticos têm sido estudados desde a
Antiguidade, por diversos filósofos, na busca por entender como as relações entre os seres
humanos se desenvolvem. Entretanto, as perspectivas analisadas são de caráter humanista e
antropocêntrico, em que se priorizam o bem-estar e a felicidade humana. Nessas perspectivas
ético-filosóficas há, ainda, elementos do ecossistema que devem ser utilizados pelo homem na
proporção em que for necessário para seu bem-estar. Por muito tempo, sob a ideologia
capitalista e antropocêntrica, o homem cultivou a visão de que poderia extrair do meio
ambiente tudo que fosse necessário ao seu bem-estar. Além disso, cultivou uma visão de que
o meio ambiente era um eterno fornecedor de bens e matérias-primas (AZEVEDO;
VALENÇA, 2006). Contudo, os sinais de esgotamento dos recursos naturais fizeram emergir
a necessidade de novos pensamentos e novas formas de enxergar o mundo, que preconizasse

74
uma visão ecológica. É necessário, portanto, a instauração de uma ética diferente daquela
antropocêntrica desenvolvida por várias vertentes de estudos como, por exemplo, na ciência
do Direito, que busca meios de atingir o bem-estar e a felicidade humana.
A instauração de uma visão ecológica ou de uma ética ambientalista na sociedade
requer, em primeiro lugar, uma mudança de paradigmas. Como sugere Thomas Samuel Khun
(apud CAPRA, 2006, p. 25), trata-se de realizações de ordem científica reconhecidas
universalmente e que, por determinado período de tempo, são capazes de apresentar soluções
a alguns problemas existentes na sociedade, ou seja, é o modelo constituído de crenças e
técnicas que será compartilhado e seguido pela sociedade. Esse conceito foi ampliado por
Capra (2006, p. 25), que o definiu como “uma constelação de concepções, valores, de
percepções e de práticas compartilhados por uma comunidade, que dá forma a uma visão
particular da realidade, a qual constitui a base da maneira como a comunidade se organiza”.
Essa proposta de mudança de paradigmas é encontrada nos princípios da Ecologia
Profunda. Arne Naess (1972) afirma que a preservação ambiental e o restabelecimento do
equilíbrio homeostático só podem ser alcançados se o homem reconhecer que, assim como os
demais seres, é mais um integrante do meio ambiente, devendo dele retirar apenas o que lhe
for essencial. Para ele, a verdadeira ecologia está relacionada à percepção dos seres humanos
junto à natureza e o único jeito de sensibilizar o homem com relação ao seu papel é colocá-lo
em contato com ela.
Para tanto, Naess propôs a chamada ecosofia e, segundo o próprio autor,
Com ecosofia eu quero dizer uma filosofia da harmonia e do equilíbrio ecológico.
Uma filosofia como uma espécie de sofia (ou) sabedoria, é abertamente normativa,
ela contém ambos normas, regras, postulados, priorização de valores e hipóteses
concernentes ao estado dos negócios em nosso universo. Sabedoria é sabedoria
política, prescrição, não apenas descrição científica e predição. Os detalhes de uma
ecosofia mostrarão muitas variações devidas a significantes diferenças relativas não
apenas aos fatos de poluição, recursos, população, etc., mas também de valores
prioritários. (NAESS apud AZEVEDO; VALENÇA, 2009, p. 15).
Assim, a ecosofia de Naess tem como prioridade não apenas o bem-estar humano, mas
a autorrealização de todos os seres. Além disso, a defesa do meio ambiente depende da
humildade dos seres humanos e da compreensão de que são coadjuvantes no cenário
ecossistêmico, e não protagonistas. Quando a ética é pautada em valores ecológicos, ou seja,
quando se pratica a ecoética, o homem deixa de ser considerado um ser superior aos demais e
a visão antropocêntrica deixa de ser a estrutura ideológica, diferente do que propunham
algumas vertentes de estudo, inclusiva a Ecologia tradicional. Nos dizeres de Couto (2006):

75
O movimento da ecologia rasa pode até lutar contra a poluição e a depredação dos
recursos naturais. Mas, seu objetivo central é a saúde e o bem-estar dos povos dos
países desenvolvidos, uma vez que põe em primeiro plano o desenvolvimento
econômico, não o desenvolvimento pessoal. Portanto, contrariamente ao movimento
da ecologia profunda, não vai a fundo nas questões ambientais. Ele se atém a
interesses humanos de curto prazo. Ele é formado por movimentos e idéias
pretensamente ambientais que, a despeito de bem intencionados, não têm por
objetivo modificar o atual estado de coisas. Por serem antropocêntricos,
freqüentemente, chegam a justificar a depredação da natureza em nome de um
passageiro bem-estar humano.
Assim, a ADE, ancorada nos princípios da Ecologia Profunda, se posiciona contra o
utilitarismo, aqui entendido como os meios de alcançar o bem-estar máximo da coletividade
humana, pregado somente pelas visões antropocêntricas. A ética ambiental tenta entender,
ainda, qual é o lugar do homem no ecossistema e qual deve ser o seu papel nele. Ela
reconhece a necessidade da busca de uma autorrealização que inclua todos os seres. Essa
felicidade é a minimização do sofrimento de toda e qualquer espécie, visto que o sofrimento
de uma única espécie implica em uma desarmonia do todo. Nesse sentido, é possível dizer que
a ética defendida pela ADE coaduna com as prescrições biocêntricas propostas por Boff, que
determina aos indivíduos: “age de tal maneira que tuas ações não sejam destrutivas à casa
comum, a Terra, e de tudo que nela vive e coexiste conosco”, ou “age de tal maneira que se
permita que todas as coisas possam continuar a ser, a se reproduzir e a continuar a evoluir
conosco”, e, por fim, “age de tal maneira que tua ação seja benfazeja a todos os seres,
especialmente aos vivos” (BOFF, apud MILARÉ, 2005).
É certo que o homem se diferencia dos demais seres por sua capacidade de raciocinar e
de se relacionar com os outros e por isso é dada a ele uma maior responsabilidade. Para Couto
e Silva (2014, p. 49),
sobre a vida humana não podemos ser ingênuos e nela pensarmos nos mesmos
moldes em que pensamos na vida animal. O ecossistema humano se mantém pelas
relações com o seu meio natural e, nesse nível, compartilha tanto das mesmas
condições de existência da fauna e da flora sobre esse planeta quanto dos meios
ambientes mentais sociais, e é no campo dessas relações dos ecossistemas mentais e
socais que se encontra o que os filósofos chamam de humanidade.
Entretanto, diferentemente da visão antropocêntrica de mundo em que essa
característica humana coloca o homem em posição de destaque no ecossistema buscando
apenas meios de encontrar a felicidade , a racionalidade humana o torna mais responsável
pela busca do equilíbrio homeostático. Por haver no homem uma autoconsciência e por ser ele
responsável por seus próprios atos, deve pensar em suas ações racionalmente, e não
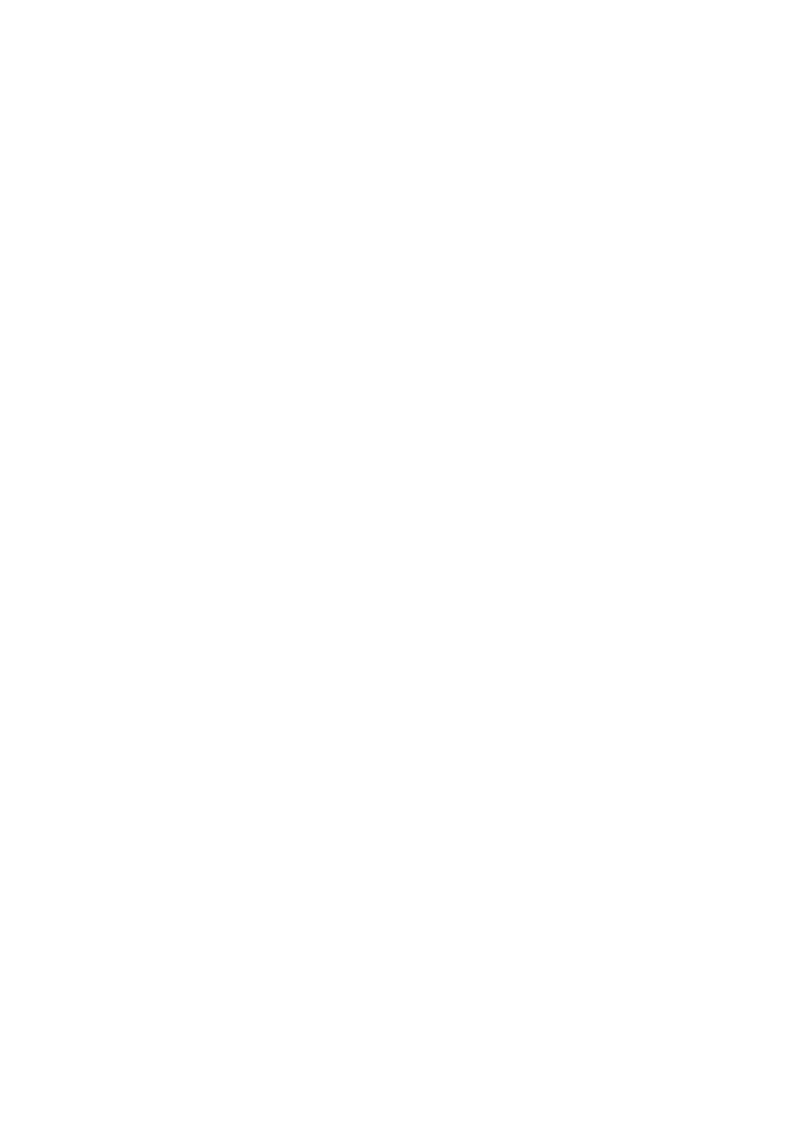
76
instintivamente, como o fazem os demais seres, para, desse modo, auxiliar na busca do bem-
estar do todo ecossistêmico. Há, assim, uma responsabilidade dos homens no sentido de
preservar a natureza e não de apenas buscar a sua própria felicidade, como era defendido
pelos filósofos tradicionais.
O filósofo Hans Jonas (2005) propôs, no século XIX, uma nova visão da ética, na qual
ele instituiu um imperativo de responsabilidade, antagônico ao imperativo categórico proposto
por Kant, que afirmava que as formas de agir deveriam se transformar em uma lei universal.
Para Jonas, as ações humanas deveriam ser compatíveis com a permanência da vida humana
na Terra e, por isso, o homem passou a ter uma relação de responsabilidade com a natureza.
Assim, pela teoria de Hans Jonas, é proposto que o homem tenha responsabilidade
para com os demais seres do ecossistema, o que implica respeito e cuidado com todos os seres
que o integram. Ele ainda reconhece as ações danosas do homem ao meio ambiente e propõe
uma forma de repensá-las.
Jonas (2006) também propõe uma ética que se preocupe com as questões futuras,
diferente de outros pensamentos éticos, nos quais a preocupação estava relacionada apenas
com o presente. Para ele (2006, p. 36), “o longo trajeto das conseqüências ficava ao critério
do acaso, do destino ou da providência. Por conseguinte, a ética tinha a ver com o aqui e
agora, como as ocasiões se apresentavam aos homens, com as situações recorrentes e típicas
da vida privada e pública”. Segundo o filósofo, é importante reconhecer a realidade
transformadora do homem incluindo seu trato com o mundo e a ameaça de sua própria
existência (JONAS, 2005). Essa perspectiva de Jonas está de acordo com a característica
peculiar da ADE de propor uma visão a longo prazo em que, como demonstrado, as mudanças
sejam pensadas não apenas para o presente, e sim para o futuro, em que todos os seres sejam
autorrealizados.
Pautados nessas questões, os ideais propostos pela ecoética buscam uma mudança de
paradigmas. É justamente por perceber essa diferença do homem com os demais seres que é
possível se pensar em um novo paradigma, no qual a visão antropocêntrica dê lugar a uma
visão ecocêntrica de mundo e em que os seres humanos se restabeleçam em sua complexidade.
É necessário que o homem se reconheça como parte integrante de um todo e utilize sua
capacidade intelectual para contribuir com o equilíbrio homeostático, esquecendo o
utilitarismo ou a busca pelo bem-estar da coletividade humana, que há muito tempo vigora na
sociedade e que contribui para os problemas ambientais até então enfrentados.
A ADE não trata apenas da relação entre indivíduo-mundo, mas também prescreve um
respeito entre indivíduo-indivíduo, que muitas vezes tem sido esquecido por algumas

77
ideologias, como a religiosa e a política, que acabam por segregar pessoas, mundos e culturas.
Aqui entra o biocentrismo, isto é, o respeito a todos os seres vivos indistintamente, e nesse
contexto, a vertente do Direito que trata da relação homem e meio ambiente deve considerar
os valores ecológicos e seguir a ecoética, o que passa também a ser averiguado.
Uma grande inovação da Análise do Discurso Ecológica é o seu caráter
multimetodológico, em que é possível apresentar diferentes formas e métodos para alcançar o
objetivo de estudar os discursos. Considerando o caráter holístico da disciplina, sua
metodologia não poderia ser outra senão aquela que abrange todas as possibilidades de
realizar um estudo, o que é feito, é claro, dentro de padrões de coerência e lógica, como passa
a ser exposto.

78
3 METODOLOGIA
A presente pesquisa insere-se no âmbito dos estudos linguísticos e, a partir de uma
aproximação entre os estudos da Linguística, do Direito e da Ecologia Profunda, tem como
objetivo geral averiguar as consonâncias e as dissonâncias entre o Direito Ambiental
brasileiro e a Ecologia Profunda.
Para alcançar o objetivo geral, foi selecionado, em primeiro lugar, como corpus desta
pesquisa, o artigo 225 da Constituição Federal Brasileira que, por tratar especificamente da
tutela do meio ambiente, é a base normativa constitucional para a formação do Direito
Ambiental brasileiro. Lenza (2012, p. 239), retomando os conceitos do professor José Afonso
da Silva, afirma que “as normas de grau inferior somente valerão se forem compatíveis com
as normas de grau superior, que é a constituição. As que não forem compatíveis com ela serão
invalidadas, pois a incompatibilidade vertical resolve-se em favor das normas de grau mais
elevado”. Dessa maneira, todas as leis do Direito Ambiental devem estar em consonância com
os valores constitucionais, o que reflete na segunda justificativa de escolha de um artigo
constitucional para dele tratar. Por fim, essa escolha também se justificada por ser ele
considerado o mais avançado em matéria ambiental (MILARÉ, 2015).
Além desse artigo constitucional, comporão o corpus da pesquisa as leis
infraconstitucionais que complementam o artigo constitucional 225: leis nº 9.985/2000 e nº
11.105/2005, bem como as demais leis que forem requisitadas ao longo da pesquisa. Farão
parte deste estudo os princípios jurídicos do Direito Ambiental, pois essa nova corrente
filosófica do Direito, a teoria pós-positivista, reconhece a necessidade de priorizar os
princípios, e não puramente as leis positivistas, nas soluções de conflitos, além de ser
indispensável à interpretação e aplicação do artigo e das leis supramencionados. Ademais, os
princípios do Direito Ambiental impõem deveres à sociedade e a sua inobservância requer
aplicação de sanções.
A Análise do Discurso Ecológica possui um caráter multidisciplinar e transdisciplinar,
que possibilita uma harmonização de diferentes procedimentos metodológicos, ou seja, é
multimetodológica. A ADE defende uma visão holística e a instauração de paradigmas sociais
voltados ao holismo, apropriando-se de diversos métodos para realizar suas análises. Por
multimetodologia deve-se entender a “arte de utilizar mais de uma metodologia ou parte de
metodologias para a compreensão de um determinado fenômeno” (MINGERS apud
SOBRINHO; ROMERO, 2014). Assim, Sobrinho e Romero (2014, p. 93), retomando o
pensamento de Mingers, afirmam que

79
a multimetodologia parte da ideia de diferentes paradigmas para enfatizar o desejo
de combinar metodologias com suposições distintas, mas, que podem ir além aos
limites dos paradigmas nas quais foram concebidas. Ao se adotar uma maneira de
enxergar o mundo é como vê-lo sob a ótica de um instrumento particular, como raio-
X, microscópio, telescópio, por exemplo. Cada instrumento proporcionará uma
visão particular sobre diferentes aspectos do mundo, porém, devido às suas
especificidades não irá captar outros aspectos. Assim, ao se adotar um único
paradigma se está inevitavelmente obtendo somente uma visão limitada de uma
situação particular sobre o mundo real.
A ADE comunga da ideia de que para compreender um fenômeno é necessário
compreender holisticamente os aspectos envolventes e não apenas uma parte dele, como é a
proposta aqui defendida. Para Albuquerque (2015, p. 135) a metodologia da ADE
consiste na coleta e na análise inicial dos dados de acordo com as teorias linguísticas
tradicionais. A partir daí, com os dados e os resultados obtidos nas pesquisas
anteriores, faz-se uma nova interpretação deles, com base na teoria ecolinguística,
verificando as inter-relações entre os elementos de L, P e/ou T, de somente uma
dessas categorias (as relações dentro de L, ou somente dentro de P, ou somente
dentro de T), como se dão as relações na EFL, entre outros temas.
A possibilidade de unir diversos métodos de análise, bem como a possibilidade de unir
diferentes vertentes de estudo, como é o caso da pesquisa, que une as ciências jurídicas,
ecológicas e linguísticas, demonstra mais uma vez a importância e a singularidade do
referencial teórico adotado.
Considerando que “todo projeto de pesquisa maduro contém métodos, técnicas,
procedimentos e critérios para a coleta, a checagem da qualidade, a organização, o manejo e a
análise dos dados (LANKSHEAR, 2008, p. 36)”, passa-se a expor a classificação e
metodologia da pesquisa.
Do ponto de vista de sua natureza, a pesquisa é classificada como uma pesquisa básica,
realizada para desenvolver conhecimentos científicos sem que sejam de aplicação prática
imediata (MOREIRA; CALEFFE, 2008). Não há um intuito na pesquisa de trazer uma
mudança social imediata, e sim buscar informações que auxiliem no desenvolvimento dos
estudos jurídicos e linguísticos, principalmente no que se relaciona ao meio ambiente.
Pela abordagem, pretende-se trabalhar no âmbito da pesquisa qualitativa, que “é uma
atividade sistemática orientada à compreensão em profundidade de fenômenos educativos e
sociais” (SANDIN ESTEBAN, 2010, p. 127). Pode-se dizer ainda que a pesquisa qualitativa é
um “conjunto de práticas interpretativistas de pesquisa e um espaço de discussão” (SANDIM
STEBAN, 2010). Na presente pesquisa pretende-se interpretar os sentidos que emergem dos

80
enunciados das leis do Direito Ambiental, daí o seu caráter interpretativista. Além disso, os
pesquisadores qualitativos possuem a prerrogativa de utilizar análise semiótica, análise da
narrativa, do conteúdo, do discurso, de arquivos, fonêmica, e até mesmo as estatísticas
(DENZIM; LINCOLN, 2006), e na presente pesquisa propõe-se uma análise discursiva do
corpus escolhido.
De acordo com o objetivo a ser alcançado, pretende-se realizar uma pesquisa
explicativa, que “tem como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que
contribuem para a ocorrência dos fenômenos” (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 70). Trata-se
ainda da “do tipo de pesquisa que mais aproxima o conhecimento da realidade, porque explica
a razão, o porquê das coisas” (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p.70).
Por fim, com base nos procedimentos metodológicos, apoia-se no método da pesquisa
documental,
aquela realizada a partir de documentos, contemporâneos ou retrospectivos,
considerados cientificamente autênticos (não fraudados); tem sido largamente
utilizada nas ciências sociais, na investigação histórica, a fim de descrever/comparar
fatos sociais, estabelecendo suas características ou tendências (PÁDUA, 1997,p. 62)
A pesquisa documental é realizada em fontes como tabelas estatísticas, cartas,
pareceres, fotografias, atas, relatórios, obras originais de qualquer natureza – pintura,
escultura, desenho, etc. além de notas, diários, projetos de lei, ofícios, discursos, mapas,
testamentos, inventários, informativos, depoimentos orais e escritos, certidões,
correspondência pessoal ou comercial, documentos informativos arquivados em repartições
públicas, associações, igrejas, hospitais, sindicatos (SANTOS, 2000).
Quando o pesquisador se apropria dos documentos para retirar deles informações, ele
o faz por meio do uso de técnicas apropriadas para o seu manuseio e análise, seguimento de
etapas e procedimentos, organização das informações que serão categorizadas e analisadas, e
por fim da elaboração de sínteses. (SÁ-SILVA et al. 2009).
A classificação da pesquisa como documental permite propor as categorias de análise
pertinentes, uma vez que esse tipo de pesquisa é um procedimento que utiliza métodos e
técnicas para a apreensão, compreensão e análise de documentos (SÁ-SILVA et al, 2009).
Com relação às categorias de análise,
Não existem normas fixas nem procedimentos padronizados para a criação de
categorias, mas acredita-se que um quadro teórico consistente pode auxiliar uma
seleção inicial mais segura e relevante. [...] Em primeiro lugar [...] faça o exame do
material procurando encontrar os aspectos relevantes. Verifique se certos temas,

81
observações e comentários aparecem e reaparecem em contextos variados, vindos de
diferentes fontes e diferentes situações. Esses aspectos que aparecem com certa
regularidade são a base para o primeiro agrupamento da informação em categorias.
Os dados que não puderem ser agregados devem ser classificados em um grupo à
parte para serem posteriormente examinados (Ludke e André apud SA-SILVA et al,
2009, p. 12).
Uma das dificuldades da abordagem metodológica é escolher quais métodos serão
utilizados, pois
esses métodos não podem ser aleatórios, devendo haver uma relação, principalmente
de complementação, entre eles para que, por meio dos diferentes métodos, o
pesquisador possa alcançar o mesmo objeto e as mesmas conclusões, usando
somente caminhos distintos. Isso requer que o investigador elabore um planejamento
de quais métodos serão empregados, podendo haver até uma hierarquização ou
classificação deles, mas no final os resultados serão mais profícuos do que uma
investigação que empregou apenas um único método (ALBUQUERQUE, 2015, p.
136)
Assim, para alcançar o objetivo geral da pesquisa, é necessário em primeiro lugar
organizar as informações contidas no corpus para depois analisá-las discursivamente. Nesse
sentido, propõem-se, para organização do corpus, as seguintes etapas:
Exame do corpus, para entender os seus aspectos relevantes: para verificação dos tipos de
medidas de proteção ambiental é sugerida na letra de lei e os tipos de sanções previstas em
caso de descumprimento;
Agrupamento: as informações apreendidas serão separadas em grupos, que serão formados
à medida que determinado tema surgir na letra de lei. Por exemplo, um grupo que trate da
preservação de áreas físicas específicas; um grupo que trate da proteção da diversidade;
grupo que trate dos deveres do Estado e dos particulares; grupo de trate das sanções; grupo
que trate da possibilidade de educação ambiental, dentre outros;
Exclusão de alguns artigos: considerando que o foco é tratar dos enunciados que tratam
especificamente da forma de proteção ao meio ambiente e suas consonâncias com os
valores da Ecologia Profunda e da ADE, serão descartados da análise os artigos das leis
que tratem de questões técnico-administrativas, como por exemplo, a procedimento de
constituição dos órgãos destinados a gerenciar e garantir o cumprimento das normas sobre
o meio ambiente.
Depois de cumprida essa etapa da pesquisa, adentra-se nos procedimentos da análise
discursiva. Assim, considerando a necessidade interpretar as leis e identificar seus aspectos

82
ideológicos, para alcançar o objetivo geral da pesquisa, utiliza-se os procedimentos da Análise
do Discurso Francesa, propostos por Eni Orlandi. Para ela, “a análise se faz por etapas que
correspondem à tomada em consideração de propriedades do discurso referidas a seu
funcionamento” (ORLANDI, 2002, p. 77). Essas etapas correspondem ao percurso que vai do
texto ao discurso, e são dispostas da seguinte maneira (ORLANDI, 2002).
Quadro 4: Etapas da pesquisa
1ª Etapa: passagem da
2ª etapa: passagem do
3ª etapa:
Fonte: Orlandi (2002, p. 77).
Superfície linguística para o
Objeto discursivo
Para o processo discursivo
Texto
Formação discursiva
Formação ideológica.
Com base nas orientações de Orlandi (2002), propõem-se as seguintes etapas da
pesquisa:
o passagem da superfície linguística para o texto: Análise semântico-jurídica do corpus. Para
ORLANDI (2002, p. 67) “começamos por observar o modo de construção, a estruturação,
o modo de circulação e os diferentes gestos de leitura que constituem o sentido do texto”.
Assim, essa etapa de análise parte da compreensão dos significados jurídicos das leis, a
forma como as leis foram produzidas a escolha do léxico etc., o que será feito com o
auxílio de um dicionário jurídico;
o passagem do objeto discursivo para a formação discursiva: a partir dos conceitos da ADE
de interação, adaptação, holismo, evolução, porosidade, evolução etc. busca-se entender os
sentidos do texto e o tipo de relação homem/meio ambiente é sugerida pelos enunciados da
lei. Para Eni Orlandi (2002, P. 67) “a partir desse momento estamos em condição de
desenvolver a análise a partir dos vestígios que ai vamos encontrando, podendo ir mais
longe, na procura do que chamamos de processo discursivo”. Ainda nessa etapa, será feita
uma comparação entre os princípios da Ecologia Profunda e os sentidos que emergem dos
enunciados do corpus com o intuito de verificar as consonâncias e dissonâncias entre eles,
o que possibilitará inclusive entender as formações discursivas em que os corpus se insere.
o Partindo-se para a segunda fase do processo discursivo, “passamos do delineamento das
formações discursivas para a sua relação com a ideologia, o que nos permite compreender
como se constituem os sentidos desse dizer” (ORLANDI, 2002, p. 67). Assim, será feito
um levantamento de quais ideologias são predominantes bem como sob quais conceitos
éticos são produzidos os enunciados das leis. Por fim, a partir dos resultados até então
obtidos, será possível entender se as leis do Direito Ambiental acompanham as mudanças

83
sociais relacionadas ao meio ambiente. A ADE defende uma ideologia de vida, que sendo
holística e englobante, defende a proteção da vida de todos os seres e não apenas os
humanos. Nesse sentido, por meio dessa etapa será possível compreender se o Direito
Ambiental apresenta uma defesa do meio ambiente em consonância com a ideologia de
vida.
Por meio das categorias e dos procedimentos propostos é que esta pesquisa se
desenvolve para averiguar as consonâncias entre o Direito Ambiental, a Ecologia Profunda e a
ADE. A produção da pesquisa busca, em última instância, contribuir, de alguma forma, com a
Ciência do Direito para o aprimoramento, a partir de valores éticos ambientalistas, de suas
normas e da criação de medidas que, a partir de uma visão ecológica e holística, garantam a
proteção do meio ambiente. Nesse sentido, desenvolve-se a análise a seguir.

84
4 O DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO: AS PERSPECTIVAS DA ADE
Com o Direito Ambiental brasileiro, objetiva-se normatizar a relação estabelecida
entre o homem e o meio ambiente e, para tanto, apresentam-se medidas para coibir as ações
humanas danosas ao meio ambiente. Embora o foco da ciência do Direito não esteja no
mundo natural ou nas “coisas”, tutelá-las tornou-se um dever jurídico imprescindível à
sobrevivência humana, considerando-se os novos anseios sociais voltados à preocupação com
o meio ambiente. Além disso, a necessidade de aproximar a Ciência Jurídica às demais
tornou-se inquestionável, já que o próprio homem tem concluído que os estudos científicos
não podem ser feitos separadamente, e o Direito embora em alguns momentos históricos não
tenha recorrido de forma profunda a outras fontes do saber, atualmente também tem se
aproximado mais de outros conhecimentos. Desse modo, o Direito não é imutável e é
atualizado de forma a atender os anseios sociais. Nesse sentido, surge o questionamento: o
que devemos esperar da ciência jurídica no que tange à preservação do meio ambiente?
Ciente das dificuldades de encontrar respostas ao questionamento supramencionado
propõe-se a presente análise, que busca encontrar pontos de encontro e desencontro entre as
leis do Direito Ambiental e a Ecologia Profunda, já que, com essa vertente da Ecologia,
sugerem-se formas eficientes de defender o meio.
Assim, depois de depreendidos os principais significados dos termos da lei e
identificando o campo ideológico a que pertencem, em forma de análise discursiva, partimos
para a compreensão da ética com o intuito de compreender por quais valores éticos as leis do
Direito Ambiental estão amparadas.
A característica do Direito Ambiental, já exposta no capítulo 1, de ser “um direito
sistematizador que faz a articulação da legislação, da doutrina e da jurisprudência
concernentes aos elementos que integram o ambiente” (MACHADO, 2015, p. 50), demonstra
que essa disciplina, não regida por um conjunto específico e bem delimitado de leis, segue
ideais da teoria pós-positivista do Direito e apresenta um traço do holismo defendido pela
ADE. O termo sistematizador é oriundo verbo “sistematizar” que segundo o dicionário
Aurélio tem o significado de “reunir em uma doutrina”, o que demonstra que essa vertente do
Direito une diferentes fontes para se constituir, que, juntas, permitem uma melhor entrega da
prestação jurisdicional. A articulação entre legislação (normas escritas), doutrinas
(interpretação dada às leis) e jurisprudência (decisões reiteradas sobre um determinado fato)
demonstra que há uma interferência de diversos saberes na constituição e aplicação das leis à
sociedade, o que é uma realidade de toda a ciência do Direito contemporâneo. Como afirma

85
Machado (2015), o intuito não é isolar os temas, visto que não se trata de construir um direito
do solo, das águas, da fauna, mas sim interligar todos os temas como um só, o que está em
consonância com o conceito de interações e de diversidade da Análise do Discurso Ecológica.
4.1 ANÁLISE DISCURSIVO-ECOLÓGICA DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO
AMBIENTAL
Os princípios, originados da própria Constituição da República Federativa do Brasil,
merecem ser analisados pela ótica da ADE por serem a base do Direito Ambiental e por
possuírem algumas peculiaridades, além de atualmente ser priorizada a sua aplicação na
solução de conflitos. A explicação de cada princípio é feita nas doutrinas jurídicas e, por isso,
alguns deles são recorrentes, enquanto outros são verificados em apenas algumas delas.
Portanto, na presente pesquisa são analisados aqueles comuns e que são apresentadas em
diferentes obras, como a de Edis Milaré (2015), Machado (2015) e Melo (2014).
4.1.1 Princípio do Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado
O princípio em tela assegura que é um direito do homem a “sadia qualidade de vida”,
o que pode ser alcançado por meio de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. A
conotação dada a esse princípio demonstra a preocupação com aquilo que é de valor supremo
ao Direito: a vida humana. A defesa da qualidade de vida assegurada pelo princípio permite
verificar um ponto de encontro entre a Ecologia Profunda e o Direito Ambiental,
considerando que em ambos há uma prescrição de defesa da vida. Entretanto, a vida
defendida pelo Direito é apenas a vida humana, ao passo que, para a Ecologia Profunda, a
vida de todos os seres é defendida, o que demonstra uma dissonância entre o conceito jurídico
e o conceito ecológico de vida.
A expressão “ecologicamente equilibrado” significa que os cidadãos têm direito a um
meio ambiente harmônico, e não “desequilibrado”, que não apresentaria nenhuma relevância
aos olhos humanos. A inserção desse princípio na Constituição da República Federativa do
Brasil culminou em uma nova conotação às demais leis do Direito Ambiental, visto que liga a
vida saudável dos seres humanos ao dever de manter o meio ambiente equilibrado.
Nota-se, no nome dado ao princípio e ao seu conceito, um caráter antropocêntrico,
visto que se busca esse equilíbrio não por respeitá-lo por si só, mas por ser algo necessário à
garantia do bem-estar humano, tal como disposto no caput do artigo 225, analisado adiante.
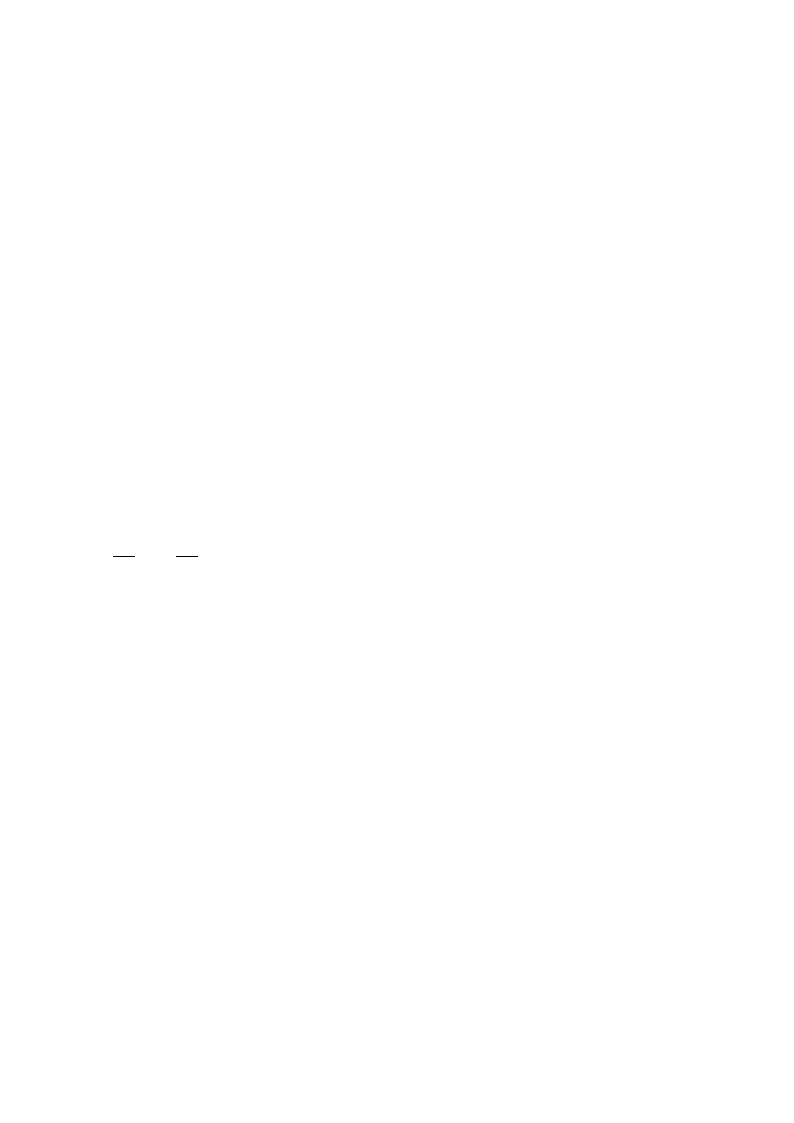
86
De acordo com o primeiro princípio da Ecologia Profunda, “o bem-estar e o florescimento da
vida humana e da não-humana sobre a terra têm valor em si próprios que são independentes
da utilidade do mundo não-humano para propósitos humanos” (NAESS apud COUTO, 2007,
p. 37).
4.1.2 Princípio do Desenvolvimento Sustentável
Para o ordenamento jurídico, o desenvolvimento sustentável é aquele que atende a
necessidade das gerações presentes, mas sem impedir que as gerações futuras também sejam
atendidas naquilo que lhe é imprescindível. Isso demonstra que ao meio ambiente é dada uma
conotação utilitarista e há o predomínio dos valores antropocêntricos, considerando que a
preocupação está em suprir as necessidades humanas presentes e futuras.
A expressão “desenvolvimento sustentável” materializa a dicotomia entre capitalismo
e meio ambiente, assim como todos os problemas dela oriundos, sendo uma locução nominal
em que a palavra “sustentável” modifica o sentido da palavra “desenvolvimento”. A origem
etimológica da palavra nos remete ao conceito de destruição (o prefixo des- implica a ideia de
desfazer, destruir), (COUTO, 2007). Na visão de Couto (2007, p. 375), “quando aplicado à
palavra “desenvolvimento”, o prefixo DES mantém essa conotação negativa, destrutiva.
Vejamos, primeiro, o contrário de algo “desenvolvido”, isto é, algo envolvido. A ideia de
“envolver” tem a ver com “embrulhar”, com ‘proteger’.” Assim, o prefixo DES dá uma
conotação contrária a esse “envolvimento”, o que demonstra uma ação prejudicial ao meio
ambiente. Além disso, diferente do conceito de evolução, que está mais relacionado à
adaptação dos seres ao ecossistema como forma de sobrevivência (COUTO, 2015), a palavra
desenvolvimento está relacionada ao progresso (COUTO, 2007), o que implica em alterar o
ecossistema natural de forma desordenada. Por fim, o sufixo “ento” é de origem grega e tem a
função de transformar um verbo em substantivo. Assim, o ato de “desembrulhar” transforma-
se em um substantivo indicativo de que um dos maiores interesses humanos é o progresso.
Em contrapartida, o termo “sustentabilidade” indica “o conjunto de processos e ações
que se destinam a manter a vitalidade e integridade da Mãe terra, a preservação dos seus
ecossistemas com todos os elementos físicos, químicos e ecológicos que possibilitam a
existência e a reprodução da vida” (BOFF, 2012, p. 34). Estabelece-se uma incoerência ao
colocar, em uma mesma expressão, dois termos incompatíveis, como “desenvolvimento” e
“sustentabilidade”, ainda que seja essa a forma menos desastrosa que o homem tem
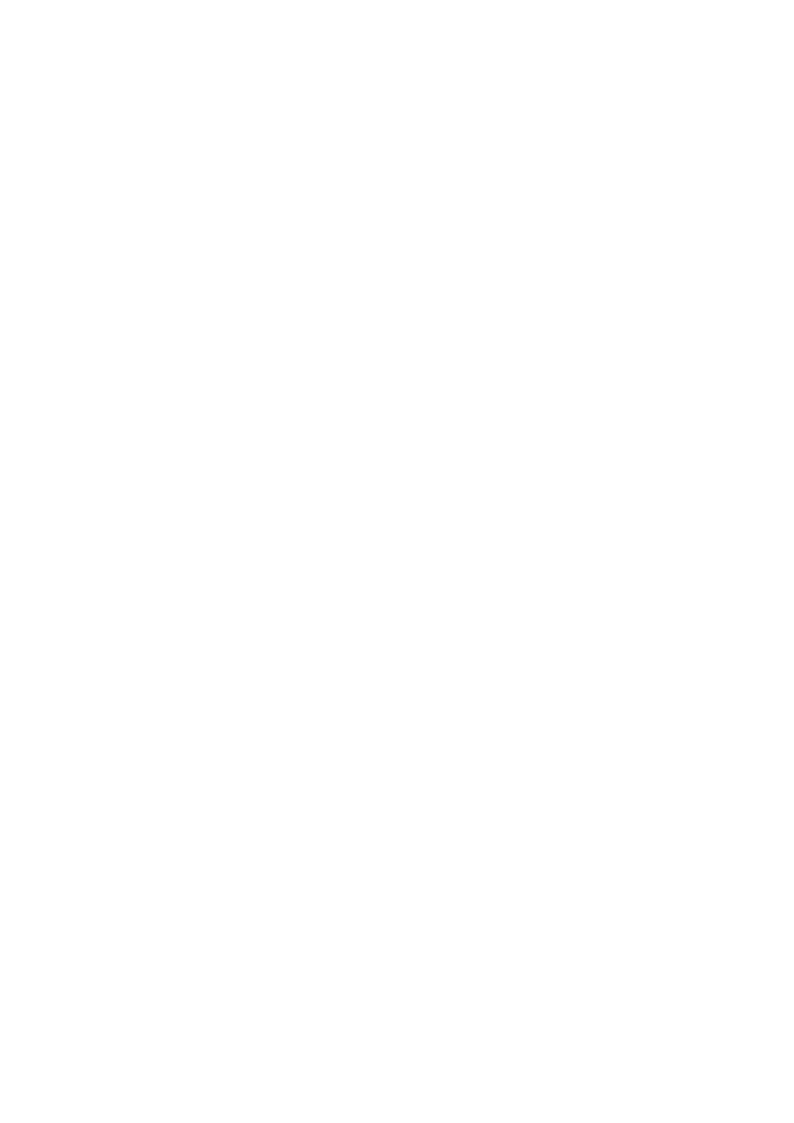
87
encontrado para desenvolver-se economicamente. A ADE defende que, se é necessário existir
um desenvolvimento, que ele seja, pelo menos, sustentável (COUTO; COUTO, 2015).
Essa estratégia textual de se alterar ou modificar o conceito de desenvolvimento a
partir do uso de um termo relacionado à preservação do meio ambiente tem o intuito de
amenizar, no imaginário da população, as consequências danosas ao meio ambiente
ocasionadas pela ação desenvolvimentista humana. Não há possibilidade de impedir o
desenvolvimento econômico, entretanto, tornou-se necessária a implementação de alguma
medida que tranquilizasse a sociedade sobre o medo do sofrimento, ocasionado pelas
catástrofes ambientais. Assim, a utilização do termo “sustentável” cria uma falsa ideia de que
o meio ambiente é preservado mesmo diante do desenvolvimento. Considerando que o acesso
ao mundo é proporcionado pela língua, é possível manipular a sociedade por meio da
utilização de termos que mascarem a realidade. O uso de estratégias textuais como esta mostra
um possível compromisso com o meio ambiente, seja ele verdadeiro ou não.
A noção de desenvolvimento está relacionada ao progresso (COUTO, 2007) e
consequentemente ao aumento das relações de consumo, já que se espera o progresso
econômico de uma sociedade capitalista, e isso se alcança com o avanço do consumo, que,
consequentemente, gera o crescimento da economia e do lucro. Tal realidade está em
dissonância com os valores da Ecologia Profunda de se viver com o essencial ou, mais
especificamente, sem os exageros do consumo e do lucro. Por fim, a expressão
“desenvolvimento sustentável”, por si só, apresenta uma dúvida conceitual entre ecocentrismo
e antropocentrismo na relação entre o homem e a preservação ambiental, considerando estar
presente, nela, um termo de cunho antropocêntrico – desenvolvimento – e outro de cunho
ecológico – sustentável.
Nos dizeres de Milaré (2005), o desenvolvimento sustentável não escapa à visão de
mundo antropocêntrica, apesar de apresentar uma proposta positiva. Nesse caso, a Terra nada
mais é do que um celeiro de recursos à disposição pura e simplesmente das necessidades
humanas. Para ele, ainda, a natureza é contingenciada e o homem absolutizado. Não se pode
negar, entretanto, que a implantação de um desenvolvimento sustentável figura como um
avanço na qualidade das ações antrópicas e em uma condição primordial, que é o respeito aos
limites impostos pelo ecossistema.
A presença, na Constituição da República Federativa do Brasil, de normas relativas ao
meio ambiente e à economia, em busca de atingir um equilíbrio entre o desenvolvimento
econômico e a proteção ao meio ambiente, também demonstra uma incompatibilidade e
dúvidas quanto à preservação do meio ambiente. O artigo 170 da CF/1988, que trata da

88
economia, apenas prescreve que a atividade econômica deve ser desenvolvida respeitando-se
os limites impostos pelas leis que tratam do assunto. A Constituição da República Federativa
brasileira foi criada antes da realização de algumas conferências mundiais, como a ECO-92, e,
por essa razão, ainda restaram dúvidas sobre qual direito deveria ser priorizado: a tutela do
meio ambiente ou outros direitos constitucionais igualmente assegurados.
Como é garantido, de maneira igualitária, na Carta Magna, o direito à economia e ao
meio ambiente, coube ao Supremo Tribunal Federal sanar a dúvida sobre qual direito deve ser
preservado em caso de incompatibilidade, o que foi feito em momento posterior à realização
de importantes conferências mundiais sobre o meio ambiente. Para o STF, prevaleceu o
entendimento de que deve ser respeitado, em primeiro lugar, o meio ambiente. A solução do
conflito, trazida pelo STF no ano de 2006 (MELO, 2014), demonstra também que, nos
últimos anos, há uma preocupação maior com o meio ambiente e uma tendência em priorizar
as questões relativas ao meio ambiente em detrimento de outros direitos.
4.1.3 O Princípio da Prevenção
Por esse princípio são asseguradas medidas que evitem possíveis danos ao meio
ambiente físico ou os detecte antecipadamente. O termo “prevenção” dá a ideia de precaver-se
ou realizar um ato de precaução (AURÉLIO, 2016), ou, também, uma vigilância do Poder
Público. O prefixo “pré” é de origem latina e significa anterioridade, antecedência,
superioridade (BECHARA, 2009), remetendo à ideia de agir antes de um dano acontecer, ou
seja, trata-se de uma ação anterior. Esse princípio prevê uma medida anterior ao dano e as
formas de cumpri-lo dizem respeito, como demonstrado no capítulo 1, a doze tipos de ações,
relacionadas a: identificação de um problema, ordenamento de territórios para proteção,
estudos dos impactos, monitoramento, inspeção e auditoria, prestação de informações,
emprego de novas tecnologias e planejamento ambiental e econômico.
O próprio nome “prevenção” já mostra que, possivelmente, as ações humanas gerarão
danos ao meio ambiente, pois já se trabalha com a ideia de que é necessário prever os
malefícios da ação humana para, então, evitá-los. É possível perceber que não há uma
interferência direta na economia, e sim na forma como o homem lida com o meio ambiente ao
desenvolver uma determinada atividade, buscando formas de alcançar um desenvolvimento
sustentável. A proteção, portanto, não é, em primeiro lugar, ao meio ambiente, e sim ao
desenvolvimento econômico, já que a limitação a uma atividade humana só é exercida por
meio de comprovação de possíveis danos ambientais. Ressalta-se, assim, mais uma vez, a

89
subordinação do Estado e das leis aos ditames capitalistas e econômicos, expondo o quão
forte ainda são, na sociedade, as ideologias capitalistas, até mesmo na relação que o homem
estabelece com o meio ambiente.
Pela ADE deve haver, tal como sugerido nos princípios da Ecologia Profunda, entre os
todos os seres do ecossistema, um respeito e um sentimento de irmandade, em que sejam
reconhecidos os valores de cada um, o que não se verifica nesse princípio, por meio do qual se
tem a ideia de que, se não forem constatados danos maiores ao meio ambiente físico, pode-se
alterar a sua forma natural sem limites. Embora ele sugira meios de proteção, a medida
adotada é rasa como a Ecologia Tradicional, pois não adentra na verdadeira face do problema,
que é o progresso econômico intenso.
Além disso, a ADE defende a ideia, tal como proposto pela Ecologia profunda, de que
os humanos não têm direito de diminuir as riquezas naturais e a diversidade do ecossistema, o
que não é resguardado pela prevenção proposta juridicamente. Esse princípio não auxilia no
combate à raiz do problema, que está na base das relações sociais e na forma como se dão as
relações entre homem e meio ambiente. Há, ao contrário, primordialmente, uma tentativa de
coibir apenas as ações humanas que possam trazer prejuízo ao próprio homem, ou seja,
aquelas que promovam um desequilíbrio do meio ambiente e comprometam “a sadia
qualidade de vida”. A aplicação desse princípio apenas aos casos de riscos conhecidos expõe
a sua ineficácia enquanto alicerce do Direito Ambiental, pois, ao invés propor mudanças
paradigmáticas sociais, que devem acontecer no meio ambiente físico e mental do indivíduo
primeiramente, para depois refletir no meio ambiente social, há uma proposta de solução rasa,
aplicada diretamente ao âmbito social.
4.1.4 Princípio da Precaução
O princípio da precaução avança, em termos ecológicos, em relação ao principio da
prevenção, visto operar na incerteza científica, ou seja, se houver alguma possibilidade de
existir um dano, previsto ou não, é melhor evitá-lo. A palavra precaução possui o prefixo
“pre” que demonstra uma prescrição da ação anterior e significa, segundo o dicionário
Aurélio (2016), “agir antecipadamente para prevenir um mal”, relacionando-se, ainda, a agir
com prudência, cautela ou cuidado e lançando a ideia de militância em favor do meio
ambiente relacionando-se, ainda, a agir com prudência, cautela ou cuidado e lançando a ideia
de militância em favor do meio ambiente. Como exemplo dessa precaução há a lei da
biodiversidade, que prevê as normas de manuseio de organismos geneticamente modificados.

90
O que chama a atenção é que a ideia de prevenção e de precaução está relacionada aos danos
gerados ao meio ambiente no presente e que possam ocasionar outros, no futuro, aos seres
humanos. Isso expõe uma atitude antropocêntrica e, ao mesmo tempo, a instauração desses
princípios demonstra que emerge uma preocupação com o meio ambiente que supera os
interesses mercantis, uma vez que, no risco de dano, a atividade econômica não deve ser
praticada.
Ainda, verifica-se, nesses princípios, a visão de longo prazo, mas ela não é abordada
da mesma forma que na ADE. Ao ser feita uma associação dos princípios de precaução e
prevenção com o princípio do “meio ambiente ecologicamente equilibrado”, nota-se que os
riscos a serem evitados relacionam-se com a garantia de vida dos humanos, apresentando uma
visão antropocêntrica. Com isso, a norma procura evitar danos ao meio ambiente que
prejudiquem as gerações humanas presentes e futuras, diferentemente da ADE, que defende
uma visão a longo prazo relacionada à defesa de todos os seres.
4.1.5 Princípio do Poluidor-Pagador versus Usuário-Pagador versus Protetor-Recebedor
O termo “poluidor-pagador” já mostra, por si só, a intenção desse princípio jurídico de
punir aquele que degrada o meio ambiente. O termo “poluição” de acordo com a doutrina
jurídica significa “a degradação da qualidade ambiental resultante de atividade que a)
prejudiquem a saúde, segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às
atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições
estéticas ou sanitárias” (MELO, 2014). Poluição, na esfera jurídica é, primordialmente, aquilo
que prejudica o bem-estar humano, seja no que se relaciona à saúde e ao bem-estar da
população ou no que afete as relações sociais e econômicas, as condições estéticas e sanitárias
e a biota. Pela esfera jurídica, no conceito de poluição há três pontos relacionados aos seres
humanos que não apresentam nenhuma exceção e apenas um ponto que trata da biota ou do
ecossistema como um todo e nele está contida uma restrição verificada pelo uso do termo
“desfavoravelmente”.
Isso significa dizer que, nas prescrições relacionadas ao homem, a poluição é
conceituada como tudo que possa trazer malefícios, sem exceções. Entretanto, quando a
defesa é do ecossistema de forma geral e de todos os seres, e não apenas dos seres humanos,
considera-se como poluição somente as intervenções “desaforáveis”. O termo
“desfavoravelmente” exclui da fiscalização as intervenções humanas consideradas, pelo
próprio homem, “benéficas” ou “favoráveis”. Isto é, há uma permissão normativa e

91
doutrinária, oriunda dessa palavra, para que o homem intervenha na biota, à medida que
julgue não ser a atividade praticada degradante ou prejudicial ao próprio homem.
Esse princípio prescreve a punição econômica àquele que causar dano ao meio
ambiente. Nota-se, assim, quão forte é a ideologia capitalista na sociedade e na relação
estabelecida entre o homem e o meio ambiente, considerando que a forma encontrada para
punir quem o polui é afetando sua situação econômica, tornando-o um “pagador”. Além disso,
há um posicionamento paradoxal: aquele que gera danos ao meio ambiente o faz em busca de
desenvolvimento econômico e obtenção de lucros, e, se não o fizer, poderá deixar de obter
uma grande vantagem econômica. Por isso, às vezes é mais cômodo ao poluidor pagar a multa
do que deixar de desenvolver aquela atividade nociva. Nota-se, então, que essa medida é
ineficaz à preservação do meio ambiente.
Similarmente, o princípio do usuário-pagador tem o objetivo, demonstrado pelo
próprio nome, de impor valor econômico aos recursos naturais por entender que, se não o
fizer, a utilização desses recursos pelo homem será mais intensa. Dessa forma, é reconhecido
que o ser humano pode degradar o meio ambiente e que ele não impõe limites ao próprio uso.
Como consequência dessa constatação, é necessário limitar esse uso, valorando
economicamente os recursos naturais, como, por exemplo, impondo taxas de água e energia, a
serem pagas à medida que são utilizadas. De acordo com a Ecologia Profunda, cada integrante
do ecossistema possui valor em si mesmo, entretanto, a imposição de valor econômico aos
recursos naturais demonstra que esse paradigma não é respeitado. Há, também, o predomínio
das ideologias capitalistas, que tentam conter as ações humanas pela punição econômica, por
ser esse um meio eficaz de controlar as ações dos indivíduos, bem como de garantir a
obtenção de lucros.
Há, em contrapartida, uma premiação àquele que preserva o meio ambiente. O
princípio do protetor-recebedor assegura a quem protege o meio ambiente vantagens de
ordem econômica, como a isenção de tributos pagos ao Estado. O próprio nome do princípio,
“protetor-recebedor”, já demonstra que a preservação ambiental não é encarada como uma
forma de respeito ao meio ambiente, mas sim de receber algum benefício. Não há um
incentivo ao respeito aos demais seres, tampouco uma conscientização de que os seres
humanos devem viver em comunhão com os demais, ao contrário, há sempre uma forma de
obter alguma vantagem econômica como ser premiado com isenção de tributos ou não
precisar pagar taxas e multas quando o assunto é o meio ambiente.
A análise desses três princípios expõe que as medidas propostas são ineficientes por
não conseguirem restaurar o homem em sua complexidade, como um ser integrante do

92
ecossistema, e tampouco despertar uma consciência coletiva de respeito a tudo que nos cerca,
vigorando apenas incentivos aos interesses mercantis e lucrativos.
4.1.6 Princípio da Informação
A palavra “informação”, A palavra “informação”, de acordo com o dicionário Aurélio,
pode significar “reunião dos conhecimentos, dos dados sobre um assunto ou pessoa”, ou,
ainda, “esclarecimento sobre o funcionamento de algo”. Por esse princípio se garante a
publicidade das ações relativas ao meio ambiente. Trata-se de uma medida eficiente, visto que
o acesso à informação permite que os cidadãos tenham melhores condições de atuar sobre a
sociedade e articular melhor os desejos e as ideias de tomar partido nas decisões que lhes
forem interessantes (MILARÉ, 2015). A lei 6.931/1981 prevê uma obrigação estatal de criar
um cadastro de informações ambientais e apresentar aos cidadãos as informações obtidas.
Nota-se, assim, uma exigência normativa de transparência dos atos do Estado.
Esse princípio mostra-se um eficiente meio de proteger o meio ambiente, considerando
que a transparência das ações governamentais e sociais relativas a ele pode amenizar o
desenvolvimento de ações danosas. Se toda a sociedade tiver acesso ao tipo de ação nele
praticada tais ações podem ser coibidas, por meio de medidas de cunho social, pois a
sociedade, ao estar ciente delas, possui mais possibilidade de agir contra, exigindo, por
exemplo, uma atitude do Estado em relação àqueles que prejudicam o meio ambiente. O
princípio 6 da Ecologia Profunda afirma que “as políticas precisam ser mudadas” e, para tanto,
é necessária a instauração de mudanças paradigmáticas, que implica a mudança de um
pensamento capitalista para um pensamento ecológico, bem como a mudança de práticas
sociais voltadas ao capitalismo para prática de ações voltadas à defesa ampla do meio
ambiente. Isso implica o conhecimento da realidade, e, no caso, o conhecimento de quais são
as políticas predominantes, alcançado por meio da informação. Assim, pelo conhecimento e
pela não alienação da sociedade sobre a realidade torna-se possível evitar ou, pelo menos,
solucionar os problemas de cunho ambiental e até mesmo social.
A informação dada à sociedade, associada a uma visão critica e a uma visão pautada
em valores ecológicos, tal como propõe a ADE, é capaz de auxiliar na diminuição dos
exageros humanos sobre o meio ambiente. Se a sociedade tiver plena consciência do que tem
sido feito no meio ambiente, bem como se tiver acesso à realidade desastrosa de devastação, é
possível criar formas de mobilização da sociedade e de coibição dessas ações humanas.

93
Por vezes, a sociedade possui uma visão deturpada da realidade e se contenta em saber
apenas aquilo que lhe é passado pela mídia e que se apresenta de forma contaminada pelos
interesses capitalistas e antropocêntricos, o que pode ser comprovado, por exemplo, por meio
da pesquisa feita pela Akatu (2012)8 que demonstrou que as empresas que apresentam
publicidades ecológicas atraem maior número de consumidores, embora, muitas vezes não
seja verificada a autenticidade das informações. Por isso, é necessário que a sociedade tenha
acessoà realidade das ações praticadas no meio ambiente, por meio de informações, para,
então, exigir uma postura diferente, ou seja, ecológica, por parte dos devastadores, como, por
exemplo, diminuir os impactos ambientais gerados.
4.1.7 Princípio da Educação
O princípio da educação possui um caráter mais dinâmico e almeja conscientizar e
informar a sociedade sobre as questões que envolvem o meio ambiente. Desse modo, é
lançada à sociedade e ao Estado a responsabilidade de implantar formas de ensinar a
população sobre o dever de preservação ambiental. A definição de educação ambiental dada
pela lei como “processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores
sociais, conhecimento, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do
meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade” (art. 1º da lei 9795/99) possibilita que o Direito auxilie na mudança dos
paradigmas sociais instaurados na sociedade e expõe uma visão ecológica de mundo.
É certo que a educação ambiental por si só, ou seja, dissociada de outras ações da
sociedade, não é o único meio de promover a proteção do meio ambiente. Entretanto, sua
prática auxilia na instauração de uma nova visão de mundo e de novos paradigmas a serem
seguidos, formando cidadãos compromissados com as questões ambientais e cientes do seu
dever para com o ambiente. A educação ambiental também figura como um forte meio de
criar gerações futuras que preservem o meio ambiente. O conhecimento pode ser passado de
geração em geração e uma educação pautada em valores ambientais permite que o
conhecimento e o comprometimento com as questões ambientais sejam transmitidos às
futuras gerações. Resta, portanto, saber como é feita essa recomendação jurídica sobre a
educação ambiental e sobre quais ideologias essa ciência se pauta.
Para tanto, mais uma vez, é necessário trazer à tona o princípio da Ecologia Profunda
de que “as políticas precisam ser mudadas”, podendo essa transformação começar também na
8 8 Disponivel em: <http://www.akatu.org.br/pesquisa/2012/PESQUISAAKATU.pdf>.

94
educação, desde que sejam apresentados valores ecológicos e não antropocêntricos. Nos
termos da Ecologia Social, é necessário que haja uma mudança nas relações sociais e no
próprio homem para que, a partir disso, a preservação ambiental seja alcançada. Uma das
formas de se conseguir essa mudança é com a implementação de valores ambientais na
educação, criando estudos sobre essas questões ambientais e apresentando à sociedade, por
exemplo, os princípios da Ecologia Profunda como meios de preservação ambiental.
Para a ADE, é essencial criar uma nova visão de mundo, pautada em valores
ecológicos, o que pode ser feito, dentre outras medidas, por meio da implantação de uma
educação que demonstre à sociedade a importância do ecossistema e da integração do homem
com o meio ambiente. É por meio do ensino, nas escolas, na mídia, nas ações sociais etc. e da
conscientização das pessoas que as políticas, os paradigmas e até mesmo as ideologias podem
ser mudados e, a partir disso, o meio ambiente pode ser resguardado de forma eficiente. A
sociedade só pode se reconhecer como parte do ecossistema se isso lhe for ensinado. Daí a
importância de ser criado um princípio só para tratar da questão da educação. A defesa da
vida e de uma visão ecológica requer conscientização das pessoas sobre os danos que estão
sendo gerados no meio ambiente, o que pode ser feito nas escolas, tal como propõe esse
princípio e a própria ADE.
Entretanto, ao definir meio ambiente como “bem de uso comum do povo” e “essencial
à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”, há um predomínio do antropocentrismo.
Nota-se que até mesmo a educação ambiental, que seria uma forte aliada na instauração de
novos paradigmas, está voltada ao bem-estar e à valorização dos interesses puramente
humanos e se submete às ideologias capitalistas.
4.1.8 Princípio da Cooperação
O princípio da cooperação lança à sociedade o dever de preservar o meio ambiente,
configurando uma tentativa de que todos os seres humanos caminhem na mesma direção, a da
preservação (MILARÉ, 2015). O termo “cooperar” dá a ideia de colaboração, de ação coletiva,
e se associa aos valores da ADE de que ninguém vive sozinho e que deve haver, entre todos
os seres, um sentimento de inserção e de pertencimento ao ecossistema, culminando na
colaboração de todos para preservação do meio ambiente. O termo “cooperação” lança a
sociedade, e não apenas ao poder público, o dever de cuidar do meio ambiente, e a sua não
observância implica a aplicação das consequências prescritas pelo princípio do poluidor-
pagador. Não há prescrições especificas e positivadas sobre as ações a ser praticadas pelos
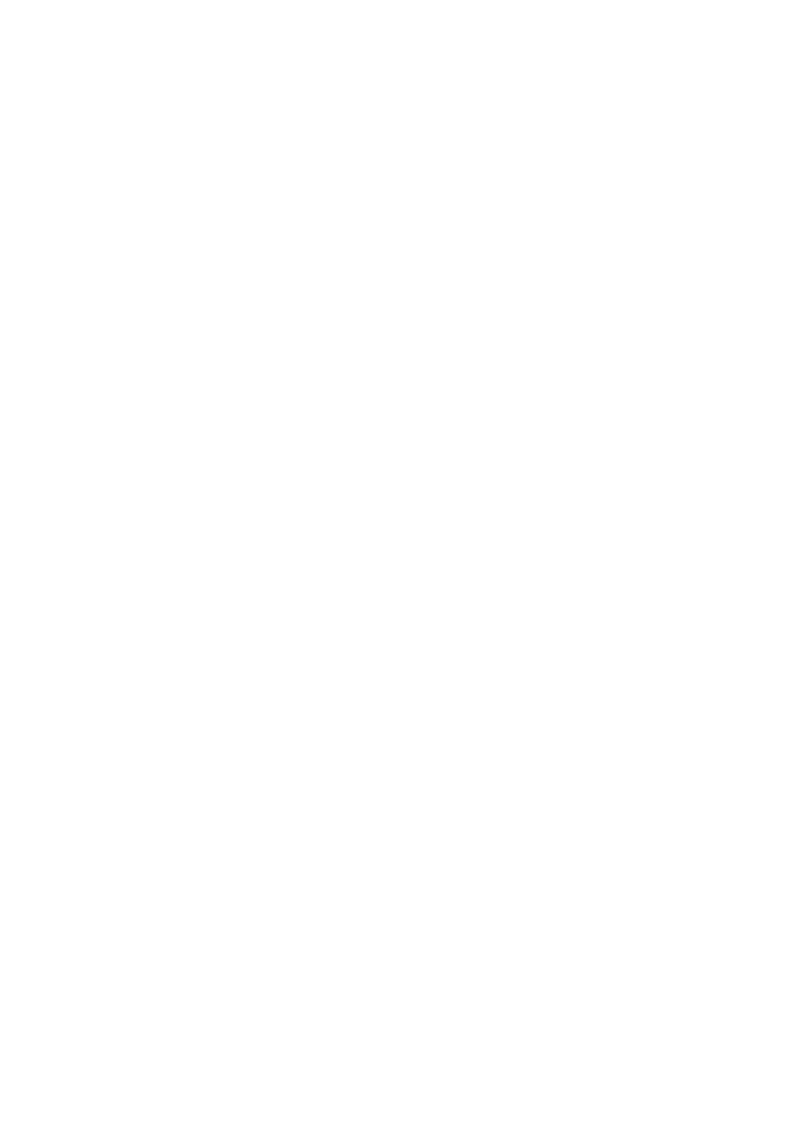
95
humanos, o que demonstra que esse principio está relacionado aos valores do Direito Natural
e a uma conscientização dos seres humanos do seu dever de cuidar do meio ambiente. A
cooperação é um dever demonstrado também no caput do artigo constitucional 225, o qual
impõe o dever do Estado e da coletividade de garantir o meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
A prescrição de uma cooperação entre as pessoas, sem que haja distinção de qualquer
elemento, como cor, raça, etnia etc., demonstra que por meio desse princípio é possível
extinguir ou pelo menos diminuir as diferenças sociais da sociedade, visto que, independente
da posição social e econômica dos indivíduos, é necessária a união entre todos em prol do
meio ambiente, o que possibilita a construção de uma sociedade livre, justa e igualitária. A
visão ecológica de mundo sugere a existência de cooperação, colaboração e ação conjunta
entre todos os seres na busca pelo equilíbrio do meio ambiente, conforme se propõe no
princípio em tela e se retoma no artigo constitucional 225. Há ainda, nesse princípio, a
materialização da ideia de harmonia e comunhão defendida pela ADE, já que, para a ADE, a
comunhão implica a cooperação entre os seres.
4.1.9 Algumas Considerações sobre os Princípios Jurídicos Ambientais
É possível perceber que os princípios do Direito Ambiental são construídos a partir de
estratégias textuais, como a escolha dos itens lexicais e da forma sintática da escrita, que
geram discursos de proteção à vida e ao meio ambiente para controlar a vida dos indivíduos e
dar a falsa ideia de que o meio ambiente está resguardado.
Nota-se uma pequena oscilação, nos princípios, entre os valores ecológicos e os
valores capitalistas e antropocêntricos, sendo esses últimos ainda predominantes, o que leva à
conclusão de que, embora haja um intuito estatal de proteger o meio ambiente, a dominação
capitalista ainda é muito forte na sociedade.
4.2 O ARTIGO 225 DA CF/88 E SUAS LEIS COMPLEMENTARES PELO OLHAR DA
ADE
O artigo 225 da CF/88 é composto de caput, seis parágrafos e sete incisos. O caput do
artigo prevê o direito “à sadia qualidade de vida por meio de um meio ambiente
ecologicamente equilibrado”. O primeiro parágrafo prescreve medidas a serem tomadas pelo
poder público para assegurar o direito já previsto. Os demais parágrafos tratam de realizar

96
determinações aos particulares, e não ao poder público, a fim de também assegurar o direito
ali previsto. Ressalta-se que se assegura que
todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e gerações
futuras. (art. 225, caput, da CF/88).
A colocação desse artigo na Constituição da Republica Federativa do Brasil e, também,
sua primazia sobre diversos outros direitos infraconstitucionais, demonstram uma estratégia
de valorizar a vida como um interesse jurídico primordial, bem como demonstra a tendência
do Direito de ser mais humanizado e mais próximo aos valore do Direito Natural. Isso
propicia que se controle imaginação dos indivíduos, gerando certo “conforto” ou
tranquilidade de que medidas que garantam a vida estão sendo tomadas. Nesse sentido, em
um contexto social no qual as questões ambientais são muito discutidas, o Estado não poderia
se omitir, devendo mostrar à sociedade o seu engajamento com essas questões e com o dever
de proteger a vida. Para tanto, foram criados discursos de proteção ao meio ambiente, os quais
garantem a preservação da vida e do bem-estar humanos, resguardando, ao mesmo tempo, os
interesses econômicos.
Na expressão “todos têm direito”, o termo “todos” se refere apenas aos seres humanos,
dando-lhes a titularidade do direito ao meio ambiente equilibrado. Aqui se percebe uma
dissonância com a ADE, considerando-se que, para ela, em uma visão holística, todas as
espécies do ecossistema, e não apenas o homem, têm direito a um meio ambiente equilibrado.
De acordo com Melo (2014, p. 41), o “meio ambiente ecologicamente equilibrado” é
“um meio ambiente não poluído, com higidez e salubridade”. Esse equilíbrio proposto na lei
que consiste em uma harmonia, proporção e sanidade do ecossistema não significa,
juridicamente, “uma permanente inalterabilidade das condições naturais” (MELO, 2014). Ao
contrário, caso não haja verificada a possibilidade de danos ambientais que comprometam a
sadia qualidade de vida das gerações humanas e futuras, é permitido alterar o meio ambiente
físico de forma ilimitada. É o que ocorre, por exemplo, em casos de destruição de florestas
para construção de indústrias e hidrelétricas e de pastagens para o gado leiteiro e de corte.
Para a ADE, os seres vivos se adaptam para sobreviver e a alteração do meio ambiente físico
deve acontecer nos casos em que seja necessária uma adaptação para garantia de
sobrevivência e permanência. Ou seja, o equilíbrio homeostático, de acordo com a Ecologia, é
dinâmico e encontra-se em perpétua mudança (COUTO, 2007), como ocorre, por exemplo,

97
em casos de animais que mudam de território em algumas estações do ano para sobreviverem
ou quando o homem intervém no ecossistema para impedir que catástrofes ambientais
ocorram. Já no ordenamento jurídico, essas alterações não dependem de motivos de adaptação
dos seres humanos, tal como proposto pela ADE.
Quando se afirma que o meio ambiente é um “bem de uso comum do povo” tem-se
uma ideia de posse. Para o Direito, a palavra “bem” está relacionada a tudo aquilo que é útil
às pessoas (FIÚZA, 2004), que pode ou não possuir valor econômico e deve ser defendido por
seus titulares. Desse modo, a utilização da palavra “bem”, na CF/88, torna o meio ambiente
um objeto de posse humana. Já a palavra “uso” reforça a ideia da coisificação e utilização do
meio ambiente, o que é combatido pela Ecologia Profunda e pela ADE, uma vez que, para
essa área, não há hierarquia entre os seres vivos. Cada um dos seres vivos possui uma função
específica no ecossistema e a harmonia do todo assegura a homeostase. Para a ADE, “todo ser
vivo tem seu papel na grande teia da vida” (COUTO, 2007, p. 34).
A expressão “a sadia qualidade de vida” relaciona-se a dois dos temas mais defendidos
pelo Direito: vida e saúde. Há uma estratégia, na lei, de associar a defesa do meio ambiente à
vida e à saúde humana, visto que a lei determina que o equilíbrio ambiental seja condição
indispensável (essencial) à garantia da vida e, consequentemente, à dignidade da pessoa
humana, um dos maiores princípios constitucionais. De acordo com Melo (2014, p. 41), “a
efetivação dos direitos civis e políticos e dos direitos econômicos sociais e culturais só é
possível com um meio ambiente ecologicamente equilibrado”. Para o Direito Ambiental, é
impossível garantir o direito à vida, à saúde ou ao trabalho em um ambiente poluído.
A utilização da palavra “vida” garante o direito à vida, tranquiliza os indivíduos e
apaga de sua mente as catástrofes ambientais ocasionadas pelo capitalismo desenfreado.
Assim, essa estratégia faz com que os indivíduos não se atentem aos problemas de cunho
econômico, preocupando-se apenas em proteger a vida, de acordo com o que é proposto na lei,
ou seja, apenas a vida humana.
Na ciência do Direito, a vida é o bem jurídico tutelado mais precioso. No entanto, esse
conceito é complexo, pois, além de não haver uma delimitação única e clara, a noção jurídica
de “vida” reforça a ideologia capitalista e antropocêntrica. Isso ocorre porque, para a lei, é a
partir do nascimento “com vida” que os indivíduos passam a ser sujeitos jurídicos de deveres
e direitos. Para a ADE, a defesa da vida abrange todos os seres do ecossistema, e não apenas
os humanos. Além disso, o equilíbrio ecossistêmico não deve ser alcançado apenas para
assegurar a vida e o bem-estar humanos, e sim de todos os seres.

98
Por fim, a última frase do artigo trata da responsabilidade humana de “defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Para o Direito, trata-se de um conceito
inovador, por estabelecer uma conexão entre as gerações presentes e futuras, o que demonstra
um caráter ético da norma. Entretanto, embora estejam presentes valores éticos nessa
expressão, o termo “gerações” é restritivo aos seres humanos e mostra, mais uma vez, o
caráter antropocêntrico da norma. Para a ADE, a ética deve ser encarada por um viés
ecológico e deve estar relacionada com a garantia de vida de todos os seres vivos em
igualdade de condições, e não apenas dos seres humanos.
Nota-se, nesse dispositivo legal, que não há um interesse jurídico em colocar o homem
em harmonia com os demais seres, mas sim em resguardar os recursos ambientais para que as
gerações humanas futuras não sejam prejudicadas. Além disso, os parágrafos e incisos que
complementam o caput desse artigo prescrevem diferentes meios de resguardar o meio
ambiente e garantir a vida dos seres humanos. O primeiro parágrafo e seus sete incisos
demonstram as imposições feitas ao poder público, enquanto os demais parágrafos trazem
obrigações ao particular, o que passa a ser exposto.
4.2.1 As Obrigações Estatais de Preservação Ambiental
O primeiro parágrafo do artigo 225 diz que “para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao poder público”, sendo o complemento do verbo “incumbir” dado nos sete incisos
subsequentes, que serão analisados em seguida. Os itens lexicais colocados nessa frase
propicia, na imaginação dos humanos, certa tranquilidade, considerando que o verbo
“assegurar” dá a ideia de que esse direito já existe e somente “precisa ser resguardado”, ou
seja, se expressa que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é algo existente na
sociedade, necessitando apenas ser resguardado. Dessa forma, mais uma vez, cria-se, na
norma, um mascaramento da realidade desastrosa do meio ambiente, já que as escolhas
lexicais omitindo os problemas ambientais e as ações desenvolvimentistas e mencionando a
segurança à vida apagam da mente dos indivíduos os problemas ambientais enfrentados. Já
o termo “incumbe” produz o sentindo de obrigação indisponível do poder público de garantir
esse direito, o que também demonstra, à sociedade, um possível comprometimento do Estado
com as questões ambientais.
a) Sobre a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais e manejo
ecológico das espécies

99
O primeiro inciso do § 1º determina que incumbe ao poder público a “preservação e
restauração dos processos ecológicos essenciais e provimento do manejo ecológico das
espécies e ecossistemas”. Esse inciso é complementado pela lei 9.985/2000, que apresenta
uma série de alternativas à preservação ambiental como, por exemplo, resguardar e dispensar
atenção especial a alguns territórios brasileiros, como as áreas de uso sustentável e as reservas
de proteção integral ao meio ambiente, que serão analisadas a seguir.
O termo “preservação” apresenta um sentido consoante com os valores da ADE, visto
que preservação é o “conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a
longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos
ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais” (artigo 2, V, da Lei 9.985/2000),
e se aproxima da ideologia da ADE por prescrever uma preservação ambiental em longo
prazo. Já a restauração é “a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada o mais próximo possível de sua condição original” (artigo 2, XIV, da Lei
9.985/2000). Ou seja, a restauração relaciona-se à restituição do ecossistema o mais próximo
do original. Nesse sentido, se estabelecem um problema ecológico e uma incoerência entre o
termo “restauração” e o intuito de preservação pelo olhar da ADE, pois, uma vez destruído,
ele não voltará a ter sua forma original, o máximo que pode ser alcançado é o “mais próximo
ao original”. Isso compromete o equilíbrio homeostático, a diversidade, a vida, e mais, pode
gerar sofrimento e morte de diversos seres.
Os processos ecológicos devem ser entendidos como aqueles “governados, sustentados
ou intensamente afetados pelos ecossistemas, sendo indispensáveis à produção de alimentos, à
saúde e a outros aspectos da sobrevivência humana e do desenvolvimento sustentado”
(SILVA apud MELO, 2014, p. 43). Por fim, o manejo é “todo e qualquer procedimento que
vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas” (artigo 2, VIII, da
lei 9985/2000). Tanto o conceito de processos ecológicos quanto o de manejo ecológico
demonstra uma possível falha nessa medida de preservação ambiental proposta: o primeiro
por se voltar, mais uma vez, exclusivamente à defesa dos interesses humanos, e o segundo
porque assegura, como manejo ecológico, “todo e qualquer procedimento”, e essa
generalização não faz distinção entre o que é benéfico ao meio ambiente como um todo e o
que pode ser usado para o bem-estar humano. A lei da biodiversidade, lei 11105/2000
coaduna com essa incoerência, já que a partir da permissão de praticar “todo e qualquer
procedimento” muitos organismos têm sido modificados geneticamente a favor do bem-estar
humano.
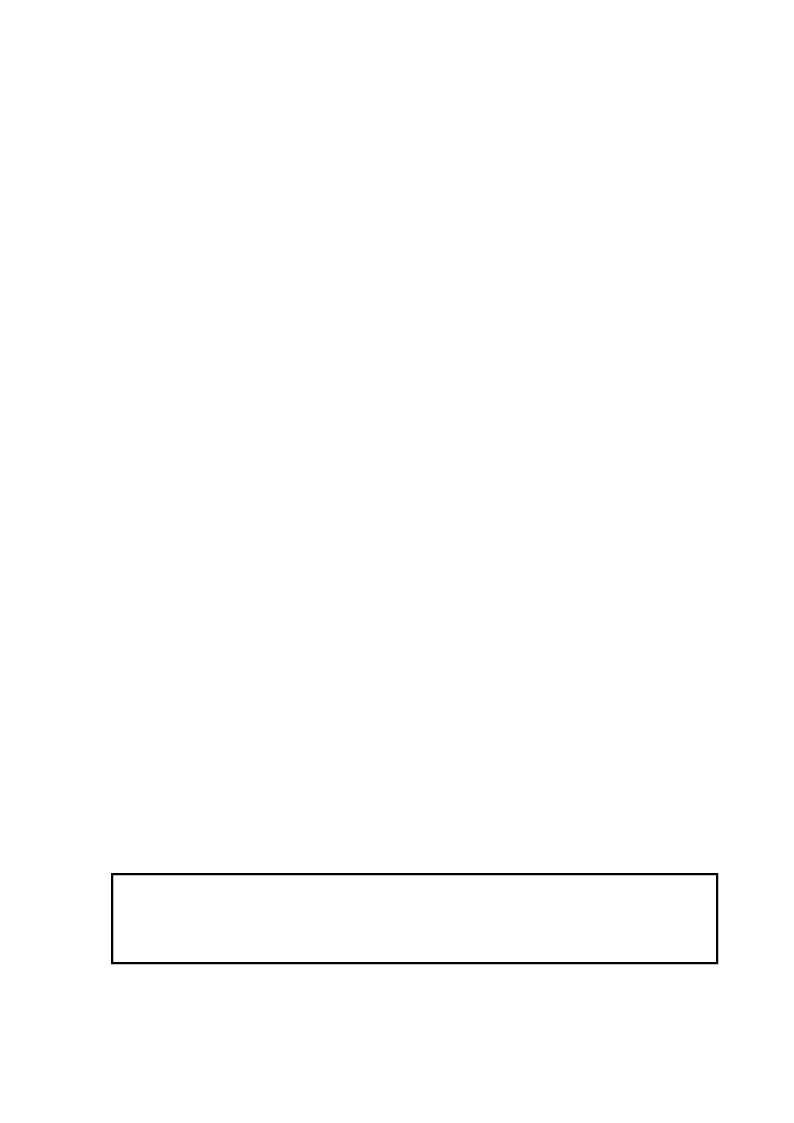
100
A ADE tem como um de seus princípios a visão de longo prazo (COUTOECOUTO,
2015), pela qual as ações do presente devem estar relacionadas às respostas do futuro. Nesse
sentido, é importante ressaltar que, na natureza, não é possível prever quando serão
desencadeados os problemas ambientais. Ela segue seu curso independente dos reflexos que
isso terá para os seres humanos(COUTOECOUTO, 2015). Assim, é necessário que as ações
praticadas no presente sejam condizentes com os possíveis benefícios humanos e não
humanos do futuro, evitando surpresas ocasionadas pelas reações desastrosas do meio
ambiente em resposta ao seu mau uso.
O adjetivo “essenciais” caracteriza o tipo de processo ecológico que deve ser
preservado e restaurado, demonstrando que a preocupação está em cuidar do que é
fundamental à salubridade e à higidez humanas, estando excluído o bem-estar dos demais
seres do ecossistema.
A segunda parte do inciso trata de “prover o manejo ecológico das espécies e
ecossistemas” e relaciona-se, primordialmente, ao cuidado com as espécies. A posição final
dessa oração no período demonstra que esse item é secundário na ordem do que deve ser a
preocupação da lei, o que vai contra os valores da ADE, que tem a preservação da vida e dos
ecossistemas como algo primordial. O intuito, nesse momento, é assegurar a proteção das
espécies e do ecossistema e, portanto, esta deveria ser a primeira oração do período, com o
objetivo de demonstrar o interesse primordial dessa proteção e auxiliar na instauração de uma
ideologia ambientalista.
Como forma de complementar esse inciso, a lei 9.985/2000 criou o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação (SNUC). O artigo 1º da mencionada lei aduz que “essa lei
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza SNUC, estabelece
critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação”. Os
objetivos desse sistema apresentam consonâncias com os valores da Ecologia Profunda e
estão voltados à preservação do meio ambiente, sendo eles:
I) contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no
território nacional e nas águas jurisdicionais; III) contribuir para a preservação e a
restauração da diversidade de ecossistemas naturais
No inciso I, tem-se a ideia de que essa diversidade existe e é necessário apenas mantê-
la. Por meio desses incisos, nota-se o respeito aos demais seres, exposto em uma postura de
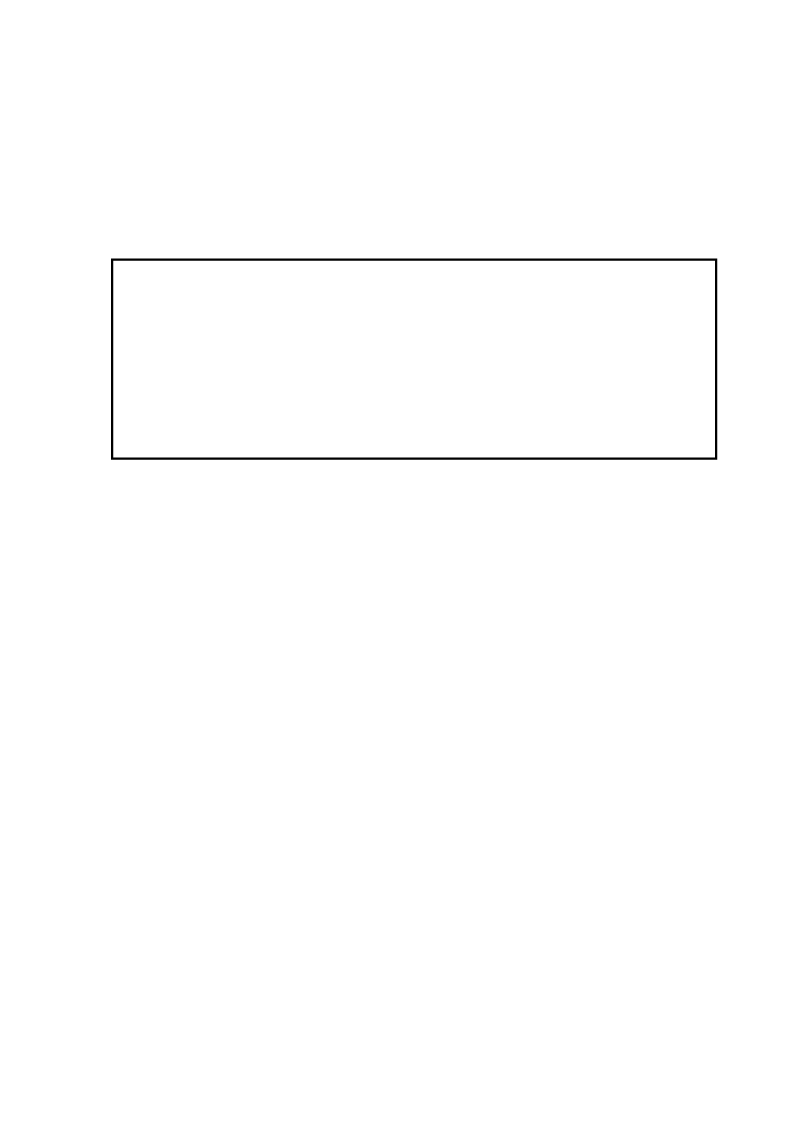
101
tolerância e holismo. A estratégia textual uso do verbo “contribuir” , ao mesmo tempo em
que promove a ideia de que alguma coisa está sendo feita em prol do meio ambiente, retira do
Estado a responsabilidade exclusiva de cuidar e manter a diversidade dos ecossistemas
naturais, pois quem contribui auxilia na produção de algo já criado e praticado por outrem.
II) Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; VI)
proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; VII) proteger as
características relevantes de natureza geológica, geomorfológicas, espeleológica,
arqueológica, paleontológica e cultural; VIII) proteger e recuperar recursos hídricos e
edáficos; XIII) proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações
tradicionais, respeitando-se e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-
as social e economicamente.
O verbo “proteger” é utilizado em cinco dos treze incisos desse artigo e gera, no
imaginário humano, uma sensação de segurança e conforto aos indivíduos, que, temerosos dos
problemas ambientais, buscam uma proteção e uma segurança de que sua vida será preservada.
Isto é, cientes dos problemas ambientais existentes e da ameaça à vida oriunda desses
problemas, os seres humanos temem que a vida lhes seja ceifada e, portanto, buscam um
conforto, dado a eles pela garantia normativa de proteção, já que o verbo “proteger” significa,
segundo o dicionário Aurélio, “cuidar ou impedir um mal”.
Esse verbo é utilizado, na norma, para se referir apenas às espécies ameaçadas de
extinção, e não a todas, o que já demonstra uma segregação e uma preocupação apenas com
aquelas que já estão ameaçadas. Na expressão “paisagens naturais pouco alteradas ou de
beleza cênica” há a prescrição de uma proteção que não se estende a todo o meio ambiente
natural, e sim a parte dele que é relevante ao homem.
No último inciso, a postura antropocêntrica é mais evidente, uma vez que determina a
proteção de recursos naturais importantes às populações (humanas) tradicionais, sendo
determinada, ainda, uma valorização econômica. Há, assim, uma preocupação da lei com
garantir os recursos naturais necessários à utilização essencial humana, o que também é uma
preocupação da ADE, mas não a única. O termo “economicamente” demonstra, mais uma vez,
a subordinação dos valores ecológicos e sociais aos ditames capitalistas.
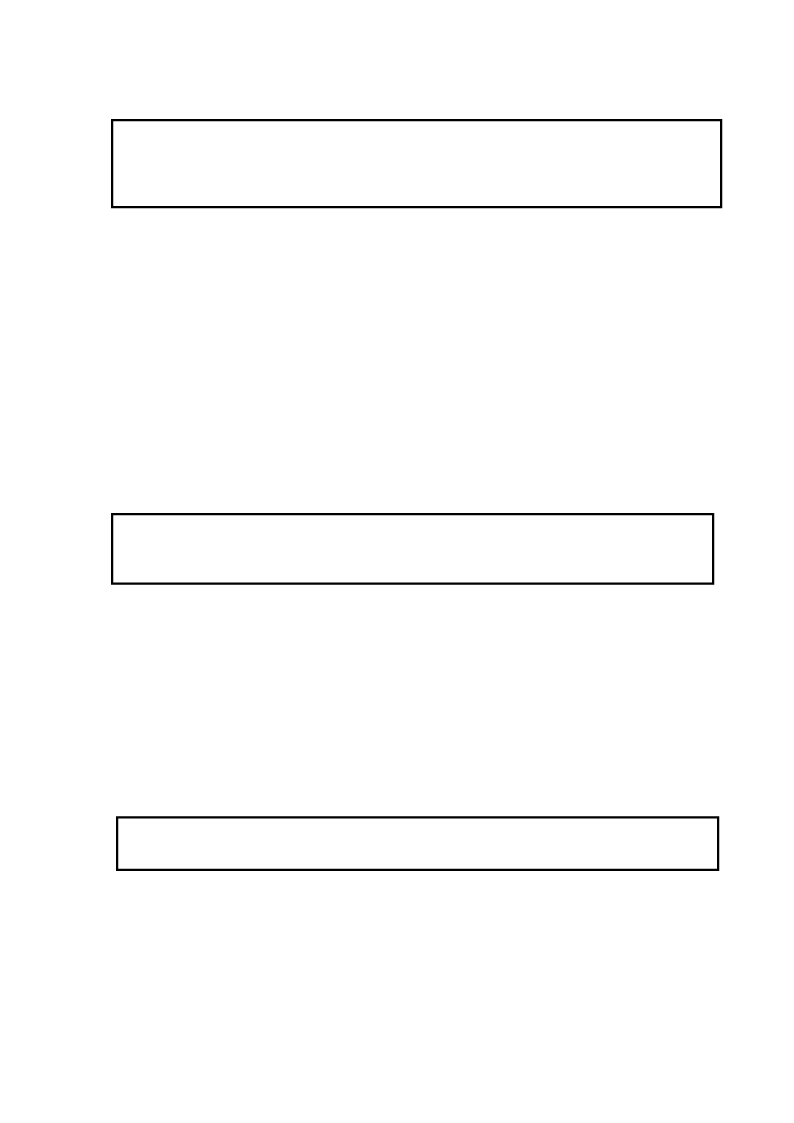
102
IV) promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; V) promover a
utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de
desenvolvimento
Aqui, a ordem é promover, que significa “gerar, propiciar”, referindo-se ao
desenvolvimento sustentável. Nota-se que não é feita nenhuma crítica ao capitalismo nem à
necessidade de geração de lucros, apenas há a possibilidade de demonstrar que o Estado
possui o controle ou domínio sobre as atividades econômicas e sobre as ações geradas ao
meio ambiente. Há uma consonância com a ADE porque para ela, ainda que o
desenvolvimento sustentável gere riscos ao meio ambiente, estes são em menor escala e, por
isso, é importante promovê-lo. O inciso V, ao impor o dever de “promover a instauração de
princípio e prática de preservação da natureza”, aproxima-se da prescrição de instauração da
mudança de paradigmas proposto pela ADE.
X) proporcionar meios de incentivos para as pesquisas científicas, estudos e
monitoramento ambiental
O verbo proporcionar significa, segundo o dicionário Aurélio, “pôr ao alcance, dar
ensejo”, e sua utilização indica que a responsabilidade desse órgão é criar os mecanismos para
a produção de realização de pesquisa, estudo e monitoramento. A prescrição do dever de
“proporcionar meios” pode auxiliar na instauração de novos paradigmas sociais e na mudança
das políticas, se forem praticadas ações condizentes com os princípios da Ecologia Profunda,
o que não é mencionado na lei. Essa medida de incentivo à pesquisa remete ao caráter
prescritivo da ADE, sendo, portanto, eficiente para a defesa do meio ambiente.
XI) valorizar econômica e socialmente a diversidade
A expressão “valorizar econômica” demonstra que persistem os valores capitalistas,
ainda priorizados nas normas ambientais, enquanto a valorização social demonstra que a lei
está preocupada também com o ecossistema social. Trata-se de uma medida importante ao
equilíbrio homeostático, mas ineficiente, já que se volta apenas a valores econômicos e sociais
da diversidade, esquecendo-se da possibilidade de valorização física ou natural desta, que
poderia ser feita por meio da diminuição da presença humana no ecossistema.
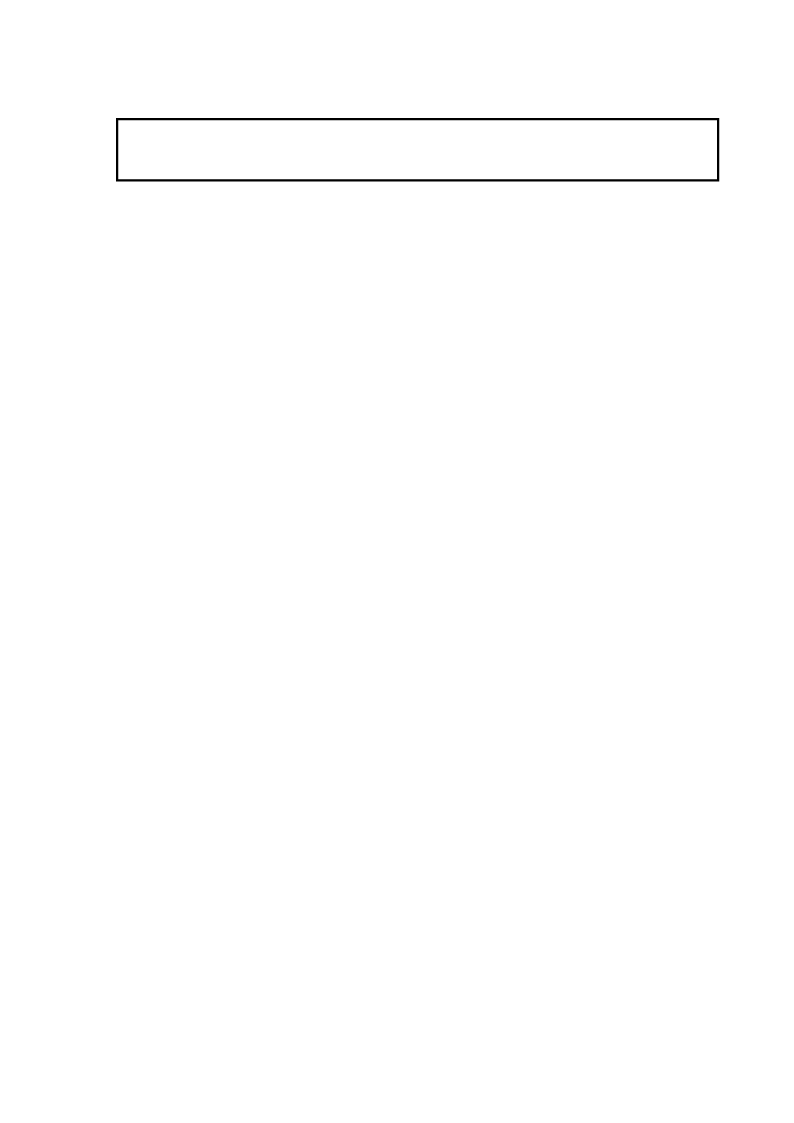
103
XII) favorecer a educação e a recreação em contato com a natureza e com o turismo
ecológico
A expressão “favorecer a educação” remete à prescrição da Ecologia Profunda de que
os paradigmas precisam ser mudados, bem como se relaciona com o princípio da educação
ambiental já analisado. Por muito tempo não havia uma preocupação em demonstrar, no
âmbito educacional, os problemas de cunho ambiental, entretanto, atualmente nota-se que a
própria lei reconhece a necessidade de implantação desse tema na área educacional. A
expressão “contato com a natureza”, por sua vez, apresenta um ponto de convergência com os
princípios da ADE, mostrando que o homem deve reconhecer que faz parte do ecossistema e
que isso só pode ser alcançado pelo contato do homem com a natureza e pelo reconhecimento
de que faz parte do todo ecossistêmico, na verdade, para a ADE, e para e linguística
ecossistêmica em geral, o homem é parte da natureza, não “próximo” dela, “fora” dela.
b) Sobre a preservação da biodiversidade, integridade do patrimônio genético e
fiscalização de entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético
Esse inciso trata de uma das questões ambientais mais discutidas atualmente, a
biodiversidade, conceituada como “variedade de organismos vivos de todas as origens,
compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos, e outros ecossistemas
aquáticos e os complexos ecológicos, de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade
dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas” (BRASIL, 2000, art. 2, III).
A preservação da biodiversidade, de acordo com a doutrina jurídica, significa
reconhecer a grande quantidade de diferentes organismos vivos, considerando, ainda, que
quanto mais diferenças existirem no ecossistema, maiores são as possibilidades de adaptação
às mudanças (MILARÉ, 2015). As adaptações do ecossistema são importantes para manter o
equilíbrio homeostático, ademais, só sobrevivem no meio ambiente os organismos que
conseguirem se adaptar às mudanças no ecossistema. Portanto, uma maior diversidade,
implica no poder de adaptação dos seres. Nesse sentido, a intervenção humana em prol da
preservação da biodiversidade deve estar relacionada ao reconhecimento das diferentes
espécies de seres, para que, a partir disso, possam ser criados meios para sua adaptação e
sobrevivência, tal como é proposto pela lei 11.105/2005.

104
A utilização das expressões “diversidade, patrimônio genético, material genético”
demonstra uma aproximação entre a ciência jurídica e a Ecologia, trazendo à tona a ideia de
holismo defendido pela ADE. Nota-se que houve a necessidade de normatizar as questões
relativas à biodiversidade, uma vez que o homem, utilizando sua racionalidade, buscou
intervir na ordem natural da vida, dos seres e do ecossistema por sua modificação genética.
Embora haja um objetivo comum entre a ADE e a lei jurídica de proteger a diversidade, a
forma como se busca essa proteção é distinta. Isso porque a ADE é pautada em uma ideologia
de vida e tem como foco defender a diversidade tanto da natureza como da cultura. Nela, o
conceito de diversidade está relacionado com o respeito e com a aceitação do que é diferente.
Já nesse artigo, embora haja uma preocupação com a biodiversidade, ela deve ser preservada
para assegurar “o meio ambiente ecologicamente equilibrado” e, consequentemente, a sadia
qualidade de vida dos seres humanos. Desse modo, não há uma intenção de respeitar os outros
seres, e sim de criar medidas para assegurar o bem-estar humano.
Esse dispositivo legal é complementado pela lei 11.105/2005, que
estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o
cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a
exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação
no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificado (OGM) e
seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de
biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal,
e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente. (art.
1º).
Esse primeiro artigo demonstra tanto a abrangência das atividades fiscalizadas como
os objetivos da lei, que é justamente fiscalizar as ações relacionadas à biodiversidade. A
fiscalização se estende a “produção, manipulação, transporte, transferência, importação e
exportação, armazenamento, pesquisa, comercialização, consumo e liberação de material no
meio ambiente”, ou seja, a todas as possibilidades de atividades relacionadas às ações
humanas que interferem na diversidade.
O artigo 3º da lei 11.105/2005 define diversos termos da Ecologia, demonstrando,
mais uma vez, a necessidade de interdisciplinaridade entre a ciência do Direito e outras
vertentes de estudo. Assim, a ciência jurídica apropria-se de alguns termos das ciências
biológicas como, por exemplo, organismo, engenharia genética, clonagem, células-tronco,
dentre outros.
As recomendações dessa lei devem respeitar alguns princípios instituídos na
“Convenção sobre a diversidade biológica”, que foi fruto da Conferência Eco-92, realizada no

105
Rio de Janeiro, em junho de 1992, como estudado no capitulo 1. Tal convenção representa
atualmente um dos mais importantes instrumentos internacionais relacionados ao meio
ambiente. Dentre as recomendações estão estabelecidas:
I - a diversidade biológica tem valor intrínseco, merecendo respeito
independentemente de seu valor para o homem ou potencial para uso humano; [...]
XIV - o valor de uso da biodiversidade é determinado pelos valores culturais e inclui
valor de uso direto e indireto, de opção de uso futuro e, ainda, valor intrínseco,
incluindo os valores ecológico, genético, social, econômico, científico, educacional,
cultural, recreativo e estético; [...] XX - as ações de gestão da biodiversidade terão
caráter integrado, descentralizado e participativo, permitindo que todos os setores da
sociedade brasileira tenham, efetivamente, acesso aos benefícios gerados por sua
utilização.
Por meio desses princípios, é possível perceber uma interação entre as recomendações
jurídicas e os princípios da Ecologia Profunda. Isso pode ser comprovado, por exemplo, na
expressão “a diversidade biológica tem valor intrínseco”, que remete ao princípio da Ecologia
Profunda de que todos os seres possuem valores intrínsecos em si mesmo. O estudo desse
princípio jurídico também justifica o objetivo da pesquisa de averiguar as consonâncias e
dissonâncias entre o Direito Ambiental Constitucional brasileiro e a Ecologia Profunda, já que
são retomados, nesse princípio, alguns valores por ela apregoados.
c) Sobre a prescrição de definição de espaços territoriais especialmente protegidos
O inciso III aduz que incumbe ao poder publico
Definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes
a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade
dos atributos que justifiquem sua proteção.
O verbo utilizado é “definir” que, nesse contexto, significa “determinar, fixar”. Nota-
se, assim, um dever público de proteger de forma especial, em todos os estados brasileiros,
espaços territoriais, o que se depreende da expressão “a serem especialmente protegidos”. O
advérbio “especialmente” sugere que algumas áreas brasileiras merecem mais proteção do que
outras, e isso é incoerente, considerando que, para a Ecologia Profunda, todos os seres do
ecossistema possuem “valor em si mesmo” e, portanto, merecem ser protegidos
indistintamente. Tal postura legal, embora se apresente como uma medida que possa preservar
pelo menos parte do ecossistema, reforça visões capitalistas e mecanicistas de mundo ao

106
buscar criar métodos isolados de preservação ambiental e retomar os valores científicos de
que o mundo pode ser separado e estudado em partes isoladas.
A forma como essas áreas são instituídas e administradas é prescrita na lei 9.985/2000.
A expressão “unidades de conservação” é conceituada, nela, como
o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais,
com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público,
com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. (Artigo 2º)
A lei prevê dois tipos de unidades de conservação: unidades de proteção integral e
áreas de uso sustentável. Esses nomes já demonstram os objetivos da norma de dar atenção
especial e proteger algumas áreas específicas. A expressão “proteção integral” sugere a
proteção do meio ambiente de forma geral, ampla, igualitária e inteira. Entretanto, no objetivo
instituído pela própria lei “preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos
seus recursos naturais, com exceções dos casos previstos na lei” , nota-se que, ainda que seja
uma proteção integral, existem exceções que podem limitar os objetivos de preservar o meio
ambiente. Percebe-se que, nas áreas de proteção integral, a lei prevê “uso indireto dos
recursos naturais”, e isso mostra que, mesmo quando o intuito é a proteção integral, os usos
humanos são resguardados e os interesses econômicos e capitalistas são protegidos.
Já na unidade de uso sustentável é possível utilizar os recursos naturais, desde que
sejam respeitados os “limites” impostos pela lei. Há uma tentativa de compatibilizar o uso do
meio ambiente com o desenvolvimento econômico, que segue os mecanismos do princípio do
desenvolvimento sustentável, sugerido pelo próprio nome dado a essas áreas.
A lei prevê cinco tipos de unidades de proteção integral (estação ecológica, reserva
biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre), as quais têm como
objetivo a preservação do meio ambiente, a pesquisa científica, a preservação do ecossistema
natural e de grande beleza cênica e outros. A recomendação da lei em preservar o ecossistema
de grande beleza cênica, é antropocêntrica, podendo apenas resguardar interesses humanos,
uma vez que os outros seres não estão se importando com a beleza do ecossistema e sim seu
equilíbrio e a possibilidade de sobrevivência. O conceito de beleza não se relaciona ao
equilíbrio homeostático e nem à defesa de todos os seres do meio ambiente, e sim ao bem-
estar puramente humano, nota-se mais uma vez a ineficiência da lei em termos ecológicos.
De acordo com o que pode ser depreendido da lei, uma das medidas criadas é evitar,
ou ao menos controlar, o contato humano nas áreas de preservação integral, aparentemente

107
reconhecendo que o homem atua negativamente no meio ambiente e que a preservação de
determinado território só é possível se a presença humana for nula ou, pelo menos, restrita.
Nota-se, também, um controle estatal sobre a população e um reforço e uma supremacia do
mercantilismo e do capitalismo na relação homem-natureza, considerando que não há
medidas que abalem o desenvolvimento econômico, apenas limitando o contato do homem
com o meio ambiente.
A palavra “estação” que dá nome às “estações ecológicas” significa, para o
dicionário Aurélio, “estabelecimento de investigação científica”,o que já demonstra o objetivo
primordial instituído pela lei de realizar pesquisa.
O parágrafo 4º do artigo da lei 9985/2000 assegura que
na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso
de: I) medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados; II) manejo de
espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; III) coleta de componentes
dos ecossistemas com finalidades científicas.
A lei assegura que o meio ambiente natural só pode ser alterado em casos que tragam
benefícios a ele próprio, o que somente ocorreria com melhorias ao ecossistema, manejo
ecológico para preservar a diversidade e coleta de dados e elementos do ecossistema para a
realização de pesquisas científicas, meios já analisados.
A lei institui, como segunda unidade integral, a “reserva biológica”. O termo “reserva”,
de acordo com o dicionário Aurélio, é “aquilo que se guarda ou poupa para casos
imprevistos”. A locução nominal “reserva biológica” confere o sentido de uma área que
possui ecossistemas que necessitam ser resguardados, e, como o nome já demonstra, seu
objetivo é, segundo o artigo 10:
a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites,
sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as
medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as açõe s de manejo
necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e
os processos ecológicos naturais.
Aqui, verifica-se uma preocupação com o meio ambiente natural, depreendida da
expressão “proteção integral da biota”. Entretanto, a limitação da interferência humana no
ecossistema, ou seja, o impedimento de uma possível interação entre o homem e esses
ecossistemas especialmente protegidos, proposta pelo artigo,dificulta que se estabeleça um
sentimento de respeito e mais próximo à natureza, fundamental para o homem se reconhecer
como parte do ecossistema e não fora dele.

108
De acordo com o artigo 11 dessa lei, o objetivo do parque nacional é “a preservação de
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a
realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e
interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico”
(artigo 11). Nesse objetivo não se especificam, expressamente, quais os critérios para se
determinar o que é “grande relevância ecológica” e nem “beleza cênica”, demonstrando assim
a importância das interpretações das leis e a necessidade de serem consideradas a postura dos
tribunais para dirimir conflitos e a insuficiência das leis positivadas para tratá-los. Ao se
pensar nesse conceito de “grande relevância” relacionando-o ao caput do artigo 225 da CF/88,
percebe-se que ele pode apresentar um caráter antropocêntrico, no qual há uma tentativa de
preservar o ecossistema natural à medida que isso seja necessário para garantir uma sadia
qualidade de vida humana.
Por fim, no monumento natural e em refúgio de vida silvestre, que buscam preservar
sítios naturais raros, singulares ou de beleza cênica e proteger ambientes naturais que
permitam a reprodução de seres da fauna e da flora, respectivamente, não há evidência de
outros interesses a não ser a preservação ambiental, o que está em consonância com os valores
da Ecologia Profunda.
A forma como os tipos de unidades estão dispostos em lei regras mais complexas
para as menos complexas de cada unidade sugere o grau de preocupação do legislador com
os territórios protegidos. Dessa forma, o “monumento natural e o refúgio da vida silvestre”
são regidos por um número menor de restrições legais, o que sugere menos preocupação do
legislador. Percebe-se, ainda, que nessas áreas, cujas restrições são menores, há uma
permissão maior de contato do homem com a natureza, ou seja, a limitação desse contato é
menor e há uma possibilidade maior de interação entre o homem e a natureza, o que para a
Ecologia Profunda é algo de extrema importância. Contudo, para a legislação ambiental esse
contato é prejudicial à preservação do meio ambiente, daí a necessidade de limitá-lo quando
necessário.
A medida protetiva prescrita na norma está voltada a um controle do contato humano
com o meio ambiente em áreas específicas, sendo esse controle exercido na proporção em que
queira proteger o meio ambiente. Assim, quanto maior a preocupação em preservar uma área,
mais limitado é o acesso dos indivíduos a ela. Tal medida impede que os seres humanos se
reconheçam como parte do ecossistema e, consequentemente, que sigam os valores pregados
pela Ecologia Profunda.

109
A lei traz um número maior de possibilidades de unidades de uso sustentável, nas
quais, diferentemente do que acontece com as unidades de proteção integral, pode haver
ocupação humana. Nessas áreas, a preocupação é menor e se busca um desenvolvimento
sustentável, o que faz com que a presença humana seja mais tolerada.
Nas áreas de proteção ambiental, “dotada[s] de atributos abióticos, bióticos, estéticos
ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais” (artigo 15),
há o predomínio de interesses humanos, uma vez que a preocupação está em preservar áreas
importantes para a qualidade de vida e o bem-estar humanos.
As áreas de relevante interesse ecológico, de acordo com o artigo 16, possuem
características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota
regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância
regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo
com os objetivos de conservação da natureza.
A expressão “características naturais extraordinárias” representa uma medida
preconceituosa do homem para com o meio ambiente, uma vez que a ideia transmitida é a de
que, se não for algo extraordinário, acima da normalidade, não merece o respeito e a proteção
dos seres humanos. Essa atitude preconceituosa é combatida pela ADE, considerando que
para ela todos os seres, indistintamente, merecem ser respeitados. Além disso, o objetivo
dessas áreas “manter os ecossistemas de importância regional” reforça, em primeiro lugar,
a atitude antropocêntrica, pois preserva aquilo que é importante regionalmente, reforçando o
preconceito e o desrespeito à diversidade: o que não faz parte do ecossistema natural
“importante” não merece ser preservado.
A floresta nacional “é uma área com cobertura florestal de espécies
predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos
recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável
de florestas nativas” (artigo 17). Há uma preocupação em preservar essas áreas, mas os
interesses econômicos e antropocêntricos não são deixados de lado, o que é entendido pela
expressão “métodos para exploração sustentável”, ainda que haja uma preocupação em criar
meios sustentáveis. Aqui, o intuito é regular, e não extinguir o uso humano nessas áreas,
compatibilizando-o com a defesa da natureza. Ademais, é permitido o uso dos recursos
naturais, mas não visando a subsistência humana e tampouco a utilização do essencial,

110
pregado pela Ecologia Profunda. Portanto, são áreas de preservação ambiental em que se
mantêm, também, as finalidades econômicas, cujo intuito é conciliar os interesses mercantis
com a preservação do meio ambiente.
A reserva extrativista é instituída pela lei como
uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-
se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação
de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de
vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos
naturais da unidade. (artigo 18)
Há, dessa forma, uma preocupação com o próprio homem, o que também deve ser
uma prioridade ecológica, mas não a única, o que é percebido na expressão “tem como
objetivo básicos proteger os meios de vida e cultura dessas populações”. Assegura-se, assim,
àqueles que precisam da atividade desenvolvida nessa área para prover sua subsistência, o
direito ao extrativismo e à agricultura, ainda que de maneira controlada pela ação de órgãos
específicos. A subsistência é um direito defendido também pela Ecologia Profunda e pela
ADE. Percebe-se, então, uma aproximação entre os valores pregados pela ADE e o que está
instituído nesse dispositivo. Entretanto, sobre uma falsa liberdade conferida ao indivíduo de
habitar e utilizar os recursos de determinado território, o Estado é capaz de controlá-lo e
gerenciar sua vida, inclusive na relação estabelecida entre ele e o meio ambiente.
A reserva da fauna “é uma área natural com populações animais de espécies nativas,
terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos
sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos” (artigo 19). Esse enunciado
mostra uma preocupação em proteger as espécies benéficas à utilização humana. Há, nesse
dispositivo, uma visão preconceituosa e antropocêntrica, pois a preservação descrita atinge
apenas os seres considerados adequados aos estudos técnico-científicos e que propiciem uma
utilização sustentável desses recursos. Há, ademais, uma ineficiência ecológica nessa medida,
visto que, novamente, os demais seres do ecossistema são vistos como objeto de utilização
humana. A segregação normativa feita pela especificidade dos seres somente aqueles que
devem ser preservados demonstra um desrespeito à sua diversidade.
Além disso, o artigo 20 permite a comercialização dos produtos usados na pesquisa ao
afirmar que esta “obedecerá ao disposto nas leis sobre fauna e regulamentos”, Isso incentiva o
comércio e, ao mesmo tempo, reforça uma visão utilitarista combatida pela ADE.
As áreas de desenvolvimento sustentável se relacionam aos povos que, utilizando os
recursos naturais de forma correta, ou sem exageros e degradações, garantem a sua

111
subsistência. Pela ADE nota-se que esses povos possuem a consciência ecológica que deveria
permear toda a sociedade, visto que eles habitam territórios nos quais podem encontrar os
elementos necessários e essenciais à sobrevivência e, por meio do conhecimento, passado de
geração a geração, retiram do meio ambiente apenas o que lhes é essencial. Há, neles, uma
visão de mundo diferente daquela puramente capitalista e antropocêntrica e, nesse sentido, a
lei reconhece sua importância e tenta defendê-los, protegendo o território em que vivem.
A lei ainda apresenta outra opção de preservação ambiental: as reservas da biosfera.
Trata-se de
um modelo, adotado internacionalmente, de gestão integrada, participativa e
sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação da
diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o
monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a
melhoria da qualidade de vida das populações. (Artigo 41).
Nessa forma de preservação ambiental estão presentes algumas prescrições feitas
também pela Ecologia Profunda: a preservação da diversidade biológica refere-se ao princípio
em que “a riqueza e a diversidade das formas de vida contribuem para a realização desses
valores em si mesmos”; a educação ambiental pode auxiliar na mudança de paradigmas e na
consequente mudança das políticas sociais. Essa forma de proteção coloca a responsabilidade
de preservar o meio ambiente nas mãos da coletividade, o que para a ADE é eficaz, pois é
capaz de gerar uma comunhão entre os seres.
A instituição dessas unidades, apesar de auxiliar na preservação de alguns territórios
específicos do ecossistema, não propicia a instauração de meios eficientes para defender o
ambiente, pois o mecanismo encontrado não é o de interferir na economia e no
desenvolvimento sustentável, mas sim o de limitar, controlar ou regulamentar a permanência
da população em locais específicos.
d) Sobre a possibilidade de estudos de impacto ambiental
O inciso IV aduz que incumbe ao Poder Público “exigir, na forma da lei, para a
instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.”
Nesse inciso, o imperativo “exigir” sugere a imposição e a obrigatoriedade de estudos
sobre os impactos ambientais, interagindo, inclusive, com o princípio da prevenção e da
precaução. Nota-se, então, que nem todas as obras a serem feitas devem passar por esse

112
estudo, mas apenas as mais degradantes, o que é depreendido do termo “potencialmente”.
Trata-se de uma recomendação ineficaz à preservação ambiental, considerando que todos os
danos deveriam ser evitados simplesmente por serem prejudiciais ao meio ambiente e
passíveis de gerar sofrimento a outras espécies.
A exigência de um estudo prévio dos impactos ambientais representa, atualmente,
um dos mais importantes mecanismos de defesa do meio ambiente. A palavra “impacto” pode
ser conceituada como “choque ou colisão e vem do particípio passado do verbo impingere,
com o sentido de impingir ou forçar contra” (MILARÉ, 2015, p. 759). Para a ciência jurídica,
o “impacto ambiental” está relacionado com
Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer fonte de matéria ou energia resultante das atividades humanas
que, direta ou indiretamente afetam: I – a saúde, segurança e o bem-estar da
população; II – as atividades sociais econômicas; III – a biota; IV – as condições
estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais. (Artigo
1º da Resolução do CONAMA de 1986).
Assim, os impactos ambientais estão relacionados, em primeiro lugar, aos danos aos
seres humanos; em segundo lugar, às atividades sociais econômicas, e só em terceiro lugar o
meio ambiente é mencionado, o que sugere uma ordem de prioridades da norma, subordinada
às ideologias capitalistas e antropocêntricas.
e) Sobre o controle da produção, comercialização e emprego de técnicas e métodos e
substâncias prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente
Nesse inciso, o verbo “controlar” sugere, mais uma vez, a possibilidade de o Estado
gerenciar a vida das pessoas, o que poderia ser benéfico se esse controle estivesse voltado
primordialmente à defesa do meio ambiente por apresentar valor em si mesmo. Entretanto,
nota-se uma valorização da vida humana, sendo o meio ambiente mencionado em último
lugar. A forma como está redigida a norma demonstra que os riscos gerados estão
relacionados, em primeiro lugar, à vida, e, embora não se especifique, verifica-se que a vida
defendida é a humana; em segundo lugar, busca-se evitar os riscos à qualidade de vida,
também humana; por fim, há uma menção ao meio ambiente. Como ocorre em diversas outras
frases da letra da lei, nota-se que a preocupação com a vida humana é prioritária em relação
ao meio ambiente.

113
Esse inciso também é complementado pela lei 11.105/2005, que estabelece uma série
de recomendações e formas de proteger a biodiversidade, por meio de um controle sobre as
atividades humanas relacionadas à sua interferência na diversidade dos seres.
O artigo 5º da lei 11.105/2005 prevê que
é permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco
embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não
utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições:
I – sejam embriões inviáveis; ou
II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação desta
Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3
(três) anos, contados a partir da data de congelamento.
§ 1 Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores.
§ 2 Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia
com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à
apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa.
§ 3 É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e
sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de
fevereiro de 1997.
As permissões feitas nesse artigo apresentam uma incoerência entre o objetivo da
norma e as suas prescrições: pela criação de uma norma que vise garantir a vida há uma
possibilidade de controlá-la e, inclusive, de extingui-la. Por meio desse artigo se possibilita
que os seres humanos mudem o curso natural da vida, se apropriando de materiais genéticos
que não apresentem alguma viabilidade para interesses humanos, dando-lhes outras
destinações que não aquelas naturais. Em alguns casos, para desenvolver a atividade a norma
exige uma “aprovação do comitê de ética”, o que parece estar em consonância com os valores
éticos da ADE.
A lei, ao mesmo tempo em que permite essa atividade, traça algumas proibições,
prescritas em seu artigo 6º, a saber:
I – a implementação de projeto relativo a OGM sem a manutenção de registro de seu
acompanhamento individual;
II – engenharia genética em organismo vivo ou o manejo in vitro de ADN/ARN
natural ou recombinante, realizado em desacordo com as normas previstas nesta Lei;
III – engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano e embrião
humano;
IV – clonagem humana;
V – destruição ou descarte no meio ambiente de OGM e seus derivados em
desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio, pelos órgãos e entidades de
registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, e as constantes desta Lei e de
sua regulamentação;
VI – liberação no meio ambiente de OGM ou seus derivados, no âmbito de
atividades de pesquisa, sem a decisão técnica favorável da CTNBio e, nos casos de
liberação comercial, sem o parecer técnico favorável da CTNBio, ou sem o
licenciamento do órgão ou entidade ambiental responsável, quando a CTNBio

114
considerar a atividade como potencialmente causadora de degradação ambiental, ou
sem a aprovação do Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, quando o
processo tenha sido por ele avocado, na forma desta Lei e de sua regulamentação;
VII – a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento
de tecnologias genéticas de restrição do uso.
A primeira e a segunda dizem respeito à sua implementação “sem o devido registro”,
em desconformidade com o que está disposto na lei. Isso é pertinente tanto ao Direito como
aos princípios da ADE, uma vez que esse dispositivo prevê uma “segurança” e limita as ações
desordenadas do homem sobre o meio ambiente. Contudo, é possível perceber uma
fiscalização e um controle estatal sobre as atividades humanas tão eficazes que conduzem os
indivíduos a aceitar serem controlados sem apresentarem resistência; a terceira proibição está
relacionada à engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano e embrião
humano, havendo, ademais, uma proibição relacionada à clonagem de seres humanos, sendo
ela, em contrapartida, permitida quando realizada em outras espécies de seres vivos. Há, nesse
sentido, um reforço das visões antropocêntricas, uma vez que a proibição dessa atividade se
estende apenas aos seres humanos, permitindo-se a mesma atividade em outros casos. Isso
demonstra uma priorização e uma valorização da vida humana em detrimento das demais.
No inciso VI desse artigo, a lei proíbe o descarte, sem autorização, dos resíduos, no
meio ambiente, dos OGM, apresentando o risco ecológico da atividade, pois é sabido que
esses organismos podem ser prejudiciais ao ecossistema. Mesmo assim, a lei permite que a
atividade seja desenvolvida e busca formas de associá-la à preservação do meio ambiente. No
dispositivo não se especifica a forma mais correta e menos desastrosa de liberar, no meio
ambiente, os OGM, porém, apenas o fato de a lei prever normas específicas para esse descarte
já mostra que ele, de alguma forma, será prejudicial ao equilíbrio do ecossistema. As
atividades relacionadas aos organismos geneticamente modificados produzem lixos que
podem ser prejudiciais à saúde humana e não humana e, nesse sentido, deve haver formas
específicas de descartar os resíduos, mas a norma é insuficiente e não prevê formas adequadas.
Essa lacuna na lei representa a insuficiência das normas jurídicas positivadas para solucionar
os problemas sociais e ambientais.
f) Sobre a Educação ambiental
Esse inciso determina que é dever “promover a educação ambiental em todos os níveis
de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.” A educação
ambiental também é assegurada constitucionalmente. O termo “conscientização pública”

115
demonstra que o controle exercido pelo estado sobre a população não acontece apenas no
âmbito social ou físico, mas também é feito no âmbito mental, ou, como defende a ADE, no
ecossistema mental. Trata-se de meios de controle da imaginação e do cérebro dos indivíduos
diretamente, por meio de estratégias sutis como o uso de redes de informação e educação. Tal
inciso interage com o princípio da educação, já discutido.
g) Sobre a proteção à fauna e à flora
O inciso prescreve o dever de “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou
submetam os animais à crueldade.” O termo “fauna” deve ser compreendido como “o
conjunto dos animais que vivem numa determinada região, num ambiente ou período
geológico” (MILARÉ, 2015, p. 193). Nesse conceito devem estar inclusos todos os tipos de
animais, bem como a flora, já que não é possível falar em fauna terrestre sem considerar a
flora.
Nesse inciso predominam os valores biocêntricos, uma vez que o sofrimento físico dos
animais é proibido pela norma. Ao determinar a preservação da fauna e da flora
automaticamente são vedadas as atividades humanas que degradem o meio ambiente. Além
disso, a colocação desse inciso na Carta Magna faz com que haja uma extensão da tutela
jurídica para além dos seres humanos, alcançando-se, assim, todos os demais seres do
ecossistema e aproximando-se dos valores da Ecologia Profunda.
A doutrina jurídica prevê, por não estarem expressas nesse inciso, algumas práticas
que devem ser proibidas por gerar a extinção das espécies e submetê-las à crueldade: a caça
profissional; a pesca clandestina com explosivos; e a introdução de espécies exóticas ou
alienígenas, que é a mais significativa por ser a segunda principal causa de perda das espécies
(MELO, 2014). Nota-se uma consonância entre esse inciso e os valores da ADE que defen
dem a vida e vão contra qualquer tipo de sofrimento físico, mental e/ou social.
Percebe-se que, mais uma vez, a proteção ambiental está em último lugar na ordem de
proteção da lei, e isso se verifica pela posição final desse inciso no dispositivo legal. Antes de
tratar diretamente da defesa da fauna e da flora, bem como das proibições de práticas que
gerem sofrimento aos seres e que podem prejudicar a esfera capitalista, ela propõe uma série
de outras medidas, que não interferem diretamente no desenvolvimento da economia, as quais
se encontram nos incisos I a VI do parágrafo 1º: fiscalização das entidades de pesquisa,
controle apenas das atividades potencialmente causadoras de danos ao meio ambiente,

116
separação de territórios no em âmbito nacional para preservação especial do meio ambiente e
promoção de educação ambiental. Observa-se, assim, um reflexo, na norma ambiental, da
subordinação aos ditames capitalistas.
Os parágrafos 2º ao 6º impõem normas a serem cumpridas não pelo poder público,
mas pelos indivíduos em particular, mostrando que a lei busca uma interação entre o Estado e
os particulares no que tange à preservação ambiental, o que passa a ser exposto.
4.2.2 Deveres Constitucionais do Particular para a Defesa do Meio Ambiente
Quanto aos deveres impostos aos indivíduos, verifica-se que a lei tratou de impor
penalidades àqueles que degradam o meio ambiente. O intuito de punir os infratores figura
como a principal estratégia legal de controle da sociedade e forma de preservar o meio
ambiente.
O parágrafo 2º aduz que “aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a
recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão
público competente, na forma da lei”.
A expressão “fica obrigado” demonstra o poder coercitivo do Estado sobre o indivíduo
que pratica a exploração mineral. Percebe-se que, embora o artigo apresente uma coerção
inegociável, há, por parte da própria lei, uma permissão de explorar o solo, devendo o
particular restaurá-lo nos termos exigidos pelo órgão competente. Restaurar, como exposto,
significa restabelecer, voltar ao estado primitivo, reparar e reintegrar. Entretanto, não há como
prever até que ponto o meio ambiente físico pode voltar ao seu estado primitivo, e esse dever
implica subjetivamente na permissão do homem de degradar o solo ilimitadamente, devendo
apenas restaurá-lo, o que muitas vezes não é possível. Por fim, o parágrafo 3º impõe punições
aos particulares que infringirem as leis, o que se demonstra no tópico 3.3.
4.2.3 Demais Prescrições do Artigo 225 da CF/88
a) Proteção Especial às macrorregiões
O parágrafo 4º aduz que “A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra
do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais”.

117
Por esse enunciado, é possível perceber uma atenção especial do poder público para
com algumas regiões do país e com sistemas considerados patrimônio nacional e que, por isso,
recebem atenção especial do poder público. Nota-se que o legislador se preocupou tanto com
alguns territórios que os intitulou “patrimônio nacional”, pois eles são considerados
produtores de riqueza do país e a sociedade tem a obrigação de preservar e transmitir às
gerações futuras (MILARÉ, 2015).
Esse parágrafo, embora apresente uma preocupação com alguns territórios nacionais,
faz uma exclusão de outros, igualmente importantes para o ecossistema, ou seja, o legislador
“separou” alguns territórios e conferiu-lhes mais importância, o que, para a Ecologia Profunda,
é algo incoerente, visto que todos os seres e todos os territórios possuem sua importância, sua
relevância e o seu papel no ecossistema. A falta de qualquer um deles implica um
desequilíbrio homeostático, daí a insuficiência da lei em termos de preservação ambiental de
forma geral. Essa postura constitucional, materializada no parágrafo analisado, de proteger
algumas áreas específicas, rejeitando outras, demonstra uma segregação, uma repartição, uma
separação do todo holístico. Nota-se, portanto, a materialização de uma visão mecanicista de
mundo, que foi uma das responsáveis pela degradação do meio ambiente e pelo desequilíbrio
ambiental atual. A escolha dessas áreas como zona de proteção não tem uma justificativa
explícita na lei, o que reforça o caráter partitivo, segregador e minimalista dessa medida e
demonstra a sua insuficiência para defender o meio ambiente como um todo.
Além disso, o termo “utilização” mostra, mais uma vez, que o meio ambiente serve
para atender os interesses do homem. Pela ADE, o homem deve utilizar os recursos naturais
apenas para satisfazer o que é essencial para a vida. No entanto, a forma como ele se apropria
dos recursos naturais é exagerada e, por uma visão capitalista e antropocêntrica, como
verificado no enunciado analisado, essa utilização é feita não nos padrões do essencial, e sim
nos padrões do bem-estar, da geração do lucro, do aumento do desenvolvimento econômico.
É certo que o legislador teve como intuito proteger algumas “amostras” de alguns
seres do ecossistema com a finalidade de não haver extinção de nenhuma espécie, bem como
é sabido que, diante da situação de devastação do meio ambiente e na impossibilidade de a lei
proteger todo o ecossistema, a medida encontrada foi garantir a sobrevivência de pelo menos
algumas amostras dos seres. Por essa razão, nota-se, mais uma vez, a necessidade de se
instaurar, na sociedade, uma nova visão de mundo, novos paradigmas e um respeito aos
valores da Ecologia, considerando-se que, se isso for feito, não haverá a necessidade de
isolamento ou proteção especial a alguns territórios brasileiros em detrimento de outros. Por
fim, tal medida reforça uma visão minimalista, mecanicista e antropocêntrica de mundo e

118
impede que o homem seja capaz de despertar um respeito a tudo o que o cerca, uma vez que a
própria lei propõe um respeito maior a algumas regiões do Brasil.
b) Terras devolutas e áreas indispensáveis à preservação ambiental
O parágrafo 5º do artigo 225 trata da “indisponibilidade das terras devolutas ou
arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção do ecossistema
natural”. É uma faculdade do poder público, de acordo com a prescrição da própria
constituição, averiguar se as propriedades atendem sua função social, termo que apresenta
uma série de significações, como, por exemplo, apresentar lucratividade, e, no caso da
inobservância do cumprimento de sua função social, o poder público pode retirar do particular
a propriedade de um determinado território, assegurando-se, assim, que esse território cumpra
a sua função social.
Assim, o intuito desse artigo é determinar que o Estado não coloque à venda ou dê
outro fim àquelas terras retiradas do particular por algum motivo e que possam ser
fundamentais à defesa do meio ambiente. Desse modo, as não utilizadas economicamente ou
que não apresentam outra utilidade “relevante” à sociedade ou seja, aquelas que não
atendam à função social determinada no artigo 5º da Constituição da República Federativa
Brasileira são dadas ao Estado, que não pode delas dispor se forem importantes para a
defesa do meio ambiente.
Há, aqui, também um controle estatal sobre a população, de forma a resguardar os
interesses econômicos. Essa intervenção do Estado nas terras do particular demonstra que há
um reforço ao utilitarismo, o que vai contra os valores ambientalistas da ADE de que se deve
retirar do meio ambiente apenas aquilo que lhe é essencial. Isso significa dizer que, se o
Estado averiguar que determinado território não está sendo utilizado, que não possui nenhuma
relevância humana, que nada está sendo nele produzido, ou, ainda, se nenhuma atividade
estiver sendo desenvolvida, pode ele retirar a propriedade e o domínio do particular. Nota-se,
assim, um reforço das visões capitalista e antropocêntrica, uma vez que o próprio Estado
incentiva a atividade humana no ecossistema. Há, entretanto, um ponto positivo nessa medida,
uma vez que, se forem constatados benefícios ambientais nessas áreas, são dispensadas a ela
atenção especial e uma preservação do ecossistema ali existente, o que está em consonância
com os valores da ADE e da Ecologia Profunda. Há, assim, uma oscilação entre valores
antropocêntricos capitalistas e ambientalistas.

119
c) Controle das Usinas Nucleares
O parágrafo 6º do artigo 225 traz restrições à implantação de usinas nucleares,
aduzindo que “as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida
em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas”. Apesar de elas poderem apresentar
alguns benefícios, como o fornecimento de energia elétrica, os resíduos produzidos são
altamente prejudiciais ao meio ambiente de forma geral. Por isso, a norma assegura que elas
deverão ser construídas em locais preestabelecidos, e, nesse sentido, há certa rigidez. Essa
medida mostra uma preocupação com o meio ambiente, bem como demonstra que interesses
mercantis e humanos são deixados em segundo plano, o que é condizente com os valores
ecológicos da ADE. Embora esteja materializada, nesse parágrafo, uma ideologia ambiental
sua posição final lança a ideia de que a defesa do meio ambiente por si só está em último
lugar na ordem das medidas protetivas jurídico-ambientais.
4.3 DAS PENALIDADES IMPOSTAS NAS LEIS
Tanto no artigo constitucional 225, como em suas leis complementares há prescrição
de penalidades àqueles que infringirem as normas. No parágrafo 3º do artigo 225 da CF/88 é
instituído que “as condutas e as atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.
Nessa perspectiva, há uma medida condizente com o princípio poluidor-pagador já
analisado, demonstrando um reforço às visões capitalistas, considerando que a quem degradar
o meio ambiente são aplicadas sanções de cunho econômico. Além da aplicação de multas, há
o dever de reparação do meio ambiente. Não há, no ordenamento jurídico, uma definição de
dano ambiental, sendo este um problema de cunho jurídico, linguístico e ecológico. Essa falta
de conceituação de um ato a ser punido demonstra certa lacuna da norma e uma maior
complexidade para aplicá-la a um caso concreto, tendo cabido aos doutrinadores encontrar-lhe
um conceito. Para o Ministro Herman Benjamim (apud MELO, 2014, p. 375), “dano
ambiental é alteração, deterioração ou destruição, parcial ou total, de qualquer dos recursos
naturais, afetando adversamente o homem e/ou natureza”. Esse conceito apresenta uma
preocupação do homem com o meio ambiente, contudo, mais uma vez, na escrita, o
substantivo “homem” é colocado na posição anterior ao termo “natureza”, o que sugere uma
preocupação com homem e coloca a natureza como um interesse secundário.

120
É sabido que o Direito deve atuar de forma a manter a ordem social, entretanto, a
punição penal e administrativa, assim como o dever de reparação, propostos na lei, se tornam
medidas paliativas e muitas vezes ineficazes, que não garantem uma preservação ou um
restabelecimento do equilíbrio homeostático. A ineficácia dessas medidas punitivas é
justificada pela falta de mudanças de paradigmas e valores sociais, já que elas reforçam as
visões capitalistas e antropocêntricas ao invés de auxiliarem na instauração de uma visão
ecológica de mundo.
A lei 9.985/2000 ainda prevê penas àqueles que descumprirem suas imposições, mas
não discrimina especificamente quais são. O artigo 38 aduz somente que
a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importem inobservância aos
preceitos desta Lei e a seus regulamentos ou resultem em dano à flora, à fauna e aos
demais atributos naturais das unidades de conservação, bem como às suas
instalações e às zonas de amortecimento e corredores ecológicos, sujeitam os
infratores às sanções previstas em lei.
Em primeiro lugar, a lei estabelece que deveram ser punidas as “ações ou omissões”
do particular, o que demonstra uma medida mais rígida ou severa do legislador. Novamente,
nota-se uma extensão da tutela jurídica ao meio ambiente, percebida pela expressão “dano à
flora, à fauna e aos demais atributos naturais da unidade”. A preocupação está em garantir o
equilíbrio ambiental, e assegurar uma proteção à vida aos demais elementos do ecossistema.
As punições previstas não estão expressas nesse artigo, contudo, verifica-se que, ao
reconhecer as atitudes humanas degradantes sobre o meio ambiente, há uma estipulação de
medidas, como imposição de multas, perda do direito de exercer a atividade econômica e até a
prisão, que geram algum tipo de sofrimento, sendo possível citar como exemplo a privação da
liberdade. Tal medida gera sofrimento físico, pois impede que o indivíduo tenha liberdade
mental, já que é capaz de gerar transtornos por impedir o convívio social e, por isso, acaba
produzindo também um sofrimento social.
Aparentemente, nessa prescrição os seres humanos são colocados em segundo plano e
o ecossistema de forma geral é priorizado, mas a aproximação desse inciso com o caput do
artigo constitucional 225 mostra que até mesmo essa punição está relacionada ao bem-estar
dos seres humanos, visto garantir um “meio ambiente ecologicamente equilibrado”.
Por fim, a lei 11.105 institui como crimes:
Art. 24. Utilizar embrião humano em desacordo com o que dispõe o art. 5o desta Lei:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

121
Art. 25. Praticar engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano ou
embrião humano:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Art. 26. Realizar clonagem humana:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 27. Liberar ou descartar OGM no meio ambiente, em desacordo com as normas
estabelecidas pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
A lei estabelece como crime a utilização de embrião humano em desacordo com o
artigo 5º; a realização de clonagem humana; descartar ou liberar OGMs no meio ambiente; e
praticar a engenharia genética em célula germinal humana. São prescritos quatro tipos de
crimes relacionados à utilização de OGM e todos eles estão relacionados ao respeito à vida
dos seres humanos. As penas aplicadas, de acordo com a lei, podem possuir um caráter
econômico aplicação da lei ou repressivo interferir na liberdade do indivíduo. São
estabelecidas, como privação da liberdade, a detenção e a reclusão, sendo esta uma medida
mais severa e que pode privar integralmente o sujeito da liberdade. A detenção possibilita o
cumprimento da pena em liberdade condicionada, a depender do caso concreto. Pelo disposto
nos artigos, nota-se que apenas o crime de utilização de embrião humano é punido com essa
medida mais branda. As outras, relacionadas à clonagem humana, prática de engenharia
genética em células germinal humanas, zigoto humano, e o descarte de objetos no meio
ambiente, são punidas, em contrapartida, com a possibilidade de perda total da liberdade,
sugerindo que essas atividades são consideradas mais graves ou mais nocivas ao meio
ambiente.
O capítulo VII da lei 11.105 trata da responsabilidade civil e administrativa daqueles
que causarem danos ao meio ambiente. O artigo 20 dispõe que “sem prejuízo da aplicação das
penas previstas nesta Lei, os responsáveis pelos danos ao meio ambiente e a terceiros
responderão, solidariamente, por sua indenização ou reparação integral, independentemente
da existência de culpa”. Assim é imposta a responsabilidade solidária, isto é, aquela em que
cada indivíduo é responsável, integralmente, pela reparação do dano, ainda que ele tenha sido
causado por mais de um agente. Trata-se de uma medida severa, mas ineficaz, visto que o
pagamento de valores econômicos não reestrutura o ecossistema e nem possibilita seu
equilíbrio homeostático.
Estão descritos doze tipos de penalidades, dos quais sete possuem um caráter
financeiro ou econômico: multa, perda de incentivos fiscais, cancelamento de licença,
proibição de contratar com a Administração Pública, perda de participação em linha de

122
financiamento, suspensão da venda dos OGM e outros. Essas medidas punitivas demonstram
e reforçam, mais uma vez, o caráter econômico e capitalista das medidas relacionadas à
proteção ao meio ambiente, uma vez que, para coibir ações a ele danosas, o legislador teve
que criar medidas punitivas relacionadas, principalmente, aos recursos financeiros dos
infratores.
4.4 OS VALORES ÉTICOS: ANTROPOCENTRISMO VERSUS ECOCENTRISMO NO
DIREITO AMBIENTAL
Várias são as concepções de ética, entretanto, as que merecem destaque, na
compreensão do Direito Ambiental brasileiro, são as visões antropocêntrica e ecocêntrica,
visto que, atualmente, há muitas discussões sobre quais valores éticos predominam nessa
vertente do Direito. Um percurso pela história da ética demonstra que havia um interesse em
estudar a alcançar o bem-estar e a felicidade humanos, o que foi acentuado no período
Medieval, principalmente pela influência dos valores do cristianismo nas questões sociais, que
fez deslocar o homem de sua posição natural na natureza, e colocá-lo acima dela. Tal visão
sobre a ética culminou em um desequilíbrio na relação estabelecida entre homem e natureza,
intensificando o sentimento de dominação do homem e, consequentemente, aumentando os
problemas de cunho ambiental.
Desde Sócrates, na Antiguidade, até Kant, nos tempos modernos, havia uma
preocupação em entender como a felicidade humana poderia ser alcançada e quais caminhos
deveriam ser traçados para consegui-la, sem ser considerada a felicidade ou a autorrealização
de todos os seres, o que também contribuiu para a emergência dos problemas ambientais
atualmente vividos. Quanto mais o homem se desenvolvia economicamente, mais buscava sua
felicidade nesses valores antropocêntricos e mais distante da natureza se colocava, já que a
necessidade do lucro e de aumento do poder aquisitivo passou uma condição da vida humana,
e por conseguinte uma condição para a felicidade.
Essa separação do homem com a natureza provocou um distanciamento jurídico das
questões relacionadas ao meio ambiente, uma vez que por muito tempo o Direito,
considerando o meio ambiente como recursos inesgotáveis, não se ocupava em legislar sobre
a relação homem e meio ambiente. O distanciamento entre o homem e as leis do Direito
Natural deu espaço a uma valorização do positivismo jurídico e a uma ética antropocêntrica,
além de propiciar uma possibilidade maior de controle estatal sobre a sociedade, visto que a

123
imposição de leis positivas permitiu que as normas fossem criadas de acordo com os anseios
capitalistas e mercadológicos, sendo deixados de lados os valores naturais.
Além disso, o positivismo jurídico dificultou a imposição daquilo que era moral,
priorizando e instituindo, na sociedade, o que era “legal”. Isso, no âmbito do Direito
Ambiental, seria um problema, visto que a moralidade e o cuidado com o meio ambiente
devem ter primazia sobre aspectos puramente legais. Tal postura já vem sendo corrigida pelo
próprio ordenamento jurídico, que já reconhece a importância de se considerarem os valores
éticos, os princípios jurídicos, as interpretações dadas à norma etc.
As mudanças nas relações entre homem e meio ambiente ocorridas nas últimas
décadas, em que a natureza apresentou sinais de esgotamento e em que surgiu na sociedade
um pensamento ecológico que fez emergir também a necessidade de instauração de uma ética,
na sociedade de uma forma geral, pautada não apenas nos valores antropocêntricos, mas que
respeitasse todos os seres vivos e buscasse alcançar a defesa de todos eles, ou seja, surgiu a
necessidade de mudanças paradigmáticas na sociedade, em que a ética ambientalista fosse
também respeitada. Ou seja, surgiu a necessidade de deixar de lado os valores éticos
antropocêntricos demonstrados no capitulo I, bem como se tornou necessária uma mudança
paradigmática de busca apenas pela felicidade humana, visto que essa visão obsoleta de
mundo influenciou negativamente na relação estabelecida entre homem e natureza,
prejudicando todo o ecossistema.
Pela análise do artigo 225 da CF/88 é possível perceber indícios de uma ética
ecocêntrica, sendo esta a primeira vez que o Direito Constitucional estabelece, por exemplo,
uma relação de solidariedade entre presente e futuro (MELO, 2014), o que demonstra que não
são apenas os valores antropocêntricos imediatistas que estão sendo tratados e defendidos por
esse dispositivo. Alem disso, há uma extensão da proteção jurídica à fauna e à flora (MILARÉ,
2015). Assim, esse artigo reflete o “princípio da responsabilidade”, proposto por Hans Jonas,
que trata exatamente da preocupação que o homem, único ser racional do ecossistema, deve
ter com os demais seres e não se subordina apenas aos valores éticos antropocêntricos
demonstrados no capítulo 1.
Contudo, se nota que ainda vigora, no Direito Ambiental, uma subordinação à ética
antropocêntrica, visto que a necessidade de preservação está voltada à defesa da felicidade
humana, que é a prioridade da ética tradicional, e aos interesses capitalistas escusos. A Lei
9.985/2000, que institui a proteção a alguns territórios brasileiros, além de estar subordinada
àquilo que o capitalismo impõe, prioriza o bem-estar dos seres humanos, apesar de apregoar,
em alguns incisos, a defesa do meio ambiente sem haver interesses puramente humanos.

124
Assim a imposição da obrigação do homem de cuidar do meio ambiente visa garantir o seu
próprio bem-estar, o que demonstra uma responsabilidade não com o meio ambiente, mas
com o próprio homem, ou seja, é uma busca pela felicidade e pelo bem estar puramente
humano, tal como foi proposto e recomendado pela ética tradicional.
A lei da biodiversidade, por sua vez, coloca a vida como um objeto que pode ser
dominado pelo homem, o que nos leva a questionar, pelos valores de ecoética, até que ponto é
necessário intervir na vida dos seres humanos. Será possível se alcançar uma felicidade
humana pelas interferências químico-biológicas na vida das pessoas? Será que o homem está
qualificado ou realmente tem o dever ecológico de tornar-se um criador da vida? Até que
ponto o homem tem o direito de alterar o patrimônio genético dos outros seres? Existe,
realmente, a necessidade dessa intervenção humana no ecossistema? Quais são os riscos dessa
ação humana? Será que é uma postura de solidariedade do homem para com o meio ambiente
ou apenas uma busca pela felicidade humana? Tais questionamentos e suas possíveis
respostas demonstram que ainda está materializado nas leis de forma predominante, os valores
antropocêntricos e uma prescrição de um agir voltado à valorização e bem-estar puramente
humanos.
Diante da complexidade de tal assunto e da dificuldade de se encontrar todas as
respostas, é possível perceber que a Lei da Biodiversidade não é capaz de ajudar na solução
desses questionamentos e nem é capaz de garantir a biodiversidade por meio das medidas
adotadas, considerando que não estão presentes, nessa lei, menções à ética ambientalista e ao
respeito com os demais seres. Nela o conceito de vida é reduzido ao bem-estar humano, que
também está subordinado aos valores capitalistas, e não há indícios de uma ética ambientalista
ou ecocêntrica. Há uma preocupação em dominar a vida, criando-a e extinguindo-a, na
medida em que os anseios humanos surgem, o que é incoerente com o intuito constitucional
de garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, visto que quanto maior a
dominação humana sobre o meio ambiente mais desequilibrado ele se torna.
Nota-se uma oscilação entre uma ética antropocêntrica e uma ética ambientalista sendo
que os valores antropológicos e capitalistas são predominantes, ainda que já estejam presentes
indícios de uma mudança paradigmática no ordenamento jurídico brasileiro.
O Direito Ambiental brasileiro impõe deveres ao homem a ao poder público para
garantir o equilíbrio do meio ambiente, o que gera uma responsabilidade para com o meio
ambiente. Tal postura seria suficientemente ecológica de priorizasse a ética ambientalista,
entretanto a subordinação aos ditames capitalistas faz permanecer uma ética pautada em
valores puramente humanos, tal como foi proposto desde a antiguidade por aqueles que se

125
dispuseram a estudar a ética. Por essa razão, nota-se a necessidade de mudanças inclusive
éticas no ordenamento jurídico brasileiro, e em toda a sociedade, mudanças essas que tragam
à sociedade um pensamento mais moderno, holístico e voltado ao respeito a todos os seres.
Em suma, embora os dispositivos legais analisados demonstrem uma tendência de
valorização do meio ambiente por ele apresentar valor em si mesmo o que demonstra
vestígios de uma ética ambientalista, os dispositivos ainda estão carregados de valores
antropocêntricos, que escondem os anseios mercantis, e isso precisa ser mudado.
Por todo exposto é possível perceber a necessidade de uma mudança de paradigmas,
em que diferentes visões de mundo sejam instauradas na sociedade e em que uma ideologia de
vida ganhe o seu espaço e seja primordialmente materializada nos discursos jurídicos e não
jurídicos. É necessário que o homem assuma, pautado em uma ética ambientalista, a
responsabilidade de cuidar do meio ambiente, e não de dominá-lo, resgatando, inclusive, o
respeito às leis naturais. Nesse sentido, a ecoética deve caminhar juntamente com o
desenvolvimento do Direito Ambiental, auxiliando na busca pela preservação do meio
ambiente por si mesmo, bem como auxiliando na prescrição de comportamentos humanos,
considerando a responsabilidade que existe e deve ser colocada em prática pelos seres
humanos para com o meio ambiente.

126
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Direito caminha junto à sociedade, propiciando um equilíbrio das relações sociais.
Para tanto, a partir dos acontecimentos ou fatos sociais, normas são criadas, atualizadas e até
mesmo revogadas na medida em que surgem os anseios sociais. Os vários conceitos da
palavra direito demonstram a complexidade de tal objeto, bem como o objetivo comum de
normatizar atos sociais e permitir que o homem alcance o que lhe é justo, seja na relação
homem-homem, na relação homem-objeto e, ainda, na relação homem-natureza. As novas
tendências do Direito demonstram que as leis puramente analisadas são insuficientes para
tratar de todo o ordenamento jurídico brasileiro, visto que atualmente há uma forte tendência
de preconizar as decisões dadas pelos tribunais.
Nota-se que, assim como o mundo tem mudado, a Ciência do Direito também tem se
atualizado, de forma a encontrar meios mais humanizados de tratar os problemas gerados na
sociedade. Embora o Direito não tenha o “ambiente” ou as “coisas da natureza” como seu
foco primeiro e o meio ambiente seja meros elementos envolvidos nas relações humanas, há
uma inquestionável necessidade de se aproximar as ciência jurídicas a outras vertentes do
conhecimento humano, como uma forma de complementar e auxiliar a atuação do Direito na
sociedade. Essa aproximação do Direito a outras ciências é imprescindível, considerando ser
ele o “guardião do planeta” (MILARÉ, 2005).
A instauração de uma visão ecológica, ou seja, de um pensar e agir ecológicos, que
respeite o meio ambiente e que coloque os seres humanos como coadjuvantes no cenário da
vida e o restabeleça em sua complexidade, é, na área jurídica, um trabalho árduo, visto que
outras ideologias ainda são muito fortes. Torna-se uma missão complexa instaurar, em uma
sociedade carregada de valores antropocêntricos, um paradigma ecológico e uma visão de
mundo que não sobreponha os humanos aos demais seres. Entretanto, apesar de complexa, é
uma missão necessária e uma das únicas formas de diminuir os desgastes ambientais gerados
pelo próprio homem.
Assim, considerando a preocupação do Direito em tutelar o meio ambiente e as
relações estabelecidas entre ele e o homem, bem como a nova face do Direito de ser mais
humanizado e mais voltado à valorização da vida é que foi traçado o objetivo geral da
pesquisa de investigar as consonâncias e dissonâncias entre o Direito Ambiental e a Ecologia
Profunda. Os meios propostos para alcançar esse objetivo, que foi por meio da compreensão
dos significados dos termos, compreensão do tipo de relação estabelecida entre homem e

127
natureza, análise dos sentidos que emergem da letra de lei, e análise das ideologias
predominantes na letra de lei.
Assim, em primeiro lugar foram apresentadas as bases históricas e conceituais da
ciência do Direito, o que possibilitou compreender a evolução dessa ciência e de sua aplicação
na sociedade, bem como contribuiu para demonstrar como o Direito se dinamiza para atender
aos anseios sociais. Notou-se, por meio do apanhado da história do Direito e da sua ética, que
as visões mecanicistas e antropocêntricas de mundo que vigoram por muito tempo na
sociedade foram contribuintes para estabelecer uma relação de dominação entre homem e
natureza, o que gerou problemas ambientais irreversíveis.
A apresentação da teoria da ADE, além de demonstrar a sua singularidade como
disciplina Linguística, permitiu compreender quais são seus valores éticos e ideológicos e
como é possível fazer uma análise discursiva ecológica de um corpus. Ainda, justificou-se a
escolha desse referencial teórico, visto que por meio dele é possível alcançar o objetivo geral.
Por fim, na análise, partiu-se da compreensão dos significados jurídicos das leis e dos
princípios e, posteriormente, resgataram-se os valores ideológicos e éticos nele predominantes,
atingindo-se o objetivo de averiguar as consonâncias e dissonâncias entre Direito Ambiental
brasileiro e Ecologia Profunda.
É certo que uma análise de leis e princípios não é suficiente para considerar o Direito
como um todo, visto que a cada dia a Ciência do Direito tem caminhado de forma a valorizar
ainda mais as interpretações e as decisões dos tribunais; Entretanto, foi possível compreender
e estudar a base do sistema jurídico brasileiro e quais suas tendências e ideologias
predominantes, o que, sem dúvida, influencia nas decisões a serem tomadas nos casos
concretos e nas prescrições de comportamentos. Assim, embora não tenha sido possível
analisar as fortes tendências dos tribunais nas soluções dos conflitos, percebeu-se que as leis
escritas não são suficientes para tratar de todas as questões sociais relativas ao meio ambiente,
visto sua limitação e, até mesmo, sua ineficiência frente aos conflitos gerados.
A análise permitiu compreender que, embora os valores positivistas ou seja, a
primazia da norma escrita, do que está posto e a necessidade de defender os interesses
humanos, como, por exemplo, é depreendido no caput do artigo constitucional 225 ainda
estejam arraigados no ordenamento jurídico, já há uma compreensão de resgatar e proteger
acima de qualquer outro bem, a vida, a qual deve ser compreendida em sua totalidade, e os
demais direitos naturais. Isto é, foi possível perceber que o Direito tem mudado junto ao
pensamento da sociedade com relação ao meio ambiente

128
Além disso, foi possível entender que embora já haja uma tendência a defender o meio
ambiente por ser reconhecido o valor de cada ser em si mesmo, tal como prescreve a Ecologia
Profunda, há uma influência antropocêntrica e capitalista muito forte nas relações
estabelecidas entre o homem e o meio ambiente, o que impede que o Direito Ambiental
brasileiro seja ecologicamente eficiente no que tange à defesa do meio ambiente. Os
princípios jurídicos, por exemplo, estabelecem regras de conduta que priorizam os seres
humanos e não interferem na economia, mas também impedem a defesa eficiente do meio
ambiente. A forma como são intitulados e descritos os princípios cria uma ideia de que o meio
ambiente está sendo resguardado, o que propicia uma tranquilidade à sociedade e adormece os
anseios sociais gerados pelo pensamento ecológico que já emergiu na sociedade.
Já os sete incisos e os seis parágrafos do artigo constitucional 225, que garantem a
efetividade do direito à sadia qualidade de vida por meio de um meio ambiente
ecologicamente equilibrado, demonstram uma oscilação entre os valores capitalistas
antropocêntricos e os valores ambientais na lei. Ainda que haja essa oscilação, predominam os
valores capitalistas e antropocêntricos, visto que toda defesa do meio ambiente tem como
objetivo garantir uma sadia qualidade de vida humana, o que compromete a defesa ambiental,
bem como compromete o próprio intuito da lei de garantir um meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
As formas encontradas para preservar alguns territórios previstas no artigo 225 da
Constituição da República Federativa do Brasil e na lei infraconstitucional 9.985/2000 não
estão voltadas a uma intervenção na economia e no desenvolvimento econômico, mas sim a
limitar, controlar ou regulamentar a permanência da população em locais específicos, o que é
ecologicamente ineficaz. Tal postura dificulta uma proximidade entre os seres humanos e os
demais seres do ecossistema.
A lei 11.105/2000, por sua vez, apresenta prescrições que podem trazer riscos
ecossistêmicos, visto que, ao permitir ao homem interferir nos processos naturais
ecossistêmicos para beneficiar-se, muitas vezes se esquece de considerar ou respeitar outras
espécies, prejudicando-as. Desse modo, a lei que trata da garantia da biodiversidade, ao
mesmo tempo em que apresenta um respeito e proteção aos seres humanos, demonstra, em
alguns momentos, uma intolerância aos demais seres, considerando que, por vezes, determina
a possibilidade de modificação de sua origem, código genético e de sua permanência no
ecossistema, o que impede que a biodiversidade seja de fato protegida. Além disso, a busca de
cura de doenças, a tentativa de criação de organismos mais resistentes “às pragas” e de outras

129
espécies de seres vivos na tentativa de aumentar a biodiversidade, dentre outras medidas,
demonstram a fragilidade da relação entre o homem os demais seres
Por essa lei é possível, também, perceber que a vida não é respeitada em sua totalidade,
ao contrário, a vida de alguns seres tem preferência sobre a de outros. Apesar de haver um
intuito de garantir a biodiversidade, a forma como isso é feito vai contra o princípio da
Ecologia Profunda de que todos os seres devem ser respeitados, independente de sua
importância para a vida humana. Todo ecossistema é colocado como um instrumento a
serviço do homem para possibilitar o seu bem-estar. Destarte, essa forma legislativa
encontrada de “garantir a biodiversidade” pela intervenção humana na própria vida dos
demais seres é ineficiente em termos ecológicos, pois, ao invés de auxiliar no resgate dos
valores ambientais perdidos, reforça a ideia de que os seres humanos podem “dominar” o
meio ambiente natural, apropriar-se dele, devastá-lo e, ao mesmo tempo, reproduzi-lo, o que é
contrário à ideologia de vida da ADE.
Nota-se que há vestígios, ainda que muito pequenos, de alguns valores da Ecologia
Profunda na letra de lei. A possibilidade de instauração de uma visão holística, de um respeito
à diversidade, da necessidade juntar à ciência do Direito e de outras vertentes do
conhecimento foram encontradas na pesquisa, embora esteja ainda em fase embrionária. Tais
vestígios são encontrados, por exemplo, ao ser determinada, no artigo constitucional 225, uma
proteção à fauna e à flora. Além disso, a lei 9.985/2000, ao apresentar alguns termos da
Ecologia e impor as regras relacionadas à criação de unidades de conservação demonstra uma
aproximação das ciências jurídicas às ciências biológicas.
Essa característica das leis de aproximar a ciência jurídica a outras ciências comprova
que o Direito Ambiental, para atender aos anseios sociais, tem se atualizado, ainda que de
forma lenta, em consonância com o que a Ecologia Profunda e a ADE propõem o holismo e
uma ideologia de vida , mostrando, inclusive, o caráter pós-positivista da ciência do Direito
Ambiental brasileiro. Tal postura expressa, também, a possibilidade de uma mudança de
paradigmas, em que a aproximação de diferentes vertentes de estudos traga à sociedade uma
visão holística de mundo e uma compreensão do todo, e não de partes, principalmente
considerando que as demais ciências não tem uma força coativa sobre a sociedade, e por isso
é necessário que o Direito defenda e tutele o ecossistema planetário, para prover a sua
subsistência e garantir-lhe sua perpetuação (MILARÉ, 2005).
Entretanto, há dificuldades na instauração desses paradigmas ecológicos na norma
jurídica devido ao intuito jurídico de atuar nas relações humanas defendendo os interesses
humanos, o que por vezes fragiliza e impede que as normas jurídicas ambientais sejam

130
primordialmente ecológicas. Por isso, muitas vezes existe uma ineficácia da norma em relação
ao objetivo proposto pelo Direito Ambiental brasileiro: a defesa do meio ambiente. Além
disso, se torna um desafio à ciência do Direito, que visa assegurar justamente os interesses
humanos e tutelar o meio ambiente, sem se subordinar aos interesses humanos e capitalistas.
Nesse contexto, nota-se a importância de alguns princípios ambientais, como os princípios da
educação e cooperação, os quais podem ser fortes aliados nesse intuito de mudanças
paradigmáticas. Se no âmbito educacional novos ensinamentos forem disseminados e se
puderem ser criadas novas formas de encarar o mundo, certamente uma nova visão, uma visão
ecológica de mundo, poderá ser instituída. Além disso, toda essa ação e mobilização em prol
do meio ambiente só poderá ser implantada de fato se houver uma união entre todos os seres e
todas as esferas do conhecimento, em um caráter cooperativo, e se todos os indivíduos
compreenderem que precisam se unir e criar, em conjunto, ações que de fato defendam o meio
ambiente, tal como propõe o princípio da cooperação.
Junto a uma educação ecológica e à cooperação entre os povos é que se coloca e se
propõe a criação de leis que não mantenham resguardados, primordialmente, outros interesses,
como os antropocêntricos e capitalistas. Somente a partir desse câmbio na forma como os
indivíduos enxergam a realidade, ou seja, por meio de uma mudança no ecossistema mental
(por meio de uma educação), os ecossistemas físico e social podem ser alterados tal como a
sociedade almeja.
É certo que a interferência das normas nas condutas e relações sociais é indispensável.
Entende-se, também, que a sociedade, para se estabelecer, necessita de um conglomerado de
normas que possam reger a forma como as interações entre homem-homem e homem-
natureza devem se estabelecer. No âmbito do meio ambiente, a necessidade de uma
intervenção jurídica é imprescindível, considerando que as leis positivas não podem se
sobrepor aos valores naturais, assim como os direitos dos seres humanos não podem passar
por cima dos direitos dos seres não humanos que estão expressos na própria natureza, visto
que tamanho desatino colocaria em risco a integridade e a sobrevivência de todos os seres
(MILARÉ, 2005). Assim, se recomenda a instauração de uma visão ecológica nas normas
jurídicas ambientais e de um maior respeito e valorização das leis do Direito Natural.
Por fim, intuito da presente pesquisa não é o de afirmar que as normas de Direito não
são necessárias e essenciais, ao contrário, sabendo-se das ações danosas do homem ao meio
ambiente é extremamente necessário que o Direito intervenha, de forma a impedir que o
homem interfira exageradamente no ecossistema. Tampouco se busca evitar que essa área
resguarde os interesses humanos, já que esse é o seu foco. Entretanto, as soluções encontradas

131
pelo legislador não tratam da raiz do problema, que são as relações sociais de dominação, e as
visões capitalistas e antropocêntricas que seguem predominando. Assim, se os paradigmas
puderem ser alterados e uma nova visão de mundo for instaurada, se as ações humanas se
pautarem em uma ecoética e se o homem reconhecer a sua responsabilidade e o seu dever de
cuidar do meio ambiente, as bases sociais serão alteradas e isso refletirá na instauração de
normas jurídicas ecológicas.

132
REFERÊNCIAS
ALBUQUERQUE, Davi. Palavras Iniciais sobre a metodologia em Ecolinguística. Revista
Via Litterae V. 7 Nº 1. Anápolis. 2015.
ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos de estado. Rio de Janeiro: Graal,1992.
AURÉLIO. Dicionário de Língua Portuguesa online. Disponível em: <
http://dicionariodoaurelio.com>
AZEVEDO; Fábio Antônio de; VALENÇA, Mariluce Zepter. Por uma Ética e uma Estética
Ambiental. Revista Intertox de Toxicologia, Risco Ambiental e Sociedade, v. 2, n. 1, fev. 2009.
Disponível em:<http://www.intertox.com.br/documentos/v2n1/rev-v02-n01-01.pdf>. Acesso
em: 16 mar. 2015.
BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito: O
triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil. 2005. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos/7547/neoconstitucionalismo-e-constitucionalizacao-do-direito.
Acesso em: 20 dez. 2015.
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37 ed; ver. Ampli. E atual. Conforme
o novo acordo ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
BICALHO E FERNANDES. Do pós-positivismo jurídico: o atual paradigma jusfilosófico
constitucional. 2011. Disponível em:
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/242864/000910796.pdf?sequence=1.
Acesso em: 21 dez. 2015.
BITTAR, Eduardo. Curso de Filosofia do Direito. 4. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2005.
BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Tradução de Márcio
Pugliesi. São Paulo: Ícone, 1995.
BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é e o que não é. Petrópolis: Vozes, 2012.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília:
Senado, 1998.
BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm.
BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm.
BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamente o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e
VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza e dá outras providências.
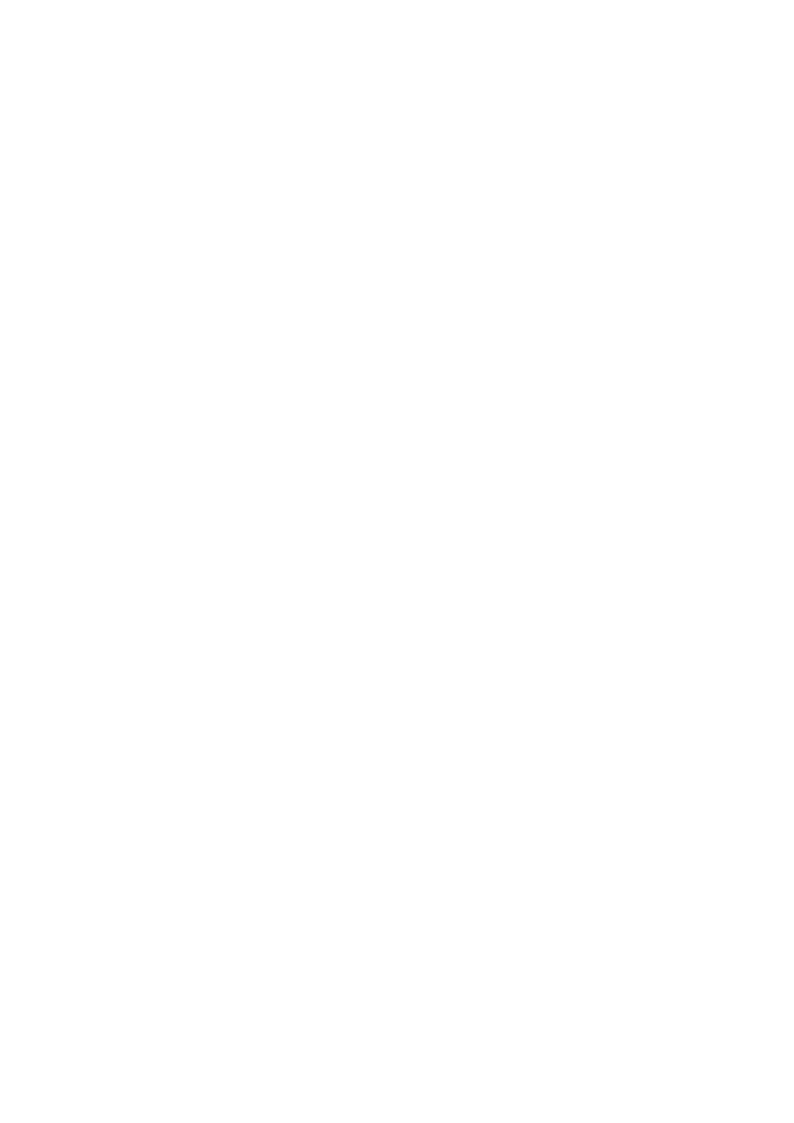
133
BRASIL. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o
do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de
fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e
seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de
Biossegurança – PNB, revoga a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória
no 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei nº 10.814, de
15 de dezembro de 2003, e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm.
BRASIL. Medida provisória nº 2.186, de 23 de agosto de 2001. Regulamenta o inciso II do §
1º e o § 4º do art. 225 da Constituição, os arts. 1º, 8º, alínea "j", 10, alínea "c", 15 e 16, alíneas
3 e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio
genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de
benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação e
utilização, e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2186-16.htm.
CAPRA, F. Alfabetização ecológica. São Paulo: Cultrix, 2001.
______. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo:
Cultrix, 2006.
CASSINE, Sérvio Tulio. Ecologia: conceitos fundamentais. Texto preliminar, sem revisão,
apenas para consulta. Vitória-ES, 2005. Disponível em:
<http://www.inf.ufes.br/~neyval/Gestao_ambiental/Tecnologias_Ambientais2005/Ecologia/C
ONC_BASICOS_ECOLOGIA_V1.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2015.
CHAUI, Marilena. O que é ideologia. Disponível em:
<http://www.nhu.ufms.br/Bioetica/Textos/Livros/O%20QUE%20%C3%89%20IDEOLOGIA
%20-Marilena%20Chaui.pdf>. Acesso em: 10 de ago. 2015.
CHISHOLM, A. Ecologia: uma estratégia para a sobrevivência. Rio de Janeiro: Zahar, 1974.
COLMAN, E.; POLA, K. D. Trabalho em Marx e serviço social. Revista Serviço Social,
Londrina, v. 12, n. 1, p. 179-201, 2009. Disponível em:
http://www.uel.br/revistas/ssrevista/pdf/2009/2009_2/Artigo%20evaristo.pdf. Acesso em: 15
out. 2015.
CORTEZ, Ana Teresa Caceres. O lugar do Homem da natureza. 2011. Disponível em:
<http://www.revistas.usp.br/rdg/article/download/47218/50954>. Acesso em: 4 ago. 2015.
COUTO, Elza Kioko Nakayama Nenoki. Ecolinguística: um diálogo com Hildo Honório do
Couto. v. 4. Campinas: Pontes Editores, 2013. (Coleção Linguagem e Sociedade).
______; SILVA, Samuel de Sousa. Análise do discurso ecológica; eco linguagem e eco ética.
In: Antropologia do imaginário, ecolinguística e metáfora. Brasília: Thesaurus, 2014.
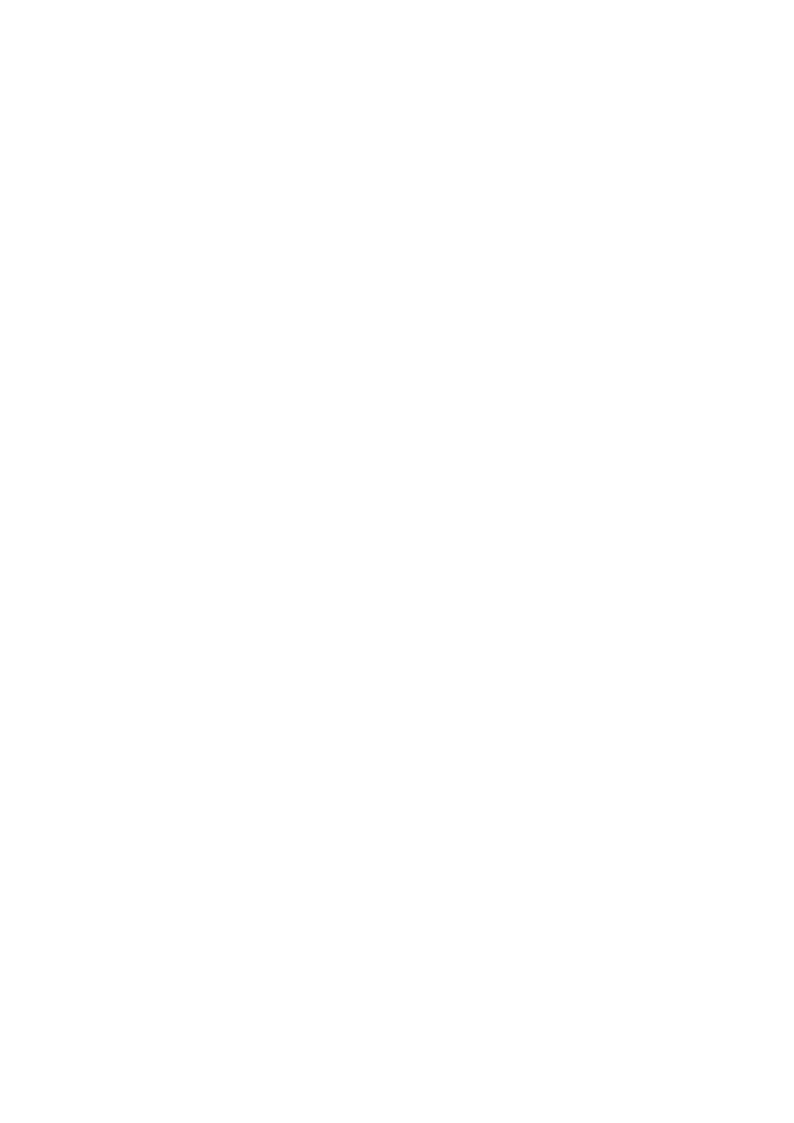
134
COUTO, Hildo Honório. A Ecologia Profunda. 2006. Disponível em:
http://www.revistameioambiente.com.br/2006/12/22/a-ecologia-profunda/. Acesso em: 15 out.
2015.
______. Ecolinguística. 2009. Disponível em:
<http://meioambienteelinguagem.blogspot.com.br/2013/04/analise-do-discurso-
ecologica.html>. Acesso em: 20 set, 2014.
______. Ecolinguística: estudo das relações entre língua e meio ambiente. Brasília: Thesaurus,
2007.
______. Linguística Ecossistêmica. Ecolinguística: Revista Brasileira de Ecologia e
Linguagem, v. 1, n. 1, p. 39-62, 2015. Disponível em:
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://periodicos.unb.br/index.php/e
rbel/article/view/15135/10836&gws_rd=cr&ei=g-rFVffwNsX8wQSk4LLgCw>. Acesso em:
10 jul. 2015.
______. Linguística Ecossistêmica Crítica ou Análise do Discurso Ecológica. In: COUTO, E.
(Org.). Antropologia do Imaginário, Ecolinguística e Metáfora. Brasília: Thesaurus, 2014.
______. O tao da linguagem: um caminho suave para a redação. São Paulo: Pontes, 2012.
______. Notas sobre o conceito de texto na linguistica ecossistêmica. 2015b Disponível em:
http://meioambienteelinguagem.blogspot.com.br/. Acesso em 30 dez. 2015.
COUTO, Hildo Honório; COUTO, Elza Kioko Nakayama Nenoki. Por uma Análise do
Discurso Ecológica. Revista Brasileira de Ecologia e Linguagem, v. 1, n. 1, p. 63-80, 2015.
Disponível em: <
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://periodicos.unb.br/index.php/er
bel/article/view/15136&gws_rd=cr&ei=o-nFVdSsG8WGwgSxiorwDw>. Acesso em: 15 jul.
2015.
DEL VECCHIO, Giorgio. Lições de filosofia do Direito. 5. ed. Coimbra: Armenio Amado,
1979.
DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna (Org.). O planejamento da pesquisa qualitativa:
teorias e abordagens. Porto Alegre: Artmed, 2006.
FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e
dominação. 4 edição. São Paulo: atlas. 2003.
FILL, Alwin. Ecolinguística: a história de uma idéia verde para o estudo da linguagem.
Ecolinguística: Revista Brasileira de Ecologia e Linguagem, v. 1, n. 1, p. 7-18, 2015. Disponível
em: <http://periodicos.unb.br/index.php/erbel/article/view/15123/10834>. Acesso em: 30 jul.
2015.
FIÚZA, Cezar. Direito Civil: curso completo. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.
GARNER, Mark. Ecologia da Língua como teoria linguística. 2015. Disponível em: <
http://periodicos.unb.br/index.php/erbel/article/view/16525>. Acesso em: 27 jan. 2016.

135
HAUGEN, Einar. The Ecology of Language. Stanford: Stanford University Press, 1972.
IGLECIAS, Patricia. Direito Ambiental. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
(Coleção Elementos do Direito).
JONAS, Hans. Memórias. Madrid: Losada, 2005.
______. Princípio Responsabilidade. Rio de Janeiro: Contrapondo/PUC- Rio, 2006.
KELSEN, HANS. Teoria pura do direito. Tradução: João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1998.
JATOBA, et al. Ecologismo, ambientalismo, e ecologia política: diferentes visões de
sustentabilidade e do território. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0102-
69922009000100004&script=sci_arttext. Acesso em: 20 jan. 2016.
LANKSHEAR, C. M. A pesquisa como investigação sistemática. In: _____. Pesquisa
pedagógica: do projeto à implementação. Porto Alegre: Armed, 2008. p. 31-43.
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
LOVATO, et al. Ecologia profunda: o despertar para uma educação ambiental complexa.
Disponível em: http://online.unisc.br/seer/index.php/redes/article/view/1347. Acesso em: 20
jan. 2016.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2015.
MELO, Fabiano. Manual de Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método,
2014.
MICHEL, Lowy. Ideologias e Ciência Social: elementos para uma análise marxista. 7. ed.
São Paulo, 1991. Disponível em: <
http://www.academia.edu/8321539/Ideologias_e_Ciencia_Social_Elementos_para_uma_anali
se_marxista_Michael_Lowy>. Acesso em: 5 ago. 2015.
MILARÉ, Edis; COIMBRA, José de Avila Aguiar. AntropocentrismoX Ecocentrismo na
Ciencia Juridica. Publicado na REVISTA DE DIREITO AMBIENTAL, ano V, nº 36,
outubro-dezembro 2004 – São Paulo: Editora RT (Revista dos Tribunais), 2004, p. 9-42.
MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 10ª Ed. Revi. Atual e ampl – São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015.
MONTORO, Andre Franco. Introdução à Ciência do Direito. 32. ed. São Paulo: Editora
Revista dos tribunais, 2015.
MOREIRA, H.; CALEFFE, L. Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador. Rio
de Janeiro: Lamparina, 2008.

136
MOURA, D. Odilão. A doutrina do Direito Natural em São Tomás de Aquino. Disponível em:
http://bd.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/644/1/D2v1682004.pdf. 2004. Acesso em: 26 jan.
2016.
NAESS, Arne. Ecology, community and lifestyle. Cambridge: Cambridge University Press,
1998.
______. The shallow and the deep, long-range ecology movement. A summary. Inquiry, v. 16,
n. 1, p. 95-100, 1973. Disponível em:
http://www.ecology.ethz.ch/education/Readings_stuff/Naess_1973.pdf.
ODUM, Eugene. P. Fundamentos de ecologia. Tradução de António Manuel de Azevedo
Gomes. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004.
OLIVEIRA, Priscila Borin; CLARO, Danny Pimentel; AMÂNCIO, Robson. Entendendo o
conceito de sustentabilidade nas organizações. R.Adm., São Paulo, v. 43, n. 4, p. 289-300,
out./nov./dez. 2008. Disponível em:
http://www.rausp.usp.br/busca/artigo.asp?num_artigo=1354. Acesso em: 14 out. 2015.
ORLANDI, Eni. Análise de discurso: princípios e procedimentos. Campinas: Pontes, 2002.
PÁDUA, Elisabete Matallo Marchezine de. Metodologia da pesquisa: abordagem
teóricoprática. 2. ed. Campinas: Papiros, 1997.
PÊCHEUX, M. O mecanismo do (des) conhecimento ideológico. In: ZIZEK, S. (Org.). Um
mapa da ideologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 1966. Disponível em:
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/141731/6a3266ab2c3387df61f9fdf0cce0b9f
8.pdf?sequence=1 . Acesso em:18 ago. 2015.
RAMOS, Rui. A ecolinguística entre as ciências da linguagem. 2008. Disponível em:
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/8273/1/texto%20SOPCOM%20Rui%20
Lima%20Ramos.pdf. Acesso em: 22 dez. 2015.
RODRIGUES, Francisco Hudson Pereira. Direito Natural x Direito Positivo. Fortaleza, 2007.
Disponível em:
<http://bdjur.tjce.jus.br/jspui/bitstream/123456789/276/1/Monografia%20Francisco%20Huds
on%20Pereira%20Rodrigues.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2015.
REALLE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 25. ed. 2001. Disponível em:
<http://direitofib1b.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/miguelreale.pdf>.
SÁ-SILVA, Jackson Ronie et al. Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas.
Revista Brasileira de História e Ciências Sociais, ano I, n. I, 2009. Disponível em: <
http://www.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/pesquisa_documental_pistas_teoricas_e_met
odologicas.pdf >. Acesso em: 12 nov. 2015.
SANDIN ESTEBAN, M. P. Pesquisa qualitativa em educação: fundamentos e tradições.
Porto Alegre: AMGH, 2010.
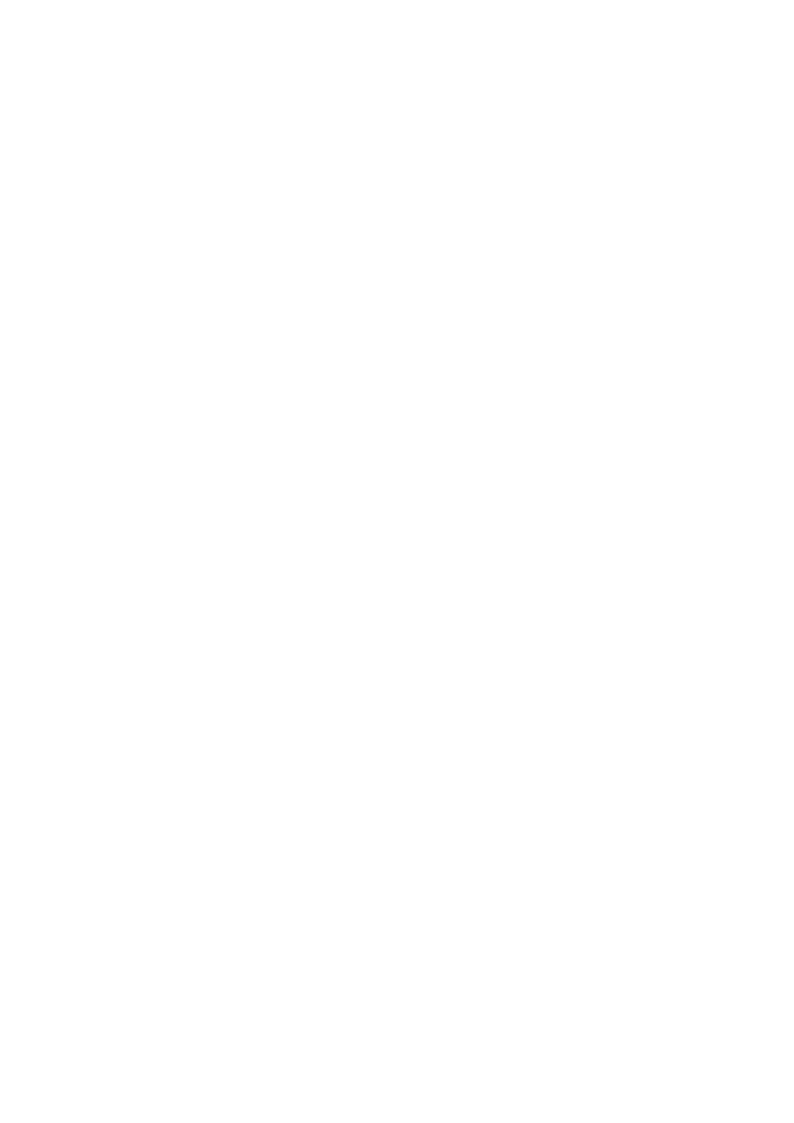
137
SANTOS, Antônio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 3.
ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.
SOBRINHO, Ranulfo Paiva; ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Breve Introdução a
multimetodologia aplicada à governança e a apoio a decisão em sistemas socioecológicos
complexos. Revista Labor e Engenho, Campinas, v. 8, nº 2, 2014. Disponível em:
http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/labore/article/view/209/pdf_106. Acesso em
13 nov. 2015.
SÓFOCLES. Antígona. Tradução de Millôr Fernandes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
SPARAMBERGUER E SILVA. A Relação homem, meio ambiente, desenvolvimento e o
papel do direito ambiental. Revista Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 2, n. 4, p. 81-99.
Disponível em: http://repositorio.furg.br/handle/1/2607?show=full. Acesso em: 21 out. 2015.
TEIXEIRA, António Braz. Sentido e Valor do Direito: Introdução à Filosofia Jurídica.
Lisboa: IN-CM, 1990.
TRACY, Destutt. Eléments d’idéologie. Paris, 1801.
VIAN JR. Gêneros do discurso, narrativas e avaliação nas mudanças sociais: a Análise de
Discurso Positiva. L & S Cadernos - Cadernos de Linguagem e Sociedade, v. 11, n. 2, 2010.
Disponível em:
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://periodicos.unb.br/index.php/l
es/article/view/2831&gws_rd=cr&ei=FezFVcXUCMihwAStvI34Bw>. Acesso em: 31 jul.
2015.

138
ANEXOS
1 ARTIGO 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA
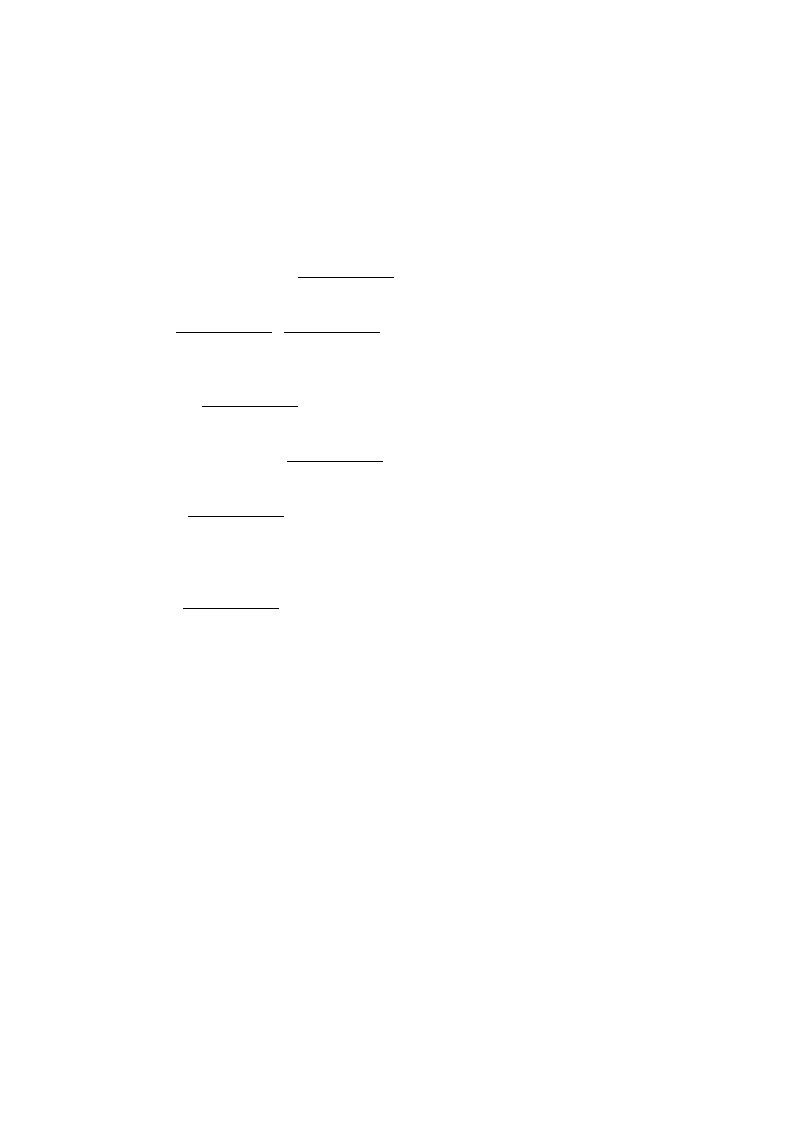
139
CAPÍTULO VI
DO MEIO AMBIENTE
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico
das espécies e ecossistemas; (Regulamento)
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material
genético; (Regulamento) (Regulamento)
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes
a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através
de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem
sua proteção; (Regulamento)
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental,
a que se dará publicidade; (Regulamento)
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente; (Regulamento)
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização
pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em
risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a
crueldade. (Regulamento)
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente
degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma
da lei.
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente
da obrigação de reparar os danos causados.
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma
da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto
ao uso dos recursos naturais.
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em
lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.
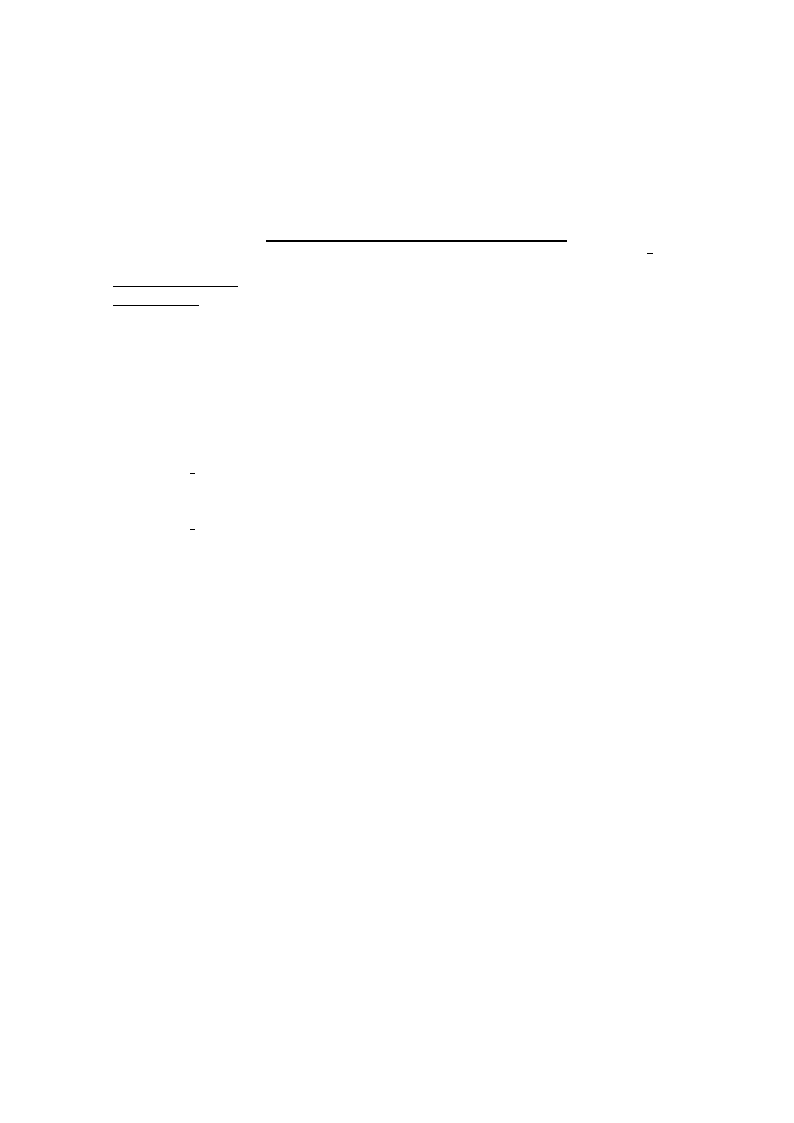
140
2 LEI COMPLEMENTAR 9985/2000
Mensagem de Veto
Regulamento
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI No 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000.
Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos
I, II, III e VII da Constituição Federal,
institui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza
e dá outras providências.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo de PRESIDENTE
DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza –
SNUC, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de
conservação.
Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder
Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;
II - conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a
preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do
ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais
gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações
futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral;
III - diversidade biológica: a variabilidade de organismos vivos de todas as origens,
compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade
dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas;
IV - recurso ambiental: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os
estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora;
V - preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a
longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos
ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais;
VI - proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por
interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais;
VII - conservação in situ: conservação de ecossistemas e habitats naturais e a
manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no
caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas
propriedades características;
VIII - manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da
diversidade biológica e dos ecossistemas;
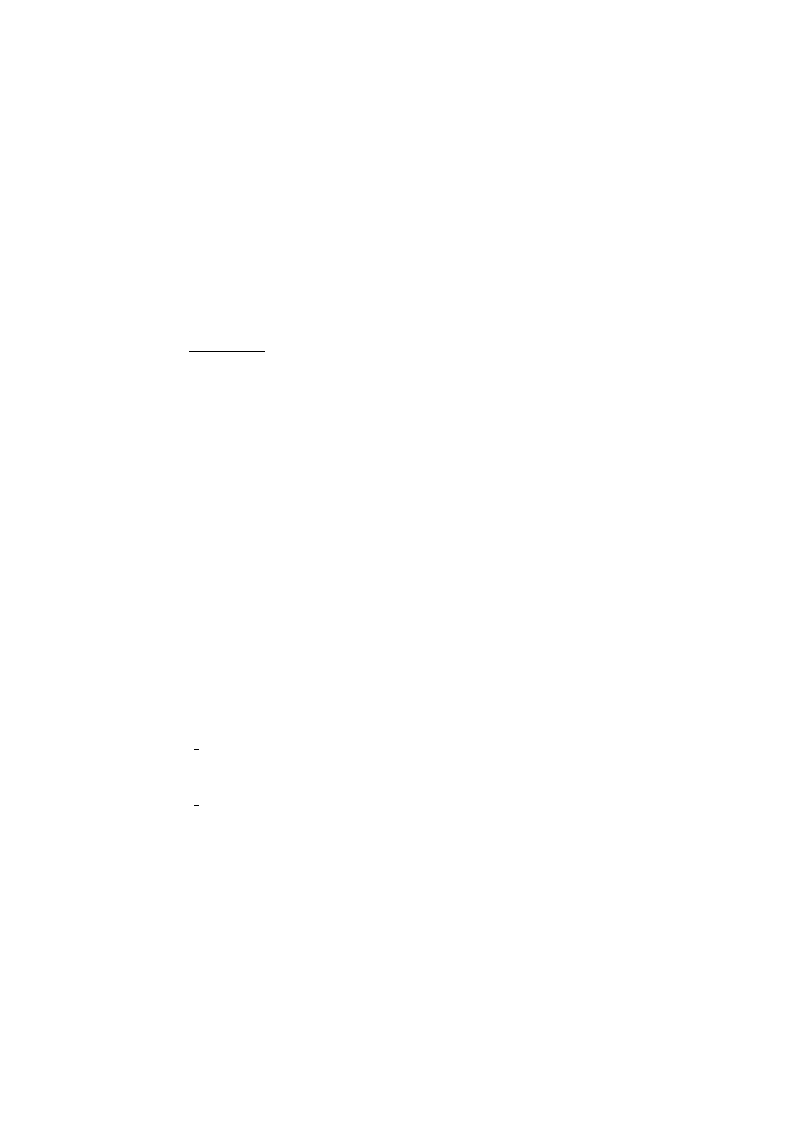
141
IX - uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos
recursos naturais;
X - uso direto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais;
XI - uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos
recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os
demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável;
XII - extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo
sustentável, de recursos naturais renováveis;
XIII - recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original;
XIV - restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada o mais próximo possível da sua condição original;
XV - (VETADO)
XVI - zoneamento: definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com
objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as
condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica
e eficaz;
XVII - plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos
objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas
que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação
das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade;
XVIII - zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as
atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de
minimizar os impactos negativos sobre a unidade; e
XIX - corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando
unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota,
facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a
manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior
do que aquela das unidades individuais.
CAPÍTULO II
DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
DA NATUREZA – SNUC
Art. 3o O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC é
constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais, de
acordo com o disposto nesta Lei.
Art. 4o O SNUC tem os seguintes objetivos:
I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no
território nacional e nas águas jurisdicionais;
II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional;
III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas
naturais;
IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;
V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no
processo de desenvolvimento;
VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica;
VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica,
espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;
VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos;
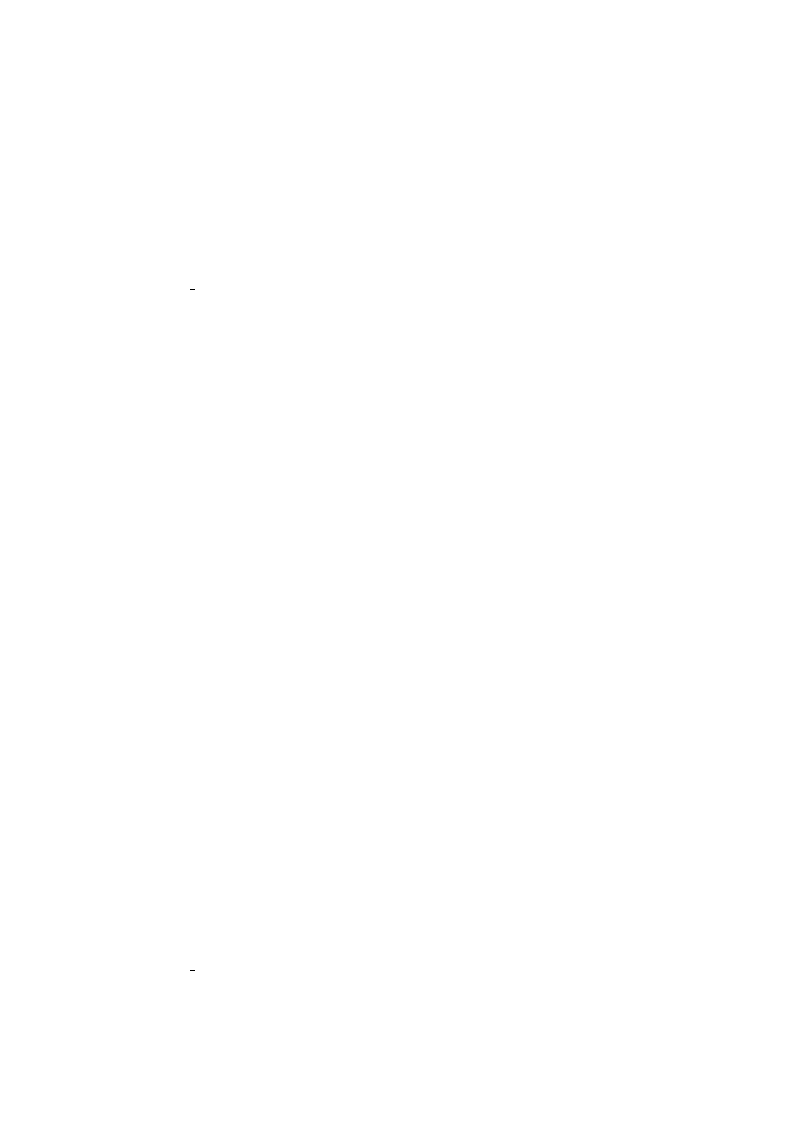
142
IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;
X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e
monitoramento ambiental;
XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;
XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação
em contato com a natureza e o turismo ecológico;
XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações
tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as
social e economicamente.
Art. 5o O SNUC será regido por diretrizes que:
I - assegurem que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas
amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e
ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio
biológico existente;
II - assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da
sociedade no estabelecimento e na revisão da política nacional de unidades de conservação;
III - assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e
gestão das unidades de conservação;
IV - busquem o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de
organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas
científicas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico,
monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de conservação;
V - incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e
administrarem unidades de conservação dentro do sistema nacional;
VI - assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de
conservação;
VII - permitam o uso das unidades de conservação para a conservação in situ de
populações das variantes genéticas selvagens dos animais e plantas domesticados e recursos
genéticos silvestres;
VIII - assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de conservação
sejam feitos de forma integrada com as políticas de administração das terras e águas
circundantes, considerando as condições e necessidades sociais e econômicas locais;
IX - considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento
e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais;
X - garantam às populações tradicionais cuja subsistência dependa da utilização de
recursos naturais existentes no interior das unidades de conservação meios de subsistência
alternativos ou a justa indenização pelos recursos perdidos;
XI - garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que,
uma vez criadas, as unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos
seus objetivos;
XII - busquem conferir às unidades de conservação, nos casos possíveis e respeitadas as
conveniências da administração, autonomia administrativa e financeira; e
XIII - busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades
de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de
amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da
natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação dos ecossistemas.
Art. 6o O SNUC será gerido pelos seguintes órgãos, com as respectivas atribuições:
I – Órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama,
com as atribuições de acompanhar a implementação do Sistema;
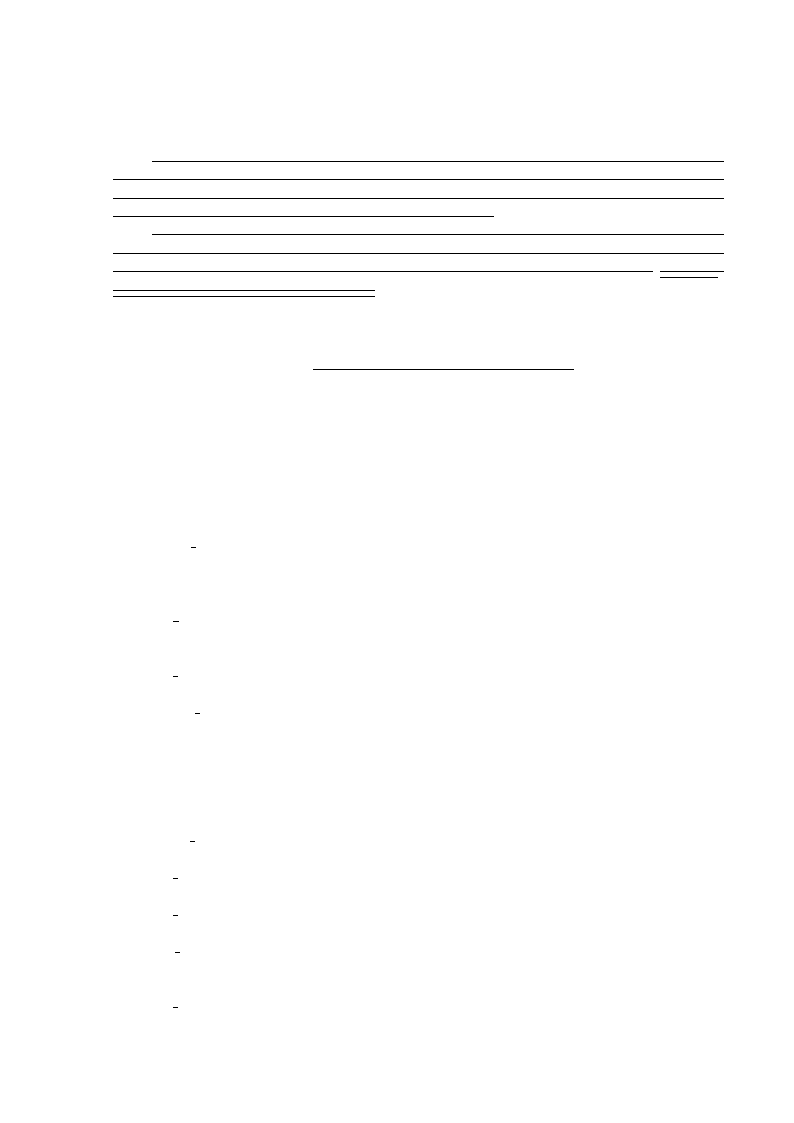
143
II - Órgão central: o Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de coordenar o
Sistema; e
III - Órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - Ibama, os órgãos estaduais e municipais, com a função de implementar
o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação federais,
estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação.
III - Órgãos executores: os órgãos federais, estaduais e municipais, com a função de
implementar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de
conservação federais, estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação. (Redação
dada Medida Provisória nº 366, de 2007)
III - órgãos executores: o Instituto Chico Mendes e o Ibama, em caráter supletivo, os
órgãos estaduais e municipais, com a função de implementar o SNUC, subsidiar as propostas
de criação e administrar as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, nas
respectivas esferas de atuação. (Redação dada pela Lei nº 11.516, 2007)
Parágrafo único. Podem integrar o SNUC, excepcionalmente e a critério do Conama,
unidades de conservação estaduais e municipais que, concebidas para atender a peculiaridades
regionais ou locais, possuam objetivos de manejo que não possam ser satisfatoriamente
atendidos por nenhuma categoria prevista nesta Lei e cujas características permitam, em
relação a estas, uma clara distinção.
CAPÍTULO III
DAS CATEGORIAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Art. 7o As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos,
com características específicas:
I - Unidades de Proteção Integral;
II - Unidades de Uso Sustentável.
§ 1o O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo
admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos
nesta Lei.
§ 2o O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação
da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.
Art. 8o O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes
categorias de unidade de conservação:
I - Estação Ecológica;
II - Reserva Biológica;
III - Parque Nacional;
IV - Monumento Natural;
V - Refúgio de Vida Silvestre.
Art. 9o A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização
de pesquisas científicas.
§ 1o A Estação Ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 2o É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, de acordo
com o que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento específico.
§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela
administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem
como àquelas previstas em regulamento.
§ 4o Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso
de:
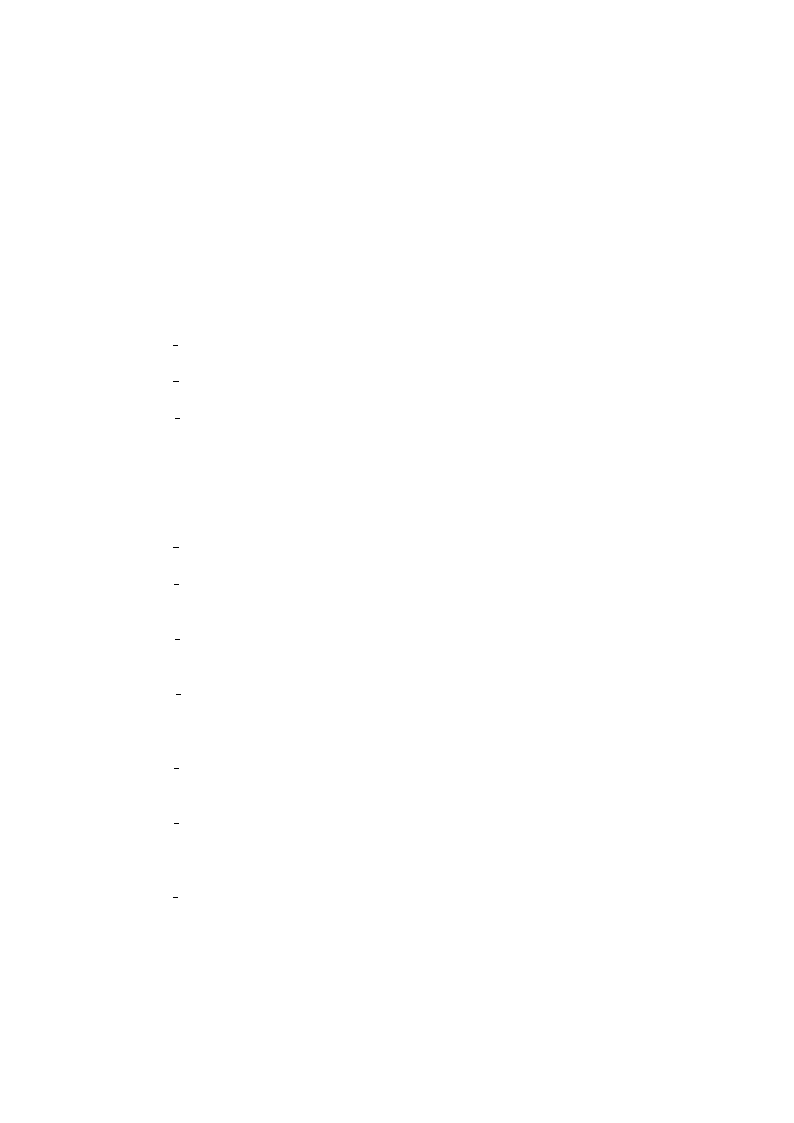
144
I - medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados;
II - manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica;
III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas;
IV - pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele
causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas,
em uma área correspondente a no máximo três por cento da extensão total da unidade e até o
limite de um mil e quinhentos hectares.
Art. 10. A Reserva Biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e
demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou
modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas
alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a
diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.
§ 1o A Reserva Biológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 2o É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo
com regulamento específico.
§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela
administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem
como àquelas previstas em regulamento.
Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental,
de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.
§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 2o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de
Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e
àquelas previstas em regulamento.
§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela
administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem
como àquelas previstas em regulamento.
§ 4o As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão
denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal.
Art. 12. O Monumento Natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros,
singulares ou de grande beleza cênica.
§ 1o O Monumento Natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja
possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos
naturais do local pelos proprietários.
§ 2o Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou
não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela
administração da unidade para a coexistência do Monumento Natural com o uso da
propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 3o A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no Plano de
Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e
àquelas previstas em regulamento.
Art. 13. O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais
onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da
flora local e da fauna residente ou migratória.
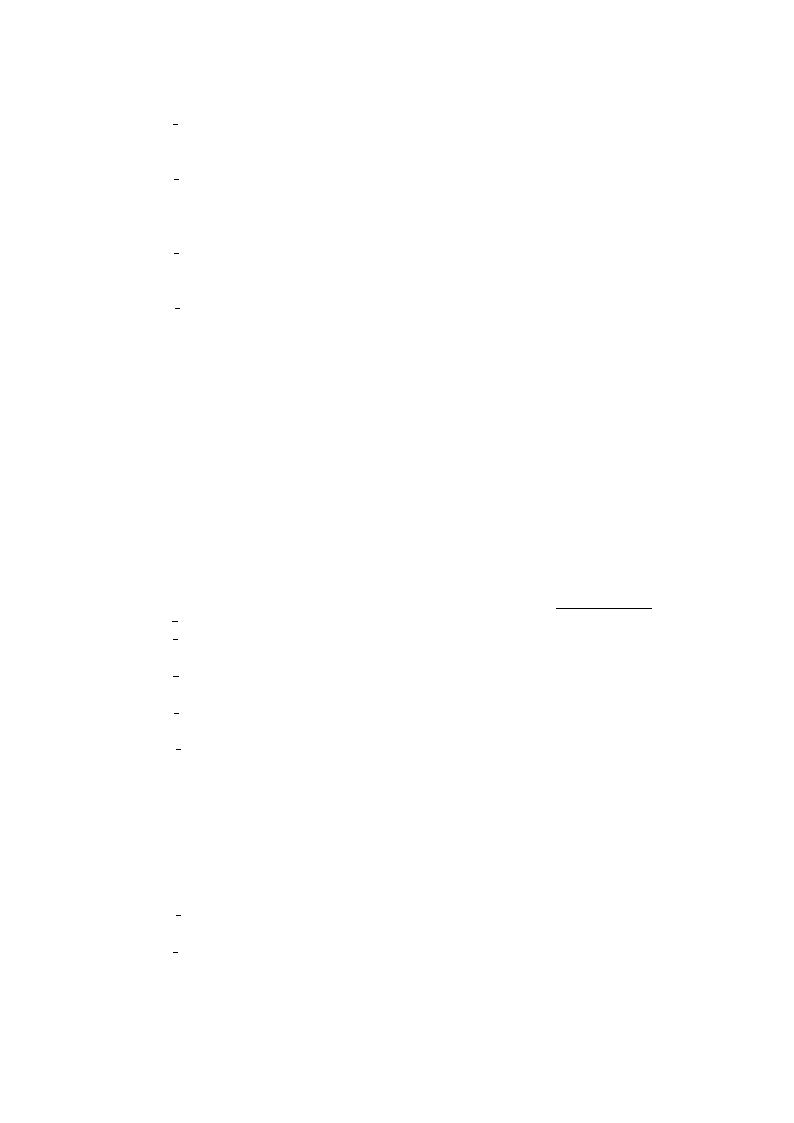
145
§ 1o O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde que
seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos
naturais do local pelos proprietários.
§ 2o Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou
não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela
administração da unidade para a coexistência do Refúgio de Vida Silvestre com o uso da
propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 3o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de
Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e
àquelas previstas em regulamento.
§ 4o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela
administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem
como àquelas previstas em regulamento.
Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias
de unidade de conservação:
I - Área de Proteção Ambiental;
II - Área de Relevante Interesse Ecológico;
III - Floresta Nacional;
IV - Reserva Extrativista;
V - Reserva de Fauna;
VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e
VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau
de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e
tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.(Regulamento)
§ 1o A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas.
§ 2o Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições
para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental.
§ 3o As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas
sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade.
§ 4o Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições
para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais.
§ 5o A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão
responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de
organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no
regulamento desta Lei.
Art. 16. A Área de Relevante Interesse Ecológico é uma área em geral de pequena
extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais
extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter
os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas
áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza.
§ 1o A Área de Relevante Interesse Ecológico é constituída por terras públicas ou
privadas.
§ 2o Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições
para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Relevante Interesse
Ecológico.
Art. 17. A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies
predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos
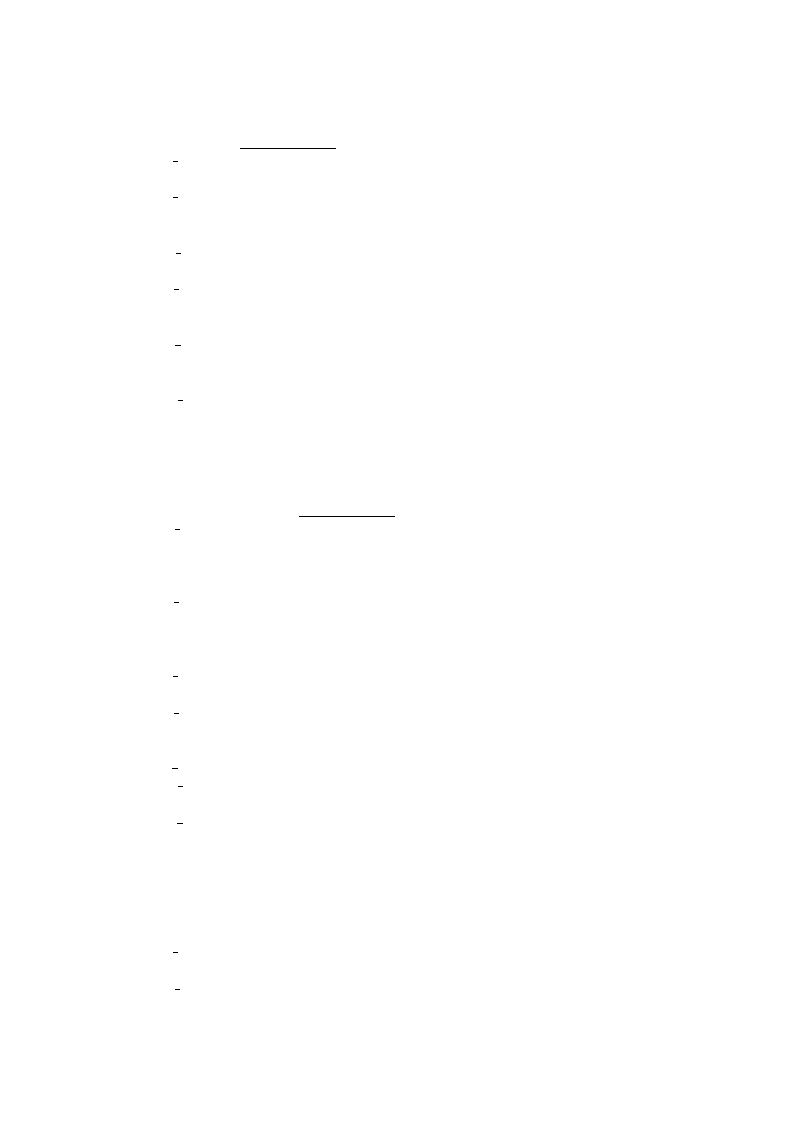
146
recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável
de florestas nativas.(Regulamento)
§ 1o A Floresta Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei.
§ 2o Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de populações tradicionais que a
habitam quando de sua criação, em conformidade com o disposto em regulamento e no Plano
de Manejo da unidade.
§ 3o A visitação pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas para o
manejo da unidade pelo órgão responsável por sua administração.
§ 4o A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão
responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e
àquelas previstas em regulamento.
§ 5o A Floresta Nacional disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão
responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de
organizações da sociedade civil e, quando for o caso, das populações tradicionais residentes.
§ 6o A unidade desta categoria, quando criada pelo Estado ou Município, será
denominada, respectivamente, Floresta Estadual e Floresta Municipal.
Art. 18. A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas
tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura
de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos
proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos
recursos naturais da unidade.(Regulamento)
§ 1o A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações
extrativistas tradicionais conforme o disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação
específica, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas,
de acordo com o que dispõe a lei.
§ 2o A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo
órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos,
de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme
se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.
§ 3o A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e de
acordo com o disposto no Plano de Manejo da área.
§ 4o A pesquisa científica é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização
do órgão responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este
estabelecidas e às normas previstas em regulamento.
§ 5o O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho Deliberativo.
§ 6o São proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou
profissional.
§ 7o A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases
sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas
na Reserva Extrativista, conforme o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da
unidade.
Art. 19. A Reserva de Fauna é uma área natural com populações animais de espécies
nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-
científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos.
§ 1o A Reserva de Fauna é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei.
§ 2o A visitação pública pode ser permitida, desde que compatível com o manejo da
unidade e de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua
administração.
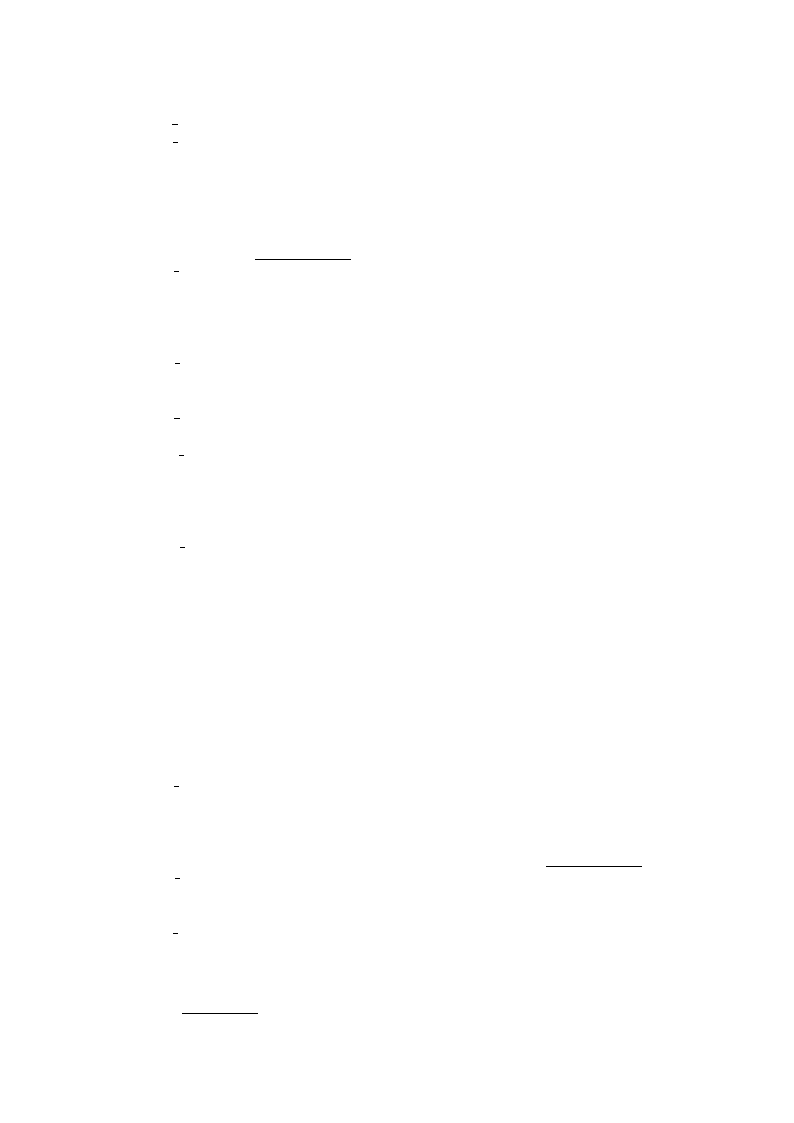
147
§ 3o É proibido o exercício da caça amadorística ou profissional.
§ 4o A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá
ao disposto nas leis sobre fauna e regulamentos.
Art. 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga
populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos
recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas
locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da
diversidade biológica.(Regulamento)
§ 1o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar a
natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução
e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das
populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as
técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações.
§ 2o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, sendo que as
áreas particulares incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas, de
acordo com o que dispõe a lei.
§ 3o O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será regulado de acordo
com o disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação específica.
§ 4o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um Conselho
Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por
representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações
tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da
unidade.
§ 5o As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável
obedecerão às seguintes condições:
I - é permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os interesses
locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área;
II - é permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da natureza, à
melhor relação das populações residentes com seu meio e à educação ambiental, sujeitando-se
à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade, às condições e
restrições por este estabelecidas e às normas previstas em regulamento;
III - deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e
a conservação; e
IV - é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em regime de
manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que
sujeitas ao zoneamento, às limitações legais e ao Plano de Manejo da área.
§ 6o O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá as zonas
de proteção integral, de uso sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos, e será
aprovado pelo Conselho Deliberativo da unidade.
Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com
perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. (Regulamento)
§ 1o O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assinado
perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, e será averbado à
margem da inscrição no Registro Público de Imóveis.
§ 2o Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural, conforme se
dispuser em regulamento:
I - a pesquisa científica;
II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais;
III - (VETADO)
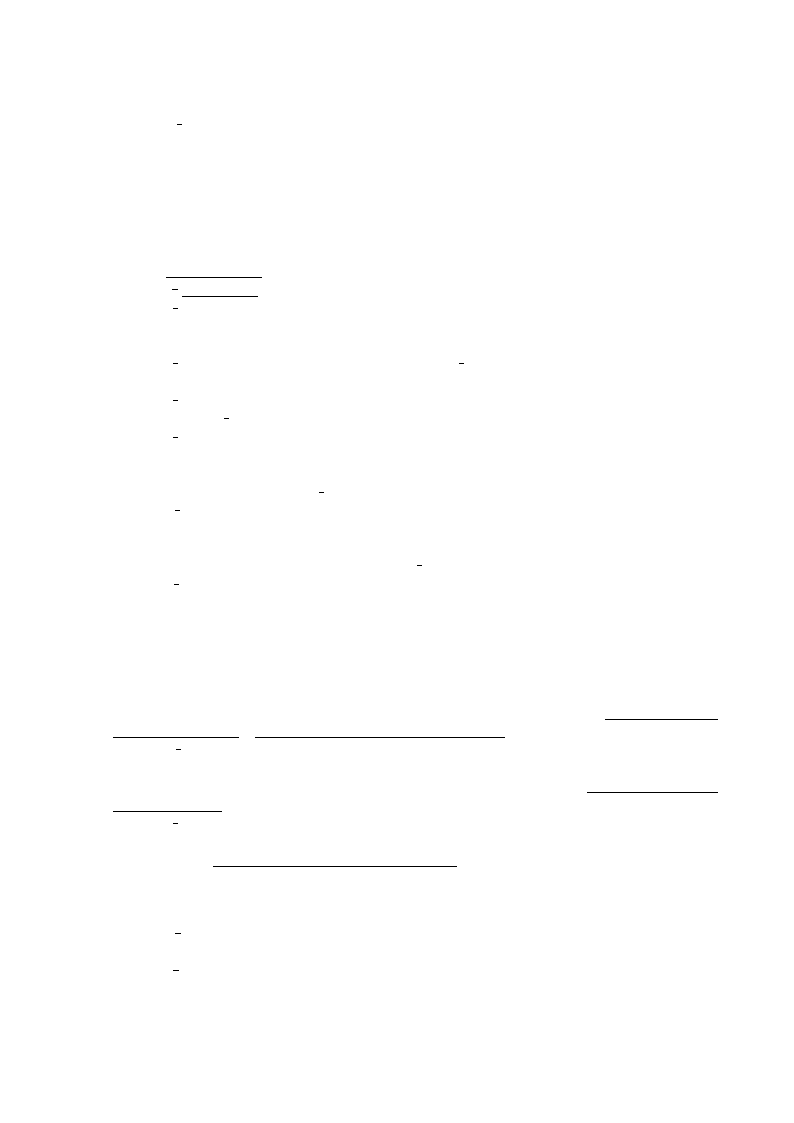
148
§ 3o Os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, prestarão
orientação técnica e científica ao proprietário de Reserva Particular do Patrimônio Natural
para a elaboração de um Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão da unidade.
CAPÍTULO IV
DA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder
Público.(Regulamento)
§ 1o (VETADO)
§ 2o A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e
de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais
adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento.
§ 3o No processo de consulta de que trata o § 2o, o Poder Público é obrigado a fornecer
informações adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas.
§ 4o Na criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica não é obrigatória a consulta
de que trata o § 2o deste artigo.
§ 5o As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser transformadas
total ou parcialmente em unidades do grupo de Proteção Integral, por instrumento normativo
do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos
de consulta estabelecidos no § 2o deste artigo.
§ 6o A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos
seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento
normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os
procedimentos de consulta estabelecidos no § 2o deste artigo.
§ 7o A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser
feita mediante lei específica.
Art. 22-A. O Poder Público poderá, ressalvadas as atividades agropecuárias e outras
atividades econômicas em andamento e obras públicas licenciadas, na forma da lei, decretar
limitações administrativas provisórias ao exercício de atividades e empreendimentos efetiva
ou potencialmente causadores de degradação ambiental, para a realização de estudos com
vistas na criação de Unidade de Conservação, quando, a critério do órgão ambiental
competente, houver risco de dano grave aos recursos naturais ali existentes. (Incluído pela Lei
nº 11.132, de 2005) (Vide Decreto de 2 de janeiro de 2005)
§ 1o Sem prejuízo da restrição e observada a ressalva constante do caput, na área
submetida a limitações administrativas, não serão permitidas atividades que importem em
exploração a corte raso da floresta e demais formas de vegetação nativa. (Incluído pela Lei nº
11.132, de 2005)
§ 2o A destinação final da área submetida ao disposto neste artigo será definida no prazo
de 7 (sete) meses, improrrogáveis, findo o qual fica extinta a limitação
administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.132, de 2005)
Art. 23. A posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais nas Reservas
Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável serão regulados por contrato,
conforme se dispuser no regulamento desta Lei.
§ 1o As populações de que trata este artigo obrigam-se a participar da preservação,
recuperação, defesa e manutenção da unidade de conservação.
§ 2o O uso dos recursos naturais pelas populações de que trata este artigo obedecerá às
seguintes normas:
I - proibição do uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de práticas que
danifiquem os seus habitats;
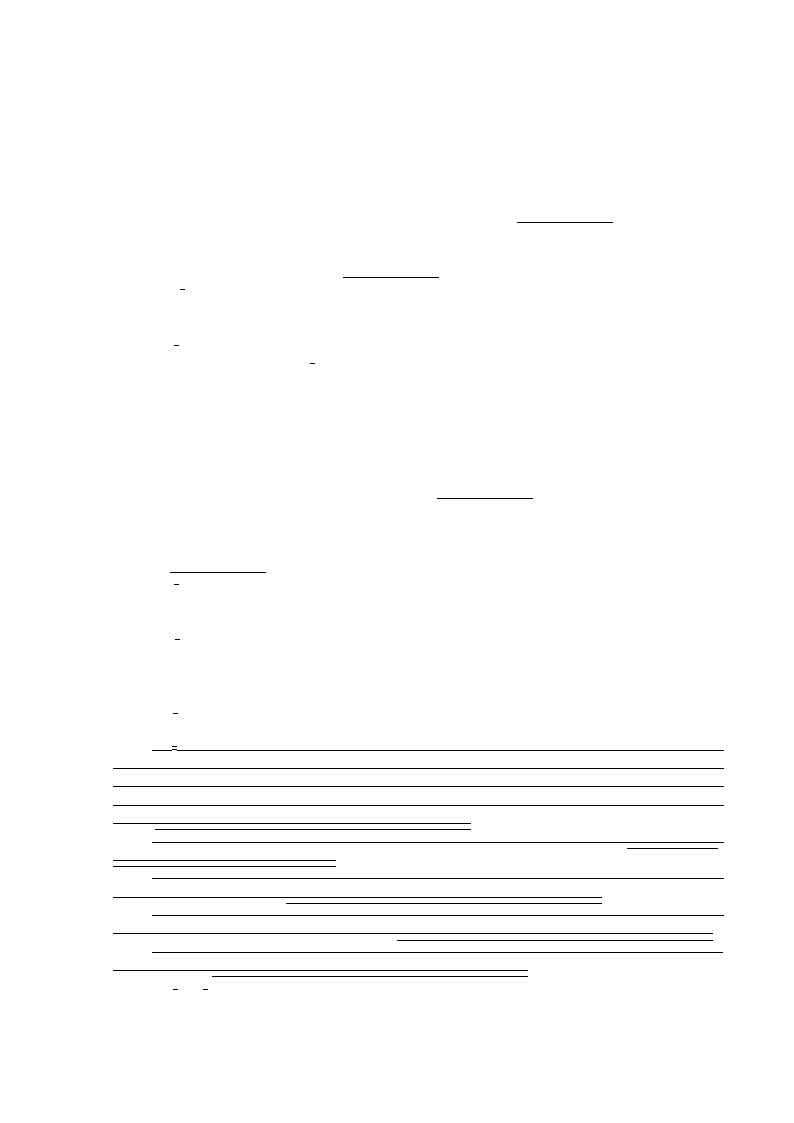
149
II - proibição de práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural dos
ecossistemas;
III - demais normas estabelecidas na legislação, no Plano de Manejo da unidade de
conservação e no contrato de concessão de direito real de uso.
Art. 24. O subsolo e o espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade do
ecossistema, integram os limites das unidades de conservação. (Regulamento)
Art. 25. As unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva
Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando
conveniente, corredores ecológicos.(Regulamento)
§ 1o O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas
específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos
corredores ecológicos de uma unidade de conservação.
§ 2o Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas
normas de que trata o § 1o poderão ser definidas no ato de criação da unidade ou
posteriormente.
Art. 26. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias
diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou
privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e
participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a
compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o
desenvolvimento sustentável no contexto regional.(Regulamento)
Parágrafo único. O regulamento desta Lei disporá sobre a forma de gestão integrada do
conjunto das unidades.
Art. 27. As unidades de conservação devem dispor de um Plano de
Manejo. (Regulamento)
§ 1o O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de
amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua
integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas.
§ 2o Na elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo das Reservas
Extrativistas, das Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de Proteção
Ambiental e, quando couber, das Florestas Nacionais e das Áreas de Relevante Interesse
Ecológico, será assegurada a ampla participação da população residente.
§ 3o O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de
cinco anos a partir da data de sua criação.
§ 4o O Plano de Manejo poderá dispor sobre as atividades de liberação planejada e cultivo
de organismos geneticamente modificados nas Áreas de Proteção Ambiental e nas zonas de
amortecimento das demais categorias de unidade de conservação, observadas as informações
contidas na decisão técnica da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio
sobre: (Incluído pela Medida Provisória nº 327, de 2006
I - o registro de ocorrência de ancestrais diretos e parentes silvestres; (Incluído pela
Medida Provisória nº 327, de 2006
II - as características de reprodução, dispersão e sobrevivência do organismo
geneticamente modificado; (Incluído pela Medida Provisória nº 327, de 2006
III - o isolamento reprodutivo do organismo geneticamente modificado em relação aos
seus ancestrais diretos e parentes silvestres; e (Incluído pela Medida Provisória nº 327, de 2006
IV - situações de risco do organismo geneticamente modificado à
biodiversidade. (Incluído pela Medida Provisória nº 327, de 2006
§ 4o § 4o O Plano de Manejo poderá dispor sobre as atividades de liberação planejada e
cultivo de organismos geneticamente modificados nas Áreas de Proteção Ambiental e nas
zonas de amortecimento das demais categorias de unidade de conservação, observadas as
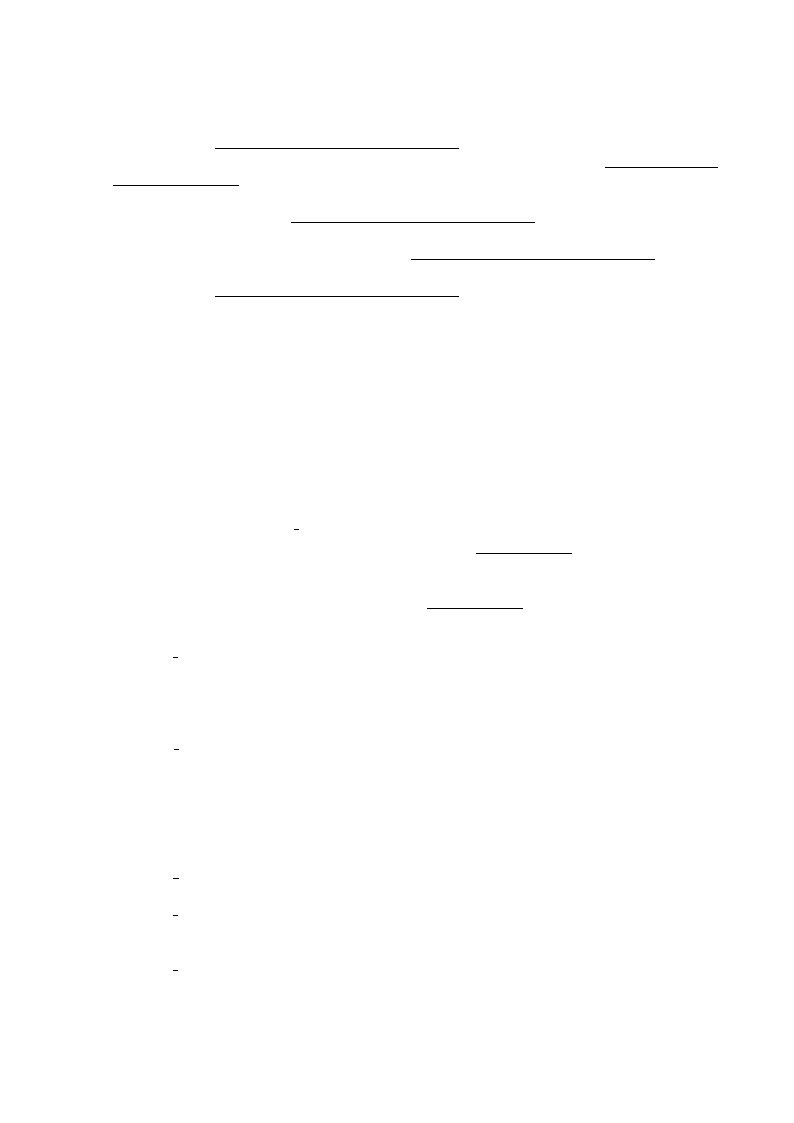
150
informações contidas na decisão técnica da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança -
CTNBio sobre: (Incluído pela Lei nº 11.460, de 2007)
I - o registro de ocorrência de ancestrais diretos e parentes silvestres; (Incluído pela Lei
nº 11.460, de 2007)
II - as características de reprodução, dispersão e sobrevivência do organismo
geneticamente modificado; (Incluído pela Lei nº 11.460, de 2007)
III - o isolamento reprodutivo do organismo geneticamente modificado em relação aos
seus ancestrais diretos e parentes silvestres; e (Incluído pela Lei nº 11.460, de 2007)
IV - situações de risco do organismo geneticamente modificado à
biodiversidade. (Incluído pela Lei nº 11.460, de 2007)
Art. 28. São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades ou
modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus
regulamentos.
Parágrafo único. Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as atividades e obras
desenvolvidas nas unidades de conservação de proteção integral devem se limitar àquelas
destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade objetiva proteger, assegurando-
se às populações tradicionais porventura residentes na área as condições e os meios
necessários para a satisfação de suas necessidades materiais, sociais e culturais.
Art. 29. Cada unidade de conservação do grupo de Proteção Integral disporá de um
Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído
por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, por proprietários de
terras localizadas em Refúgio de Vida Silvestre ou Monumento Natural, quando for o caso, e,
na hipótese prevista no § 2o do art. 42, das populações tradicionais residentes, conforme se
dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.(Regulamento)
Art. 30. As unidades de conservação podem ser geridas por organizações da sociedade
civil de interesse público com objetivos afins aos da unidade, mediante instrumento a ser
firmado com o órgão responsável por sua gestão.(Regulamento)
Art. 31. É proibida a introdução nas unidades de conservação de espécies não
autóctones.
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo as Áreas de Proteção Ambiental, as Florestas
Nacionais, as Reservas Extrativistas e as Reservas de Desenvolvimento Sustentável, bem
como os animais e plantas necessários à administração e às atividades das demais categorias
de unidades de conservação, de acordo com o que se dispuser em regulamento e no Plano de
Manejo da unidade.
§ 2o Nas áreas particulares localizadas em Refúgios de Vida Silvestre e Monumentos
Naturais podem ser criados animais domésticos e cultivadas plantas considerados compatíveis
com as finalidades da unidade, de acordo com o que dispuser o seu Plano de Manejo.
Art. 32. Os órgãos executores articular-se-ão com a comunidade científica com o
propósito de incentivar o desenvolvimento de pesquisas sobre a fauna, a flora e a ecologia das
unidades de conservação e sobre formas de uso sustentável dos recursos naturais, valorizando-
se o conhecimento das populações tradicionais.
§ 1o As pesquisas científicas nas unidades de conservação não podem colocar em risco
a sobrevivência das espécies integrantes dos ecossistemas protegidos.
§ 2o A realização de pesquisas científicas nas unidades de conservação, exceto Área de
Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, depende de aprovação prévia
e está sujeita à fiscalização do órgão responsável por sua administração.
§ 3o Os órgãos competentes podem transferir para as instituições de pesquisa nacionais,
mediante acordo, a atribuição de aprovar a realização de pesquisas científicas e de credenciar
pesquisadores para trabalharem nas unidades de conservação.
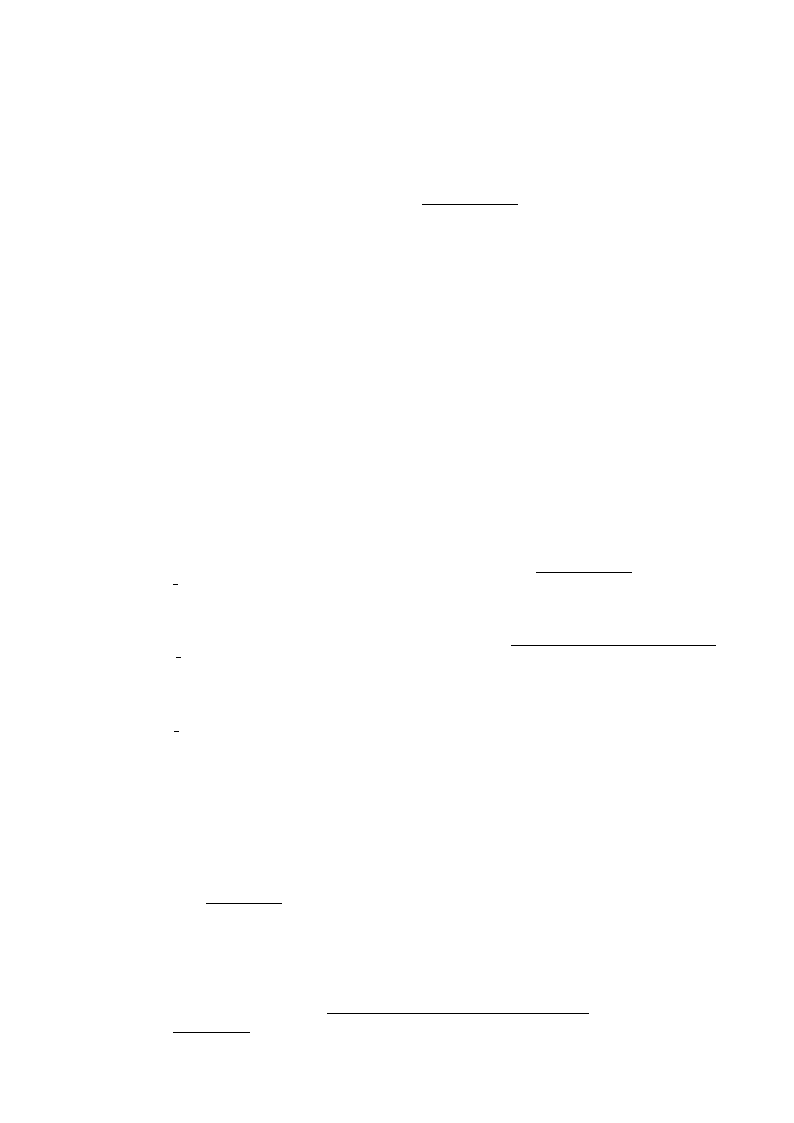
151
Art. 33. A exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços obtidos ou
desenvolvidos a partir dos recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais ou da exploração
da imagem de unidade de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva
Particular do Patrimônio Natural, dependerá de prévia autorização e sujeitará o explorador a
pagamento, conforme disposto em regulamento.(Regulamento)
Art. 34. Os órgãos responsáveis pela administração das unidades de conservação podem
receber recursos ou doações de qualquer natureza, nacionais ou internacionais, com ou sem
encargos, provenientes de organizações privadas ou públicas ou de pessoas físicas que
desejarem colaborar com a sua conservação.
Parágrafo único. A administração dos recursos obtidos cabe ao órgão gestor da unidade,
e estes serão utilizados exclusivamente na sua implantação, gestão e manutenção.
Art. 35. Os recursos obtidos pelas unidades de conservação do Grupo de Proteção
Integral mediante a cobrança de taxa de visitação e outras rendas decorrentes de arrecadação,
serviços e atividades da própria unidade serão aplicados de acordo com os seguintes critérios:
I - até cinqüenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na implementação,
manutenção e gestão da própria unidade;
II - até cinqüenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na regularização
fundiária das unidades de conservação do Grupo;
III - até cinqüenta por cento, e não menos que quinze por cento, na implementação,
manutenção e gestão de outras unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral.
Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo
impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em
estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a
apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral,
de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.(Regulamento)
§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não
pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do
empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com
o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. (Vide ADIN nº 3.378-6, de 2008)
§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a
serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o
empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de
conservação.
§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona
de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser
concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade
afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das
beneficiárias da compensação definida neste artigo.
CAPÍTULO V
DOS INCENTIVOS, ISENÇÕES E PENALIDADES
Art. 37. (VETADO)
Art. 38. A ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importem inobservância
aos preceitos desta Lei e a seus regulamentos ou resultem em dano à flora, à fauna e aos
demais atributos naturais das unidades de conservação, bem como às suas instalações e às
zonas de amortecimento e corredores ecológicos, sujeitam os infratores às sanções previstas
em lei.
Art. 39. Dê-se ao art. 40 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a seguinte redação:
"Art. 40. (VETADO)
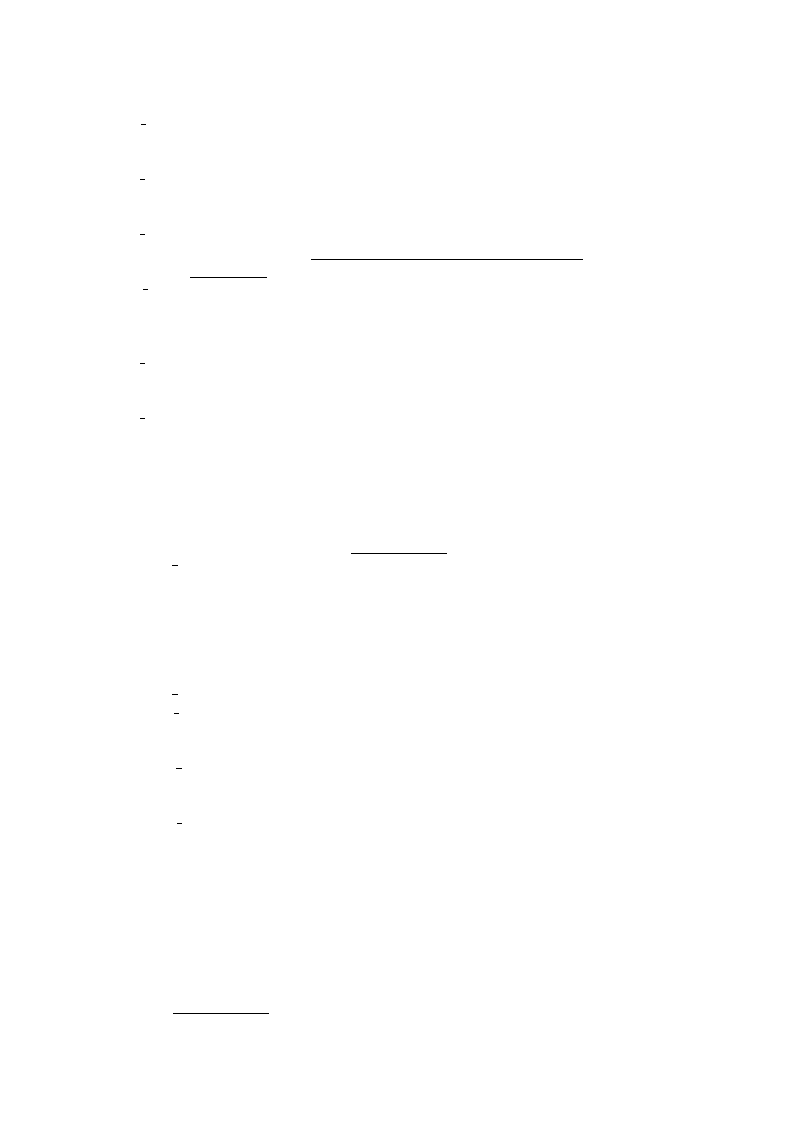
152
"§ 1o Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as Estações Ecológicas,
as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os Refúgios de
Vida Silvestre." (NR)
"§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades
de Conservação de Proteção Integral será considerada circunstância agravante para a fixação
da pena." (NR)
"§ 3o ...................................................................."
Art. 40. Acrescente-se à Lei no 9.605, de 1998, o seguinte art. 40-A:
"Art. 40-A. (VETADO)
"§ 1o Entende-se por Unidades de Conservação de Uso Sustentável as Áreas de Proteção
Ambiental, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as Florestas Nacionais, as Reservas
Extrativistas, as Reservas de Fauna, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável e as
Reservas Particulares do Patrimônio Natural." (AC)
"§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades
de Conservação de Uso Sustentável será considerada circunstância agravante para a fixação
da pena." (AC)
"§ 3o Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade." (AC)
CAPÍTULO
VI
DAS RESERVAS DA BIOSFERA
Art. 41. A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado internacionalmente, de gestão
integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de
preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o
monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria
da qualidade de vida das populações.(Regulamento)
§ 1o A Reserva da Biosfera é constituída por:
I - uma ou várias áreas-núcleo, destinadas à proteção integral da natureza;
II - uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas atividades que não
resultem em dano para as áreas-núcleo; e
III - uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo de ocupação
e o manejo dos recursos naturais são planejados e conduzidos de modo participativo e em
bases sustentáveis.
§ 2o A Reserva da Biosfera é constituída por áreas de domínio público ou privado.
§ 3o A Reserva da Biosfera pode ser integrada por unidades de conservação já criadas
pelo Poder Público, respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo de cada categoria
específica.
§ 4o A Reserva da Biosfera é gerida por um Conselho Deliberativo, formado por
representantes de instituições públicas, de organizações da sociedade civil e da população
residente, conforme se dispuser em regulamento e no ato de constituição da unidade.
§ 5o A Reserva da Biosfera é reconhecida pelo Programa Intergovernamental "O
Homem e a Biosfera – MAB", estabelecido pela Unesco, organização da qual o Brasil é
membro.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 42. As populações tradicionais residentes em unidades de conservação nas quais
sua permanência não seja permitida serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias
existentes e devidamente realocadas pelo Poder Público, em local e condições acordados entre
as partes.(Regulamento)
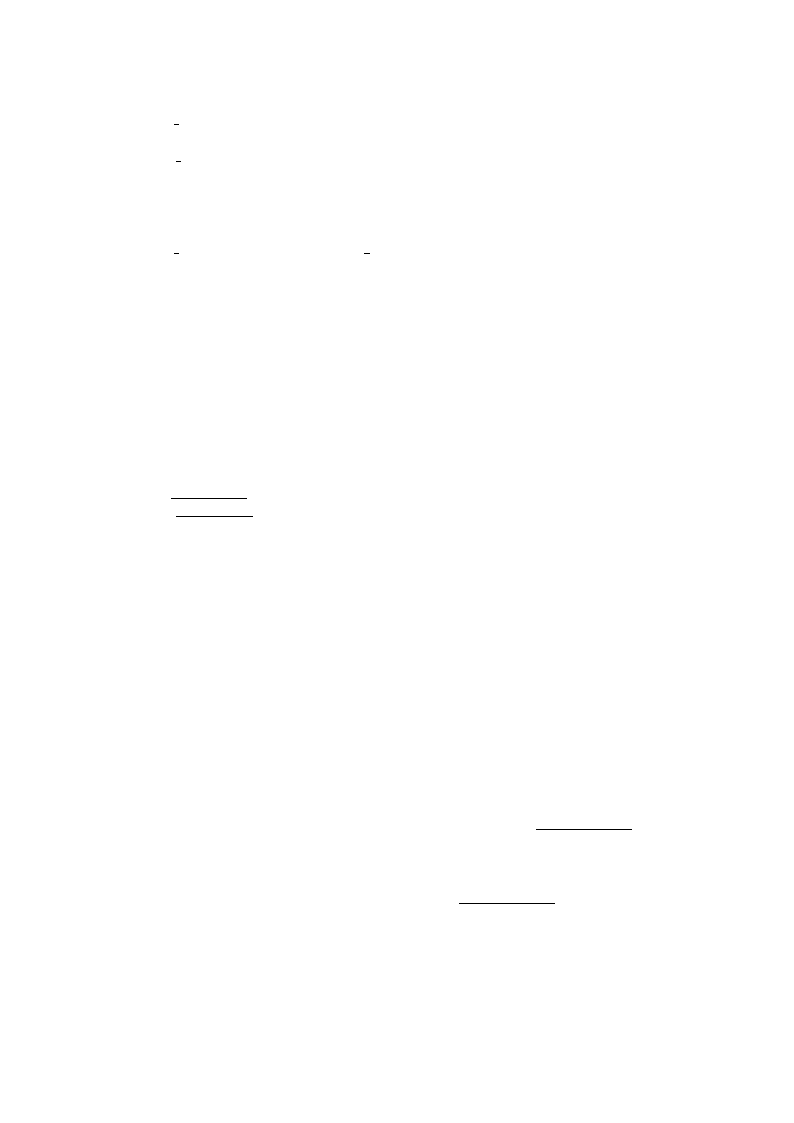
153
§ 1o O Poder Público, por meio do órgão competente, priorizará o reassentamento das
populações tradicionais a serem realocadas.
§ 2o Até que seja possível efetuar o reassentamento de que trata este artigo, serão
estabelecidas normas e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença das
populações tradicionais residentes com os objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos de
vida, das fontes de subsistência e dos locais de moradia destas populações, assegurando-se a
sua participação na elaboração das referidas normas e ações.
§ 3o Na hipótese prevista no § 2o, as normas regulando o prazo de permanência e suas
condições serão estabelecidas em regulamento.
Art. 43. O Poder Público fará o levantamento nacional das terras devolutas, com o
objetivo de definir áreas destinadas à conservação da natureza, no prazo de cinco anos após a
publicação desta Lei.
Art. 44. As ilhas oceânicas e costeiras destinam-se prioritariamente à proteção da
natureza e sua destinação para fins diversos deve ser precedida de autorização do órgão
ambiental competente.
Parágrafo único. Estão dispensados da autorização citada no caput os órgãos que se
utilizam das citadas ilhas por força de dispositivos legais ou quando decorrente de
compromissos legais assumidos.
Art. 45. Excluem-se das indenizações referentes à regularização fundiária das unidades
de conservação, derivadas ou não de desapropriação:
I - (VETADO)
II - (VETADO)
III - as espécies arbóreas declaradas imunes de corte pelo Poder Público;
IV - expectativas de ganhos e lucro cessante;
V - o resultado de cálculo efetuado mediante a operação de juros compostos;
VI - as áreas que não tenham prova de domínio inequívoco e anterior à criação da
unidade.
Art. 46. A instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e infra-
estrutura urbana em geral, em unidades de conservação onde estes equipamentos são
admitidos depende de prévia aprovação do órgão responsável por sua administração, sem
prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto ambiental e outras exigências
legais.
Parágrafo único. Esta mesma condição se aplica à zona de amortecimento das unidades
do Grupo de Proteção Integral, bem como às áreas de propriedade privada inseridas nos
limites dessas unidades e ainda não indenizadas.
Art. 47. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pelo abastecimento de
água ou que faça uso de recursos hídricos, beneficiário da proteção proporcionada por uma
unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da
unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica.(Regulamento)
Art. 48. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pela geração e
distribuição de energia elétrica, beneficiário da proteção oferecida por uma unidade de
conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de
acordo com o disposto em regulamentação específica.(Regulamento)
Art. 49. A área de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral é
considerada zona rural, para os efeitos legais.
Parágrafo único. A zona de amortecimento das unidades de conservação de que trata
este artigo, uma vez definida formalmente, não pode ser transformada em zona urbana.
Art. 50. O Ministério do Meio Ambiente organizará e manterá um Cadastro Nacional de
Unidades de Conservação, com a colaboração do Ibama e dos órgãos estaduais e municipais
competentes.
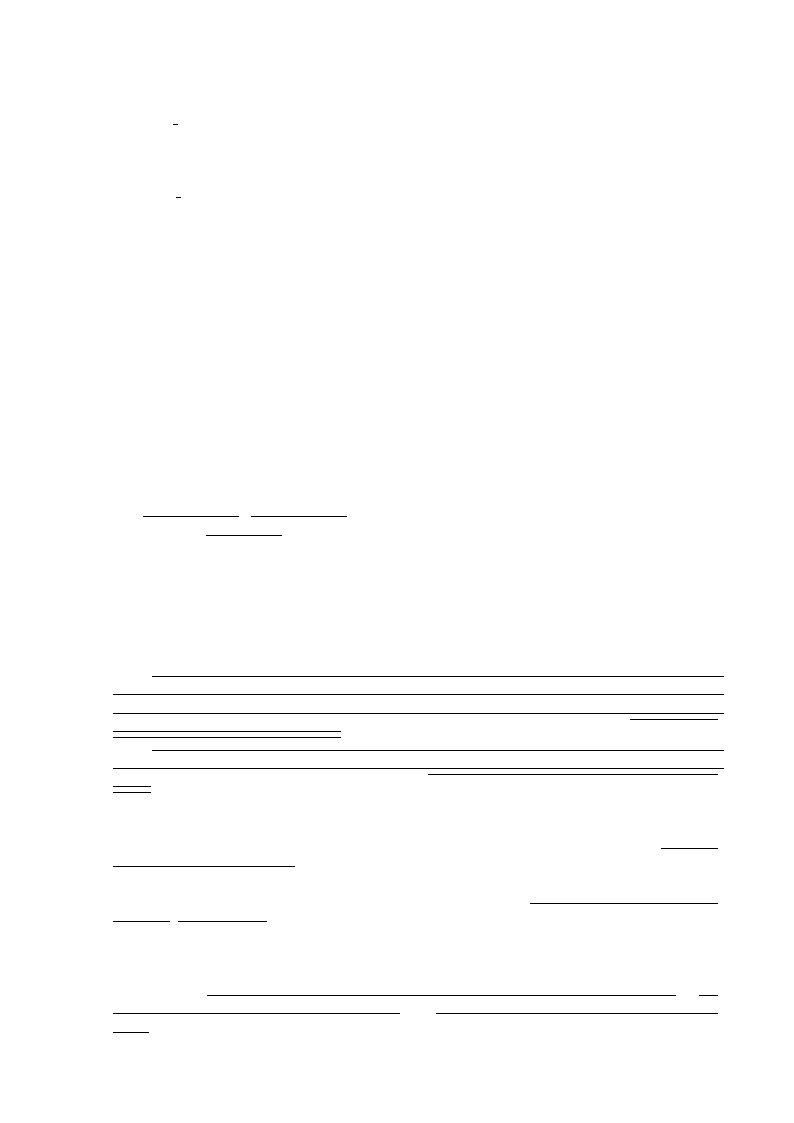
154
§ 1o O Cadastro a que se refere este artigo conterá os dados principais de cada unidade
de conservação, incluindo, dentre outras características relevantes, informações sobre espécies
ameaçadas de extinção, situação fundiária, recursos hídricos, clima, solos e aspectos
socioculturais e antropológicos.
§ 2o O Ministério do Meio Ambiente divulgará e colocará à disposição do público
interessado os dados constantes do Cadastro.
Art. 51. O Poder Executivo Federal submeterá à apreciação do Congresso Nacional, a
cada dois anos, um relatório de avaliação global da situação das unidades de conservação
federais do País.
Art. 52. Os mapas e cartas oficiais devem indicar as áreas que compõem o SNUC.
Art. 53. O Ibama elaborará e divulgará periodicamente uma relação revista e atualizada
das espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção no território brasileiro.
Parágrafo único. O Ibama incentivará os competentes órgãos estaduais e municipais a
elaborarem relações equivalentes abrangendo suas respectivas áreas de jurisdição.
Art. 54. O Ibama, excepcionalmente, pode permitir a captura de exemplares de espécies
ameaçadas de extinção destinadas a programas de criação em cativeiro ou formação de
coleções científicas, de acordo com o disposto nesta Lei e em regulamentação específica.
Art. 55. As unidades de conservação e áreas protegidas criadas com base nas legislações
anteriores e que não pertençam às categorias previstas nesta Lei serão reavaliadas, no todo ou
em parte, no prazo de até dois anos, com o objetivo de definir sua destinação com base na
categoria e função para as quais foram criadas, conforme o disposto no regulamento desta
Lei. (Regulamento) (Regulamento)
Art. 56. (VETADO)
Art. 57. Os órgãos federais responsáveis pela execução das políticas ambiental e
indigenista deverão instituir grupos de trabalho para, no prazo de cento e oitenta dias a partir
da vigência desta Lei, propor as diretrizes a serem adotadas com vistas à regularização das
eventuais superposições entre áreas indígenas e unidades de conservação.
Parágrafo único. No ato de criação dos grupos de trabalho serão fixados os participantes,
bem como a estratégia de ação e a abrangência dos trabalhos, garantida a participação das
comunidades envolvidas.
Art. 57-A. O Poder Executivo estabelecerá os limites para o plantio de organismos
geneticamente modificados nas áreas que circundam as unidades de conservação, até que seja
fixada sua zona de amortecimento e aprovado o seu respectivo Plano de Manejo. (Incluído pela
Medida Provisória nº 327, de 2006)
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às Áreas de Proteção Ambiental e
Reservas de Particulares do Patrimônio Natural. (Incluído pela Medida Provisória nº 327, de
2006)
Art. 57-A. O Poder Executivo estabelecerá os limites para o plantio de organismos
geneticamente modificados nas áreas que circundam as unidades de conservação até que seja
fixada sua zona de amortecimento e aprovado o seu respectivo Plano de Manejo. (Incluído
pela Lei nº 11.460, de 2007)
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica às Áreas de Proteção
Ambiental e Reservas de Particulares do Patrimônio Nacional. (Incluído pela Lei nº 11.460,
de 2007) Regulamento.
Art. 58. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for necessário à sua
aplicação, no prazo de cento e oitenta dias a partir da data de sua publicação.
Art. 59. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60. Revogam-se os arts. 5o e 6o da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965; o art.
5o da Lei no 5.197, de 3 de janeiro de 1967; e o art. 18 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de
1981.

Brasília, 18 de julho de 2000; 179o da Independência e 112o da República.
MARCO
ANTONIO
DE
OLIVEIRA
José Sarney Filho
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 19.7.2000
155
MACIEL
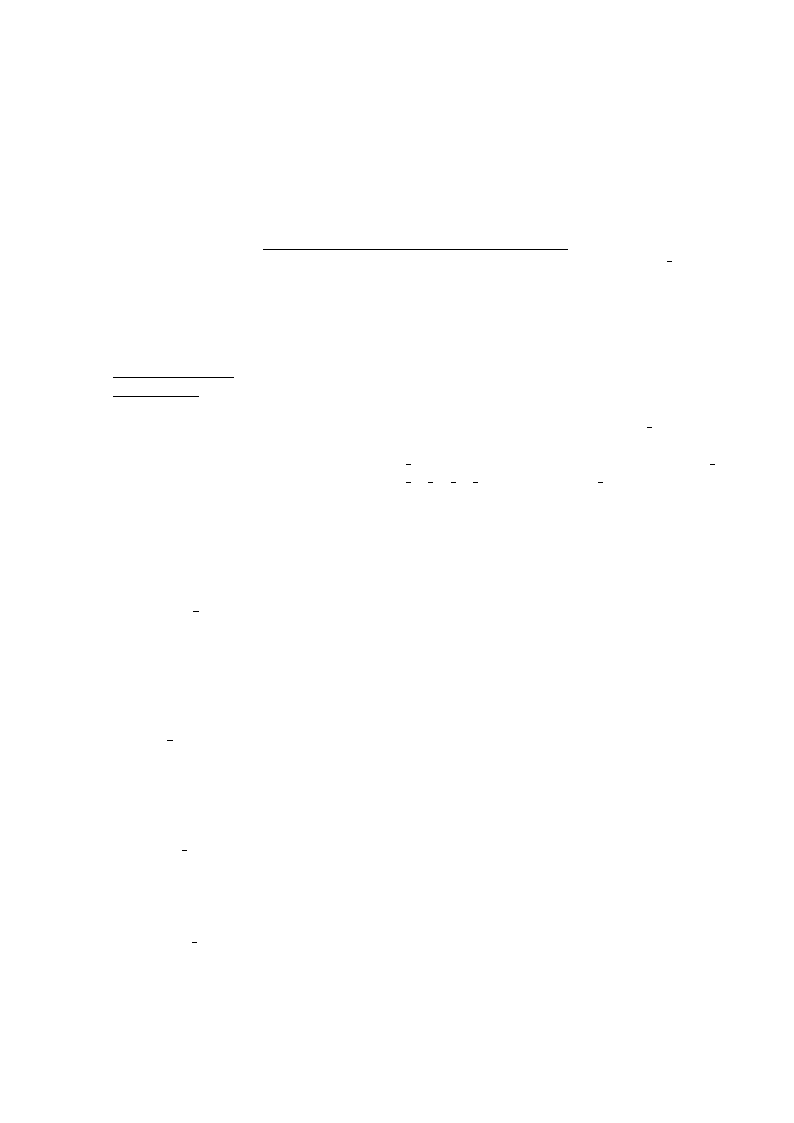
156
3 LEI 11.105/2005
Mensagem de veto
Regulamento
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 11.105, DE 24 DE MARÇO DE 2005.
Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do art.
225 da Constituição Federal, estabelece normas
de segurança e mecanismos de fiscalização de
atividades que envolvam organismos
geneticamente modificados – OGM e seus
derivados, cria o Conselho Nacional de
Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio,
dispõe sobre a Política Nacional de
Biossegurança – PNB, revoga a Lei no 8.974, de
5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória
no 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5o,
6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da Lei no 10.814, de 15 de
dezembro de 2003, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E GERAIS
Art. 1o Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a
construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação,
a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no
meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados – OGM e seus
derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e
biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância do
princípio da precaução para a proteção do meio ambiente.
§ 1o Para os fins desta Lei, considera-se atividade de pesquisa a realizada em laboratório,
regime de contenção ou campo, como parte do processo de obtenção de OGM e seus
derivados ou de avaliação da biossegurança de OGM e seus derivados, o que engloba, no
âmbito experimental, a construção, o cultivo, a manipulação, o transporte, a transferência, a
importação, a exportação, o armazenamento, a liberação no meio ambiente e o descarte de
OGM e seus derivados.
§ 2o Para os fins desta Lei, considera-se atividade de uso comercial de OGM e seus
derivados a que não se enquadra como atividade de pesquisa, e que trata do cultivo, da
produção, da manipulação, do transporte, da transferência, da comercialização, da importação,
da exportação, do armazenamento, do consumo, da liberação e do descarte de OGM e seus
derivados para fins comerciais.
Art. 2o As atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados, relacionados ao
ensino com manipulação de organismos vivos, à pesquisa científica, ao desenvolvimento
tecnológico e à produção industrial ficam restritos ao âmbito de entidades de direito público
ou privado, que serão responsáveis pela obediência aos preceitos desta Lei e de sua
regulamentação, bem como pelas eventuais conseqüências ou efeitos advindos de seu
descumprimento.
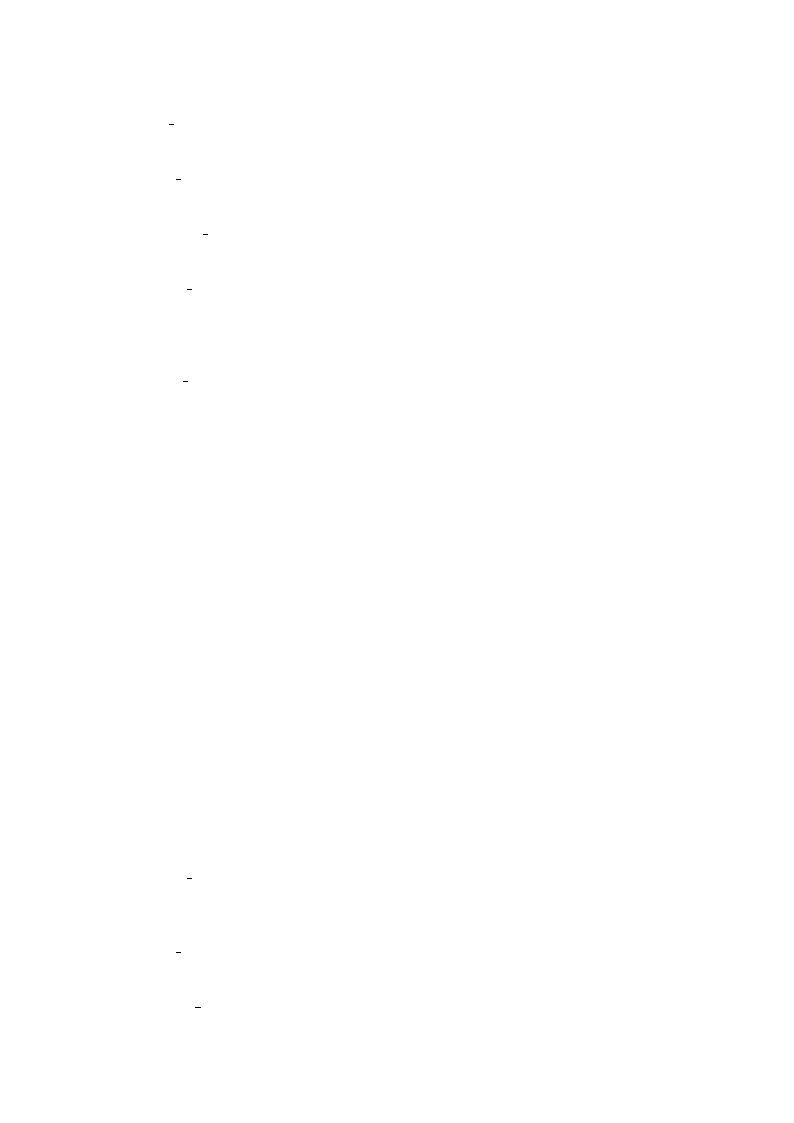
157
§ 1o Para os fins desta Lei, consideram-se atividades e projetos no âmbito de entidade os
conduzidos em instalações próprias ou sob a responsabilidade administrativa, técnica ou
científica da entidade.
§ 2o As atividades e projetos de que trata este artigo são vedados a pessoas físicas em
atuação autônoma e independente, ainda que mantenham vínculo empregatício ou qualquer
outro com pessoas jurídicas.
§ 3o Os interessados em realizar atividade prevista nesta Lei deverão requerer
autorização à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, que se manifestará no
prazo fixado em regulamento.
§ 4o As organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais,
financiadoras ou patrocinadoras de atividades ou de projetos referidos no caput deste artigo
devem exigir a apresentação de Certificado de Qualidade em Biossegurança, emitido pela
CTNBio, sob pena de se tornarem co-responsáveis pelos eventuais efeitos decorrentes do
descumprimento desta Lei ou de sua regulamentação.
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – organismo: toda entidade biológica capaz de reproduzir ou transferir material
genético, inclusive vírus e outras classes que venham a ser conhecidas;
II – ácido desoxirribonucléico - ADN, ácido ribonucléico - ARN: material genético que
contém informações determinantes dos caracteres hereditários transmissíveis à descendência;
III – moléculas de ADN/ARN recombinante: as moléculas manipuladas fora das células
vivas mediante a modificação de segmentos de ADN/ARN natural ou sintético e que possam
multiplicar-se em uma célula viva, ou ainda as moléculas de ADN/ARN resultantes dessa
multiplicação; consideram-se também os segmentos de ADN/ARN sintéticos equivalentes aos
de ADN/ARN natural;
IV – engenharia genética: atividade de produção e manipulação de moléculas de
ADN/ARN recombinante;
V – organismo geneticamente modificado - OGM: organismo cujo material genético –
ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética;
VI – derivado de OGM: produto obtido de OGM e que não possua capacidade autônoma
de replicação ou que não contenha forma viável de OGM;
VII – célula germinal humana: célula-mãe responsável pela formação de gametas
presentes nas glândulas sexuais femininas e masculinas e suas descendentes diretas em
qualquer grau de ploidia;
VIII – clonagem: processo de reprodução assexuada, produzida artificialmente, baseada
em um único patrimônio genético, com ou sem utilização de técnicas de engenharia genética;
IX – clonagem para fins reprodutivos: clonagem com a finalidade de obtenção de um
indivíduo;
X – clonagem terapêutica: clonagem com a finalidade de produção de células-tronco
embrionárias para utilização terapêutica;
XI – células-tronco embrionárias: células de embrião que apresentam a capacidade de se
transformar em células de qualquer tecido de um organismo.
§ 1o Não se inclui na categoria de OGM o resultante de técnicas que impliquem a
introdução direta, num organismo, de material hereditário, desde que não envolvam a
utilização de moléculas de ADN/ARN recombinante ou OGM, inclusive fecundação in vitro,
conjugação, transdução, transformação, indução poliplóide e qualquer outro processo natural.
§ 2o Não se inclui na categoria de derivado de OGM a substância pura, quimicamente
definida, obtida por meio de processos biológicos e que não contenha OGM, proteína
heteróloga ou ADN recombinante.
Art. 4o Esta Lei não se aplica quando a modificação genética for obtida por meio das
seguintes técnicas, desde que não impliquem a utilização de OGM como receptor ou doador:
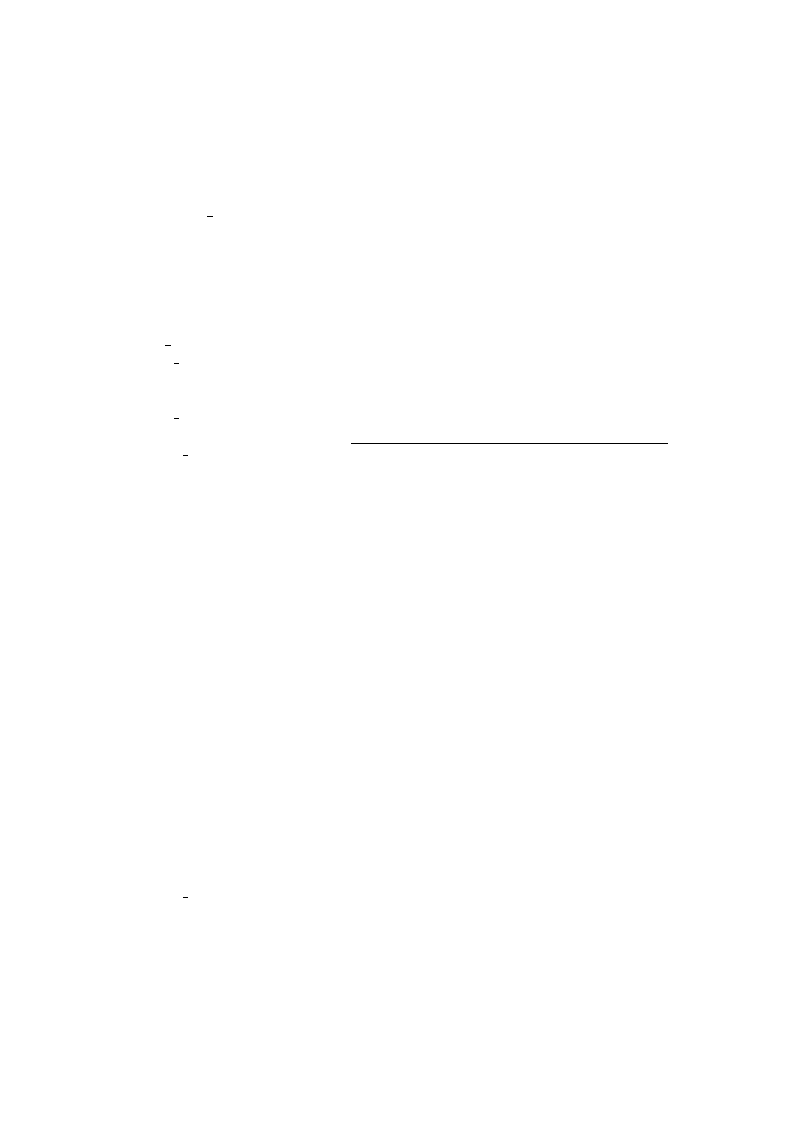
158
I – mutagênese;
II – formação e utilização de células somáticas de hibridoma animal;
III – fusão celular, inclusive a de protoplasma, de células vegetais, que possa ser
produzida mediante métodos tradicionais de cultivo;
IV – autoclonagem de organismos não-patogênicos que se processe de maneira natural.
Art. 5o É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco
embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não
utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições:
I – sejam embriões inviáveis; ou
II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação desta Lei,
ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos,
contados a partir da data de congelamento.
§ 1o Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores.
§ 2o Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com
células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e
aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa.
§ 3o É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e sua
prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de fevereiro de 1997.
Art. 6o Fica proibido:
I – implementação de projeto relativo a OGM sem a manutenção de registro de seu
acompanhamento individual;
II – engenharia genética em organismo vivo ou o manejo in vitro de ADN/ARN natural
ou recombinante, realizado em desacordo com as normas previstas nesta Lei;
III – engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano e embrião humano;
IV – clonagem humana;
V – destruição ou descarte no meio ambiente de OGM e seus derivados em desacordo
com as normas estabelecidas pela CTNBio, pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização,
referidos no art. 16 desta Lei, e as constantes desta Lei e de sua regulamentação;
VI – liberação no meio ambiente de OGM ou seus derivados, no âmbito de atividades de
pesquisa, sem a decisão técnica favorável da CTNBio e, nos casos de liberação comercial,
sem o parecer técnico favorável da CTNBio, ou sem o licenciamento do órgão ou entidade
ambiental responsável, quando a CTNBio considerar a atividade como potencialmente
causadora de degradação ambiental, ou sem a aprovação do Conselho Nacional de
Biossegurança – CNBS, quando o processo tenha sido por ele avocado, na forma desta Lei e
de sua regulamentação;
VII – a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de
tecnologias genéticas de restrição do uso.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de
restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de
plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como
qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes
relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos.
Art. 7o São obrigatórias:
I – a investigação de acidentes ocorridos no curso de pesquisas e projetos na área de
engenharia genética e o envio de relatório respectivo à autoridade competente no prazo
máximo de 5 (cinco) dias a contar da data do evento;
II – a notificação imediata à CTNBio e às autoridades da saúde pública, da defesa
agropecuária e do meio ambiente sobre acidente que possa provocar a disseminação de OGM
e seus derivados;
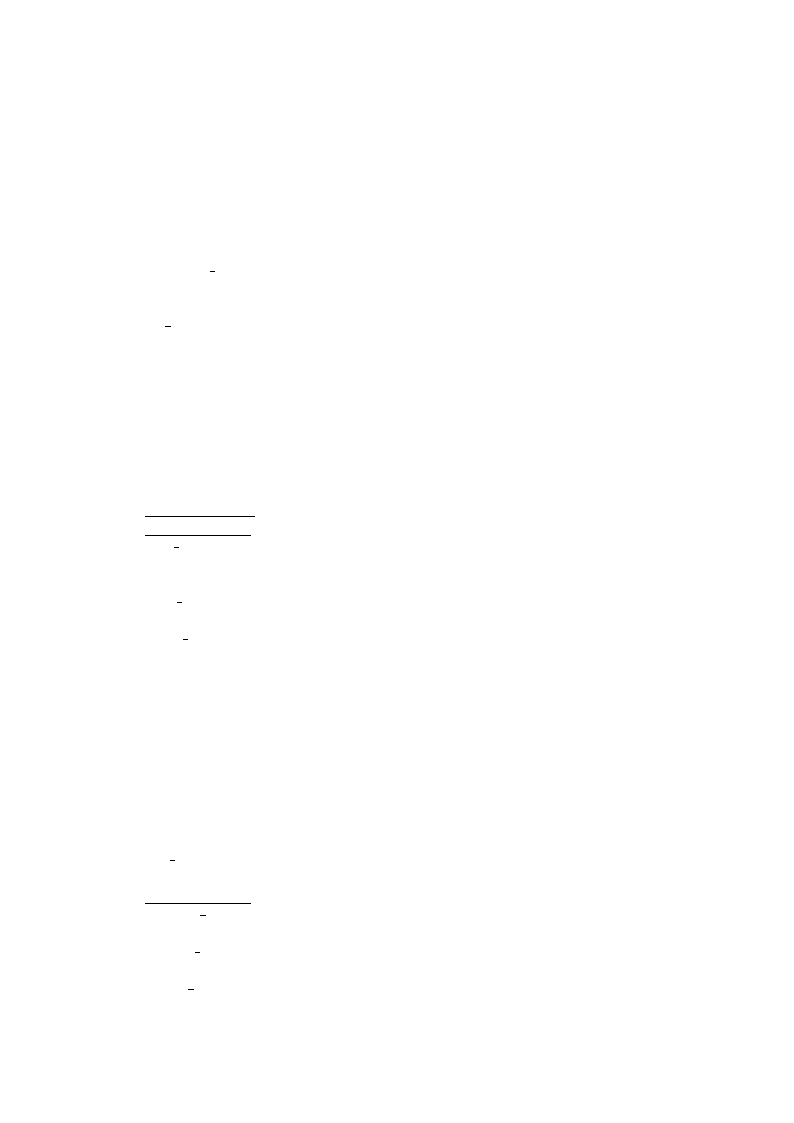
159
III – a adoção de meios necessários para plenamente informar à CTNBio, às autoridades
da saúde pública, do meio ambiente, da defesa agropecuária, à coletividade e aos demais
empregados da instituição ou empresa sobre os riscos a que possam estar submetidos, bem
como os procedimentos a serem tomados no caso de acidentes com OGM.
CAPÍTULO II
Do Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS
Art. 8o Fica criado o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, vinculado à
Presidência da República, órgão de assessoramento superior do Presidente da República para
a formulação e implementação da Política Nacional de Biossegurança – PNB.
§ 1o Compete ao CNBS:
I – fixar princípios e diretrizes para a ação administrativa dos órgãos e entidades federais
com competências sobre a matéria;
II – analisar, a pedido da CTNBio, quanto aos aspectos da conveniência e oportunidade
socioeconômicas e do interesse nacional, os pedidos de liberação para uso comercial de OGM
e seus derivados;
III – avocar e decidir, em última e definitiva instância, com base em manifestação da
CTNBio e, quando julgar necessário, dos órgãos e entidades referidos no art. 16 desta Lei, no
âmbito de suas competências, sobre os processos relativos a atividades que envolvam o uso
comercial de OGM e seus derivados;
IV – (VETADO)
§ 2o (VETADO)
§ 3o Sempre que o CNBS deliberar favoravelmente à realização da atividade analisada,
encaminhará sua manifestação aos órgãos e entidades de registro e fiscalização referidos no
art. 16 desta Lei.
§ 4o Sempre que o CNBS deliberar contrariamente à atividade analisada, encaminhará
sua manifestação à CTNBio para informação ao requerente.
Art. 9o O CNBS é composto pelos seguintes membros:
I – Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que o presidirá;
II – Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia;
III – Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário;
IV – Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
V – Ministro de Estado da Justiça;
VI – Ministro de Estado da Saúde;
VII – Ministro de Estado do Meio Ambiente;
VIII – Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
IX – Ministro de Estado das Relações Exteriores;
X – Ministro de Estado da Defesa;
XI – Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República.
§ 1o O CNBS reunir-se-á sempre que convocado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa
Civil da Presidência da República, ou mediante provocação da maioria de seus membros.
§ 2o (VETADO)
§ 3o Poderão ser convidados a participar das reuniões, em caráter excepcional,
representantes do setor público e de entidades da sociedade civil.
§ 4o O CNBS contará com uma Secretaria-Executiva, vinculada à Casa Civil da
Presidência da República.
§ 5o A reunião do CNBS poderá ser instalada com a presença de 6 (seis) de seus
membros e as decisões serão tomadas com votos favoráveis da maioria absoluta.

160
CAPÍTULO III
Da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio
Art. 10. A CTNBio, integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia, é instância
colegiada multidisciplinar de caráter consultivo e deliberativo, para prestar apoio técnico e de
assessoramento ao Governo Federal na formulação, atualização e implementação da PNB de
OGM e seus derivados, bem como no estabelecimento de normas técnicas de segurança e de
pareceres técnicos referentes à autorização para atividades que envolvam pesquisa e uso
comercial de OGM e seus derivados, com base na avaliação de seu risco zoofitossanitário, à
saúde humana e ao meio ambiente.
Parágrafo único. A CTNBio deverá acompanhar o desenvolvimento e o progresso
técnico e científico nas áreas de biossegurança, biotecnologia, bioética e afins, com o objetivo
de aumentar sua capacitação para a proteção da saúde humana, dos animais e das plantas e do
meio ambiente.
Art. 11. A CTNBio, composta de membros titulares e suplentes, designados pelo
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, será constituída por 27 (vinte e sete) cidadãos
brasileiros de reconhecida competência técnica, de notória atuação e saber científicos, com
grau acadêmico de doutor e com destacada atividade profissional nas áreas de biossegurança,
biotecnologia, biologia, saúde humana e animal ou meio ambiente, sendo:
I – 12 (doze) especialistas de notório saber científico e técnico, em efetivo exercício
profissional, sendo:
a) 3 (três) da área de saúde humana;
b) 3 (três) da área animal;
c) 3 (três) da área vegetal;
d) 3 (três) da área de meio ambiente;
II – um representante de cada um dos seguintes órgãos, indicados pelos respectivos
titulares:
a) Ministério da Ciência e Tecnologia;
b) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
c) Ministério da Saúde;
d) Ministério do Meio Ambiente;
e) Ministério do Desenvolvimento Agrário;
f) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
g) Ministério da Defesa;
h) Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República;
i) Ministério das Relações Exteriores;
III – um especialista em defesa do consumidor, indicado pelo Ministro da Justiça;
IV – um especialista na área de saúde, indicado pelo Ministro da Saúde;
V – um especialista em meio ambiente, indicado pelo Ministro do Meio Ambiente;
VI – um especialista em biotecnologia, indicado pelo Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento;
VII – um especialista em agricultura familiar, indicado pelo Ministro do
Desenvolvimento Agrário;
VIII – um especialista em saúde do trabalhador, indicado pelo Ministro do Trabalho e
Emprego.
§ 1o Os especialistas de que trata o inciso I do caput deste artigo serão escolhidos a partir
de lista tríplice, elaborada com a participação das sociedades científicas, conforme disposto
em regulamento.
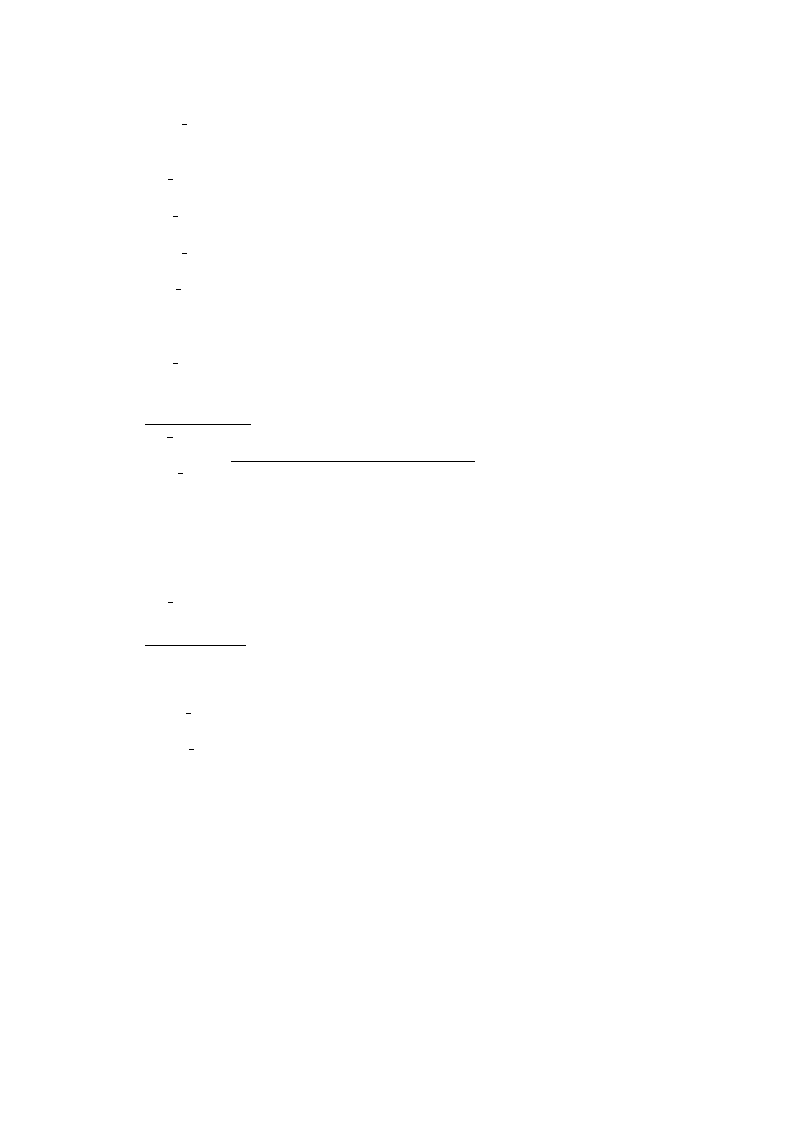
161
§ 2o Os especialistas de que tratam os incisos III a VIII do caput deste artigo serão
escolhidos a partir de lista tríplice, elaborada pelas organizações da sociedade civil, conforme
disposto em regulamento.
§ 3o Cada membro efetivo terá um suplente, que participará dos trabalhos na ausência do
titular.
§ 4o Os membros da CTNBio terão mandato de 2 (dois) anos, renovável por até mais 2
(dois) períodos consecutivos.
§ 5o O presidente da CTNBio será designado, entre seus membros, pelo Ministro da
Ciência e Tecnologia para um mandato de 2 (dois) anos, renovável por igual período.
§ 6o Os membros da CTNBio devem pautar a sua atuação pela observância estrita dos
conceitos ético-profissionais, sendo vedado participar do julgamento de questões com as quais
tenham algum envolvimento de ordem profissional ou pessoal, sob pena de perda de mandato,
na forma do regulamento.
§ 7o A reunião da CTNBio poderá ser instalada com a presença de 14 (catorze) de seus
membros, incluído pelo menos um representante de cada uma das áreas referidas no inciso I
do caput deste artigo.
§ 8o (VETADO)
§ 8o-A As decisões da CTNBio serão tomadas com votos favoráveis da maioria absoluta
de seus membros. (Incluído pela Lei nº 11.460, de 2007)
§ 9o Órgãos e entidades integrantes da administração pública federal poderão solicitar
participação nas reuniões da CTNBio para tratar de assuntos de seu especial interesse, sem
direito a voto.
§ 10. Poderão ser convidados a participar das reuniões, em caráter excepcional,
representantes da comunidade científica e do setor público e entidades da sociedade civil, sem
direito a voto.
Art. 12. O funcionamento da CTNBio será definido pelo regulamento desta Lei.
§ 1o A CTNBio contará com uma Secretaria-Executiva e cabe ao Ministério da Ciência e
Tecnologia prestar-lhe o apoio técnico e administrativo.
§ 2o (VETADO)
Art. 13. A CTNBio constituirá subcomissões setoriais permanentes na área de saúde
humana, na área animal, na área vegetal e na área ambiental, e poderá constituir subcomissões
extraordinárias, para análise prévia dos temas a serem submetidos ao plenário da Comissão.
§ 1o Tanto os membros titulares quanto os suplentes participarão das subcomissões
setoriais e caberá a todos a distribuição dos processos para análise.
§ 2o O funcionamento e a coordenação dos trabalhos nas subcomissões setoriais e
extraordinárias serão definidos no regimento interno da CTNBio.
Art. 14. Compete à CTNBio:
I – estabelecer normas para as pesquisas com OGM e derivados de OGM;
II – estabelecer normas relativamente às atividades e aos projetos relacionados a OGM e
seus derivados;
III – estabelecer, no âmbito de suas competências, critérios de avaliação e
monitoramento de risco de OGM e seus derivados;
IV – proceder à análise da avaliação de risco, caso a caso, relativamente a atividades e
projetos que envolvam OGM e seus derivados;
V – estabelecer os mecanismos de funcionamento das Comissões Internas de
Biossegurança – CIBio, no âmbito de cada instituição que se dedique ao ensino, à pesquisa
científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial que envolvam OGM ou
seus derivados;

162
VI – estabelecer requisitos relativos à biossegurança para autorização de funcionamento
de laboratório, instituição ou empresa que desenvolverá atividades relacionadas a OGM e seus
derivados;
VII – relacionar-se com instituições voltadas para a biossegurança de OGM e seus
derivados, em âmbito nacional e internacional;
VIII – autorizar, cadastrar e acompanhar as atividades de pesquisa com OGM ou
derivado de OGM, nos termos da legislação em vigor;
IX – autorizar a importação de OGM e seus derivados para atividade de pesquisa;
X – prestar apoio técnico consultivo e de assessoramento ao CNBS na formulação da
PNB de OGM e seus derivados;
XI – emitir Certificado de Qualidade em Biossegurança – CQB para o desenvolvimento
de atividades com OGM e seus derivados em laboratório, instituição ou empresa e enviar
cópia do processo aos órgãos de registro e fiscalização referidos no art. 16 desta Lei;
XII – emitir decisão técnica, caso a caso, sobre a biossegurança de OGM e seus
derivados no âmbito das atividades de pesquisa e de uso comercial de OGM e seus derivados,
inclusive a classificação quanto ao grau de risco e nível de biossegurança exigido, bem como
medidas de segurança exigidas e restrições ao uso;
XIII – definir o nível de biossegurança a ser aplicado ao OGM e seus usos, e os
respectivos procedimentos e medidas de segurança quanto ao seu uso, conforme as normas
estabelecidas na regulamentação desta Lei, bem como quanto aos seus derivados;
XIV – classificar os OGM segundo a classe de risco, observados os critérios
estabelecidos no regulamento desta Lei;
XV – acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico-científico na biossegurança
de OGM e seus derivados;
XVI – emitir resoluções, de natureza normativa, sobre as matérias de sua competência;
XVII – apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de prevenção e
investigação de acidentes e de enfermidades, verificados no curso dos projetos e das
atividades com técnicas de ADN/ARN recombinante;
XVIII – apoiar tecnicamente os órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no
art. 16 desta Lei, no exercício de suas atividades relacionadas a OGM e seus derivados;
XIX – divulgar no Diário Oficial da União, previamente à análise, os extratos dos pleitos
e, posteriormente, dos pareceres dos processos que lhe forem submetidos, bem como dar
ampla publicidade no Sistema de Informações em Biossegurança – SIB a sua agenda,
processos em trâmite, relatórios anuais, atas das reuniões e demais informações sobre suas
atividades, excluídas as informações sigilosas, de interesse comercial, apontadas pelo
proponente e assim consideradas pela CTNBio;
XX – identificar atividades e produtos decorrentes do uso de OGM e seus derivados
potencialmente causadores de degradação do meio ambiente ou que possam causar riscos à
saúde humana;
XXI – reavaliar suas decisões técnicas por solicitação de seus membros ou por recurso
dos órgãos e entidades de registro e fiscalização, fundamentado em fatos ou conhecimentos
científicos novos, que sejam relevantes quanto à biossegurança do OGM ou derivado, na
forma desta Lei e seu regulamento;
XXII – propor a realização de pesquisas e estudos científicos no campo da biossegurança
de OGM e seus derivados;
XXIII – apresentar proposta de regimento interno ao Ministro da Ciência e Tecnologia.
§ 1o Quanto aos aspectos de biossegurança do OGM e seus derivados, a decisão técnica
da CTNBio vincula os demais órgãos e entidades da administração.
§ 2o Nos casos de uso comercial, dentre outros aspectos técnicos de sua análise, os
órgãos de registro e fiscalização, no exercício de suas atribuições em caso de solicitação pela
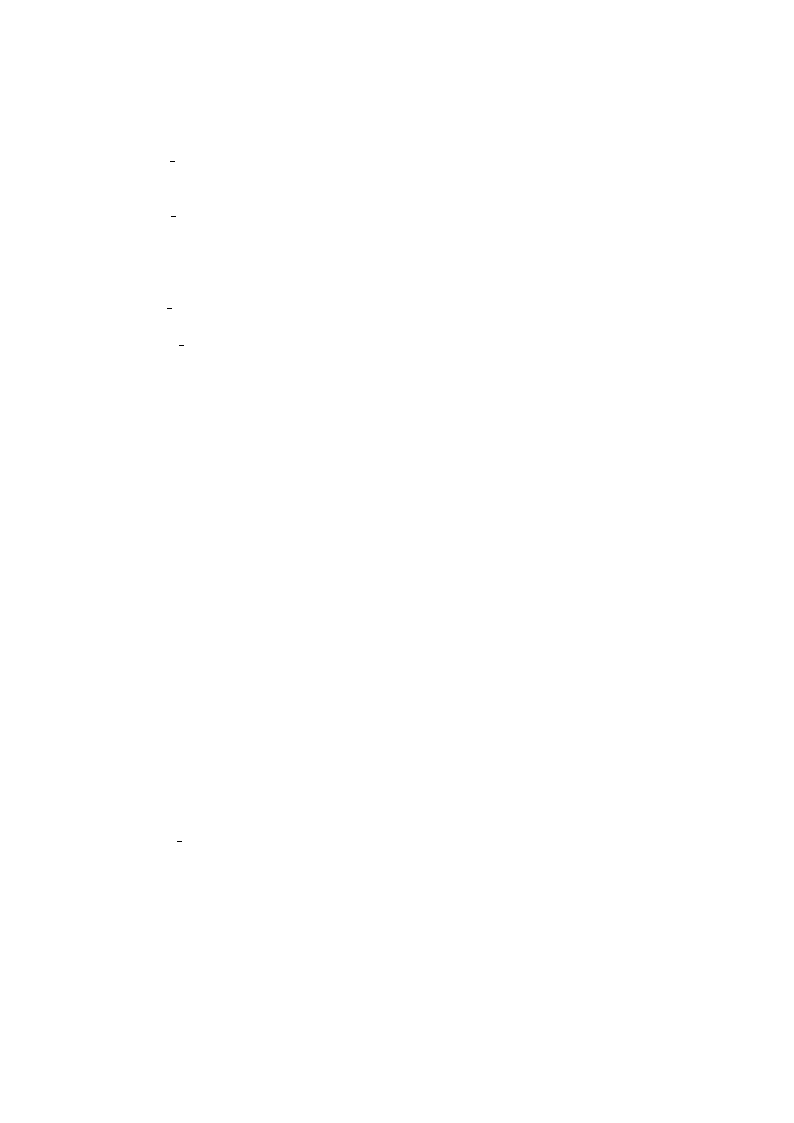
163
CTNBio, observarão, quanto aos aspectos de biossegurança do OGM e seus derivados, a
decisão técnica da CTNBio.
§ 3o Em caso de decisão técnica favorável sobre a biossegurança no âmbito da atividade
de pesquisa, a CTNBio remeterá o processo respectivo aos órgãos e entidades referidos no art.
16 desta Lei, para o exercício de suas atribuições.
§ 4o A decisão técnica da CTNBio deverá conter resumo de sua fundamentação técnica,
explicitar as medidas de segurança e restrições ao uso do OGM e seus derivados e considerar
as particularidades das diferentes regiões do País, com o objetivo de orientar e subsidiar os
órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, no exercício de
suas atribuições.
§ 5o Não se submeterá a análise e emissão de parecer técnico da CTNBio o derivado cujo
OGM já tenha sido por ela aprovado.
§ 6o As pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em qualquer das fases do processo de
produção agrícola, comercialização ou transporte de produto geneticamente modificado que
tenham obtido a liberação para uso comercial estão dispensadas de apresentação do CQB e
constituição de CIBio, salvo decisão em contrário da CTNBio.
Art. 15. A CTNBio poderá realizar audiências públicas, garantida participação da
sociedade civil, na forma do regulamento.
Parágrafo único. Em casos de liberação comercial, audiência pública poderá ser
requerida por partes interessadas, incluindo-se entre estas organizações da sociedade civil que
comprovem interesse relacionado à matéria, na forma do regulamento.
CAPÍTULO IV
Dos órgãos e entidades de registro e fiscalização
Art. 16. Caberá aos órgãos e entidades de registro e fiscalização do Ministério da Saúde,
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Meio Ambiente, e
da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República entre outras
atribuições, no campo de suas competências, observadas a decisão técnica da CTNBio, as
deliberações do CNBS e os mecanismos estabelecidos nesta Lei e na sua regulamentação:
I – fiscalizar as atividades de pesquisa de OGM e seus derivados;
II – registrar e fiscalizar a liberação comercial de OGM e seus derivados;
III – emitir autorização para a importação de OGM e seus derivados para uso comercial;
IV – manter atualizado no SIB o cadastro das instituições e responsáveis técnicos que
realizam atividades e projetos relacionados a OGM e seus derivados;
V – tornar públicos, inclusive no SIB, os registros e autorizações concedidas;
VI – aplicar as penalidades de que trata esta Lei;
VII – subsidiar a CTNBio na definição de quesitos de avaliação de biossegurança de
OGM e seus derivados.
§ 1o Após manifestação favorável da CTNBio, ou do CNBS, em caso de avocação ou
recurso, caberá, em decorrência de análise específica e decisão pertinente:
I – ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento emitir as autorizações e
registros e fiscalizar produtos e atividades que utilizem OGM e seus derivados destinados a
uso animal, na agricultura, pecuária, agroindústria e áreas afins, de acordo com a legislação
em vigor e segundo o regulamento desta Lei;
II – ao órgão competente do Ministério da Saúde emitir as autorizações e registros e
fiscalizar produtos e atividades com OGM e seus derivados destinados a uso humano,
farmacológico, domissanitário e áreas afins, de acordo com a legislação em vigor e segundo o
regulamento desta Lei;
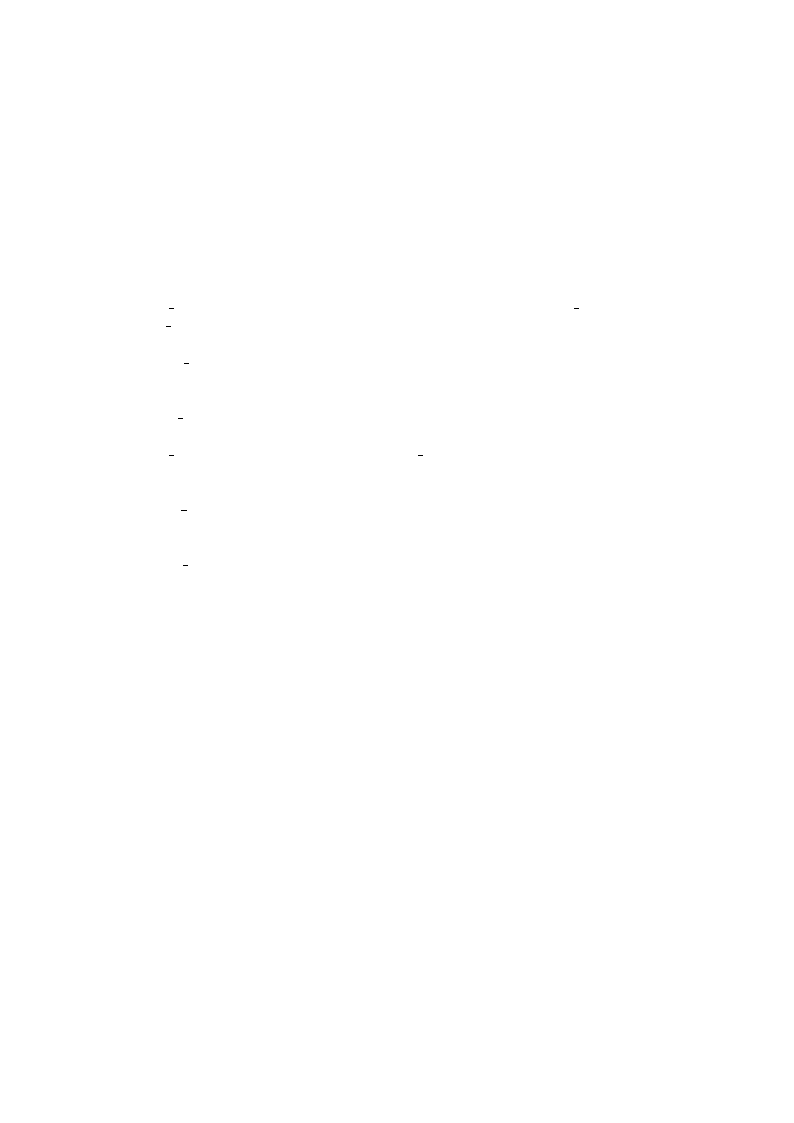
164
III – ao órgão competente do Ministério do Meio Ambiente emitir as autorizações e
registros e fiscalizar produtos e atividades que envolvam OGM e seus derivados a serem
liberados nos ecossistemas naturais, de acordo com a legislação em vigor e segundo o
regulamento desta Lei, bem como o licenciamento, nos casos em que a CTNBio deliberar, na
forma desta Lei, que o OGM é potencialmente causador de significativa degradação do meio
ambiente;
IV – à Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República emitir as
autorizações e registros de produtos e atividades com OGM e seus derivados destinados ao
uso na pesca e aqüicultura, de acordo com a legislação em vigor e segundo esta Lei e seu
regulamento.
§ 2o Somente se aplicam as disposições dos incisos I e II do art. 8o e do caput do art. 10
da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, nos casos em que a CTNBio deliberar que o OGM é
potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente.
§ 3o A CTNBio delibera, em última e definitiva instância, sobre os casos em que a
atividade é potencial ou efetivamente causadora de degradação ambiental, bem como sobre a
necessidade do licenciamento ambiental.
§ 4o A emissão dos registros, das autorizações e do licenciamento ambiental referidos
nesta Lei deverá ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias.
§ 5o A contagem do prazo previsto no § 4o deste artigo será suspensa, por até 180 (cento
e oitenta) dias, durante a elaboração, pelo requerente, dos estudos ou esclarecimentos
necessários.
§ 6o As autorizações e registros de que trata este artigo estarão vinculados à decisão
técnica da CTNBio correspondente, sendo vedadas exigências técnicas que extrapolem as
condições estabelecidas naquela decisão, nos aspectos relacionados à biossegurança.
§ 7o Em caso de divergência quanto à decisão técnica da CTNBio sobre a liberação
comercial de OGM e derivados, os órgãos e entidades de registro e fiscalização, no âmbito de
suas competências, poderão apresentar recurso ao CNBS, no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data de publicação da decisão técnica da CTNBio.
CAPÍTULO V
Da Comissão Interna de Biossegurança – CIBio
Art. 17. Toda instituição que utilizar técnicas e métodos de engenharia genética ou
realizar pesquisas com OGM e seus derivados deverá criar uma Comissão Interna de
Biossegurança - CIBio, além de indicar um técnico principal responsável para cada projeto
específico.
Art. 18. Compete à CIBio, no âmbito da instituição onde constituída:
I – manter informados os trabalhadores e demais membros da coletividade, quando
suscetíveis de serem afetados pela atividade, sobre as questões relacionadas com a saúde e a
segurança, bem como sobre os procedimentos em caso de acidentes;
II – estabelecer programas preventivos e de inspeção para garantir o funcionamento das
instalações sob sua responsabilidade, dentro dos padrões e normas de biossegurança,
definidos pela CTNBio na regulamentação desta Lei;
III – encaminhar à CTNBio os documentos cuja relação será estabelecida na
regulamentação desta Lei, para efeito de análise, registro ou autorização do órgão competente,
quando couber;
IV – manter registro do acompanhamento individual de cada atividade ou projeto em
desenvolvimento que envolvam OGM ou seus derivados;
V – notificar à CTNBio, aos órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no art.
16 desta Lei, e às entidades de trabalhadores o resultado de avaliações de risco a que estão
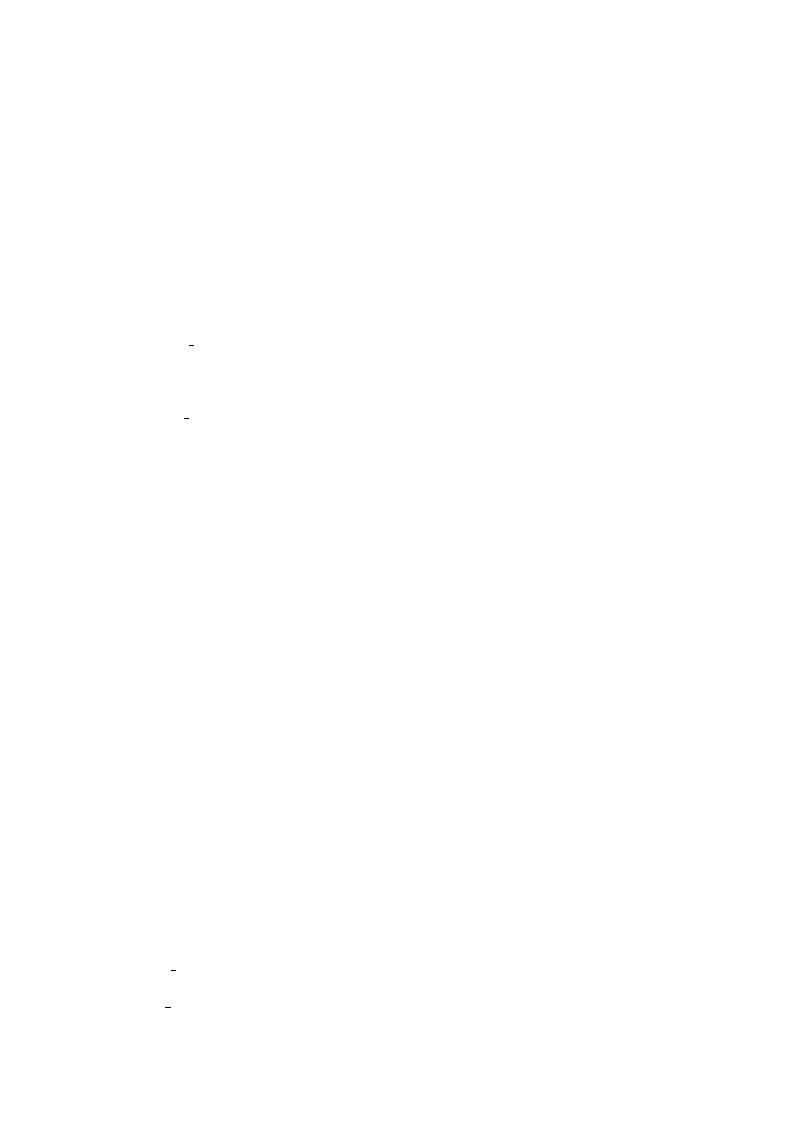
165
submetidas as pessoas expostas, bem como qualquer acidente ou incidente que possa provocar
a disseminação de agente biológico;
VI – investigar a ocorrência de acidentes e as enfermidades possivelmente relacionados a
OGM e seus derivados e notificar suas conclusões e providências à CTNBio.
CAPÍTULO VI
Do Sistema de Informações em Biossegurança – SIB
Art. 19. Fica criado, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Sistema de
Informações em Biossegurança – SIB, destinado à gestão das informações decorrentes das
atividades de análise, autorização, registro, monitoramento e acompanhamento das atividades
que envolvam OGM e seus derivados.
§ 1o As disposições dos atos legais, regulamentares e administrativos que alterem,
complementem ou produzam efeitos sobre a legislação de biossegurança de OGM e seus
derivados deverão ser divulgadas no SIB concomitantemente com a entrada em vigor desses
atos.
§ 2o Os órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei,
deverão alimentar o SIB com as informações relativas às atividades de que trata esta Lei,
processadas no âmbito de sua competência.
CAPÍTULO VII
Da Responsabilidade Civil e Administrativa
Art. 20. Sem prejuízo da aplicação das penas previstas nesta Lei, os responsáveis pelos
danos ao meio ambiente e a terceiros responderão, solidariamente, por sua indenização ou
reparação integral, independentemente da existência de culpa.
Art. 21. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão que viole as normas
previstas nesta Lei e demais disposições legais pertinentes.
Parágrafo único. As infrações administrativas serão punidas na forma estabelecida no
regulamento desta Lei, independentemente das medidas cautelares de apreensão de produtos,
suspensão de venda de produto e embargos de atividades, com as seguintes sanções:
I – advertência;
II – multa;
III – apreensão de OGM e seus derivados;
IV – suspensão da venda de OGM e seus derivados;
V – embargo da atividade;
VI – interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento;
VII – suspensão de registro, licença ou autorização;
VIII – cancelamento de registro, licença ou autorização;
IX – perda ou restrição de incentivo e benefício fiscal concedidos pelo governo;
X – perda ou suspensão da participação em linha de financiamento em estabelecimento
oficial de crédito;
XI – intervenção no estabelecimento;
XII – proibição de contratar com a administração pública, por período de até 5 (cinco)
anos.
Art. 22. Compete aos órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no art. 16
desta Lei, definir critérios, valores e aplicar multas de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), proporcionalmente à gravidade da infração.
§ 1o As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas
neste artigo.
§ 2o No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.
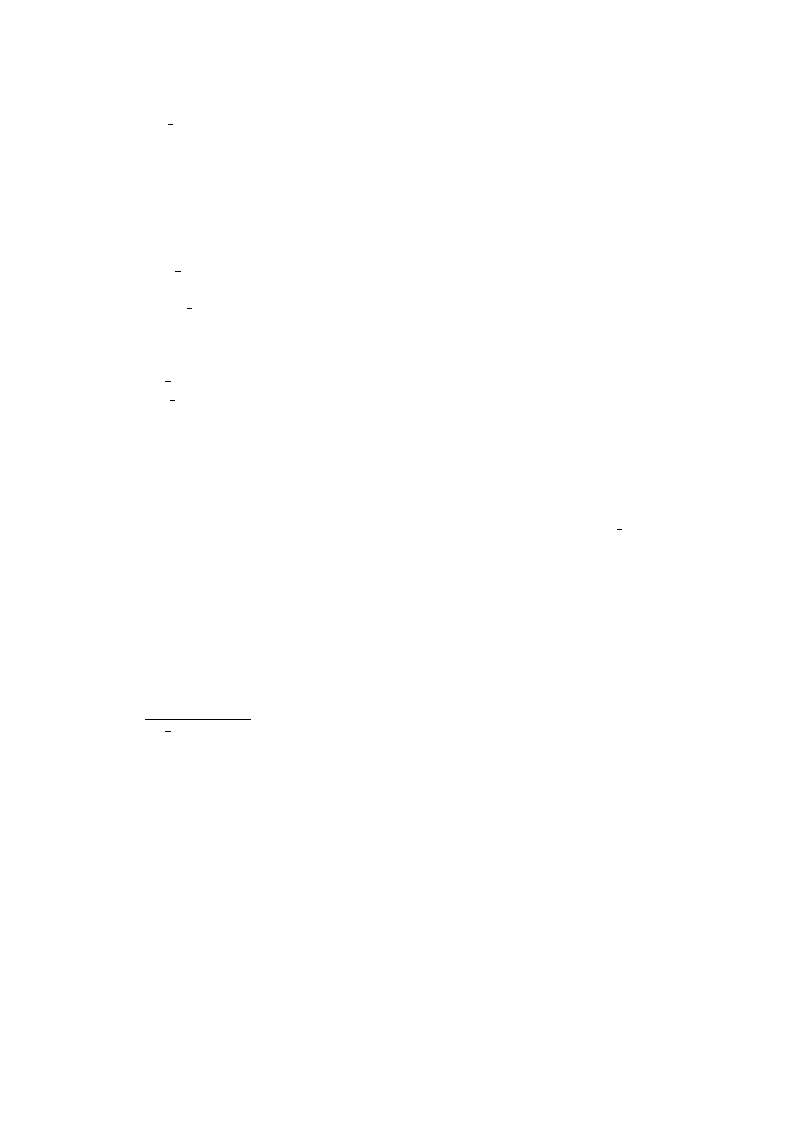
166
§ 3o No caso de infração continuada, caracterizada pela permanência da ação ou omissão
inicialmente punida, será a respectiva penalidade aplicada diariamente até cessar sua causa,
sem prejuízo da paralisação imediata da atividade ou da interdição do laboratório ou da
instituição ou empresa responsável.
Art. 23. As multas previstas nesta Lei serão aplicadas pelos órgãos e entidades de
registro e fiscalização dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde, do
Meio Ambiente e da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República,
referidos no art. 16 desta Lei, de acordo com suas respectivas competências.
§ 1o Os recursos arrecadados com a aplicação de multas serão destinados aos órgãos e
entidades de registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, que aplicarem a multa.
§ 2o Os órgãos e entidades fiscalizadores da administração pública federal poderão
celebrar convênios com os Estados, Distrito Federal e Municípios, para a execução de
serviços relacionados à atividade de fiscalização prevista nesta Lei e poderão repassar-lhes
parcela da receita obtida com a aplicação de multas.
§ 3o A autoridade fiscalizadora encaminhará cópia do auto de infração à CTNBio.
§ 4o Quando a infração constituir crime ou contravenção, ou lesão à Fazenda Pública ou
ao consumidor, a autoridade fiscalizadora representará junto ao órgão competente para
apuração das responsabilidades administrativa e penal.
CAPÍTULO VIII
Dos Crimes e das Penas
Art. 24. Utilizar embrião humano em desacordo com o que dispõe o art. 5o desta Lei:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
Art. 25. Praticar engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano ou
embrião humano:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Art. 26. Realizar clonagem humana:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 27. Liberar ou descartar OGM no meio ambiente, em desacordo com as normas
estabelecidas pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 1o (VETADO)
§ 2o Agrava-se a pena:
I – de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se resultar dano à propriedade alheia;
II – de 1/3 (um terço) até a metade, se resultar dano ao meio ambiente;
III – da metade até 2/3 (dois terços), se resultar lesão corporal de natureza grave em
outrem;
IV – de 2/3 (dois terços) até o dobro, se resultar a morte de outrem.
Art. 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias genéticas de
restrição do uso:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 29. Produzir, armazenar, transportar, comercializar, importar ou exportar OGM ou
seus derivados, sem autorização ou em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio
e pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.
CAPÍTULO IX
Disposições Finais e Transitórias
Art. 30. Os OGM que tenham obtido decisão técnica da CTNBio favorável a sua
liberação comercial até a entrada em vigor desta Lei poderão ser registrados e
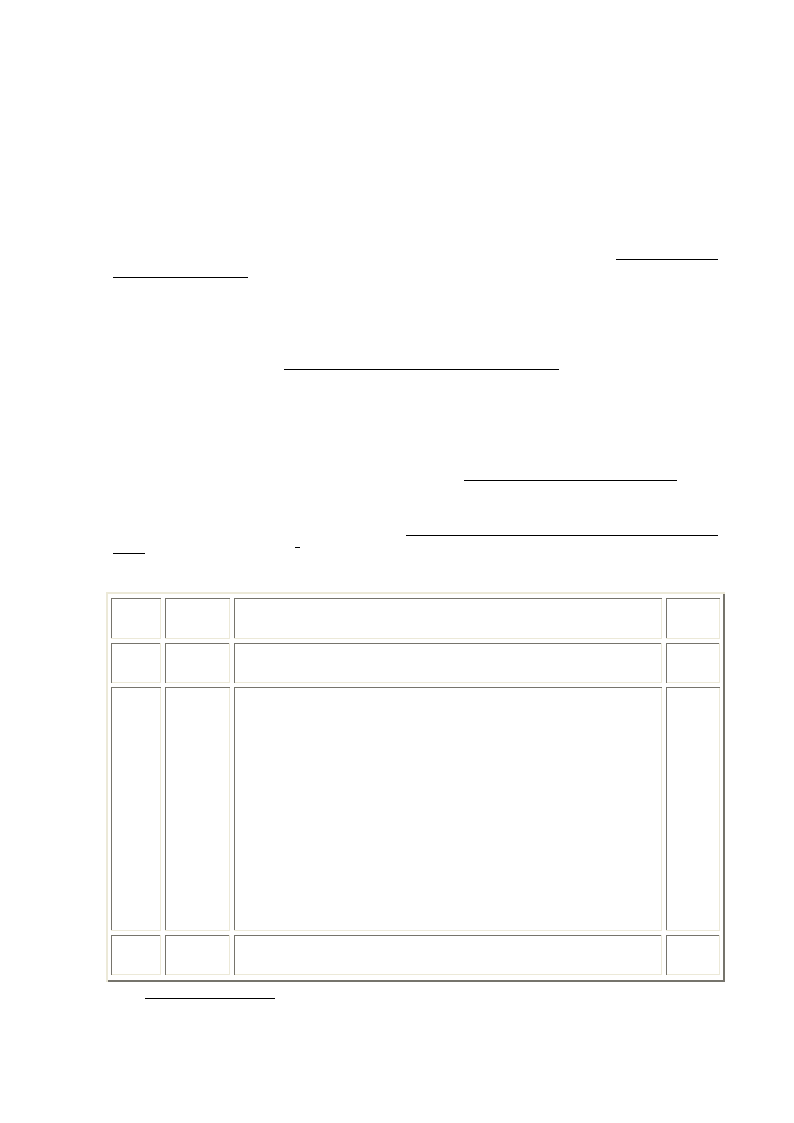
167
comercializados, salvo manifestação contrária do CNBS, no prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data da publicação desta Lei.
Art. 31. A CTNBio e os órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no art. 16
desta Lei, deverão rever suas deliberações de caráter normativo, no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, a fim de promover sua adequação às disposições desta Lei.
Art. 32. Permanecem em vigor os Certificados de Qualidade em Biossegurança,
comunicados e decisões técnicas já emitidos pela CTNBio, bem como, no que não
contrariarem o disposto nesta Lei, os atos normativos emitidos ao amparo da Lei no 8.974, de
5 de janeiro de 1995.
Art. 33. As instituições que desenvolverem atividades reguladas por esta Lei na data de
sua publicação deverão adequar-se as suas disposições no prazo de 120 (cento e vinte) dias,
contado da publicação do decreto que a regulamentar.
Art. 34. Ficam convalidados e tornam-se permanentes os registros provisórios
concedidos sob a égide da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003.
Art. 35. Ficam autorizadas a produção e a comercialização de sementes de cultivares de
soja geneticamente modificadas tolerantes a glifosato registradas no Registro Nacional de
Cultivares - RNC do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Art. 36. Fica autorizado o plantio de grãos de soja geneticamente modificada tolerante a
glifosato, reservados pelos produtores rurais para uso próprio, na safra 2004/2005, sendo
vedada a comercialização da produção como semente. (Vide Decreto nº 5.534, de 2005)
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá prorrogar a autorização de que trata
o caput deste artigo.
Art. 37. A descrição do Código 20 do Anexo VIII da Lei no 6.938, de 31 de agosto de
1981, acrescido pela Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"ANEXO VIII
Códig Categori Descrição
o
a
Pp/gu
........... ............... .......................................................................................................... ............
.
....
.
20 Uso de Silvicultura; exploração econômica da madeira ou lenha e Médio
Recursos subprodutos florestais; importação ou exportação da fauna e flora
Naturais nativas brasileiras; atividade de criação e exploração econômica
de fauna exótica e de fauna silvestre; utilização do patrimônio
genético natural; exploração de recursos aquáticos vivos;
introdução de espécies exóticas, exceto para melhoramento
genético vegetal e uso na agricultura; introdução de espécies
geneticamente modificadas previamente identificadas pela
CTNBio como potencialmente causadoras de significativa
degradação do meio ambiente; uso da diversidade biológica pela
biotecnologia em atividades previamente identificadas pela
CTNBio como potencialmente causadoras de significativa
degradação do meio ambiente.
........... ............... .......................................................................................................... ............
.
.....
.
Art. 38. (VETADO)
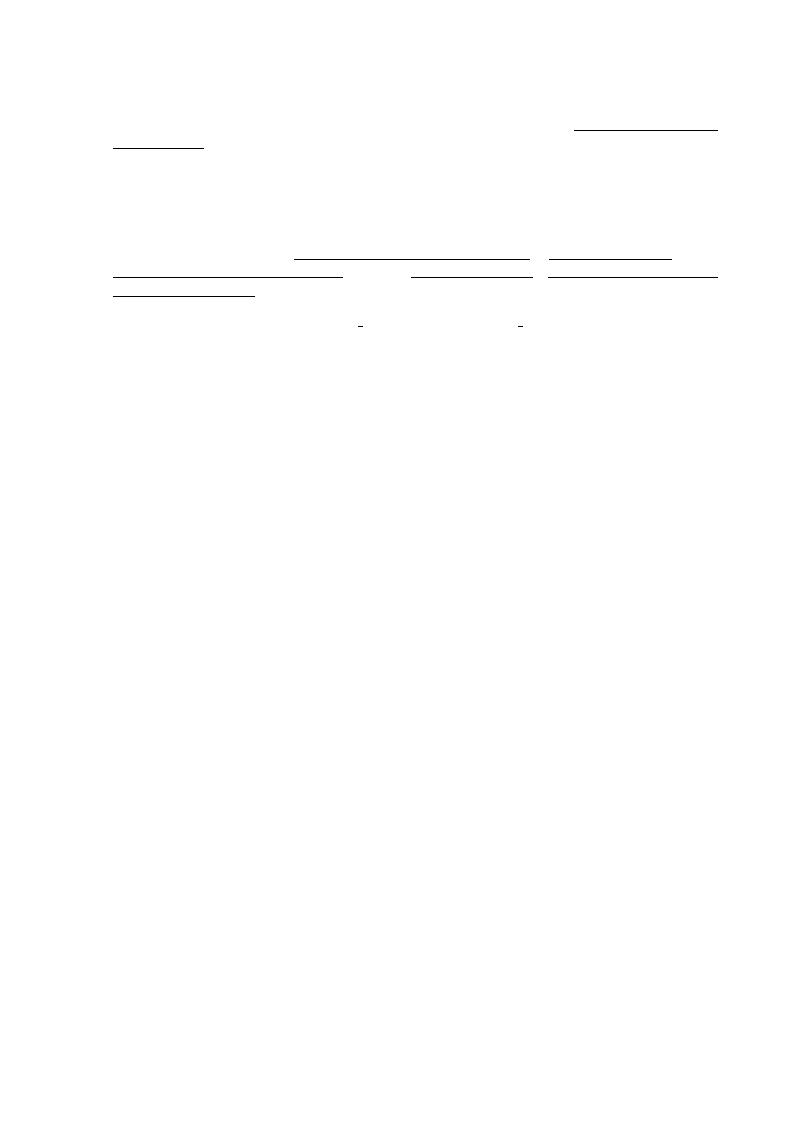
168
Art. 39. Não se aplica aos OGM e seus derivados o disposto na Lei no 7.802, de 11 de
julho de 1989, e suas alterações, exceto para os casos em que eles sejam desenvolvidos para
servir de matéria-prima para a produção de agrotóxicos.
Art. 40. Os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou
animal que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou derivados deverão conter
informação nesse sentido em seus rótulos, conforme regulamento.
Art. 41. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 42. Revogam-se a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, a Medida Provisória
no 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da Lei no 10.814, de 15
de dezembro de 2003.
Brasília, 24 de março de 2005; 184o da Independência e 117o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Márcio Thomaz Bastos
Celso Luiz Nunes Amorim
Roberto Rodrigues
Humberto Sérgio Costa Lima
Luiz Fernando Furlan
Patrus Ananias
Eduardo Campos
Marina Silva
Miguel Soldatelli Rossetto
José Dirceu de Oliveira e Silva
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.3.2005
