
Nikolas Olekszechen
MOVER-SE NA CIDADE:
PRODUÇÃO DA IDENTIDADE DE LUGAR EM CICLISTAS
Dissertação submetida ao Programa de
Pós-Graduação em Psicologia da
Universidade Federal de Santa
Catarina para a obtenção do Grau de
Mestre em Psicologia.
Orientadora: Profª. Drª Ariane Kuhnen
Florianópolis
2016
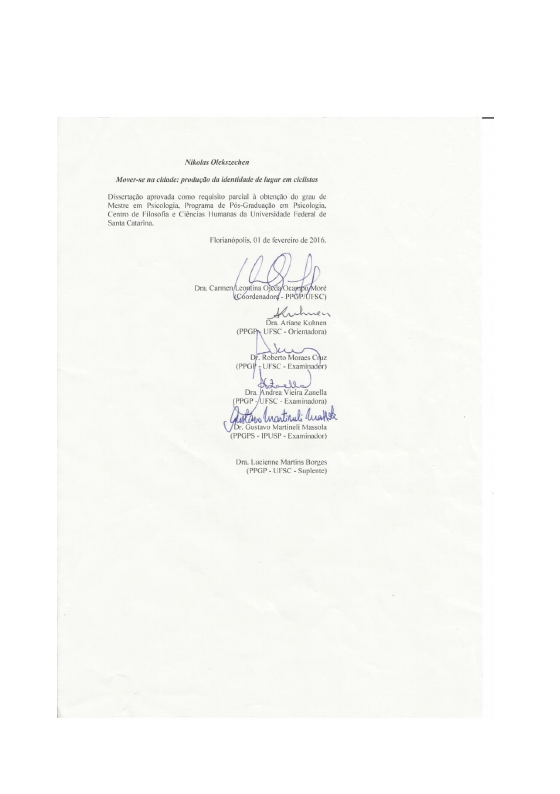
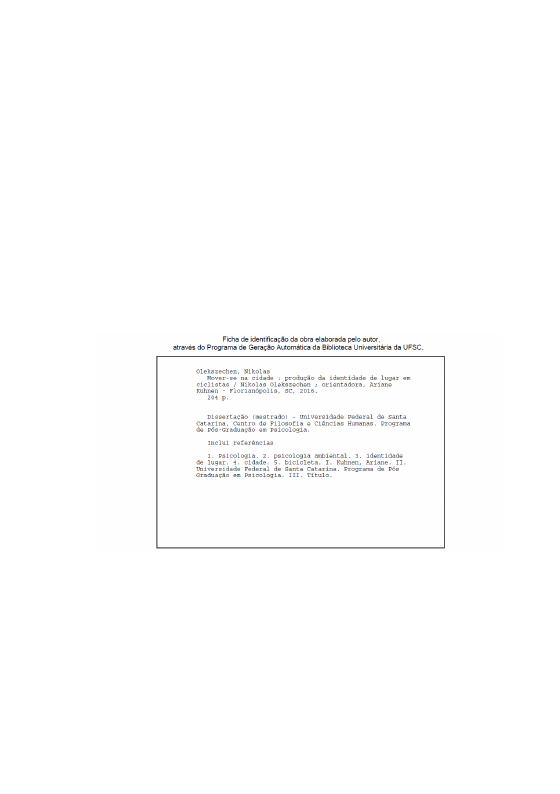

À Leticia, que durante a caminhada
me ensinou que compartilhar não é
dividir, mas multiplicar.

AGRADECIMENTOS
Na ―arte dos encontros‖, a vida me aproximou de algumas
pessoas que, sem as quais, faltaria o ânimo necessário para cumprir a
tarefa. Sob o risco assumido de esquecimentos, deixo aqui meus
agradecimentos a algumas delas, respeitando o fluxo dos afetos.
À Ariane, que confiou em meu trabalho desde o início e abraçou
minhas ideias sem restrições. Nas orientações, pelas palavras de
conforto, de inquietação e de incentivo. Por me ensinar a pensar a
psicologia por outro ângulo.
Ao professor Roberto Moraes Cruz pela leitura atenta do trabalho
no exame de qualificação e na defesa. À professora Andrea Zanella e ao
professor Gustavo Massola por se disporem a avaliar o trabalho final
apesar das dificuldades. Ao professor Arnoldo Debatin Neto pelas
contribuições na elaboração do projeto de pesquisa.
Aos meus pais, João Mário e Júlia, e meus irmãos, Diego e
Náthalie, pelo amparo e amor sem restrições. Por não medirem esforços
para me proporcionarem a melhor formação possível. Por me mostrarem
que a luta diária constrói trajetos e redesenha histórias, que a
persistência e o desejo caminham juntos. Pelo alicerce.
À tia Hilda, que em muitos momentos foi mãe e é merecedora de
todo o carinho que houver.
À minha companheira, Letícia, que nos últimos anos
compartilhou comigo todos os momentos importantes da jornada
acadêmica e de vida. A ela dedico este trabalho e meus dias.
À família que ganhei com a namorada. Edson, Hilka e Isadora,
que desde sempre abriram as portas de casa, acolheram e cuidaram. Se
encerro mais um ciclo, atribuo a eles parte das conquistas e agradeço
pelos ensinamentos nos tropeços.
À Camila e ao Gustavo, que são família, lar fora de casa, alegria
sem ter hora nem motivo.
Aos amigos que, durante minha caminhada, ampararam e
acolheram sem porquês. À minha família agrego novos irmãos e irmãs:
Lucas, Rafael, Jorge, Octávio, Bruno, André e Eloá, que me deram
abrigo e comigo compartilharam os melhores e os piores momentos.
Agradeço por me ensinarem sobre a amizade.
Às amigas do LAPAM, que mesmo na aridez do meio acadêmico
me mostraram a possibilidade de ilhas de companheirismo e
comprometimento grupal. Aos amigos e amigas que fiz durante essa
caminhada, por ajudarem a tornar a vida mais suave.

Aos professores do PPGP, por ensinarem sobre a densidade e a
potência do ―ser mestre‖. Aos funcionários do PPGP pela prontidão e
disposição em ajudar.
Àquelxs que participaram da pesquisa, cederam seu tempo e
compartilharam histórias.
Aos quilômetros rodados que acumulei de Florianópolis. Por ser
campo e inspiração.
À CAPES, pelo financiamento da pesquisa.

Nikolas Olekszechen. Mover-se na cidade: produção da identidade
de lugar em ciclistas. Florianópolis, 2016. Dissertação de Mestrado em
Psicologia – Programa de Pós Graduação em Psicologia. Universidade
Federal de Santa Catarina.
Orientadora: Profª Drª Ariane Kuhnen
Data da defesa: 01/02/2016
RESUMO
Em um mundo cada vez mais urbanizado, a circulação de bens e o ir e
vir de pessoas dão o tom à vida nas cidades. Subsidiária da vida
simbólica de seus moradores, elas se organizam como rede de lugares,
admitindo-se a produção da identidade atrelada a esse espaço físico
mesmo em tempos em que estar em movimento é uma condição. Aliada
ao contexto de mobilidade, as dinâmicas urbanas se dão em movimento,
demandando outras maneiras de compreender a relação das pessoas com
seu entorno. No que tange ao deslocamento de pessoas, entende-se o uso
da bicicleta como meio de transporte como um modo de produzir
afecções e vínculos entre pessoa e cidade. Sob o enfoque da psicologia
ambiental, analisaram-se as características da identidade de lugar em
ciclistas, buscando explorar as características ambientais à sua
disposição, descrever as barreiras e facilitadores para o uso da bicicleta,
caracterizar a afetividade na relação do ciclista com a cidade e
identificar os modos como essas pessoas se apropriam do espaço.
Tratou-se de um estudo de natureza qualitativa, de caráter descritivo e
exploratório e contou com a participação de dezoito pessoas. Os dados
foram produzidos a partir de duas etapas de pesquisa. A primeira
centrou-se na exploração do ambiente e dos aparelhos à disposição dos
ciclistas no entorno da universidade, e a segunda no discurso dos
ciclistas sobre sua relação com a cidade de Florianópolis, orientada por
roteiro de entrevista semiestruturada e questionário desenvolvidos para
os fins desta pesquisa. A organização dos dados pautou-se na análise de
conteúdo, que possibilitou sintetizá-los em três categorias, compostas
por subcategorias e elementos de análise. A primeira categoria tratou
dos aspectos afetivos da relação entre ciclista-cidade e reuniu conteúdos
sobre os sentimentos provocados, a imagem da cidade, a posição do
ciclista no espaço, elementos da história pessoal, os encontros
promovidos pela bicicleta e o que é ser ciclista. A segunda categoria
tratou das características cognitivas dessa relação, incluindo os motivos,
benefícios e barreiras do uso da bicicleta, as finalidades da pedalada, as

avaliações sobre as estruturas ciclísticas à disposição, características do
ciclismo ideal e as cognições sobre o ambiente. A terceira categoria
reuniu os atributos comportamentais na relação do ciclista com a cidade,
os modos de pedalar, os hábitos de saúde atrelados ao ciclismo e as
práticas de segurança que os ciclistas adotam nas ruas. Os resultados
apontaram para a possibilidade de tomar a afetividade como categoria
analítica na compreensão da relação do ciclista com a cidade e na
construção da identidade de lugar. Nos contextos urbanos, a ela indica a
possibilidade de as pessoas se apropriarem dos espaços e se
identificarem com eles, o que implica na criação de modos mais
solidários de uso do espaço e de condutas que visem à conservação do
ambiente. Sob a ótica do ciclista, trata-se da possibilidade de produzir
lugares que resistam àquilo que é somente concreto na cidade. Desse
modo, o transporte ―lento‖ é uma maneira de estar em contato, de se
permitir afetar pelo entorno, de vivenciar o lugar e estar aberto à relação
com os outros e com o ambiente, com toda a ambivalência que isso
possa sugerir.
Palavras-chave: psicologia ambiental, identidade de lugar, cidade,
bicicleta.

Nikolas Olekszechen. Se déplacer dans la ville: production de
l’identité de lieu en cyclistes. Florianópolis, 2016. Mémoire de Master
en Psychologie – Programa de Pós Graduação em Psicologia.
Universidade Federal de Santa Catarina.
RÉSUMÉ
Dans un monde chaque fois plus urbanisé, la circulation de biens et de
personnes donnent le ton à la vie dans les villes. Subsidiaire de la vie
symbolique de ses habitants, elles s‘organisent comme un réseau de
lieux, admise la production de l‘identité attachée à cet espace physique
même en temps où être en mouvement est une condition. Liées au
contexte de mobilité, les dynamiques urbaines se font en mouvement et
demandent d‘autres manières de comprendre le rapport des personnes à
leur entourage. À propos du déplacement de personnes, l‘usage du vélo
comme un moyen de transport est compris comme un mode de
production d‘affections et de liens entre personne et ville. Dans la
perspective de la psychologie environnementale, les caractéristiques de
l‘identité de lieu en cyclistes ont été analysées, à fin d‘explorer les
caractéristiques environnementales à leur disposition, de décrire les
barrières et les éléments facilitateurs à l‘usage du vélo, de caractériser
l‘affectivité du rapport du cycliste à la ville et d‘identifier les manières
dont ces personnes s‘approprient l‘espace. L‘étude a été de nature
qualitative, descriptive et exploratoire avec la participation de dix-huit
personnes. Les données ont été produites à partir de deux étapes de
recherche. La première a été centrée sur l‘exploration de
l‘environnement et des appareils à disposition des cyclites dans les
entourages de l‘université, et la deuxième sur le discours des cyclistes à
propos de leur rapport avec la ville de Florianópolis, orientée par guide
d‘entretien semi-directif et questionnaire developpés pour les finalités de
cette recherche. L‘organisation des données s‘est appuyée sur l‘analyse
de contenu, ce qui a rendu possible leur synthèse en trois catégories,
composées par des sous-catégories et des éléments d‘analyse. La
première catégorie a abordé des aspects affectifs du rapport entre
cycliste-ville et a rassemblé des conténus à propos des sentiments
évoqués, l‘image de la ville, la position du cycliste dans l‘espace, des
éléments de l‘histoire personnelle, les rencontres permis par le vélo et ce
qu‘est être cycliste. La deuxième catégorie a abordé les caractéristiques
cognitives de ce rapport, y compris les motifs, bénéfices et barrières à
l‘usage du vélo, les finalités du pédalage, les évaluations des structures

disponibles pour le cyclisme, les caractéristiques du cyclisme idéal et les
cognitions de l‘environnement. La troisième catégorie a rassemblé les
attributs comportamentaux du rapport du cycliste à la ville, les manières
de pédaler, les habitudes de santé liées au cyclisme et les pratiques de
sécurité adotées par les cyclistes dans les rues. Les résultats ont indiqué
la possibilité de considérer l‘affectivité comme catégorie analytique
dans la compréhension du rapport du cycliste à la ville et dans la
construction de l‘identité de lieu. Dans les contextes urbains,
l‘affectivité indique la possibilité pour les personnes de s‘approprier les
espaces et s‘identifier à eux, ce qu‘implique la création de formes plus
solidaires de l‘usage de l‘espace et de conduites qui visent la
conservation de l‘environnement. Sous l‘optique du cycliste, c‘est la
possibilité de produire des lieux qui resistent à ce que n‘est que du béton
dans la ville. Ainsi, le transport ―lent‖ est une manière d‘être en contact,
de se permettre affecter par l‗entourage, de vivre le lieu et être ouvert au
rapport avec les autres et avec l‘environnement, avec toute
l‘ambivalence que cela peut suggérer.
Mots-clé: psychologie environnementale, identité de lieu, ville, vélo.

LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Dimensões e conceitos relacionados à identidade de lugar ................84
Figura 2. Bicicletário em frente à CERTI – UFSC ............................................90
Figura 3. Exemplo de suporte para bicicleta - CDS...........................................90
Figura 4. Exemplo de suporte para bicicleta – CCB ..........................................91
Figura 5. Exemplo de suporte de bicicleta - CCA .............................................91
Figura 6. Exemplo de suporte de bicicleta - EFI................................................92
Figura 7. Paraciclo sobre área descoberta e não pavimentada ...........................92
Figura 8. Paraciclo CCJ .....................................................................................93
Figura 9. Paraciclo CFH ....................................................................................93
Figura 10. Locais alternativos para estacionar bicicletas ...................................94
Figura 11. Passagens de pedestres e ciclistas sob a avenida ..............................95
Figura 12. Trecho da ciclovia experimental.......................................................95
Figura 13. Mapa de localização das ciclovias e paraciclos da UFSC ................96
Figura 14. Estêncil na entrada da UFSC ..........................................................124
Figura 15. Rótula da UFSC pela Rua Lauro Linhares .....................................124
Figura 16. Rua Deputado Antônio Edu Vieira.................................................139

LISTA DE TABELAS
Tabela 1. Divisão dos artigos de acordo com categorias de análise...... 60
Tabela 2. Identificação dos aspectos metodológicos das pesquisas ...... 70
Tabela 3. Caracterização dos participantes ........................................... 85
Tabela 4. Caracterização dos deslocamentos diários ............................ 86
Tabela 5. Quantidade de paraciclos e vagas para bicicletas encontradas
na UFSC................................................................................................ 88
Tabela 6. Apresentação das categorias, subcategorias e elementos de
análise ................................................................................................... 97
Tabela 7. Motivos para a escolha da bicicleta......................................130
Tabela 8. Sugestões para bicicletários e paraciclos..............................158

SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO................................................................................15
2. OBJETIVOS.....................................................................................19
2.1 Objetivo geral............................................................................................19
2.2 Objetivos específicos.................................................................................19
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA...................................................21
3.1 Sobre mobilidade urbana.........................................................................21
3.1.1 A psicologia ambiental e o urbano.........................................................23
3.1.2 Mobilidade como experiência urbana....................................................32
3.1.3 A possibilidade do lugar na mobilidade urbana...................................38
3.2 Sobre identidade de lugar..........................................................................45
3.2.1 Identidade como categoria de análise....................................................45
3.2.2 Identidade de lugar: história, conceito e pesquisas..............................48
3.2.3 Afetividade como categoria norteadora da identidade de lugar.........54
3.2.4 Identidades, lugares e mobilidades.........................................................57
3.3 Revisão sistemática da literatura: o uso de bicicletas nos estudos pessoa-
ambiente.............................................................................................................58
4.MÉTODO...........................................................................................75
4.1 Caracterização da pesquisa........................................................................75
4.2 Considerações sobre o campo de pesquisa...............................................75
4.3 Participantes................................................................................................78
4.4 Etapas da pesquisa (Instrumentos e Procedimentos)..............................79
4.4.1 Etapa 1 (centrada no ambiente).............................................................79
4.4.2 Etapa 2 (centrada na pessoa)..................................................................80
4.5 Procedimentos Éticos..................................................................................82
4.6 Análise dos dados........................................................................................83
5.RESULTADOS..................................................................................85
5.1 Caracterização dos participantes..............................................................85
5.2 Caracterização do campo de pesquisa......................................................88
5.3 Apresentação das categorias, subcategorias e elementos de análise......96

6.DISCUSSÃO....................................................................................99
6.1 Categoria 1 – Aspectos afetivos da relação ciclista-cidade...................99
6.2 Categoria 2 – Aspectos cognitivos da relação ciclista-cidade...............125
6.3 Categoria 3 – Aspectos comportamentais da relação ciclista-cidade...147
6.4 Síntese dos atributos definidores da identidade de lugar em ciclistas.152
7.CONSIDERAÇÕES FINAIS..........................................................157
REFERÊNCIAS..................................................................................163
APÊNDICES.......................................................................................177
ANEXOS..............................................................................................202

15
1. INTRODUÇÃO
A psicologia ambiental, disciplina que investiga as transações
pessoa-ambiente, utiliza-se do conceito de identidade de lugar para
caracterizar um aspecto da identidade do sujeito que descreve o modo
como este se relaciona com o mundo físico (Twigger-Ross & Uzzel,
1996). Consiste em cognições sobre o mundo físico que representam
memórias, sentimentos, atitudes e significados de comportamentos e
experiências e se relacionam com a complexidade dos ambientes,
garantindo a existência cotidiana do ser humano (Proshansky, Fabian &
Kaminoff, 1983). Ponte, Bomfim e Pascual (2009) partem do conceito
de afetividade para compreender a construção da identidade de lugar,
pautando-se na racionalidade ético-afetiva como motor das relações
pessoa-ambiente.
Nesse sentido, a temática mobilidade-identidade se mostra
correlata à do espaço-lugar, entendendo espaço como aquele relacionado
ao movimento, liberdade e multiplicação de possibilidades e lugar
aquele que produz o sentido de estabilidade, pertencimento e apego
emocional (D‘Mello & Sahay, 2007). Para Tuan (1983), espaço remete à
liberdade e lugar à segurança; estamos ligados a estes, mas desejamos
aquele. Desse modo, identificar-se implica em vivenciar a tensão
existente entre espaço e lugar, a fixidez e a mobilidade, produzir
significados na relação com os contextos, sejam físico, social ou
econômico.
Investigar a categoria de identidade entendendo-a na qualidade
daquilo que é idêntico e imutável parece não condizer com os modos de
vida atuais. Seja pela velocidade com que a realidade se produz ou pela
necessidade de estar sempre em movimento, a identidade e seu caráter
de permanência devem ser constantemente tensionados. Quando atrelada
aos espaços urbanos contemporâneos, esse questionamento se torna
ainda mais evidente, pois a mobilidade se apresenta não apenas como
uma necessidade, mas como condição.
Estar em movimento implica na vivência do espaço e do tempo
de maneira particular, na necessidade de cruzar a maior distância
possível em tempo mínimo. No cenário urbano atual, a inclinação ao
movimento tem gerado problemas para a circulação humana e impactos
ambientais severos, decorrentes principalmente da emissão de poluentes
dos veículos automotores. Assim, na tentativa de atenuar as
consequências humano-ambientais características desse contexto,
alternativas têm sido propostas para otimizar a relação espaço-tempo e
simultaneamente reduzir os impactos ambientais. Nesse sentido, a

16
bicicleta tem sido pontuada como um meio de transporte não poluente e
sustentável, além de ser uma maneira de praticar exercícios físicos
diariamente (Gatersleben & Haddad, 2010; Passafaro et al., 2014).
Um dos desafios que se impõem no contemporâneo é o de
responder ―quem sou eu‖ em contexto de mobilidade. Dixon e Durrheim
(2000) pontuam que a resposta a esse questionamento implica em
responder também à pergunta ―onde estamos‖, indicando que as
formações de identidade estão sempre atreladas à significação do
entorno físico. Portanto, interessa compreender os desdobramentos do
uso da bicicleta como meio de transporte na produção da identidade
nesse contexto.
Nas produções acadêmicas atentas às transações pessoa-ambiente,
poucos são os trabalhos que tratam das conexões entre identidade e uso
da bicicleta como meio de transporte. A fim de identificar essas
publicações, buscou-se nas bases de dados Science Direct, PePSIC,
SciELO e Bireme utilizando o período entre 2004 e 2014 como
marcador temporal e os descritores identidade de lugar (―place
identity‖), identidade (identity), emoção (emotion), cognição (cognition)
aliado à bicicleta (bicycle) com uso do booleano AND. Quatro artigos
corresponderam à busca nas bases nacionais e internacionais, o que
indica que até o presente momento pouca atenção foi dada à articulação
entre os dois temas.
Nestes estudos, as relações entre identidade e uso de bicicleta se
expressam nas influências de políticas para mobilidade com bicicletas
na construção da identidade relacionada à cidade, proporcionando um
‗sentido de lugar‘ (Jensen, 2013), em fatores sociais que implicam na
produção de estereótipos do ‗ciclista típico‘ (Gatersleben & Haddad,
2009) e no papel das emoções, hábitos e normas sociais no desejo de uso
da bicicleta (Passafaro et al., 2014).
Outras produções no campo das relações pessoa-ambiente
indicam a possibilidade de melhor compreender a relação do uso de
bicicleta como meio de transporte e a identidade de lugar. Devine-
Wright e Clayton (2010) expõem que o fenômeno de identidade de lugar
possui implicações nas esferas cognitiva, afetiva e comportamental,
além de se associar com comportamento pró-ambiental, conexão com a
natureza e apego. Relações entre identidade e afetividade também são
demonstradas em estudos sobre o ambiente urbano (Casakin, Hernández
& Ruiz, 2015; Hernández, Hidalgo, Salazar-Laplace & Hess, 2007) e
indicam a possibilidade de a escala da cidade estar atrelada à intensidade
do vínculo construído.
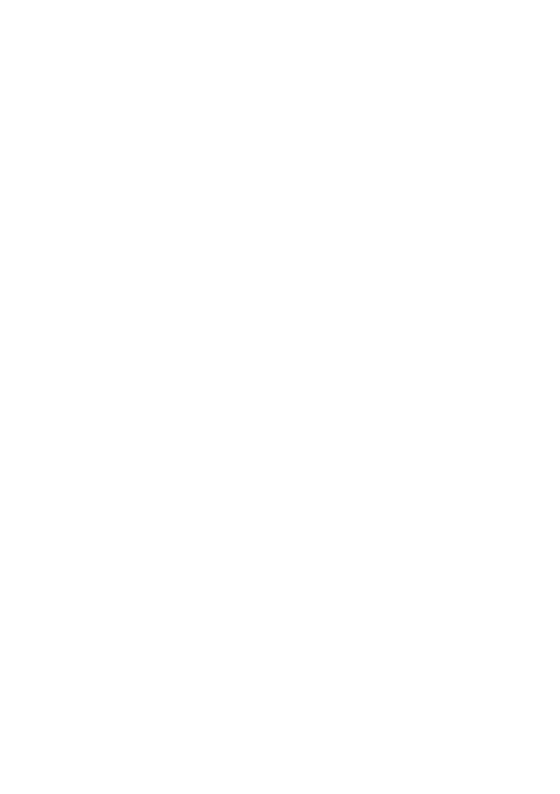
17
Ainda que não haja unanimidade teórica e epistemológica nas
investigações sobre uso de bicicletas e identidade de lugar, os estudos
apontam para a existência de lacunas na compreensão da relação entre
lugar e identidade (Twigger-Ross & Uzzel, 1996) e na apreensão dos
significados associados à escolha do meio de transporte (Murtagh,
Gatersleben & Uzzel, 2012). Heinen, van Wee e Matt (2010), indicam
que os estudos sobre uso de bicicleta, de maneira geral, têm prestado
pouca atenção na potencialidade desse modal como meio de locomoção.
Além disso, recomendam que as pesquisas se atentem à compreensão
dos fatores psicológicos envolvidos na frequência do uso da bicicleta.
Investigações anteriores sugerem a condução de estudos qualitativos
para auxiliar na compreensão da relação entre escolha do meio de
transporte e identidade (Murtagh et al., 2012).
Estudos que envolvem ciclistas e locomoção com bicicletas
também investigam barreiras e facilitadores para seu uso (Daley &
Rissel, 2011; Daley, Rissel & Lloyd, 2007; Engbers & Hendriksen,
2010), comportamento de risco e acidentes de trânsito com ciclistas
(Bacchieri, Barros, dos Santos & Gigante, 2010), características
comportamentais do ciclista (Araújo et al., 2009a), transferência modal e
uso de bicicleta (Araújo et al., 2009b), identidade e escolha do meio de
transporte (Murtagh et al., 2012) e a importância do uso da bicicleta em
ambientes universitários (Bonham & Koth, 2010).
No contexto de Florianópolis - SC, local onde foi conduzido este
estudo, o ano de 2014 marcou o alinhamento do município e de sua
região metropolitana à Política Nacional de Mobilidade Urbana (Brasil,
2012). Impulsionada pela crescente importância da mobilidade urbana
sustentável, o que inclui o uso de bicicletas, iniciou-se o Plano de
Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis (PLAMUS),
que visou apresentar propostas para solucionar questões referentes à
mobilidade urbana de 13 municípios.
Aliada a essa demanda do município, em 2014 a Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), por meio da Administração Central,
encaminhou à Prefeitura Municipal de Florianópolis um projeto
cicloviário que propõe a integração dos onze Centros de Ensino do
campus UFSC - Florianópolis. Essa proposta tem como base estudo de
caracterização das viagens realizadas para este campus universitário
feito em 2010 que demonstrou grande potencial para a utilização da
bicicleta nesse trajeto (Subcomitê de Mobilidade UFSC, 2012).
Desse modo, preocupações a respeito da mobilidade urbana
sustentável e do uso de bicicletas como meio de transporte nas cidades
têm sido recorrentes. Iniciativas em nível político interessam uma vez

18
que podem contribuir para a construção de uma ―cultura da mobilidade‖,
que coloca a bicicleta como mais uma alternativa viável à cidade e
favorece encontros, relações sociais e a produção de um ―sentido de
lugar‖ (Jensen, 2013).
Parte-se da importância da mobilidade como exploração para o
desenvolvimento e bem estar humanos (Günther, 2003) para
compreender os modos como ciclistas se vinculam à cidade e se
identificam com ela, bem como as contingências de suas escolhas por
esse modal. Esse entendimento pode auxiliar na apreensão dos estilos de
vida contemporâneos e contribuir para a construção de modos mais
sustentáveis e saudáveis de estar nas cidades. Para a cidade de
Florianópolis, compreender a vivência do ciclista pode fornecer
subsídios para a elaboração de políticas públicas que beneficiem não só
os ciclistas, mas todos os participantes do trânsito, incluindo a
sustentabilidade urbana como preocupação para o município.
Entende-se que o estudo da categoria identidade de lugar em
contexto de mobilidade pode contribuir para o desenvolvimento teórico
e prático nas pesquisas em psicologia ambiental. Além disso, a produção
desse conhecimento pode auxiliar na compreensão dos fenômenos
humano-ambientais e fortalecer o diálogo entre os estudos conduzidos
pelo Laboratório de Psicologia Ambiental (LAPAM) e pela área de
concentração ―Saúde e Desenvolvimento Psicológico‖ do Programa de
Pós-Graduação em Psicologia da UFSC.
Por fim, parte-se das definições de identidade de lugar e a
emergência do uso da bicicleta como meio de transporte como um
fenômeno a ser compreendido e se busca responder: quais as
características da identidade de lugar em ciclistas que utilizam a
bicicleta como meio de transporte?
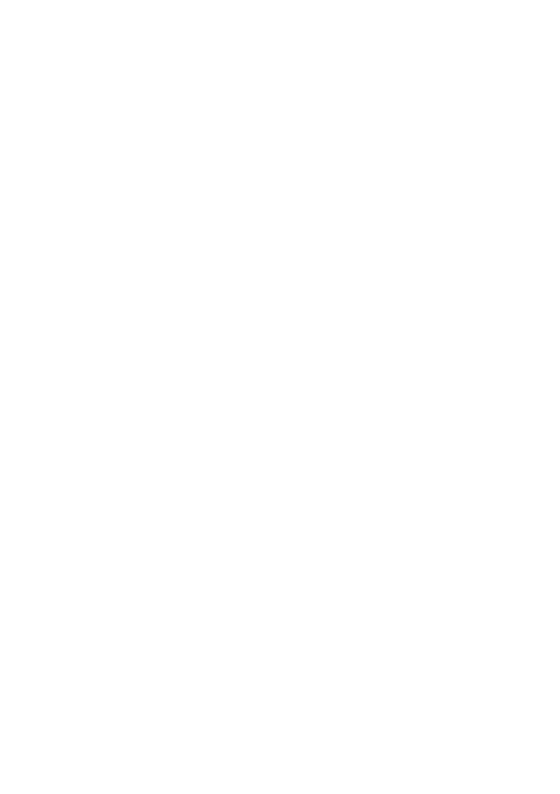
19
2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
Analisar características da identidade de lugar em ciclistas que utilizam
a bicicleta como meio de transporte.
2.2 Objetivos específicos
- Descrever as variáveis humano-ambientais relacionadas ao uso da
bicicleta;
- Caracterizar a relação dos ciclistas com a cidade;
- Analisar os atributos definidores da identidade de lugar à luz da
afetividade;
- Relacionar o uso da bicicleta como meio de transporte e a produção da
identidade de lugar;

20

21
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Sobre mobilidade urbana
São diversos os fios condutores que podem iniciar uma discussão
sobre o uso de bicicletas nas cidades. Uma possibilidade seria tratar de
sua invenção a fim de tentar compreender como, ao longo da história, o
uso da bicicleta foi se modificando até ser tratado como uma alternativa
para o transporte individual. Outro ponto a ser explorado poderia ser o
tema do transporte sustentável, uma vez que esse modal se insere em
uma classe de meios de locomoção que produzem baixo impacto
ambiental e de baixa emissão de poluentes, ao lado, por exemplo, da
caminhada.
Nessa lista de possibilidades os itens poderiam ser enumerados às
dezenas e serem complementares no entendimento de como esse objeto
tem se configurado como uma alternativa para as cidades. No entanto,
opta-se por tratar da mobilidade urbana, um tema abrangente que tem no
uso da bicicleta como meio de transporte um dos focos de interesse. A
mobilidade urbana não se restringe às questões do transporte, pois
envolve o planejamento e desenvolvimento das cidades, formas de usar
e ocupar o solo e as experiências das pessoas na cidade veiculadas por
um modal específico.
Como campo de interesse da psicologia, parte-se da perspectiva
daquele que experimenta a cidade pelo ir e vir em suas conjunções com
a concretude urbana. Desse modo, entende-se que uma discussão desse
teor deve ser organizada sob dois eixos principais: a respeito daquilo
que se entende por urbano, explorando seus aspectos históricos até a
atual formatação do espaço das cidades; e sobre o que se entende por
mobilidade na sociedade contemporânea, bem como seus
desdobramentos na vida cotidiana.
Nesse cenário, não se considera a mobilidade como um
imperativo contemporâneo, principalmente quando se trata da realidade
brasileira. A cidade não é acessível a todos, e em um nível superficial de
análise, vê-se que a crise que toma conta dos sistemas de transporte das
grandes cidades brasileiras se dá principalmente por políticas que
privilegiam alguns (modais e grupos sociais) em detrimento da maioria
da população. Assim, a partir do momento em que a desigualdade marca
a mobilidade urbana e o acesso às cidades, não é possível tratá-la de
maneira universal, ainda que existam esforços políticos na tentativa de
requalificar essa condição, a exemplo da Política Nacional de
Mobilidade Urbana (Brasil, 2012).
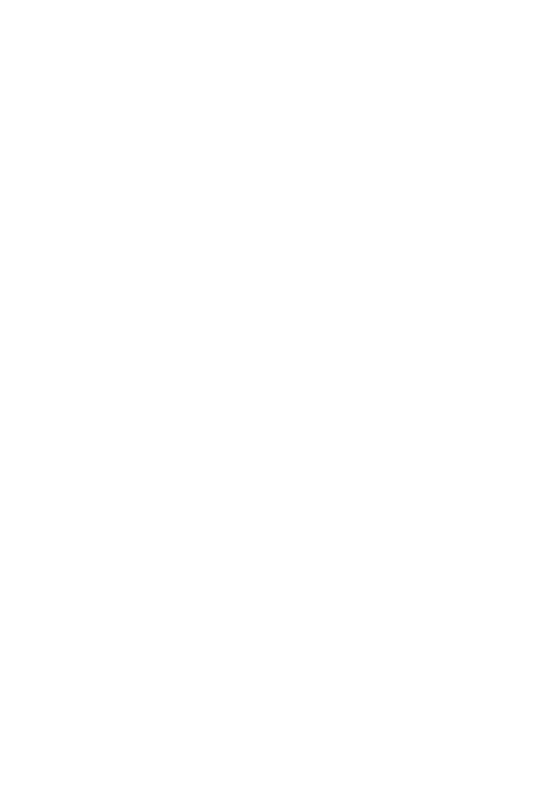
22
Entretanto, não se nega que o panorama – ético e político – global
convoca à mobilidade (Hardt & Negri, 2001). Com o atual desenho do
sistema capitalista, as barreiras entre os territórios nacionais estão cada
vez mais porosas, as relações econômicas e sociais, entre pessoas e entre
Estados estão cada vez mais voláteis. Transformações nessas esferas têm
implicações diretas na circulação de riquezas, mercadorias e pessoas.
Em nível individual, essas modulações do contexto sócio-político
se desdobram na experiência espaço-temporal, uma vez que existe a
possibilidade de trânsito por uma vasta extensão do globo terrestre em
tempo mínimo. Por outro lado, a questão urbana interessa pois remete ao
contexto das cidades. Estas, atravessadas pelas diversas contradições dos
modos de vida contemporâneos, também são subsidiárias da vida
simbólica de seus habitantes. Em um mundo cada vez mais urbanizado,
a circulação, os encontros e as relações se dão nas cidades. Elas são
vetores privilegiados da produção de subjetividade, derivando daí o
interesse pelo tema, caro à psicologia.
Assim, entende-se que as noções de mobilidade e de urbano
confluem. Nas cidades, a mobilidade se desenha de maneira paradoxal,
pois ao mesmo tempo em que é possível transitar rapidamente pelas
ruas, encurtar distâncias e ter a liberdade de traçar o próprio itinerário, o
negativo dessa situação cria vulto na figura da ―imobilidade‖ (Rolnik &
Klintowitz, 2011). Engarrafamentos, más condições de infraestrutura de
trânsito e ineficiência no transporte coletivo não só dificultam o
deslocamento de pessoas, mas colocam grande parcela da sociedade à
margem do acesso às cidades e aos equipamentos sociais nela dispostos,
e por consequência, do acesso às políticas públicas.
Nesse horizonte, o uso da bicicleta como meio de transporte se
insere como uma possibilidade de enfrentamento à situação. Ainda que
o volume de pessoas transportadas por esse modal seja inferior ao dos
transportes coletivos, por exemplo, pedalar pode ser uma alternativa
para o transporte individual, além de apontar para a possibilidade de o
ciclista se relacionar de outras maneiras com o espaço urbano e com os
demais integrantes do trânsito.
Tendo esse cenário como horizonte conceitual do trabalho e a
psicologia ambiental como alicerce, propõe-se uma discussão que
articule os dois conceitos, inicialmente sobre o que se entende pelo
urbano e como a forma das cidades, ao longo da história moderna,
auxiliou na construção de modos de circulação, de socialização e de
produção de subjetividade. Em segundo lugar, explica-se o
entendimento sobre a mobilidade, naquilo que a caracteriza como
experiência urbana, um modo de ser e estar nas cidades. Por fim,

23
articulam-se os dois conceitos para encaminhar à possibilidade de
construção de significados na relação pessoa-cidade, delineando o olhar
lançado ao lugar.
3.1.1 A psicologia ambiental e o urbano
Atualmente, a população mundial vive predominantemente em
ambientes urbanos. De acordo com o levantamento do Departamento
dos Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (Organização
das Nações Unidas, 2014), 54% das pessoas em todo o território
mundial habitam as cidades, porcentagem que se prospecta para 66% até
2050. Em números absolutos, estima-se que serão mais de seis bilhões
de pessoas povoando as cidades até a primeira metade do século XXI, o
que contrasta com os quase quatro bilhões de pessoas em 2015.
A progressiva concentração de pessoas nas cidades aliada ao atual
padrão de produção e consumo referentes ao sistema capitalista
impactam de maneira significativa não só nos ambientes urbanos, mas
na vida das pessoas, no modo como elas ocupam e circulam por esses
espaços. Nesse sentido, o manejo do solo, do lixo e das águas,
saneamento básico, moradias irregulares e a circulação das pessoas têm
sido alguns dos problemas que inquietam os governantes, acadêmicos e
a comunidade, demandando soluções aos problemas decorrentes da
urbanização e que colocam em risco a manutenção da vida no planeta
(Guattari, 1999).
Disciplinas como a arquitetura, urbanismo, geografia e
psicologia, por exemplo, têm expandido seus horizontes habituais de
análise e se dedicado à compreensão do modo como as pessoas agem
sobre o ambiente e são por ele afetados. A psicologia ambiental, que
emergiu como demanda histórica do período pós segunda guerra
mundial, tem sido convocada a responder questionamentos de ordem
prática, principalmente decorrentes dos desequilíbrios ambientais
causados pela ação humana. Portanto, seu domínio perpassa o campo
interdisciplinar do conhecimento das referidas áreas do conhecimento.
Nesse sentido, a investigação da relação recíproca entre o
ambiente e as pessoas é a marca distintiva da psicologia ambiental, uma
vez que não se centra em relações unidirecionais, que ora vai da pessoa
para o ambiente, ora do ambiente para a pessoa (Günther, 2003). Tratar
da reciprocidade das relações pessoa-ambiente implica em considerá-las
em seus diversos vetores de composição (ambiental, social, econômico,
político, afetivo, etc.), considerando o homem como complexidade.
Entende-se, portanto, que a psicologia ambiental lida com as

24
experiências humanas em sua concretude (Tassara, Rabinovich &
Goubert, 2004), definindo-as em seus aportes ambiental, histórico e
psicossocial.
Nas cidades, para além de sua infraestrutura material, considera-
se que a relação pessoa-ambiente se dá de maneira concreta,
estabelecida na experiência urbana do morador com os espaços
percorridos. Estes, por sua vez, não existem isoladamente, senão a partir
do sentido atribuído a ele por um grupo social. Uma vez que a
psicologia ambiental se volta às questões de ordem prática, a
intervenção na esfera ambiental deve se embasar na vivência das
pessoas no urbano, expressa pelas subjetividades ali engendradas,
gestadas no espaço e no tempo (Tassara & Rabinovich, 2001).
A ideia da co-construção pessoa-cidade, bem como a interface
existente entre produção da subjetividade e da cidade, reforçam a
premissa da psicologia ambiental a respeito da transacionalidade
(Rivlin, 2003; Valera, 1996). Nesse sentido, compreende-se que as
relações pessoa-ambiente são definidas de maneira mútua e dinâmica,
considerando que estabilidade e transformação são coexistentes e que as
transações humano-ambientais constituem uma via de mão dupla
(Valera, 1996).
No que tange à produção de subjetividade, compreender a
realidade como complexidade entra em conflito com a vertente teórica e
epistemológica mentalista (Simões, Gonçalves, Corgozinho & Lopes,
2011). Sob esse ponto de vista, considera-se a existência de um espaço
psíquico interno, que coincide com aquele da individualidade, presente
em todas as pessoas. Assim, o sujeito se funda na cisão inconciliável
entre o objetivo e o subjetivo, o natural e o social, o interno e o externo.
Essa compreensão da subjetividade separa-a do mundo e a
essencializa ao colocar o outro e o ambiente em um plano secundário em
seu processo de constituição. Desse modo, Simões et al. (2011) propõem
a torção nas linhas que atravessam a subjetividade, a transformação dos
limites entre dentro e fora que produz uma dobra subjetiva. Essa dobra,
à qual denominaram ―subjetivação origami‖, alude exatamente à
superfície complexa que engendra a subjetividade, em que:
[...] o dentro e o fora, o familiar e o estranho, o
estriado e o liso não mais seriam entidades
repartidas, portadoras de naturezas distintas e,
uma vez hipostasiadas, garantidoras de processos
substancialmente díspares. Seriam, antes, efeitos,
dobras de uma só e mesma superfície,

25
compartilhantes de processos complexos (Simões
et al., 2011, p. 361).
Ao se referir à concepção de subjetividade como dobra, Rolnik
(1997b) enfatiza seu caráter processual e em constante transformação.
Para a autora, a dobra produz uma figura de subjetividade, uma
formação singular que não é puramente subjetiva, agenciada pela cultura
e pela ética. Esse modo de compreender a subjetividade é também uma
tentativa de retirá-la da mente (Simões et al., 2011) e de considerá-la em
suas transversalidades, composta por forças sociais, políticas,
econômicas e éticas, advindo daí seu caráter inacabado, sempre como
devir.
Guardados seus horizontes teóricos e epistemológicos, esse
recurso conceitual potencializa a compreensão de que subjetividade e
cidade são produtos e produtoras dos mesmos processos, atravessadas
por forças que ora se formatam de maneira concreta, ora se dissipam
para a produção de outros modos de ser, ao encontro da perspectiva
transacional delineada pela psicologia ambiental. Com isso, coloca-se
em discussão o ponto em que o subjetivo e o urbano confluem, tendo em
vista também as dissonâncias produzidas nesse campo, o que aponta
para a subjetividade como um processo produtivo, e não de
espelhamento, em que o ambiente é antes um componente subjetivo do
que pano de fundo sobre o qual figuram as pessoas.
Desse modo, entende-se que a cidade como ambiente construído
é um artifício importante na produção dos modos de ser das pessoas, que
se modificam reciprocamente durante a história. Ao resgatar o histórico
de cidades ocidentais, Gehl (2010) expõe que a estrutura urbana, a
forma das cidades e seu planejamento constituem os modos de agir das
pessoas. No caso do deslocamento humano, por exemplo, o autor
argumenta que modos de circulação se diferenciam de acordo com o uso
do solo. Se os equipamentos da cidade, como as praças e mercados,
forem dispostos de maneira compacta (à maneira das cidades medievais
europeias), incentiva-se a caminhada. Por outro lado, a expansão urbana
e a criação de grandes vias de conexão entre as partes da cidade
demandam outros meios de locomoção e produzem outros usos da
cidade (no caso das cidades modernas).
Sob a perspectiva histórica da constituição das cidades europeias
modernas, Sennet (2003) defende que a forma dos espaços urbanos é
correlata às vivências corporais específicas de cada povo. O autor
explora o exemplo da cidade de Paris no período revolucionário que,
contagiada pelo lema da ―liberdade, igualdade e fraternidade‖ passou

26
por reformas urbanas consideráveis nos anos subsequentes à revolução
de 1789.
Com o objetivo de consolidar os ideais da revolução e afastar as
memórias do regime monárquico, os novos governantes propuseram um
recomeço à cidade de Paris e à sua formatação urbana, uma vez que a
garantia da liberdade de ir e vir exigia o fluxo e a movimentação
constante das pessoas. Daí a prioridade para grandes áreas de circulação
e praças amplas para os eventos públicos importantes. O que resultou
dessa fórmula foi que o livre fluir das multidões na cidade facilitou a
dissipação de grupos que eventualmente ameaçassem a consolidação do
novo regime. Assim, o espaço previsto para a liberdade acabou por
pacificar o corpo revolucionário (Sennet, 2003).
Do século seguinte, o exemplo utilizado é o da cidade de Londres
(Sennet, 2003). Em tempos de aprimoramento da produção fabril e de
desenvolvimento do sistema de produção capitalista, o modo de vida dos
londrinos foi transformado pelas intervenções na forma da cidade.
Conduzidos pelo modelo do sistema circulatório do corpo humano, a
ideia dos urbanistas da época era que, com circulação pelas grandes
ruas-artérias, as pessoas passassem por parques e áreas verdes para
respirarem ar puro. Assim, tanto as ruas como os parques foram
adaptados para atenderem às demandas de sua época, que previam um
modelo de saúde, de circulação, de produção de riquezas e de modos de
ser na cidade.
No que tange à circulação de pessoas no período analisado por
Sennet (2003), o modelo de ―cidade da caminhada‖ foi o dominante no
na época compreendida entre o medievo e meados do século XIX
(Schiller, Bruun & Kenworthy, 2010). Essa forma de organização da
cidade prevê que o deslocamento de pessoas se dá em função de sua
densidade e uso misto do solo. Desse modo, a forma das cidades
medievais priorizava modos de transporte lentos (entendido como
caminhada e tração animal), com a acessibilidade e proximidade como
princípios organizadores e a localização dos destinos desejados no raio
de 30 minutos de deslocamento.
Planejadas ou não, intencionais ou não, a construção de grandes
vias e as reformas executadas nas cidades modernas produziram uma
cisão mecânica no cenário urbano. Para Sennet (2003) essa divisão
impactou na distribuição territorial das populações, separando os bairros
pobres dos ricos, por exemplo. Além disso, o direcionamento do fluxo
de pessoas, aliado às transformações urbanas e à velocidade por elas
imprimida, não favoreciam que as pessoas se dessem conta do
efervescer da vida moderna e de todas as suas contradições.

27
De maneira geral, a dinâmica originada pelo deslocamento nas
cidades sugere ao menos dois aspectos importantes para a compreensão
do cenário atual das cidades. Em primeiro lugar, a criação de espaços
delimitados para atenderem necessidades específicas. As ruas e os
espaços públicos eram entendidos como locais de passagem e de
velocidade, enquanto que os cafés e pubs eram locais de permanência e
de intercâmbios, indicando a separação entre as esferas pública e
privada na cidade.
Em segundo lugar, ao favorecer o livre fluir das pessoas e
imprimir velocidade na vida das cidades, o planejamento urbano acabou
fomentando um ―sentimento de estranheza geral‖ entre as pessoas
(Sennet, 2003), que tem expressão na figura do individualismo. Assim, a
movimentação nas cidades isolou os indivíduos, decorrência importante
do desenvolvimento de tecnologias do final do século XIX.
Sennet (2003) entende que o aperfeiçoamento de tecnologias e
dos bens disponíveis na época, como a luz elétrica, elevadores em
construções verticais e o transporte de pessoas sobre trilhos, facilitou o
amortecimento do corpo moderno, não permitindo seu vínculo a nada
com que tenha contato. Nesse cenário, as cidades ―orientadas para o
trânsito‖ (Schiller et al., 2010) foram organizadas para atender à
demanda da industrialização e do espalhamento urbano.
Na esteira do historiador francês Alexis de Tocqueville, Sennet
(2003, p. 64) ressalta que os ―corpos individuais que transitam pela
cidade tornam-se gradualmente desligados dos lugares em que se
movem e das pessoas com quem convivem nesses espaços,
desvalorizando-os através da locomoção e perdendo a noção de destino
compartilhado‖. Assim, a fórmula que conjuga individualismo,
velocidade e desenvolvimento de tecnologias tem como resultado a
―ética da indiferença‖ na sociedade moderna: indiferente ao outro e ao
lugar por onde transita. Aliás, a alienação entre indivíduo e espaço,
promovida pela velocidade, homogeneíza a experiência urbana que
possa emergir nesse contexto. Nesse sentido, o espaço percorrido é antes
de tudo um entrave ao exercício da liberdade individual, que deve ser
superado imediatamente e com igual velocidade.
No horizonte do bem estar individual e da garantia dos ideais
modernos, o desenvolvimento tecnológico se voltou para assegurá-los
de maneira plena e eficaz. Assim, lançou-se mão das tecnologias de
locomoção, de saúde, de conforto e de planejamento dos espaços
urbanos para privilegiar as demandas individuais em detrimento
daquelas das massas (Sennet, 2003). Exemplo de como a comodidade e

28
o conforto se relacionam com o bem estar individual é o automóvel, que
surgiu no cenário urbano no final do século XIX.
O advento dessa máquina tornou-se um retrato da vida moderna:
com ela, possibilitou-se que as pessoas passassem pelas ruas da cidade
confortavelmente sentadas, indiferentes às mazelas da realidade externa
ou entregues aos devaneios pessoais. Nesse sentido, os argumentos de
Gehl (2010) e Sennet (2003) convergem ao enfatizarem que o
favorecimento do movimento e da velocidade (desdobramentos dos
ideais da revolução francesa), culminou na separação do uso da cidade,
afastamento e desvinculação com esse espaço e, por fim, no reforço do
individualismo.
Esse panorama das cidades modernas, que com o passar do tempo
aliou repetidamente velocidade, desenvolvimento de tecnologias,
individualismo e se desdobrou na separação entre as pessoas e as
cidades (Sennet, 2003), parece ter se tornado ainda mais crônico no
início do século XX, início do movimento modernista. Nas palavras de
Short e Pinet-Peralta (2010), as cidades foram reimaginadas e
reprojetadas para garantir a alta velocidade, que por sua vez se tornou
emblema de um modo de circulação: o motorizado.
Novamente na imagem do automóvel, o traçado das cidades
passou a ser feito para atender à centralidade que esta máquina adquiriu
na vida das pessoas e no desenvolvimento urbano. Modelo de
planejamento que data da década de 1940 e perdura até os dias atuais, a
―cidade do automóvel‖ (Schiller et al., 2010) se caracteriza pela
expansão territorial da cidade, deixando de lado a compactação das
localidades e segregando o uso do solo. Com a velocidade
proporcionada pelo automóvel, a cidade projetada para automóveis cria
diversas condições para o deslocamento de uma parcelada população,
mas produz e mantém desigualdades de mobilidade e acessibilidade para
grande parte dela.
Nesse panorama, Short e Pinet-Peralta (2010) sinalizam a
importância do movimento futurista na concretização desse modo de
vida. Neste, a expressão artística faz um elogio ao movimento, e a
velocidade se tornou sinônimo não só de coragem e audácia, mas de
desenvolvimento e progresso. Nesse horizonte estético e ideológico, a
cidade modernista criou forma.
Poetizada por Marinetti1 e concretizada por Le Corbusier2, foi
concebida também à imagem de uma máquina, mas uma máquina de
1 Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) foi um escritor e poeta italiano,
precursor do movimento futurista.

29
habitar. A intenção era produzir o espaço urbano de modo que atendesse
à demanda dos automóveis, e para tanto as cidades tiveram sua
paisagem recortada por autoestradas e arranha-céus. Aos cidadãos que
ali transitavam, caberia a adaptação ao novo estilo de vida e aos novos
formatos da cidade.
Nesse ponto, não se pode negar que o desenvolvimento de
tecnologias para a locomoção (com ênfase no carro), além de imprimir
velocidade no cotidiano das pessoas, permitiu o encurtamento da relação
entre espaço percorrido e tempo gasto nos deslocamentos, aliando
conforto e praticidade às suas vidas. No entanto, houveram
consequências importantes dessas transformações urbanas, como o risco
corporal ao se submeter a essas condições, expresso pelos ―acidentes de
trânsito‖ (Short & Pinet-Pertalta, 2010), e novamente a ênfase no
indivíduo e na indiferença em relação ao ambiente urbano (Sennet,
2003; Gehl, 2010).
No que tange ao ambiente construído, Sennet (2006) expõe que a
arquitetura moderna produziu cidades frágeis, pois ao conceber outras
formas de urbanização, rompeu com os modelos antecessores. Assim,
não houve modificação processual do uso da cidade, tampouco a
urbanização se adequou aos novos modos de vida modernos. Para o
autor, houve uma ruptura com as estruturas anteriores e construção de
outras (mantendo a referência ao ideal futurista), ou seja, as construções
foram destruídas ao invés de serem adaptadas.
Desse modo, perdeu-se a noção de processo, continuidade e de
história no desenvolvimento urbano. Para Sennet (2006), a cidade frágil
é um sintoma que representa uma visão do espaço urbano como um
sistema fechado, que prevê o equilíbrio e integração. No mesmo sentido,
Gehl (2010) enfatiza a urgência de revisão desse modo de planejamento,
sugerindo um modelo de cidade para pessoas, que não seja palco de
disputas entre indivíduos e que leve em consideração as reais
necessidades dos cidadãos, ressaltando aquilo que chamou de ―dimensão
humana‖.
Ao analisar as abordagens sobre as cidades contemporâneas, o
pano de fundo exposto por Magnani (2002) a respeito do entendimento
sobre o urbano não parece ser muito favorável. Por um lado,
diagnósticos com base em indicadores e variáveis sociais indicam a
cidade à beira do colapso: violência, crises no transporte, saneamento
básico e moradia. Por outro lado, a profusão de signos, imagens e
2 Pseudônimo do franco-suíço Charles-Edouard Jeanneret-Gris (1887-1965), um
dos arquitetos e urbanistas mais importantes do século XX.

30
simulacros, inerentes às cidades do capitalismo pós-industrial, produzem
mais rupturas do que coesão na vida social. Para o autor, o que essas
duas imagens sugerem é a deterioração dos espaços públicos,
privatização da vida coletiva e prevalência da vida virtual em detrimento
dos contatos e encontros. No entanto, defende Magnani (2002), nem
tudo é caos e indiferença na cidade, e a dinâmica urbana, bem como as
relações nela engendradas, se evidenciam no olhar ―de perto e de
dentro‖.
Assim, seja do ponto de vista arquitetônico, psicológico ou
antropológico, o que se defende é a necessidade de promover a vida na
cidade. Sennet (2006) sugere, em oposição à cidade fechada, a cidade
aberta, que flerta antes com a complexidade e a diferença do que com a
estabilidade. Esse modelo se embasa em três aspectos principais: cidade
como território de passagem, sendo a experiência de passagem um
modo de conhecer a cidade como um todo; formas incompletas, que
favoreçam outros usos dos mesmos espaços; e narrativas de
desenvolvimento, lembrando que o desenvolvimento de algo se dá por
dissonâncias, conflitos, progressões e regressões, englobando o
movimento da história. Resultado disso, conclui o autor, é uma
experiência democrática do urbano, que propicia elementos para a
convivência, conectando lugares e pessoas.
A proposta de Gehl (2010) para a invenção de outros modos de
planejamento urbano aponta para a concretização de quatro objetivos: a
produção de uma cidade habitável, segura, sustentável e saudável. É
necessário que a cidade convide seus habitantes a ocupá-la, partindo do
pressuposto de que as estruturas urbanas produzem uma demanda e usos
específicos da cidade. Assim, quanto maior a quantidade de estradas,
mais estimulado será o uso de automotores, da mesma maneira que o
aprimoramento de condições para ciclistas aumenta a quantidade de
pessoas pedalando. Além disso, a melhoria das condições para a
caminhada não beneficia apenas uma parcela da população que opta por
esse modo de se transportar, mas sim a vida na cidade. Para tanto, é
necessário criar condições de permanência e circulação na cidade, com
estruturas compactas, áreas verdes e espaços públicos atraentes, todos na
escala humana (Gehl, 2010).
Entende-se que a cidade aberta, proposta por Sennet (2006) vai ao
encontro da cidade para pessoas de Gehl (2010), pois ambas pressupõem
a vida na cidade, que por sua vez reforça a vida social. É o (re)começo
para a produção de outras formas de socialização, que emergem como
exemplos nas grandes metrópoles contemporâneas.

31
Herdeiras de seu tempo histórico, cidades como Nova York,
Londres, Paris e Melbourne foram erguidas como templos da
segregação, individualismo e culto à velocidade. No entanto, diante do
cenário de globalização, o advento de outras formas de movimentação
econômica, migrações, multiculturalismo e a hibridização da produção
dos sujeitos, o planejamento urbano teve de se alinhar a essa realidade.
Assim, a formatação heterogênea possibilitou o descentramento da
cidade e o favorecimento de diversos pontos de encontro. O desenho
urbano, portanto, sugere outros modos de socialização que emergem das
formas particulares de produção de subjetividade e relações sociais
características do contemporâneo.
São casos de cidades que têm se preocupado com a criação de
condições para que seus moradores explorem e vivenciem a cidade,
usando seu território como ponto de encontros e aperfeiçoamento das
condições de vida. Ainda assim, os exemplos de desenvolvimento
urbano citados por Gehl (2010) e Sennet (2003, 2006) não podem ser
compreendidos isoladamente. Trata-se de cidades situadas em países de
economia e vida social mais ou menos estáveis. Ao levar em
consideração metrópoles de países em desenvolvimento (como São
Paulo, Bogotá e Cidade do México, por exemplo) a situação adquire
outros contornos: a vida cotidiana é pressionada por motivos diversos,
assim como a prioridade política e o uso da cidade são outros. Apesar de
não ser possível repetir experiências bem sucedidas em contextos
diferentes, parece ser consenso que as cidades vêm se abrindo para seus
moradores, facilitando o fluxo e experiência do lugar.
O passeio pela história termina com o espalhamento urbano, que
tem propiciado a circulação por automóveis, mas também a pulverização
de suas centralidades, produzindo cidades heterogêneas e multicentradas
(Sennet, 2003). Ao mesmo tempo em que a facilidade de circular e a
garantia de livre exercício da individualidade marcam as cidades
contemporâneas, esse modelo de mobilidade se torna paradoxalmente
insustentável. Diante do panorama da imobilidade no transporte (Rolnik
& Kintowitz, 2011), cada vez mais se pensa em meios de desconstruir o
modo de circulação motorizado.
Seja pela cidade como sistema aberto (Sennet, 2006), seja com o
projeto de cidades para pessoas (Gehl, 2010), a meta é imprimir outra
dinâmica (que não a do automóvel) às cidades. Estimular modos
alternativos de se deslocar gera a possibilidade de encontros, de acasos e
de estar em contato com o ambiente urbano. Essa experiência urbana é
eminentemente corporal (Short & Pinet-Peralta, 2010; Sennet, 2003):

32
velocidades, sensações, experimentações e afetos reverberam todos no
corpo, produzindo sentidos diversos na relação pessoa-cidade.
3.1.2 Mobilidade como experiência urbana
A discussão conduzida até o momento sugere uma polarização na
compreensão da mobilidade urbana. Por um lado tem-se uma estrutura
urbana massiva, responsável por produzir, ao longo da história, corpos
desligados do ambiente e indiferentes à presença do outro. Por outro, o
desenvolvimento dos modos de circulação motorizados, hegemônicos
nas cidades atuais, é tido como um dos responsáveis pela segregação em
seu uso e como representação principal do individualismo na sociedade
contemporânea.
Sem desconsiderar o impacto desses argumentos, é necessário
pensar a mobilidade como uma prática cotidiana atravessada sim por
esses fatores, mas também produtora de significados e de culturas
(Jensen, 2009). Com isso, não se pretende desconsiderar os
desdobramentos ambientais, sociais e psicológicos do privilégio da
circulação de automóveis e do individualismo nas práticas urbanas, mas
principalmente apontar para a compreensão da mobilidade urbana como
um modo de experimentar e estar na cidade.
Para além do embate que opõe modos de deslocamento
motorizados e não motorizados, procurou-se destacar que o curso da
história moderna produziu condições de circulação de automóveis, não
de pessoas. Isso porque as dinâmicas sociais instigam a aceleração dos
modos de vida pela flexibilização do trabalho, incorporação de novas
tecnologias ao cotidiano (incluindo o automóvel), bem como a
possibilidade de transpor longas distâncias em tempo curto (Araújo,
2004). O carro, portanto, é utilizado como ilustração daquilo que
representa não só uma maneira de produzir cidades e mobilidade, mas
modos de agir e pensar.
Entender a mobilidade como objeto derivado de práticas sociais
particulares exige visualizá-la como práticas reais de mobilidade, que se
dão na co-presença, no contato entre os atores e que implicam em
formas de habitar o espaço e ocupar o tempo (Araújo, 2004). No que
tange aos aspectos subjetivos da mobilidade, faz-se necessário pensar
em como as experiências no espaço e no tempo reverberam nas pessoas
e produzem subjetividade.
Sob o enfoque da psicologia ambiental, Moser (2012) expõe que
a mobilidade em larga escala transforma a proximidade em uma

33
―distância no tempo‖. Ela depende das instalações dispostas na cidade,
bem como da acessibilidade e uso desses elementos urbanos. Na
articulação entre espaço e tempo, defende-se que nas cidades a
acessibilidade se tornou multifacetada e a proximidade
multidimensional. Desse modo, a mobilidade permite a construção de
uma rede de escolhas e usos em um ambiente urbano cada vez mais
heterogêneo, possibilitando apropriações diversas desses espaços.
Nesse horizonte, o estudo de Gatersleben e Uzzel (2007) é
ilustrativo, pois demonstra como usuários de diversos meios de
transporte se sentem em seus deslocamentos diários de acordo com o
modal escolhido (carro, transporte público, bicicleta, a pé), com
destaque para os aspectos afetivos provocados nas viagens. Ao tomar os
deslocamentos motorizados como exemplo, os resultados indicam que
os usuários de transporte público, mesmo fazendo viagens com duração
e distância semelhantes às dos motoristas de carro, sentem que o trajeto
foi muito longo ou demorado quando comparado com os motoristas. O
que esse resultado sugere, entre outros aspectos, é que a experiência do
espaço e do tempo na mobilidade urbana está atrelada a uma complexa
trama de fatores que envolve o motivo da viagem, o modal escolhido e o
espaço por onde transita.
Jensen (2009) aponta para a existência de uma dualidade na
compreensão da mobilidade, com polos situados no nomadismo e no
sedentarismo, no território e na desterritorialização, lugares e não-
lugares. Para o autor, compreender a mobilidade para além desses
dualismos implica em rever a relação entre os elementos urbanos que
produzem movimento e que ligam espaços (armatures3) e aqueles fixos
e delimitados, que promovem a fricção do movimento (enclaves4).
Desse modo, a via para uma compreensão crítica da mobilidade
implica no reconhecimento de que o espaço e o lugar, o móvel e o
estável, o fluxo e seu impedimento coexistem e são interdependentes,
uma vez que os seres humanos móveis também precisam da proteção do
lar. Como ação cotidiana, esse entendimento sobre mobilidade vai além
do deslocamento entre dois pontos no espaço e enfoca aquilo que ocorre
no ―entre-lugares‖. Como prática cotidiana, a mobilidade aponta ainda
para a dimensão política: em movimento o espaço é produzido e
3 Em relação com o português, a tradução de armatures que mais se aproxima
do que o conceito sugere está relacionada a um rotor ou um componente
elétrico que induz corrente.
4 De maneira análoga, enclaves sugerem um território de fronteiras inteiramente
delimitadas dentro de outro e remetem à fixidez.

34
reproduzido, sujeitos se conectam e se desconectam, são localizados e
deslocados, em complexas teias de relações que ligam o urbano, o
sujeito e o outro, abrindo caminhos para a construção diária da
identidade dos moradores da cidade, bem como para a produção de
vínculos afetivos e experiências sensíveis diversas nos espaços de
trânsito (Jensen, 2009).
No que tange à experiência sensível do urbano, Hissa e Nogueira
(2013) defendem que há algo na cidade que não é somente piche e
concreto. Ela é dotada de uma pulsação constante, é desenhada por
misturas, contradições e heterogeneidades, de modo que viver a vida
urbana implica não somente em ver a cidade, mas experimentá-la. Para
os autores, ―ver a cidade é viver a cidade, experimentá-la em seu
terreno‖ (Hissa & Nogueira, 2013, p. 56), que é um convite inevitável ao
deslocamento do corpo. Assim, as vivências da / na cidade são antes de
tudo corporais, há uma relação estreita entre o próprio corpo e o corpo
da cidade. Movimento, afetos, experiências, todos gravados em sua
superfície: na pele, na rua.
Se em Sennet (2003) há uma correspondência entre a forma
urbana e as vivências corporais ao longo da história, Hissa e Nogueira
(2013) propõem que a cidade é corpo. Para os autores:
A vida urbana é feita das relações corpo-cidade,
espaço-movimento, afeto-ação. A cidade-terreno
é a cidade no nível da rua, produzida por corpos e
movimentos, do que está sendo feito da vida
urbana. O corpo experimenta a cidade. A cidade
vive por meio do corpo dos sujeitos. A cidade é
cidade-corpo. (Hissa & Nogueira, 2013, p. 56).
Nesse sentido, o movimento do corpo torna-se um convite à
experiência da cidade, de modo que não se mover implica na redução do
campo do sensível e no fechamento do corpo para a cidade (Hissa &
Nogueira, 2013). Experimentá-la requer, portanto, estar em contato e em
constante circulação, abertura para suas paisagens políticas, estéticas e
sociais, o que é inviabilizado, novamente, pela circulação motorizada.
Para estender o diálogo entre os autores, Sennet (2003) entende
que à medida que as vias são cada vez mais expressas e bem sinalizadas,
o motorista precisa cada vez menos dar-se conta das pessoas e das
construções para prosseguir no seu movimento. Os deslocamentos são
mais rápidos num ambiente cujas referências tornaram-se secundárias.
Para Hissa e Nogueira (2013), a circulação com automóveis na cidade

35
encarna as contradições do modo de produção capitalista e da ordem a
ele subjacente, promovendo, sobretudo, experiências privadas.
Assim, a organização do espaço, o traçado das cidades e a direção
das ruas parecem prenunciar a experiência que se tem da cidade e, por
sua vez, a configuração subjetiva de seus moradores. No espaço
racionalizado, a pressa dita o ritmo do movimento e o automóvel figura
não só como meio hegemônico de circulação, mas como um modo de
manutenção do poder e da ordem.
No entanto, toda estratégia de manutenção do poder e da ordem
vigentes gera a possibilidade de seu avesso (Hardt & Negri, 2003).
Resistir à velocidade do automóvel e à cidade da pressa escancara a
possibilidade de outras experiências urbanas, diferentes e imprevisíveis.
E a resistência ganha consistência na lentidão, ou nos ―homens lentos‖
(Hissa & Nogueira, 2013; Santos, 2014).
Entendidos como aqueles que desviam do modo capitalístico de
produção de subjetividade, interpelam as regras e organizações
cotidianas da cidade, principalmente no que tange à mobilidade urbana,
produzindo novos sentidos na cidade. Assim, sejam os homens lentos
(Santos, 2014), os imigrantes clandestinos (Augé apud Silva, 2011) ou
os vagabundos (Bauman, 1999), o que está em jogo para essas pessoas
que se movem à margem das vias instituídas é a possibilidade de
retorcer o sentido preestabelecido para o espaço (aquele racional e
planejado) e desafiar territórios.
Para Hissa e Nogueira (2013), a lentidão interessa a partir do
momento em que ela faz sentir, pensar e experimentar, ampliando o
campo perceptivo. No contexto em que a velocidade e a indiferença dão
a tônica da experiência urbana, os homens lentos caminham no contra
fluxo, reatando os pedaços da cidade que parece fragmentada, sem
referências, esquizofrênica. Nesse sentido, é necessário enfatizar: a
lentidão subverte os territórios estabelecidos e confere outros sentidos
ao movimento e ao espaço. O que permanece é o movimento, um fluxo
que produz sentidos e culturas, criam e recriam a noção de eu e de outro
(Jensen, 2009).
Ao transpor essa discussão para o uso de bicicletas como meio de
se mover na cidade, Jensen (2013) considera que o movimento favorece
encontros e sensações, mas o foco de sua análise recai na dimensão
política da mobilidade por bicicletas. Na análise das políticas que
priorizam esse modal na cidade de Copenhagen, a autora traz à tona os
aspectos discursivos que fundamentam modos específicos de ser
habitante/ciclista e de circular naquela cidade.

36
Atualmente, estima-se que 50% dos habitantes daquela cidade
realizam deslocamentos com bicicletas, número que a mantém como
uma das principais referências no uso cotidiano desse modal. Esse
patamar foi alcançado pela produção de políticas e pela elaboração de
planos de médio e longo prazos que priorizam a circulação de bicicletas,
o que viabiliza o tempo de viagem, segurança e conforto, o estilo de
vida dos cidadãos e, em suma, a vida urbana como um todo (Jensen,
2013).
Assim, existe a interlocução entre o discurso das políticas e os
modos de ser dos moradores de Copenhagen, uma vez que as ações
políticas reforçam a imagem da cidade como modelo para o ciclismo
urbano, além de compor a identidade dos moradores de Copenhagen.
Jensen (2013) entende que o alvo dessas políticas são pessoas que
desejam se deslocar de maneira rápida e fácil, uma experiência que
proporcione ao mesmo tempo contato com o ambiente e que favoreça o
movimento, sem desperdício de tempo nas longas filas de
congestionamento. Ou seja, acesso direto, otimização do tempo e
experiência urbana sem fricção.
No caso da cidade de São Paulo o discurso se mantém, ainda que
demonstre o avesso da situação exposta por Jensen (2013). Desde o
início do século XX, as políticas para a cidade priorizaram a mobilidade
dos modos motorizados, em um processo que aliou a ampliação das
estruturas de trânsito, modernização e transformações urbanas
decorrentes de processos econômicos, políticos e arquitetônicos. Rolnik
e Klintowitz (2011) pontuam que não é ao acaso que, na cidade de São
Paulo, a questão da imobilidade se apresente como congestionamentos,
pois ao mesmo tempo em que as políticas priorizaram a construção de
estruturas para favorecer a circulação, a cidade foi inundada por
veículos particulares, inviabilizando seu trânsito. Existe nessa cidade
uma forte interlocução entre os discursos das políticas de mobilidade e a
maneira como as pessoas circulam na cidade.
Nesse sentido, os discursos das políticas de Copenhagen (Jensen,
2013) e São Paulo (Rolnik & Klintowitz, 2011) se encarregam de
produzir tipos particulares de cidade e modos particulares de ser e estar
nesses espaços. Se inicialmente as infraestruturas urbanas foram
projetadas para favorecer o movimento e diminuir a fricção – armatures,
conforme definição de Jensen, (2009) –, as análises demonstraram a
produção de culturas distintas, senão antagônicas, a partir das políticas
para a mobilidade elaboradas para cada cidade.
Assim, os argumentos de Jensen (2009) e Jensen (2013) se
complementam, pois as infraestruturas da cidade que produzem

37
mobilidade, ao cumprirem sua função de conectar lugares e pessoas,
também reforçam que espaços de mobilidade também podem ser
experienciados e significados pelos sujeitos que se movem. Existe aí o
entrelaçamento das dimensões política, urbana e subjetiva que
legitimam o ―sentido de lugar‖ (Jensen, 2013), ou seja, a produção da
identidade pessoal referente ao lugar por onde transita.
Desse modo, seja pelo fluxo (Jensen, 2009) ou pela lentidão
(Santos, 2014), evidencia-se a possibilidade de viver a cidade de outras
maneiras, de escapar à aceleração que produz indiferença e de anunciar
a possibilidade de estabelecimento de laços com o espaço, resistindo à
velocidade com que a vida contemporânea se produz. Não por acaso,
Gatersleben e Uzzel (2007) identificaram em seu estudo que os
deslocamentos feitos por pedestres e ciclistas são mais divertidos e
relaxantes quando comparado àqueles dos usuários do transporte
motorizado público ou privado.
Para retomar a noção de dobra, Hissa e Nogueira (2013, p. 73)
sugerem que ao invés de cindir o tecido urbano, ―[...] é possível dobrá-lo
de modo que não se rasgue, mas cresça em volume e se multiplique.
Essas dobras da cidade são feitas no tear de redes de lugares, de
apropriações múltiplas, com os corpos plurais que agem e tecem
desenhos no mundo‖. Portanto, na tessitura urbana são os lugares que
garantem consistência à experiência da pessoa na cidade. Trata-se do
encontro entre pessoa e espaço que deixa uma marca, que afeta. Jensen
(2013) sugere que a mobilidade confere significado aos lugares, o que
indica que existe algo de permanência no movimento. Em suma, os
deslocamentos diários podem ser acontecimentos significativos, para
além da instrumentalidade do ir e vir cotidiano.
Desse modo, a linha de argumentação construída tem sustentado
que na relação pessoa-cidade, os deslocamentos podem ser considerados
vivências importantes, principalmente quando contestam espaços de
poder, discursos políticos e modos de ser historicamente canonizados
pelos meios motorizados de locomoção. A proposta de tornar a vida nas
cidades mais lentas e promover o fluxo - de pessoas e de sentidos - se
refere não somente à possibilidade colocar as pessoas em contato íntimo
com o ambiente urbano, mas também de verificar a igualdade no uso das
cidades.
Assim, se a mobilidade é uma prática cotidiana, está inscrita no
registro da política. De maneira análoga, se é uma experiência subjetiva,
está inscrita no registro do sensível, dos afetos. Compreendê-la nesses
termos pode auxiliar no entendimento de como os espaços de uso diário

38
podem se tornar significativos mesmo estando em movimento,
enriquecendo os significados da relação pessoa-cidade.
3.1.3 A possibilidade do lugar na mobilidade urbana
Na concretude da cidade, é possível medir seu espaço de maneira
objetiva em metros quadrados, quilômetros, decibéis. No entanto,
quando se trata da experiência urbana é necessário inscrever a cidade no
regime das sensibilidades: corpo-cidade (Hissa & Nogueira, 2013).
Nesses termos, Thibaud (2004; 2012) desloca a noção de meio ambiente
(aqui entendido como meio ambiente urbano) para a de ambiência, o que
sugere outra maneira de conceituar e experimentar a cidade. Para o
autor, ambientar um espaço significa ressaltar seus aspectos sensíveis, o
que convoca à dimensão estética e social da qualidade de vida e bem
estar dos moradores da cidade (Thibaud, 2012). Em outros termos,
ambientar é criar condições para que um lugar se torne habitável.
A ambiência remonta à dimensão da percepção, mas não de
elementos isolados ou sobrepostos, tampouco convida a uma atitude
contemplativa diante da realidade. Ela não é uma localidade precisa,
mas antes de tudo algo que se destaca em um campo difuso. Não é um
objeto da percepção, mas aquilo que ―dá o tom‖ aos territórios (Thibaud,
2012). Nas palavras de Thibaud (2012, p. 32): ―ambiência é o que dá
vida a um meio ambiente, o que lhe confere um valor afetivo‖.
Desse modo, se a ambiência implica na abertura para o regime do
sensível e dos afetos, assim como dispara a capacidade de agir nos
espaços, ela apresenta um modo de experimentar a cidade e faz
referência ao espaço vivido. Se essa linha de raciocínio for adequada, a
ambientação urbana pode ser um convite à reflexão do lugar na cidade.
Hissa e Nogueira (2013), na esteira de Milton Santos, definem que lugar
é onde a vida acontece, sendo que cada lugar é, à sua maneira, o mundo
(Santos, 2014).
Do ponto de vista da geografia humana, lugar e espaço estão
intimamente relacionados e não podem ser definidos separadamente.
Para Tuan (1983), o espaço é dado pela capacidade de se mover: é
possível tomar consciência dele pelo simples esticar dos braços e das
pernas. O lugar, por sua vez, é a parada, a pausa no movimento, o que
permite que este se torne um centro de valoração para aquele que o
experimenta (Tuan, 1983).
Por se tratar da experiência humana no espaço, a dimensão do
lugar remete aos significados e ao universo simbólico das pessoas em
seus entornos. A definição de espaço e lugar aludida por Tuan (1983)

39
pode sugerir uma polarização entre movimento e parada, trânsito e
pausa, mobilidade e imobilidade. Discussão também proposta por
Sennet (2000), o vínculo que as pessoas estabelecem com os lugares
pode, por vezes, ser entendido pela imagem do enraizamento.
Frequentemente referida como um modo de captar a identidade grupal
em uma localidade específica, a noção de enraizamento confunde a
imobilidade com o senso de pertencimento a um lugar particular no
mundo, o que reforça a noção de identidade como algo estagnado e
minimiza o movimento inerente à vida nas cidades.
No entanto, se espaço e lugar são conceitos que não podem ser
definidos separadamente, é necessário inserir o movimento e a parada
no próprio lugar. Santos (2014) entende que os lugares são feitos de
fixos e fluxos, e o movimento é aquilo de vivo que os reveste (Hissa &
Corgosinho, 2006). Assim, o lugar aglutina significados, histórias
individuais e coletivas, subsidia a construção de identidades e refuta
tudo mais que sugere encerramento, finalidade ou que dê o caráter de
permanência.
Entretanto, a possibilidade de acessar o lugar se dá em ato, em
sua experiência. O lugar é o terreno dos encontros, do cotidiano e das
histórias, não sendo, portanto, o movimento o que retira seu estatuto de
existência. O lugar é a tensão existente entre movimento e parada:
Mesmo movimentando-se, a maioria dos homens
encontra-se em um lugar. Ali, no lugar, a
existência dos homens adquire o sentido da vida.
Não é o trânsito, não são os ritmos e os fluxos que
retiram a condição de existência dos lugares,
recortados pelas estruturas moventes, vivos (Hissa
& Corgosinho, 2006, p. 12).
Desse modo, se o lugar é aquilo que permanece mesmo em
movimento, é possível pensá-lo como uma construção constante. Ele é
produzido por relações sociais, tecido por uma rede de significados
vinculados ao espaço e se amalgama à história civilizatória e individual
(Carlos, 2007). Nesse sentido, o lugar pode ser definido nos seguintes
termos:
[...] o lugar é, em sua essência, produção humana,
visto que se reproduz na relação entre espaço e
sociedade, o que significa criação,
estabelecimento de uma identidade entre
comunidade e lugar, identidade essa que se dá por
meio de formas de apropriação para a vida. O

40
lugar é produto das relações humanas, entre
homem e natureza, tecido por relações sociais que
se realizam no plano de vivido, o que garante a
construção de uma rede de significados e sentidos
que são tecidos pela história e cultura civilizadora
produzindo a identidade (Carlos, 2007, p. 67).
Definir o conceito de lugar por esse prisma exige pensá-lo
concomitantemente em termos objetivos e subjetivos. Da mesma
maneira como é admitida a existência de um substrato material e
concreto referente à espacialidade do lugar, essa superfície espacial é
recoberta por uma camada de vida, o lugar só existe na e pela
experiência das pessoas ao longo do tempo: é o lugar pensado,
apropriado, vivido (Carlos, 2007), e a vida só é possível em ato. Assim,
por ser uma construção social e histórica, o lugar é um disparador dos
processos de produção de subjetividades, identidades e de apropriação
do espaço, que têm a afetividade como aspecto constitutivo.
No mundo contemporâneo, o delineamento dos lugares se acirra
no contexto da globalização. Além da compressão espaço-tempo e da
tensão entre espaço e lugar, outro conflito que cria vulto nos territórios
da cidade se dá entre o local e o global. Em uma época em que se
pressupõe a derrocada da região e do lugar em detrimento do fenômeno
global e a globalização como um processo hegemônico (Hissa & Melo,
2008), os acontecimentos em escalas micropolíticas parecem perder seu
espaço e visibilidade.
O panorama de globalização, portanto, caracterizaria uma ameaça
aos lugares, que no mundo contemporâneo estariam fragmentados,
massificados e destituídos de sua história (Hissa & Melo, 2008). Sob a
prerrogativa da circulação de bens e mercadorias em um território cujas
fronteiras são virtuais, os lugares estariam fadados ao desaparecimento,
prevalecendo apenas os espaços de fluxo vivenciados em uma
temporalidade única, a aceleração. Esses espaços se referem àquilo que
Augé (2012) denominou de não lugar. Para o autor, estes são definidos
em oposição aos lugares antropológicos e têm base nos aparatos que
viabilizam a circulação acelerada, bem como nos meios de transporte ou
grandes centros comerciais.
Característicos da chamada supermodernidade (Augé, 2012), os
shoppings centers, aeroportos e as vias expressas designam duas
realidades dos não lugares: de espaços construídos para determinados
fins (transporte, comércio e lazer) e a relação que as pessoas
estabelecem com eles, baseadas na não identidade e no não

41
reconhecimento (Carlos, 2007). Se nos lugares há a criação de uma
sociabilidade orgânica, nos não lugares cria-se uma ―tensão solitária‖
(Augé, 2012, p. 87).
No entanto, há um ponto de confluência entre o fenômeno local e
global: é no lugar que a globalização se materializa e se atualiza, tem
seus conteúdos redefinidos sem, contudo, perder suas particularidades
(Carlos, 2007). Na ordem global, a estratégia de supressão dos lugares é
a mesma que possibilita a sua resistência: a difusão, a articulação e os
fluxos mundiais. Para Carlos (2007, p. 31-32), o lugar também se
configura como rede de lugares, pois ele é ―[...] específico e mundial
[...]. Apoia-se numa rede de difusão — de fluxos de informação, bens e
serviços [...] que se constitui cada vez mais num espaço mundial
articulado e conectado o que implica num novo olhar sobre o local‖.
Nesse sentido, as dinâmicas locais e globais se constituem
mutuamente e são o pano de fundo para a construção dos lugares.
Portanto, no lugar global o movimento é uma das premissas e condições
para sua existência e não necessariamente a circunscrição espacial e a
fixidez territorial. Carlos (2007, p. 48) expõe a existência de lugares
marcados por uma ―territorialidade móvel‖, ou seja, aqueles que não
possuem uma forma contínua, pois o uso é esporádico. Trata-se de uma
apropriação do espaço de uso temporário e que não se distribui de
maneira regular no tempo, mas ainda assim se desdobra na vida
simbólica das pessoas que o compartilham.
Ao contrário do que pode sugerir a ideia da globalização, atrelada
à massificação, ao esmaecimento dos afetos, dos lugares e das
identidades, é necessário pensar a dimensão do lugar em constante
transformação, como a esfera onde as pessoas se conhecem e se
reconhecem, a vida se produz e reproduz. Nesses termos, a cidade é
terreno privilegiado para a emergência dos lugares, mesmo sendo um
centro de significações que extrapola a esfera urbana ou rural.
De pequenez geográfica, porém de grandeza sociológica, nos
lugares é possível ver a emergência de redes de sociabilidade,
solidariedade e a possibilidade de organização comunitária para fazer
frente às desigualdades evidenciadas na cidade (Hissa & Melo, 2008).
Portanto, o lugar é onde ocorrem as resistências às forças hegemônicas e
totalizantes da globalização.
Assume-se assim a discussão do lugar na e da cidade, por se levar
em consideração as diversas dimensões que este pode adotar. Por um
lado, a vizinhança e a vida comunitária de um bairro podem ser
consideradas como centros de condensação de significados e de
fortalecimento identitário. Por outro a cidade pode assumir a condição
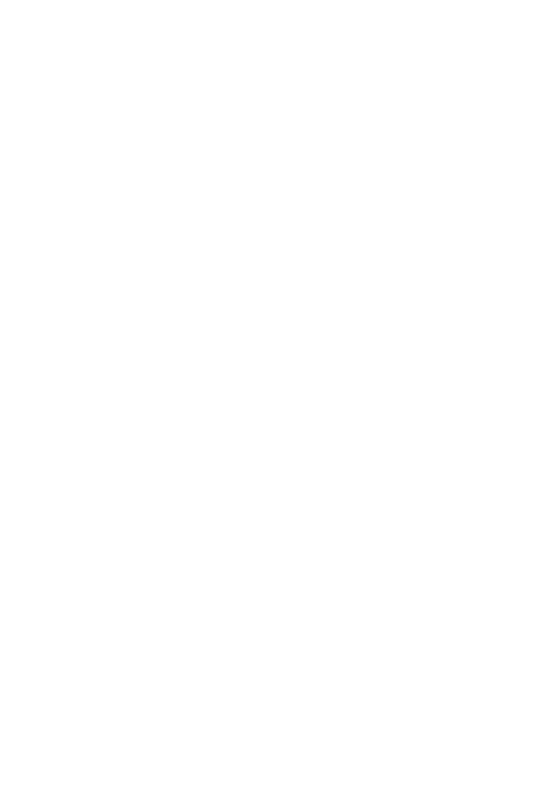
42
de lugar, sendo que em seu interior é possível visualizar a disseminação
de redes de lugares delineadas pelo uso de indivíduos e grupos, pelas
experiências e conflitos que aí emergem (Hissa & Melo, 2008).
Melo e Hissa (2004) recorrem à imagem do palimpsesto para se
referir às cidades, seus lugares e histórias. Consiste em um pergaminho
com uma escrita primitiva e que teve seu texto raspado para dar lugar a
outros mais recentes, alegoria que serve para retratar as histórias dos
homens nas cidades. Os autores defendem que as histórias são grafadas
pela cultura nos territórios onde se desenvolvem as relações humanas e
o território da cidade é formado por grafias diversas, sobrepostas ao
longo dos tempos. Isso configura a cidade como um texto que comporta
uma diversidade de leituras, ainda que sua legibilidade seja complexa.
Desse modo, as fissuras do palimpsesto urbano atualizam sua história e
permitem ver as diversas camadas escritas e inscritas na superfície da
cidade (Melo & Hissa, 2004).
A ênfase na questão dos lugares e da inscrição de suas histórias
na cidade reforça a possibilidade de convivência de textos novos e
antigos. As experiências que as pessoas têm em outros lugares e em
outras épocas se atualizam no lugar onde vivem, compartilham seus
saberes e circulam cotidianamente. A referência ao palimpsesto é
elucidativa pois dá a ideia de um acúmulo incompleto, e não de
supressão completa das marcas deixadas ao longo da história (Hissa &
Melo, 2008). Se se tratar do lugar como um pedaço de permanência no
contexto de mobilidade, é para reforçar que nas cidades contemporâneas
há algo que não sucumbe à massificação e ao panorama econômico-
cultural da globalização.
Ora, nem tudo é indiferença e velocidade nas cidades globais e,
conforme foi discutido, há redutos de sociabilidade e de afecções em seu
seio. Sob a ótica do ambiente construído, Lynch (1997) pretende captar
a imagem mental que os moradores de cidades estadunidenses formulam
das mesmas. Debruça-se sobre o que denominou de imaginabilidade da
cidade, característica de um objeto físico que lhe confere alta
probabilidade de evocar uma imagem forte em um observador, ou seja,
trata da existência de elementos distintivos ou que caracterizam uma
cidade.
Nesse sentido, o conteúdo das imagens evocadas em seu estudo
se organiza em função das vias, dos limites, dos bairros, dos pontos
nodais e dos marcos. Espaços de passagens, pontos na cidade e
fronteiras que se mostram ao citadino como objetos da percepção e
povoam a imagem mental que o mesmo faz da cidade. No entanto, se

43
em linhas gerais a cidade pode parecer estável por algum tempo, ela
também está sempre se modificando nos detalhes (Lynch, 1997).
São esses detalhes que se anunciam no olhar de perto e de dentro
e permitem transver (como sugeriria Manoel de Barros) a vida pulsante
das e nas cidades. Sob o enfoque etnográfico, Magnani (2002) procura
evitar os entendimentos dicotômicos sobre a cidade para compreender
os arranjos feitos pelos próprios atores sociais em suas dinâmicas
cotidianas para transitar pela cidade e lidarem com sua complexa trama.
Assim, o autor parte do pressuposto da cidade como totalidade para
entender os ordenamentos particulares, as regularidades e os padrões de
uso de um grupo social.
Não se trata da totalidade que torna a cidade homogênea, mas
como uma necessidade metodológica para tomá-la como elemento de
análise e a compreender por suas dinâmicas cotidianas, que ocorrem no
nível das micropolíticas. Assim, no suposto caos urbano de uma grande
cidade, Magnani (2002) propõe a organização da experiência urbana por
categorias que partem do pedaço, indicando a presença regular de
membros e códigos de comunicação em dada espacialidade, passa pelos
trajetos, manchas e pórticos até o delineamento dos circuitos nas
cidades, aquelas redes de equipamentos que concorrem no oferecimento
do mesmo bem ou serviço e que têm o poder de agregar e sustentar uma
atividade urbana. Do ponto à disseminação das redes, tratam-se formas
de apropriação do espaço que se dão pelo uso específico da cidade, que
se torna referencial para um grupo que nela transite.
Em linhas gerais, o que Lynch (1997) e Magnani (2002)
propõem, além de ferramentas teóricas consistentes, é um meio (ou
método) de intervir na cidade em escala macroscópica que auxilie na
apreensão dos modos como seus habitantes circulam e atribuem
significados aos lugares. Como foi discutido, os processos de uso e
apropriação dos espaços estão implicados na produção dos lugares e na
possibilidade de as pessoas se vincularem a eles, estabelecendo laços
afetivos e de identidade.
Esses laços, que têm sido colocados em xeque pela dinâmica do
capitalismo global, devem ser constantemente revisitados de modo que
auxiliem na compreensão de como as pessoas se ligam aos lugares.
Entre a falta de referências que subsidie a produção de identidades e a
sua compreensão como algo estático e duradouro, que persiste no tempo,
o delineamento das identidades contemporâneas deve ser transversal ao
dos lugares e de suas histórias.
Sennet (2000) aborda a questão da identidade pelo panorama do
mundo contemporâneo do trabalho. Ele questiona a possibilidade de

44
criação de um senso de continuidade (espacial e temporal) no mercado
de trabalho que produz histórias marcadas pela errância e
descontinuidade em detrimento de uma rotina laboral. Para o autor a
questão da identidade, ou o conflito entre como os as pessoas enxergam
a si próprias e como os outros as enxergam, se dá entre o lar ideal e a
realidade de trabalho, entre a moradia que localiza e o trabalho que
desloca.
Nesse sentido, Rolnik (1997a) expõe que a flexibilidade exigida
das empresas para se adaptarem ao mercado global é a mesma daquela
esperada dos sujeitos frente ao novo (novos paradigmas, tecnologias,
hábitos). A autora defende a existência de dois polos no campo da
produção de subjetividades: de um lado a pulverização das referências
frente a uma realidade do mercado global; de outro, a persistência de
referências identitárias vinculadas às minorias. A primeira postura
encarna a tensão entre o global e o local, que se acirra diante do atual
panorama econômico. A segunda reforça a identidade como algo
imutável e se relaciona ao lugar encerrado em si mesmo, refratário à
vida a ele inerente. Assim, o vazio de sentidos provocado por ambas as
posturas escancara a questão central que deve ser combatida, a dizer, a
lógica identitária em detrimento dos processos de singularização
(Rolnik, 1997a).
Esta parece ser a proposta de Sawaia (1995) ao expor o
entrelaçamento entre identidade e lugar. A autora se apoia na noção de
identidade como identificações em curso, ou seja, não se mantém
imutável ao longo da existência, está sempre sendo posta e reposta ainda
que aparente alguma estabilidade. A cidade, por sua vez, não se encerra
em sua materialidade (ruas, edifícios e praças), mas antes encarna a
tensão entre a geometria do espaço e a existência humana (Sawaia,
1995). Em suma, é o campo dos encontros e da relação com a alteridade.
Desse modo, as cidades são palco do embate entre o familiar e o
estranho, quem é do pedaço e os estrangeiros, espaço da ética e da
convivência. Para Sawaia (1995), o que define um lugar como ―meu‖, o
que produz seu ―calor‖ é antes a sensação de segurança e de se sentir
gente entre pares do que a familiaridade com o espaço. Nesses termos,
para que a relação entre lugar e identidade seja evidenciada é necessário
romper com o pensamento por dualidades. Adotar o referencial da
identidade implica em reconhecer que espaço e homem são compostos
por processos que se entrelaçam, ambos ―compartilham a mesma
materialidade e a mesma subjetividade‖ (Sawaia, 1995, p. 20).
Hissa e Corgosinho (2006) recorrem a Milton Santos para
explicar que os lugares são elementos simbólicos que medeiam a

45
construção das identidades. Desse modo, ―a identidade entre indivíduos,
entre grupos, é também a identidade que eles estabelecem com os
lugares‖ (Hissa & Corgosinho, 2006, p. 13). Nesse aspecto, os autores
enfatizam que não importa o local de origem, mas sim onde está, o lugar
onde as experiências acontecem.
Moser (2012) entende que relações de mobilidade e proximidade
são elementos centrais para compreender o desenvolvimento do
sentimento de urbanidade. Para o autor, as relações cotidianas que se
dão nas cidades são fundamentais para a construção e manutenção das
identidades. Além disso, o acesso aos espaços urbanos, balizado por
condições físicas, econômicas e culturais dos diferentes grupos sociais,
pode conduzir ao compartilhamento e à vida mais harmônica na cidade.
Argumenta-se que identidades e lugares são produtos e
produtores do mesmo processo. Eles se metamorfoseiam e interagem de
tal modo que constituem verdadeiros híbridos revestidos de vida.
Compreender os lugares por seu movimento e as identidades por suas
transformações encaminha ao entendimento da mobilidade urbana como
uma prática cotidiana que produz significados.
Estar em movimento nas cidades implica em produzir e
reproduzir, em relações complexas, a cidade e a si mesmo, o que
envolve as culturas e diferentes saberes da mobilidade. No entanto, para
além da reprodução do espaço, práticas de mobilidade são parte da
construção diária da identidade dos moradores da cidade,
transversalizadas por experiências estéticas (no registro do sensível) e
por vínculos afetivos. Desse modo, concorda-se com Jensen (2009) que
entender a mobilidade nesses termos abre espaço para discutir sobre
noções mais fluidas de identidade e de territórios.
3.2 Sobre identidade de lugar
3.2.1 Identidade como categoria de análise
Assim como a definição do conceito de lugar transita entre
diversas áreas do saber acadêmico, o mesmo ocorre com a identidade. É
um conceito que percorre o campo interdisciplinar do conhecimento
(entre a sociologia, psicologia e antropologia) e, além de ser de difícil
definição, é abordado de maneira variada em termos teóricos e
metodológicos.
No campo sociológico a ideia de identidade emergiu como
necessidade do contexto do nascimento dos Estados modernos e da crise
de pertencimento por ela disparada, evidenciada pelo estabelecimento de
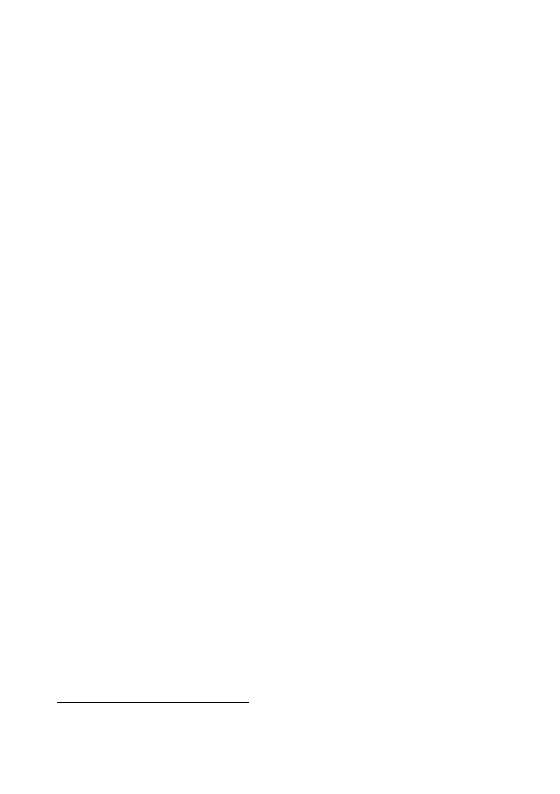
46
fronteiras entre nós e eles (Bauman, 2005). Inscrita e vinculada ao
território nacional, as identidades foram forjadas como barreiras –
físicas e simbólicas – rígidas que não só garantiam a soberania do povo
em seu território, mas funcionavam como atributos definidores de um
povo em termos culturais, linguísticos e econômicos.
Do ponto de vista individual, a questão se desloca do nós X eles
para o eu X outro, cisão que a propalada ideologia individualista criou e
se reforçou nos tempos modernos. Nesses termos, a identidade pessoal
pode ser entendida como reduto psicológico que garante a exclusividade
de ―ser quem eu sou‖, o exercício do eu particular. Eles, entidade que
outrora ameaçou a soberania territorial, transmutou-se em um outro
indivíduo aterrorizante, que coloca em risco a estabilidade e a unidade
identitária.
Na tradição das ciências humanas, esse foi o entendimento
dominante a respeito das identidades, como eixo subjetivo estruturante,
fixo e imutável, que garante o acabamento do ser. Em última análise,
aquilo que configura o sujeito como ser particular e único. A
apropriação feita pela psicologia remete às origens da psicologia social
moderna, com raízes na teoria do self5. Esta compreende o
desenvolvimento da noção de ―si mesmo‖ inicialmente pela
diferenciação eu-outro e suas implicações corporais, perceptivas e
verbais no sujeito. Na psicologia social, G. H. Mead foi um dos teóricos
a divulgar a teoria do self, ao defini-la como uma estrutura do sujeito
que faz mediação entre as esferas individual e social (Farr, 1998). Ao
longo do desenvolvimento humano, por exemplo, a criança define a si
mesma ao nomear objetos ao seu redor e rotular aquilo que não é ela
mesma. Assim, pessoas e objetos se tornam significativos a partir do
momento em que estão em relação com outras.
Algumas abordagens contemporâneas sobre o tema questionam as
leituras tributárias do interacionismo simbólico e dos trabalhos de Mead.
Nesse sentido, propõe-se a abordagem da identidade que situa o sujeito
histórica e politicamente em seu contexto, que faça dele protagonista de
sua história (Jacques, 2013).
A proposta de Ciampa (1995) caminha nesse sentido, ao disparar
uma discussão sobre identidade a partir da pergunta ―quem sou eu‖. Ele
expõe que a resposta a essa pergunta será um retrato narrado de um
personagem, discurso de alguém que desempenha papéis. Assim como
no jogo cênico, é possível que um ator desempenhe papéis diversos ao
5 Traduziu-se a palavra self, do inglês, pela sua aproximação com o português,
―si mesmo‖.

47
longo do tempo e de acordo com as situações que vivencia. No entanto,
diferente dos personagens de cinema e teatro, responder ao
questionamento proposto exige que as próprias pessoas, ao
desempenharem um papel social, sejam autoras e personagens de sua
própria história, representantes de si, advindo daí seu caráter político.
Esse olhar para a identidade deflagra uma contradição
fundamental, que é seu caráter de totalidade, ou seja, o acabamento
dialético que expõe sua natureza múltipla, contraditória e mutável, ainda
que una. Totalidade, mas não absoluta, adverte Ciampa (1995, p. 74): a
identidade não é um produto em si pois se produz em processos de
objetivação e subjetivação, ela ―[...] é movimento, é desenvolvimento
concreto‖.
Na esteira de Ciampa (1995), é possível entender que o
questionamento sobre a identidade também instaura uma tensão
ontológica. Perguntar-se sobre o ser das coisas e sobre o ser de si mesmo
é colocar o si mesmo em constante diálogo com o outro. Se a questão da
identidade diz sobre a correspondência entre a maneira como eu me vejo
e como o outro me vê, ela é não é uma construção puramente individual,
mas também coletiva e situada – no espaço e no tempo.
A linha que conduz a discussão de Ciampa (1995) remete à
compreensão da identidade como um projeto político, visto que a
dialética de sua construção envolve o engajamento nas situações
históricas e sociais e não apenas a observação passiva do curso dos
acontecimentos. Nem matéria puramente subjetiva nem objetiva, mas
uma imbricação histórico-política que devém sempre como
metamorfose.
No entanto, é necessário lembrar o alerta de Sawaia (1999) sobre
o processo de identificação. Para a autora, o paradoxo existente entre a
visão de identidade como permanência e como devir constante, ou seja,
uma postura que pasteuriza e outra que individualiza, é enganoso pois
ambas as posições são etapas do mesmo processo de identificação. O
problema reside na cristalização em uma delas em função da outra, que
podem ser o substrato para o preconceito e o fundamentalismo.
Portanto, Sawaia (1999) e Ciampa (1995) parecem concordar
com a ruptura da lógica identitária, aquela que considera a identidade
como traço de estabilidade, uma cristalização subjetiva. Pelo contrário, a
produção da identidade sugere o engajamento dos sujeitos na sociedade
e na história, o que confere a eles a potência de criação de modos de ser.
Desse modo, entende-se que identidade e lugar são dois conceitos
rodeados de incompreensões e debates ainda vivos na psicologia e nas
ciências humanas, o que justifica sua presença na pauta de pesquisas.

48
Com base na psicologia ambiental e no conceito de identidade de lugar,
procura-se atenuar alguns desdobramentos desses debates.
3.2.2 Identidade de lugar: história, conceito e pesquisas
No campo da psicologia ambiental, Proshansky et al. (1983) se
apropriam das definições de ‗si mesmo‘ para compreender a formação
da identidade de lugar. Entendem que a formação da ―identidade de si
mesmo‖ (self identity), tributária da psicologia social moderna e da
teoria de Mead, deveria implicar na localização do sujeito, uma vez que
ela se estende aos espaços e lugares onde este se situa e não se restringe
à diferenciação entre si mesmo e o outro. Portanto, o entorno físico e
suas propriedades serão relevantes na construção da ―identidade de si
mesmo‖, aspectos subdimensionados no desenvolvimento das teorias do
―si mesmo‖ (Proshansky et al., 1983).
Desse modo, os autores se questionam a respeito dos efeitos do
ambiente construído na construção da ―identidade de si mesmo‖ e
definem identidade de lugar como uma subestrutura daquela. Consiste,
em linhas gerais, em cognições sobre o mundo físico que representam
memórias, sentimentos, atitudes e significados de comportamentos e
experiências, relacionam-se com a complexidade dos ambientes e
garantem a existência cotidiana do ser humano (Proshansky et al.,
1983). No cerne dessas cognições se situam, portanto, o passado
ambiental do sujeito, espaços e suas propriedades que outrora serviram
para a satisfação de necessidades biológicas, psicológicas, sociais e
culturais.
Identidade de lugar é, portanto, um emaranhado de memórias,
conceitos, interpretações e sentimentos a respeito do ambiente físico.
Estruturada por cognições, ela pode oscilar com o desenrolar das
relações da pessoa com o ambiente, o que afasta de um entendimento da
identidade como um todo integrado e coerente.
Além disso, Proshansky et al., (1983) ressaltam a importância da
vinculação afetiva ao ambiente, ou seja, de compreender o modo como o
espaço geográfico se torna significativo, como ele se torna ‗lugar‘ para o
sujeito. Assim, identidade de lugar implica em envolver-se com o
ambiente, apegar-se, adquirir noção de pertencimento em relação a ele.
O trabalho de Proshansky et al. (1983) é considerado como ponto
de partida para outros autores que se apropriaram da definição de
identidade de lugar e de sua aplicação em pesquisas. Por serem datadas,
suas bases teóricas e epistemológicas são alvo de críticas, o que favorece

49
o desenvolvimento do conceito e a diminuição de algumas confusões a
seu respeito.
Nesse sentido, outros autores dialogam com a teoria da identidade
de lugar proposta por Proshansky et al. (1983), aproximando-se em
alguns aspectos e se distanciando em outros (Korpela, 1989; Twigger-
Ross & Uzzel, 1996). Korpela (1989) define identidade de lugar como
uma estrutura individual produzida na tentativa de se regular ao
ambiente, e por meio de práticas ambientais torna-se possível criar e
sustentar uma noção coerente de si mesmo. Por outro lado, Twigger-
Ross e Uzzel (1996) concordam que as influências ambientais na
identidade tenham sido negligenciadas pelos teóricos do self, ainda que
isso não justifique a separação da identidade em uma subestrutura
preocupada com o ambiente.
Assim, Twigger-Ross e Uzzel (1996) referendam seu trabalho na
teoria da identidade de Breakwell e caracterizam o processo de
construção da identidade à maneira de um organismo biológico, que se
desenvolve com base na assimilação, acomodação e avaliação do mundo
social. Propõem-se quatro princípios para a identidade: autoestima,
autoeficácia, distintividade e continuidade.
Em linhas gerais, autoestima diz respeito às avaliações positivas
que se tem de si mesmo ou do grupo ao qual se identifica. Autoeficácia
se refere à percepção que se tem da própria efetividade em alcançar
objetivos. O desejo de se manter uma pessoa única caracteriza o terceiro
princípio da identidade, o da distintividade. Por último, continuidade é o
fator que garante a coesão temporal da identidade, ou seja, o que garante
alguma permanência com o passar do tempo (Twigger-Ross & Uzzel,
1996).
Com isso, ainda que Twigger-Ross e Uzzel (1996) discordem de
algumas implicações teóricas do conceito de identidade de lugar
proposto por Proshansky et al. (1983), eles convergem em um ponto
importante: nos fundamentos teóricos e epistemológicos. Influenciados
direta ou indiretamente pela psicologia social moderna (compreendendo
a importância do trabalho de Mead), fundamentam identidade de lugar
em seus aspectos cognitivos. Seja como subestrutura do si mesmo
(Proshansky et al., 1983), seja por princípios da identidade (Twigger-
Ross & Uzzel, 1996), estarão em jogo principalmente as avaliações do
sujeito a respeito do ambiente, e esse será o norte de seu processo de
identificação com os lugares.
Na esteira das críticas à definição inicial de identidade de lugar,
Ponte, Bomfim e Pascual (2009) propõem o enfoque do conceito pela
abordagem histórico-cultural, que tem no materialismo histórico-

50
dialético seu embasamento metodológico. As análises feitas do trabalho
de Proshansky et al. (1983) recaem sobre seus fundamentos teóricos,
principalmente o pragmatismo de John Dewey e o interacionismo
simbólico de George Mead (Ponte et al., 2009). Nessas vertentes,
considera-se o homem e a construção da identidade de lugar como um
produto sociobiológico da interação com o ambiente, o que diverge
ontologicamente da situação histórica, cultural e afetiva do homem no
ambiente.
Ponte et al. (2009) propõem, portanto, a apreensão do conceito de
identidade de lugar pela afetividade, um indicador do modo como o
sujeito significa a si mesmo na relação com a alteridade (pessoas e
lugares). Amparam-se na definição de identidade de Ciampa (1995), que
a compreende como processo histórico e social, portanto em contínua
transformação; e na categoria de afetividade de Sawaia (1995, 2000),
como dimensão que move as transformações (Ponte et al., 2009) para
propor outra leitura do conceito de identidade de lugar.
Assim, a apropriação e significação do ambiente, componentes da
identidade de lugar, são atravessadas por afetos ético-políticos (Ponte et
al., 2009), ou seja, a dimensão afetiva é entendida como motor das
relações com o outro e com o ambiente (dimensão ética), bem como das
ações de transformação da realidade (dimensão política). Alinhada ao
contexto histórico e cultural, essa abordagem da identidade de lugar
subsidia a compreensão do fenômeno de maneira contextualizada, que
leve em consideração as contradições inerentes ao tempo histórico em
que se vive.
No mesmo sentido, Dixon e Durrheim (2000) analisam
criticamente o conceito de identidade de lugar e apontam que aspectos
como pertencimento, apego e enraizamento, que dizem respeito às suas
implicações afetivas, marcam o desenvolvimento teórico nas pesquisas
decorrentes daquela de Proshansky et al. (1983). No entanto, ressaltam a
tendência dos trabalhos em enfatizar os aspectos individuais da
identidade de lugar, deixando em segundo plano os aspectos coletivos
que fundamentam as relações entre pessoas, identidades e ambientes
materiais (Dixon & Durrheim, 2000).
O que esses autores sugerem é o deslocamento da identidade de
lugar, proposta endereçada àqueles teóricos que a entendem como um
fenômeno localizado na mente, individual e apolítico. Implica, portanto,
em tirar a identidade de seu ―lugar comum‖ para realocá-la no discurso,
no fluxo do diálogo humano e considerá-la como construção social e
simbólica que permite conectar a pessoa ao lugar (Dixon & Durrheim,
2000).

51
Para Dixon e Durrheim (2000), torna-se desafiador, por exemplo,
explorar a identidade de lugar em tempos de predominância da tensão
entre globalização e localização, bem como situar discursivamente os
sujeitos em territórios cujas fronteiras têm se tornado porosas. Assim, os
desdobramentos identitários do dilema local-global se encarnam na
questão da mobilidade-estabilidade. Pertencer a um lugar e se vincular a
ele ou estar em movimento sem ter paradas preestabelecidas encontram
no espaço seu ponto em comum, daí a importância de compreender a
identidade e suas interfaces com o ambiente físico.
Além disso, a dimensão ética da identidade de lugar (Ponte et al.,
2009) favorece a experiência da alteridade, uma interação dialógico-
afetiva que abre caminho para a compreensão discursiva da identidade.
De acordo com Dixon e Durrheim (2000), é na dimensão discursiva que
se inicia a ‗realocação‘ da identidade, ao removê-la da mente e situar no
fluxo do diálogo humano.
Atrelado à esfera afetiva, os atributos cognitivos da relação
pessoa-ambiente caracterizam a construção da identidade de lugar.
Entende-se por cognição a capacidade humana de conhecer, extrair e
armazenar informações a respeito do ambiente, produzindo
conhecimentos que auxiliam na resolução de problemas cotidianos.
Atrelado ao ambiente, esse entendimento de cognição pressupõe que
todo espaço, natural ou construído, pode ser acessado corporalmente e
posteriormente representado, elaborado e manipulado a partir das
significações a ele atribuídas (Higuchi, Kuhnen & Bomfim, 2011).
Em relação às investigações que colocam a centralidade no
conceito de identidade de lugar, ressalta-se a existência de diversas
maneiras de abordar teórica e empiricamente o fenômeno (Devine-
Wright & Clayton, 2010). Suas implicações apontam para aspectos
pessoais, como cognição, afeto e comportamento, bem como para
espectros amplos, como as forças políticas, sociais e econômicas. São
esses aspectos, portanto, que garantem sua fluidez e
multidimensionalidade.
Nas pesquisas, identidade de lugar se associa fortemente aos
aspectos afetivos em relação ao ambiente, principalmente com o
fenômeno do apego ao lugar. Além disso, identificar-se com o lugar
pode se relacionar com comportamento pró-ambiental e conexão com a
natureza (Devine-Wright & Clayton, 2010).
No estudo conduzido por Knez (2005), investigou-se a relação
entre apego e identidade entre moradores de uma cidade sueca. Os
resultados indicaram estreita relação entre apego e identidade, uma vez
que os respondentes demonstraram forte senso de pertencimento,

52
associaram o lugar a experiências da infância, sentiram-se orgulhosos e
seguros por morarem naquele local.
Em consonância, Hernández et al. (2007) comparam apego e
identidade de lugar e nativos e não nativos no contexto espanhol. Neste
estudo, utilizou-se como escala espacial o bairro, a cidade e o território
nacional e se demonstrou que os vínculos são mais fortes naqueles que
nasceram e cresceram no lugar, com variação de intensidade em relação
ao bairro (menor apego e identificação) e ao território nacional (apego e
identificação máximos). Concluem que a dimensão temporal interfere
nos processos de apego e identidade, uma vez que esses fenômenos se
dão em lugares onde as pessoas permanecem.
Casakin et al. (2015), ao explorarem os mesmos fenômenos,
definem apego ao lugar como aqueles laços afetivos que se dão em
período de tempo relativamente curto de interação com o ambiente; e
identidade de lugar como processo mais lento e complexo, que emerge
em períodos de tempo mais longos. Esse estudo adota como ponto de
partida os resultados de Hernández et al. (2007) a respeito das diferenças
entre apego e identidade em relação ao bairro, à cidade e à nação para
investigar a influência do tamanho da cidade nesses fenômenos.
Concluem que a cidade é percebida como lugar privilegiado para o
estabelecimento de vínculos, enquanto bairros favorecem a mobilidade
na dinâmica urbana. Por outro lado, os autores não encontraram
associação direta entre os vínculos e tamanho da cidade, ainda que
moradores de cidades maiores desenvolvam mais apego e identidade em
relação ao lugar do que aqueles que vivem em cidades pequenas.
Moser (2012) reforça essa discussão ao propor que o apego a um
ambiente específico é o suporte da identidade de lugar. Para o autor,
esse laço emocional com o entorno pode ocorrer na escala urbana e na
rede de lugares espalhados pela cidade. Ou seja, o encontro emocional
pessoa-ambiente se desdobra em um processo de ancoragem com a
cidade e pode adotar a abrangência que escapa aos espaços da vida
diária como o lar e a vizinhança.
Esses estudos demonstram que identidade de lugar e apego ao
lugar são fenômenos distintos que estão intimamente relacionados, além
de possuírem no espaço urbano terreno privilegiado para seu
desenvolvimento (Casakin et al., 2015). Além disso, a relevância dos
aspectos afetivos nos estudos sobre identidade de lugar (Dixon &
Durheim, 2000; Ponte et al., 2009) apontam para um horizonte a ser
investigado, ainda permeado por inconsistências e definições vagas
(Casakin et al., 2015).

53
Além do apego, outro fenômeno relacionado com a identidade de
lugar é o de apropriação do espaço. Entende-se apropriação do espaço
como um processo psicossocial em que a pessoa se projeta em seu meio
e o transforma em uma parte de si, um prolongamento de si mesmo que
caracteriza um lugar como sendo seu. Assim, a impressão de marcas e
alterações visíveis, a disposição de pertences e o exercício de domínio
sobre uma espacialidade, além de configurar o grau de apropriação, dá
referência à pessoa no ambiente permitindo a ela se orientar e preservar
sua identidade (Cavalcante & Elias, 2011).
Moser (2012) entende que apropriação e identidade são
indissociáveis, uma vez que a construção da identidade relacionada à
cidade ocorre pela apropriação de lugares próximos e distantes dispostos
na estrutura urbana, o que constitui o sentimento de urbanidade e de
pertencimento a uma comunidade concretizado no lugar. Em outros
termos, uma relação de identidade ligada de maneira estreita com o
território e se torna um componente importante da identidade pessoal.
Pol e Valera (1999) reforçam a articulação entre identidade e
apropriação, que diz sobre o processo pelo qual as pessoas criam ou
adotam significados simbólicos no espaço e os incorporam à própria
identidade. Sugerem a construção do que denominam identidade social
urbana, ou o sentimento de unidade subjetiva com um cenário urbano
concreto. Para os autores, as pessoas podem definir a si mesmas cm base
nas identificações com o ambiente urbano em suas diversas escalas:
bairro, área ou a cidade como um todo.
O que se pretende demonstrar é a possibilidade de articulação
entre o uso de bicicletas como meio de se locomover nas cidades e a
produção de identidade em relação ao lugar onde se transita. Alguns
estudos têm apontado para esse caminho (Aldred, 2013; Jensen, 2013),
ainda que a revisão de literatura tenha indicado relações marginais entre
os dois (Gatersleben & Haddad, 2010; Passafaro et al., 2014;
Underwood et al., 2014; Willis et al., 2013). Inicialmente, indica-se a
importância do meio de transporte na construção da identidade, ainda
que poucos estudos empíricos tenham examinado essa relação (Murtagh
et al., 2012).
Murtagh et al. (2012) trabalham com a hipótese de que múltiplas
formações de identidade se relacionam com o comportamento de se
deslocar e elas variam em importância de acordo com o trajeto feito (por
exemplo, até o trabalho, escola ou outros deslocamentos cotidianos).
Assim, a compreensão do fenômeno da identidade relacionada aos
deslocamentos adquire importância uma vez que auxilia na compreensão

54
das mudanças comportamentais, algo desejado ao se tratar da redução da
emissão de poluentes e transporte sustentável em escala mundial.
Aldred (2013) discute a necessidade de compreender a identidade
e os modos de se locomover em relação com as demais identidades
sociais. Para a autora, identidades relacionadas ao transporte se
fundamentam nas interações e negociações que ocorrem nas ruas, bem
como nos modos como os participantes do trânsito são tratados. Diante
disso, argumenta que na sociedade atual, dominada pelo uso do carro, a
identidade do ciclista pode se produzir a partir de imagens
estigmatizadas, como o ―ciclista competente‖ e o ―incompetente‖. Nesse
sentido, a produção de estigmas em relação ao ciclista se aproxima da
proposta de Gatersleben e Haddad (2010), ao descreverem os
estereótipos do ciclista inglês, reforçando o caráter social e
contextualizado da identidade.
Por último, Jensen (2013) explora a importância da esfera política
na produção da identidade ciclística de uma cidade. Assim, primar pela
mobilidade com bicicletas pode auxiliar na produção da identidade
relacionada à cidade e de uma ―cultura da mobilidade‖, que viabilize o
movimento e a circulação. Conclui-se com a proposta do uso da
bicicleta como modo de promover interações sociais, encontros,
experiência do espaço natural e urbano. Desse modo, além de favorecer
a mobilidade e acessibilidade, políticas desse caráter podem disparar a
produção de um ―sentido de lugar‖.
3.2.3 Afetividade como categoria norteadora da identidade de lugar
Quando Bomfim (2010) questiona se a afetividade pode ser uma
maneira de conhecer a cidade, um paradoxo parece instalado desde o
ponto de partida. Contradição que caracteriza a psicologia desde sua
inauguração como disciplina científica, funda-se na cisão entre
objetividade e subjetividade, as esferas cognitiva e afetiva, emoção e
razão. Desse modo, o conhecimento científico legítimo seria aquele
produzido com a ênfase na racionalização e instrumentalização de seu
processo, o que colocaria, em última análise, os aspectos afetivos como
um empecilho ao seu desenvolvimento.
Sem a pretensão de iniciar uma discussão epistemológica no
campo da ciência psicológica, a ambiguidade do questionamento de
Bomfim (2010) reside exatamente na justaposição da afetividade e
conhecimento. Ao fazê-lo, borram-se as fronteiras convencionais da
produção do conhecimento em psicologia e coloca-se em evidência a
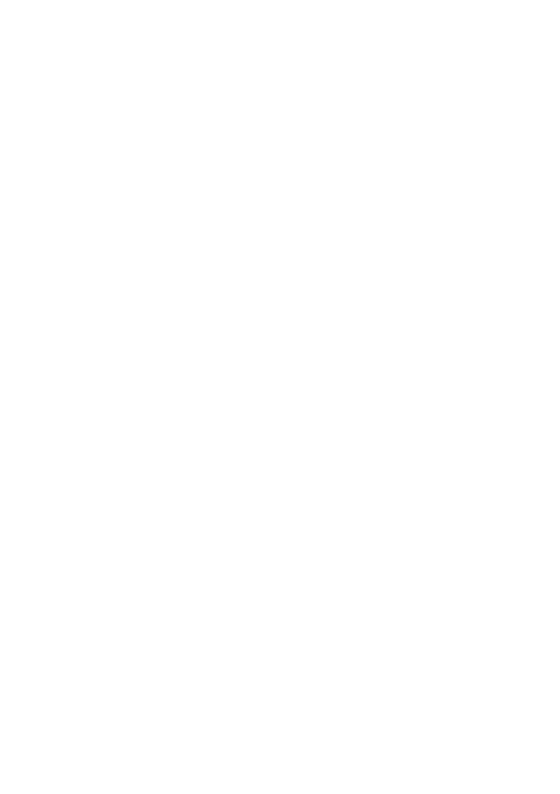
55
possibilidade do afeto (que outrora fora um ―câncer da razão‖) como um
modo de compreender a relação das pessoas com a cidade.
Trata-se do que Sawaia (1995) denominou de racionalidade ético-
afetiva na cidade, capaz de gerar espaços onde ressoem os interesses e
necessidades da coletividade. Essa postura possibilita a invenção de
zonas de movimento e a recriação permanente da existência coletiva no
território da cidade (Sawaia, 1995). No mesmo sentido, Bomfim (2010)
pontua que o uso da categoria de afetividade na psicologia ambiental e
social retrata a síntese do encontro entre o indivíduo e a cidade. Ela
integra aspectos do conhecimento, percepção e orientação no espaço na
tentativa de atenuar os entraves epistemológicos no modo de conceber o
espaço e como as pessoas se relacionam com ele. Assim, propõe-se a
afetividade como uma categoria que norteia a construção da identidade
de lugar em contextos urbanos.
A articulação entre identidade de lugar e afetividade é feita por
Ponte et al. (2009), que pensam a identidade a partir da tensão entre
espaço, lugar e não lugar. A proposta dos autores é considerar a
possibilidade de sua abertura conceitual, entendendo que os atributos
definidores de identidade e de lugar estão em constante negociação e
interação, afetando-se mutuamente.
Com base na leitura histórico-cultural da realidade, Ponte et al
(2009) compreendem que as relações pessoa-ambiente são marcadas
pelo movimento dialético na produção dos lugares. Assim, a interação
com o espaço não se dá simplesmente pela ocupação corporal, mas
principalmente pela significação e apropriação do espaço, o que lhe
garante caráter de lugar, produtor de sentidos. A formação de laços com
o ambiente físico, que se desdobra na produção da identidade de lugar,
não se dá descolada de uma compreensão ético-política dos afetos, o que
abre caminho para a apreensão dos modos como as pessoas se engajam
com os lugares de sua história, vivenciam a alteridade e agem sobre sua
realidade socioespacial.
Ideia difundida por Sawaia (2000), a aliança entre ética e política
na compreensão da afetividade não pretende ser um recurso gramatical
para aproximar dois conceitos de natureza distinta, mas uma junção
ontológica que reforça seu caráter de categoria analítico-valorativa. Para
a autora, a dimensão ética da afetividade indica a preocupação com ―a
virtude como dimensão da verdade‖, e a dimensão política ressalta ―a
preocupação com a justiça e o poder‖ (Sawaia, 2000).
Desse modo, a afetividade é um ponto de transmutação do social
e do psicológico, pois ao mesmo tempo em que é um vetor que
potencializa a capacidade de ação (dimensão política), favorece o

56
encontro dos indivíduos com sua capacidade de manutenção do ser, o
que remete a si mesmo e à coletividade (dimensão ética). Por isso,
salienta Bomfim (2010), a afetividade é uma dimensão mediadora na
ação-transformação.
É um conceito filiado à tradição da filosofia de Espinosa, que
entende o afeto como afecções do corpo pelas quais a potência de ação
aumenta ou diminui, é favorecida ou entravada (Sawaia, 2000).
Diferente de outras correntes filosóficas que consideram os afetos como
―distúrbios da alma‖, em Espinosa eles são inerentes à condição
humana. Nesses termos, entende-se que a afetividade é o tom emocional
da existência humana e é vivenciada como sentimentos e emoções. Estas
como fenômeno afetivo intenso e breve, centrado em um objeto e que
interrompe o fluxo normal dos acontecimentos; aquelas como reações
moderadas de prazer e desprazer em relação a dado objeto (Sawaia,
2000).
Na compreensão das dinâmicas urbanas, pode-se tomar o afeto
como aquilo que medeia a intersubjetividade, sendo que na posição do
outro se situam outras pessoas ou a própria cidade. Bomfim (2010)
expõe que a cidade não é somente um palco de interações, mas uma
parte com a qual forma-se uma totalidade em que eu e mundo, espaço
construído e subjetividade formam uma ―unidade pulsante‖.
Extrapolando para o cotidiano na cidade, a afetividade é mais que o
vínculo do habitante com seu lugar, são ―[...] todos os sentimentos e
emoções que, em seu conjunto, demandam disposições afirmativas ou
negativas, positivas ou negativas, que configuram uma afetividade em
relação ao espaço construído e vivido‖ (Bomfim, 2010, p. 55).
Vale ressaltar que positivo e negativo não são juízos de valor em
relação aos sentimentos e emoções disparados na relação pessoa-cidade.
São classificações guiadas por objetivações sociais e se relacionam com
a experiência concreta dos indivíduos. Como salienta Sawaia (2000), a
análise das emoções deve ir além dos significados cristalizados que
garantem a elas um sentido único (a Alegria, a Vergonha). A autora
exemplifica que o mesmo sentimento ou emoção podem ser bons ou
ruins: bom quando emerge em relações de igualdade e aumentam a
potência de ação; e ruins quando explicitam relações de humilhação e
sofrimento, que despotencializam a capacidade de agir.
Essa nuance afetiva aparece como discurso no estudo conduzido
por Tassara et al. (2004) em um bairro paulistano. Os autores
identificaram que as marcas afetivas dos moradores em relação à
vizinhança e ao local de moradia são definidas sob a forma de saudades
do passado, familiaridade com os espaços públicos ou privados e na

57
percepção das modificações ocorridas na localidade, entendidas de
maneira negativa. Desse modo, os autores assumem o afeto como elo
total na relação das pessoas com a cidade, pois é o vetor que atravessa,
de maneira mais ou menos intensa, a relação das pessoas com os locais
onde moram e transitam.
Enfocar a afetividade por esse prisma permite considerar a cidade
como lugar de encontros, da produção de relações, onde o outro se
impõe como diferença. Como enfatiza Bomfim (2010), as pessoas não
se afetam sozinhas, e é por isso que a afetividade é um termômetro para
a ética, política e cidadania. Ela indica as formas de engajamento das
pessoas na cidade e sinaliza para a abertura dos corpos ao regime do
sensível.
3.2.4 Identidades, lugares e mobilidades
As reflexões apresentadas sobre a constituição histórica do
espaço urbano, da experiência de mobilidade sobre essa complexa
superfície, bem como a possibilidade de estabelecimento de ilhas de
permanência em territórios de velocidade, encaminham para a
possibilidade de identificação com os espaços em movimento,
encarnados nos lugares. Resgatam-se alguns argumentos que apontam
para a possibilidade de articulação entre esses conceitos. Em primeiro
lugar, o fio que promove a tensão entre espaço e lugar parece ser o
mesmo existente entre a mobilidade e a fixidez. Ambos os processos não
podem ser entendidos de maneira isolada, estão em constante
negociação e se referem a um modo de produção e reprodução da vida
nas cidades. Compreender as dinâmicas urbanas pela polarização em
uma dessas esferas pode acarretar na anestesia de sua vibratilidade.
Em segundo lugar, a afetividade é um modo de compreender as
dinâmicas urbanas, pois sugere o engajamento ético-político da pessoa
com seu entorno e dá o tom da experiência na cidade. Além disso, é o
motor do processo de identificação com esses espaços pois envolve a
produção de significado, desenhando o que foi denominado identidade
de lugar. Nesses termos, sugere-se a identidade de lugar em termos
daquilo que afeta, que deixa rastros subjetivos. Uma construção situada
no tempo e no espaço que se dá pela diferença e não pela igualdade: o
outro diferente de mim me localiza e atesta minha existência enquanto
―eu mesmo‖. Uma vez situada no tempo e no espaço, a identidade é o
desdobrar de uma história, um modo de reatar com a história pessoal e
social.

58
Por último, cidade e identidade devem ser compreendidas como
sistemas abertos e inter-relacionados. Elas se definem mutuamente e se
configuram de maneira singular em dobras que adquirem volume e
consistência em dado momento e pode ser desdobrada, reformatada, mas
sempre deixando os vincos em sua superfície, como marcas de uma
história. Assim, a identidade é uma formação subjetiva possível, sujeita
a transformações e instabilidades, desenhos mais ou menos estáveis ao
longo do tempo. Ela não é voltada para um fim ou para um acabamento:
dela interessa seu processo, ou como sugere o título do trabalho, sua
produção, seu constante fazer-se.
Na articulação entre cidade, mobilidade, lugar, identidade e
afetividade, considera-se a bicicleta como um instrumento transversal.
Quando a integridade dos espaços parece ameaçada com a velocidade
dos fluxos globais, pedalar pode ser um modo de conferir sentidos, de
atar os pedaços da cidade que parece fragmentada e sem sentido e uma
possibilidade de contestar territórios estabelecidos. Em suma, pedalar
pode ser um modo de conceber o espaço-tempo contemporâneo.
3.3 Revisão sistemática da literatura: o uso de bicicletas nos estudos
pessoa-ambiente
Diante do desafio de se locomover nas cidades e promover o
deslocamento de pessoas de maneira sustentável, o conceito de
mobilidade urbana aparece com frequência nas agendas políticas. No
contexto brasileiro, um marco legal recente a esse respeito é a Lei nº
12.587/2012 que institui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana (Brasil, 2012). Com base nela, entende-se
mobilidade urbana como a condição em que se realizam deslocamentos
de pessoas ou de cargas em espaços urbanos. Sua implementação
objetiva contribuir para o acesso universal às cidades, bem como
promover o desenvolvimento sustentável pela priorização dos modos de
transporte não motorizados sobre os motorizados (Brasil, 2012).
Nesse sentido, o uso da bicicleta como meio de transporte tem
demonstrado ser benéfico social e individualmente, uma vez que oferece
vantagens à saúde de quem pedala pela prática de exercício físico e por
ser um modo barato e rápido de se locomover quando comparado com
outros meios. Além disso, sustentabilidade ambiental e baixo custo de
infraestrutura são benefícios atrelados ao seu uso (Heinen et al., 2010).
Heinen et al. (2010) enfatizam que a quantidade de pesquisas
acadêmicas a respeito do uso de bicicleta tem crescido, ainda que sua
visibilidade seja pequena quando comparada a outros meios de
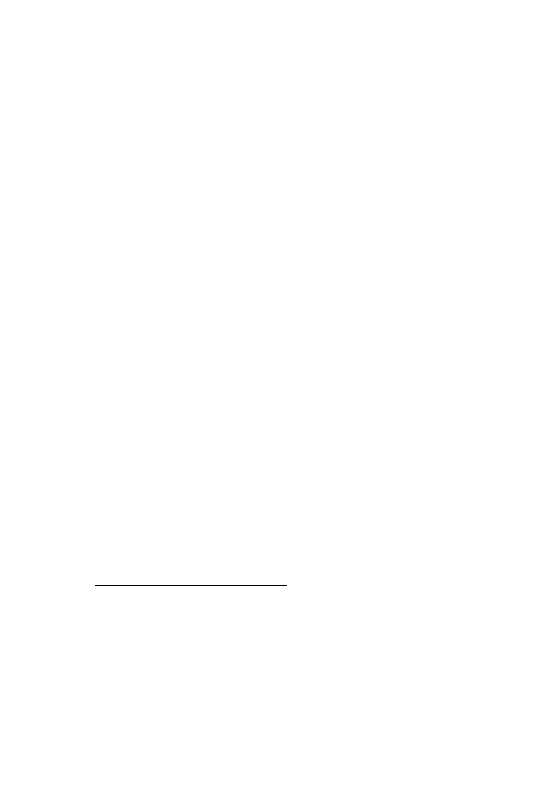
59
transporte. A fim de identificar as principais produções acadêmicas a
respeito de ciclistas e do uso de bicicletas como meio de transporte, foi
realizada uma revisão da literatura sobre o tema a partir de buscas em
base de dados nacionais e internacionais. Buscou-se responder a dois
questionamentos: a) Qual o enfoque dado ao uso da bicicleta nos
estudos pessoa-ambiente? b) Qual a natureza dessas pesquisas e quais
os principais instrumentos e técnicas utilizados?
Recorreu-se às bases de dados Science Direct, Sage, PePSIC e
SciELO por congregarem periódicos internacionais e nacionais. Science
Direct e Sage indexam os principais periódicos da psicologia ambiental
(Journal of Environmental Psychology e Environment and Behavior,
respectivamente), e as bases PePSIC e SciELO, os principais periódicos
brasileiros.
O parâmetro cronológico utilizado foi os anos de 2009 a 2014,
por visar às produções referentes aos últimos cinco anos. Foi realizada
no período entre 16/09/2014 e 19/09/2014 com os descritores psicologia
ambiental (environmental psychology), bicicleta (bicycle/bike) e
transporte (commuting6), articulados com os booleanos AND e OR.
Assim, nas bases de dados estrangeiras a busca foi feita com:
- environmental psychology AND (bicycl* OR bik*);
- environmental psychology AND [commut* AND (bicycl* OR
bik*)];
- commut* AND (bicycl* OR bik*).
Nas bases de periódicos nacionais recorreu-se às combinações7:
- psicologia ambiental AND bicicleta;
- psicologia AND bicicleta;
- transporte AND bicicleta.
Inicialmente, 429 artigos corresponderam às buscas e foram
submetidos a critérios de inclusão e exclusão. Como o foco do estudo
foram artigos que tratassem da relação entre comportamento do ciclista
6 O termo commuting, em inglês, caracteriza o ato de se deslocar de casa até o
trabalho ou local de ensino. Seu correspondente em português se aproxima de
‗movimento pendular‘ ou ‗transporte pendular‘. Neste trabalho, utilizou-se a
palavra transporte.
7 Ao realizar buscas em bases de periódicos nacionais com descritores análogos
ao idioma inglês, não foram obtidos resultados. Desse modo, optou-se pela
inclusão do descritor psicologia e psicologia ambiental a fim de aumentar a
possibilidade de resultados significativos. Com essa mudança, 18 artigos
corresponderam à busca, quatro dos quais utilizados na revisão após aplicação
dos critérios de inclusão e exclusão.
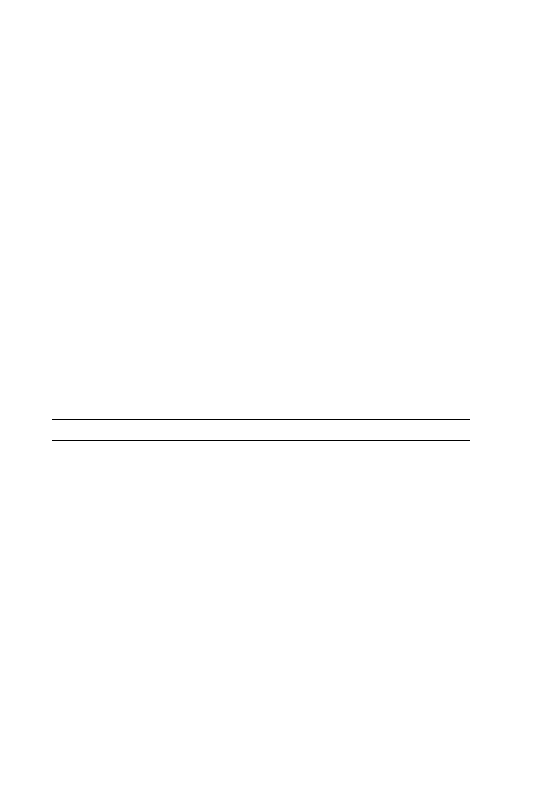
60
e ambiente, foram incluídos textos que: a) tivessem disponível seu texto
completo; b) textos disponíveis nos idiomas inglês e português; c)
descrevessem estudos empíricos a respeito da relação pessoa-ambiente
ou comportamentos de ciclistas. Foram excluídos da busca artigos que:
a) fossem teóricos ou de revisão; b) tratassem exclusivamente da
comparação e da transferência entre meios de transportes (como
transporte público, carro, pedestres, etc.), dos impactos políticos e
econômicos do uso da bicicleta como meio de transporte, de acidentes e
impactos do ciclismo para a saúde física, e de sistemas de
compartilhamento de bicicletas.
Após a aplicação dos critérios, 33 artigos corresponderam à
pesquisa e passaram por leitura integral do texto. O foco da leitura
recaiu sobre a relação pessoa-ambiente e no comportamento do ciclista,
bem como os métodos e instrumentos utilizados na abordagem do uso
da bicicleta como meio de transporte. Optou-se por agrupar os artigos
em três grandes categorias, de acordo com a temática abordada e os
objetivos, sendo elas: hábitos e atitudes; ambiente e comportamento; e
percepção, conforme a Tabela 1.
Tabela 1. Divisão dos artigos de acordo com categorias de análise
Categoria
Hábitos e atitudes
Referências
Araújo et al. (2009a, 2009b);
Daley e Rissel (2011); de Bruijn
et al. (2009); Eryiğit e Ter
(2014); Forward (2014); Franco
et al. (2014); Gatersleben e
Haddad (2010); Hansen e
Nielsen (2014); Heinen et al.
(2011); Kienteka et al. (2014);
Nkurunziza et al. (2012);
Passafaro et al. (2014); Sherwin
et al. (2014); Underwood et al.
(2014); Woo et al. (2010);
Wooliscroft e Ganglmair-
Wooliscroft (2014)
Total
17
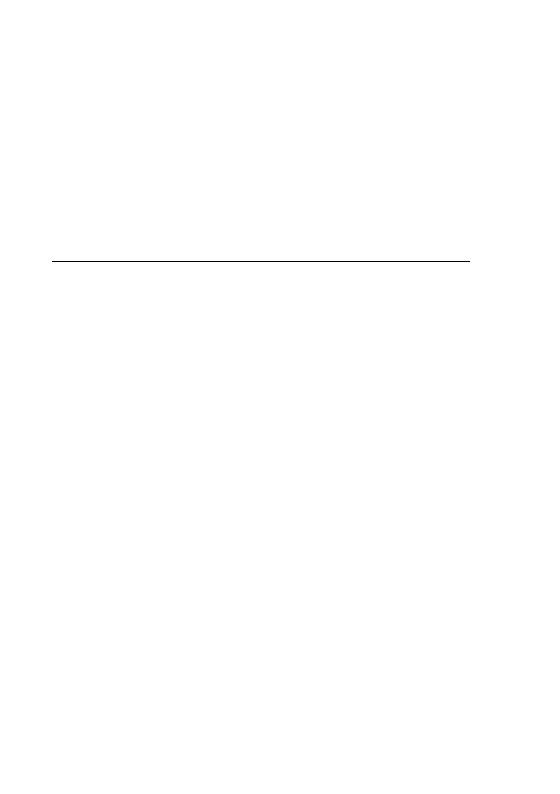
61
Basu e Vasudevan (2013);
Buehler (2012); Flynn et al.
Ambiente e
comportamento
(2012); Sallis et al. (2013);
Spencer et al. (2013);
Vandenbulcke et al (2011);
9
Willis et al. (2013); Zhao
(2014); Zhang et al. (2014)
Chataway et al. (2014); de
Waard et al. (2011, 2014);
Percepção
Kakefuda et al. (2009); Kienteka
7
et al. (2012); McIlveny (2014);
Vansteenkiste et al. (2014)
Fonte: Busca em bases de dados (2014)
Hábitos e atitudes
Esta categoria agrega 17 artigos e contempla estudos a respeito
das influências sociais do uso da bicicleta. Abrange desde aspectos da
esfera individual, como a força dos hábitos e das emoções na adesão à
bicicleta como meio de transporte até as influências de valores culturais
em seu uso. Entende-se que a execução repetida de um comportamento
constitui um hábito, enquanto atitude representa a postura geral da
pessoa de ser favorável ou não a dado objeto (Ajzen, 1991). Se 45% dos
comportamentos tendem a se repetir no mesmo ambiente quase todos os
dias, fazendo disso uma emissão quase automática, pode-se considerar o
hábito um conceito potente para a manutenção de comportamentos
duradouros que visem a sustentabilidade ambiental (Cristo & Günther,
2015).
A respeito dos hábitos, de Bruijn, Kremers, Singh, van den Putte
e Mechelen (2009) exploram como sua força se relaciona ao uso da
bicicleta como meio de transporte em adultos. A partir da aplicação de
questionário e escalas, identificaram que a força do hábito está
positivamente relacionada ao uso de bicicleta, o que indica a
possibilidade de esse comportamento se tornar habitual. Por outro lado,
quando o uso da bicicleta mostra-se como um hábito fraco, a intenção de
uso atual é forte, o que indica a variação da intenção à medida que o
hábito se torna mais forte.
A influência dos hábitos também é considerada, ao lado de
atitudes, emoções e normas sociais, como preditor do desejo de pedalar

62
(Passafaro et al., 2014). Em estudo conduzido em uma grande cidade
italiana, objetivou-se identificar as implicações cognitivas e afetivas na
escolha do uso da bicicleta. Com uso de questionário autoadministrado e
análises estatísticas dos dados, Passafaro et al. (2014) apontam que os
principais preditores do desejo de usar bicicleta são emoções
antecipadas e o comportamento passado, ao passo que normas sociais e
atitudes predizem indiretamente. Dessa maneira, sentir-se feliz, relaxado
e satisfeito com a possibilidade de usar a bicicleta e tê-la usado
anteriormente (indicação de hábito), por exemplo, são fatores que
podem indicar seu uso futuro.
Atrelado ao hábito foi identificado estudo que buscou descrever
os impactos dos valores culturais no uso da bicicleta em uma cidade
turca (Eryiğit & Ter, 2014). Neste o hábito da pedalada se associa com
variáveis demográficas como idade, posse da bicicleta (não ter bicicleta
mostra-se como motivo para não pedalar) e com pressões sociais.
Assim, Eryiğit e Ter (2014) ressaltam que fatores sociais relacionados à
imagem da bicicleta em uma cultura são relevantes no desenvolvimento
do hábito, ao indicarem que pessoas podem não aderir ao uso da
bicicleta, por exemplo, se seu contexto social defende que esse é um
hábito ―estranho‖.
Os fatores sociais foram foco de análise em estudo qualitativo
conduzido a fim de compreender como as influências sociais afetam na
decisão de começar a pedalar (Sherwin, Chatterjee & Jain, 2014). Por
meio de entrevistas individuais semi-estruturadas com ciclistas, Sherwin
et al. (2014) corroboram os resultados de Eryiğit e Ter (2014) ao
concluírem que o entorno social, juntamente com família e amigos, é um
fator importante na decisão de usar a bicicleta.
No mesmo sentido, Daley e Rissel (2011) exploram as
perspectivas e imagens do uso da bicicleta em uma cidade australiana.
Com enfoque qualitativo, as autoras realizaram grupos focais com
ciclistas e não ciclistas e identificaram que fatores como
sustentabilidade (conduta ―limpa‖, ―verde‖), saúde e riscos de acidentes
estão ligados às imagens do uso da bicicleta. Em relação ao ciclista, as
imagens relacionadas são aquelas de pessoas que se arriscam, que
burlam regras e que se enquadram em sub-culturas. Com isso, valores
culturais, influências e imagens sociais a respeito do uso de bicicletas se
evidenciam como fatores que afetam diretamente o uso (ou não) da
bicicleta.
A respeito da imagem social da bicicleta, Gatersleben e Haddad
(2010) investigaram os pontos de vista em relação ao ―ciclista típico‖
em cidades inglesas e verificaram se esse olhar se relaciona com o

63
comportamento ou intenção de pedalar. A aplicação de questionários e
escalas aliada à análise estatística demonstrou que se tende a perceber o
ciclista, naquele contexto, em quatro estereótipos: ciclistas responsáveis,
que utilizam a bicicleta de maneira responsável e segura; ciclismo como
estilo de vida, que contempla ciclistas que gastam tempo e dinheiro com
bicicleta; commuters, pessoas que usam a bicicleta para ir ao trabalho
independente das condições climáticas; hippy-go-lucky8, geralmente
pessoas gentis que usam a bicicleta no dia-a-dia, em atividades que vão
além de ir ao trabalho. As autoras apontam para a existência de
diferenças na maneira como ciclistas e não ciclistas enxergam o uso da
bicicleta, e atentam para as implicações sociais nessa prática.
Em relação aos fatores que motivam os indivíduos a pedalarem,
os estudos identificaram que características individuais, ambientais e
políticas exercem forte influência de modo a facilitar ou dificultar o uso
da bicicleta. Nkurunziza, Zuidgeest, Brussel e Van Maarseveen (2012)
identificaram que o status social do ciclista, insegurança e desconforto
ao pedalar interferem negativamente no uso da bicicleta. Por outro lado,
ao comparar ciclistas que pedalam curtas e longas distâncias até o
trabalho, aqueles que percorrem longas distâncias se motivam a fazê-lo
por razões pessoais e indicam as experiências positivas, humor e
diminuição do estresse como benefícios da pedalada (Hansen & Nielsen,
2014).
Heinen, Maat e van Wee (2011) ressaltam que as atitudes estão
envolvidas na decisão de usar a bicicleta. Indivíduos amparam sua
escolha com base nos benefícios proporcionados, como tempo, conforto
e flexibilidade. Além disso, preocupações com o meio ambiente
(Forward, 2014; Heinen et al., 2011), fatores políticos como redução do
custo da bicicleta e de taxas de importação (Nkurunziza et al., 2012) e
preço do combustível (Wooliscroft & Ganglmair-Wooliscroft, 2014),
bem como características demográficas de renda e moradia (Franco et
al. (2014) e idade (Eryiğit & Ter, 2014; Kienteka, Reis & Rech, 2014)
são aspectos importantes na opção pela bicicleta.
Dentre as características demográficas, aquela que apareceu com
maior frequência foi sexo, associado à possibilidade de mulheres
perceberem maiores barreiras para pedalar (Kienteka et al., 2014), a
fatores como gostar de pedalar e a prática de exercício (Araújo et al.,
2009a) e às imagens negativas do uso da bicicleta, a ponto de
estigmatizá-lo (Underwood, Handy, Paterniti & Lee, 2014). Além disso,
8 As autoras possivelmente fazem alusão à expressão happy-go-lucky, que em
inglês designa uma pessoa despreocupada e alegre.

64
quando relacionado com o papel das emoções na escolha da bicicleta,
Woo, Helton & Russel (2010) identificam que homens pedalam mais do
que mulheres, ainda que estas demonstrem maior compromisso pró-
ambiental, suporte de políticas e desvantagens no uso do carro. Para os
autores, isso possivelmente se dá porque aqueles que pedalam visam o
prazer somático da atividade (principalmente no caso dos homens) em
detrimento dos fatores cognitivos, como benefício pessoal, social ou
ecológico, no caso das mulheres.
De maneira geral, os trabalhos referentes à categoria dos hábitos e
atitudes contribuem na compreensão dos fatores individuais e sociais ao
se optar pela bicicleta como meio de transporte. Considera-se a
importância de fatores como rapidez e eficiência (Araújo et al., 2009b;
Hansen & Nielsen, 2014), gostar de andar de bicicleta (Araújo et al.,
2009b), ciclismo como atividade de lazer (Kienteka et al., 2014),
emoções (Passafaro et al., 2014; Woo et al., 2010), e imagem social da
bicicleta e do ciclista (Daley & Rissel, 2011; Gatersleben & Haddad,
2010; Underwood et al., 2014), o que aponta para a multideterminação
do fenômeno.
No entanto, alguns estudos apresentaram resultados inconclusivos
ou contrários a outros. Em relação à qualidade de vida, por exemplo,
Hansen e Nielsen (2014) relatam que um dos ganhos de pedalar é o
benefício psicológico, como percepção de experiências positivas,
diminuição do estresse e melhora no humor. Por outro lado, Kineteka et
al. (2014) encontraram associação inversa entre qualidade de vida e uso
de bicicleta, apoiados na possibilidade de, nesse estudo, a qualidade de
vida retratar as condições gerais de vida e não exclusivamente
relacionado à sua utilização.
Além disso, ao considerar o conforto ao pedalar como variável de
análise, Nkurunziza et al. (2012) citam o desconforto como barreira,
enquanto Heinen et al. (2011) apontam o conforto como fator que
influencia positivamente. Assim, ao compreender o uso da bicicleta de
maneira contextualizada, atravessado por características que extrapolam
a esfera pessoal, deve-se lançar o olhar às particularidades dos locais
onde as pesquisas foram conduzidas e levar em consideração, além da
―cultura ciclística‖, a infraestrutura existente e as condições de materiais
para a circulação. Em suma, é necessário considerar as influências do
ambiente (com suas peculiaridades geográficas, sociais, culturais, etc.)
na escolha da bicicleta como meio de transporte.

65
Ambiente e comportamento
Esta categoria reúne nove artigos que incluem nos objetivos e
métodos a investigação do ambiente físico natural e/ou construído
relacionados ao uso da bicicleta. Os aspectos investigados relacionam
características como clima, relevo, qualidade das infraestruturas
ciclísticas e o impacto do uso do solo no transporte com bicicletas.
Vandenbulcke et al. (2011) examinam fatores que influenciam no
uso da bicicleta para deslocamentos diários e indicam que a presença de
terrenos planos, qualidade das vias para circulação de bicicletas e o
baixo risco de acidentes estão associados ao seu uso. No contexto
indiano, faixas exclusivas para ciclistas são apontadas como
infraestrutura favorita daquela população e devem receber maior atenção
por parte das políticas locais (Basu & Vasudevam, 2013).
Considera-se também o uso do solo, entendido pela maneira com
que as atividades e serviços se distribuem no espaço urbano, na relação
com a escolha da bicicleta. Na cidade de Pequim, por exemplo,
identificou-se que a baixa diversidade do uso do solo e baixa
acessibilidade se associam à redução do uso de bicicleta (Zhao, 2014).
No mesmo sentido, ciclistas belgas tendem a usar mais a bicicleta
quando o uso do solo é diversificado (Vandenbulcke et al. 2011). Por
outro lado, quando se trata da densidade de pessoas os resultados não
são congruentes, uma vez que na cidade de Pequim ela não interfere
significativamente no uso de bicicleta (Zhao, 2014) enquanto que em
Montreal é um fator que afeta negativamente a satisfação do ciclista
(Willis, Manaugh & Al-Geneidy, 2013).
Além disso, a presença de estruturas como estacionamentos
seguros e chuveiros no ambiente de trabalho está relacionada ao uso de
bicicletas (Buehler, 2012; Nkurunziza et al., 2012; Wooliscroft &
Ganglmair-Wooliscroft, 2014). Franco, Campos e Monteiro (2014)
identificam que a falta de estacionamentos dificulta o uso de bicicleta
principalmente entre estudantes. Seu uso também é reduzido quando
existe estacionamento grátis para carros no local de trabalho (Buehler,
2012).
Atrelado ao ambiente construído, segurança é outra característica
capaz de incentivar ou desestimular o uso da bicicleta. Zhao (2014)
indica que a falta de segurança no tráfego reduz o uso da bicicleta, ao
encontro dos resultados de Sallis et al. (2013), que identificam maior
propensão à pedalada se os ciclistas estivessem seguros em relação aos
carros ao transitarem. De maneira análoga, as condições climáticas de
uma região se associam à segurança do ciclista. Em locais de clima frio,

66
onde fatores ambientais como luminosidade, temperatura, vento e
precipitação são preponderantes, ciclistas relatam que se sentem pouco
seguros ao trafegarem (Spencer et al., 2013).
Outro fator que afeta negativamente no uso da bicicleta é a
condição climática (Eryiğit & Ter, 2014; Flynn, Dana, Sears &
Aultman-Hall, 2012; Franco et al., 2014; Spencer, Watts, Vivanco &
Flynn, 2013). Por exemplo, em estudo sobre o impacto das condições do
tempo na decisão de pedalar até o trabalho, identificou-se que
precipitação, temperatura, vento e neve são as principais barreiras
(Flynn et al., 2012). Assim, sentir calor (Franco et al., 2014) ou frio
(Spencer et al., 2013) é indicado como barreira para o uso de bicicleta.
Aliado às condições climáticas, há evidências de que a estação do
ano em que se pedala esteja atrelada à satisfação do ciclista (Willis et
al., 2013). Assim, aqueles que pedalam o ano todo são mais satisfeitos
do que aqueles que pedalam apenas nos meses mais quentes do ano.
Buehler (2012) complementa ao identificar na pesquisa realizada em
uma cidade dos Estados Unidos que a bicicleta é mais utilizada durante
os meses de verão.
Ao considerarem variáveis sociodemográficas, Zhang, Magalhães
e Wang (2014) analisam suas relações com a disposição de utilizar a
bicicleta em uma cidade brasileira. Concluem que pessoas de classe
média, com níveis educacionais elevados, que levam muito tempo
caminhando até o local de trabalho e que se locomovem pouco com
outros meios são mais favoráveis à bicicleta, ao passo que motoristas de
carro dificilmente aderem ao seu uso.
Nota-se, portanto, que variáveis ambientais são significativas na
escolha da bicicleta como meio de transporte. Fatores relacionados à
inclinação do terreno (Vandenbulcke et al., 2011; Willis et al., 2013), à
presença de faixas exclusivas para ciclistas (Basu & Vasudevan, 2013) à
qualidade das vias (Vandenbulcke et al., 2011) são importantes em seu
uso. Além disso, as influências climáticas e as estações do ano aparecem
nos estudos como aspecto que facilita ou dificulta na pedalada (Buehler,
2012; Eryiğit & Ter, 2014; Flynn et al., 2012; Franco et al., 2014;
Spencer et al., 2013; Willis et al., 2013).
Esses aspectos dão suporte à dimensão humano-ambiental do uso
da bicicleta, uma vez que variáveis do ambiente natural e construído se
aliam às comportamentais e sociais para delinear o fenômeno. Nesse
sentido, ressalta-se o estudo de Willis et al. (2013), que explora a
satisfação do ciclista em relação às características ambientais. Identifica-
se que, ao se comparar ciclistas com usuários de outros modos de
transporte, aqueles são mais satisfeitos com seu deslocamento do que

67
estes. Além disso, independência, prazer, economia, rapidez nos
deslocamentos e produção da identidade de ciclista indicam a satisfação
ao utilizar a bicicleta como meio de locomoção. Portanto, aponta-se para
a importância de investigações da relação ciclista-ambiente de modo
multidimensional, uma vez que a aproximação da experiência de pedalar
na cidade pode fornecer subsídios relevantes na compreensão das
necessidades concretas dos ciclistas e sustentar a elaboração de políticas
públicas voltadas a essa população.
Percepção
Os estudos dessa categoria analisam o efeito das percepções sobre
o comportamento de pedalar. São sete estudos que investigam
características referentes à percepção durante o uso da bicicleta,
principalmente as visuais e auditivas. Além disso, um estudo de caráter
qualitativo a respeito das relações sociais durante a pedalada foi
incluído.
Dois estudos de delineamento experimental foram conduzidos em
uma cidade holandesa a fim de investigar os efeitos de escutar músicas
no comportamento do ciclista (de Waard, Edlinger & Brookhuis, 2011)
e os efeitos de operar um aparelho touch screen durante a pedalada (de
Waard, Lewis-Evans, Jelijs, Tucha & Brookhuis, 2014). No primeiro
estudo verificou-se que a velocidade da pedalada não varia sob
influência do volume e da batida da música, ainda que a percepção
auditiva do entorno seja negativamente afetada. Além disso, o uso do
aparelho musical também interfere na diminuição da visão periférica.
No segundo estudo (de Waard et al., 2014) o uso de aparelho
touch screen foi avaliado em situações de enviar mensagem, falar ao
telefone e jogar. Em consonância com o estudo anterior, identificou-se
que a percepção de estímulos periféricos diminui com o manuseio do
aparelho, aliado à diminuição da velocidade de circulação e a variação
do posicionamento na pista. Os autores chamam a atenção para o fato de
que o manuseio de aparelhos eletrônicos e a influência da música
durante a pedalada afetam a percepção visual e auditiva, o que limita o
tempo de resposta do ciclista aos estímulos do trânsito.
A respeito da percepção de segurança do ciclista ao transitar,
Chataway, Kaplan, Nielsen e Prato (2014) exploram diferenças de
percepção de ciclistas em tráfego misto em uma cidade australiana e
uma dinamarquesa. Os resultados indicam que ciclistas percebem como
seguras as vias separadas fisicamente do trânsito de veículos, enquanto
aquelas que se situam entre o tráfego e o estacionamento de veículos são

68
percebidas como inseguras. Os autores discutem que as percepções de
segurança diferem nas duas realidades investigadas, pois estão ligadas
ao contexto de cada cidade, às políticas para o uso da bicicleta nelas
produzidas e da cultura decorrente disso.
A segurança do ciclista é explorada também em relação ao uso de
capacete entre estudantes universitários (Kakefuda, Stallones & Gibbs,
2009). Identificou-se que o uso desse equipamento difere de acordo com
o uso feito da bicicleta, uma vez que aqueles que pedalam por recreação
percebem o capacete de maneira diferente daqueles que pedalam por
transporte. De maneira geral, o uso de capacete é percebido como
desconfortável, inconveniente e desnecessário para curtas distâncias.
Assim, por mais que existam desvantagens em seu uso, ele é percebido
como item que garante a segurança do ciclista.
Em situação experimental, Vansteenkiste, Zeuwts, Cardon,
Philippaerts e Lenoir (2014) investigam o comportamento de ciclistas ao
olharem fixamente para obstáculos de um trajeto. Nesse estudo os
ciclistas foram submetidos ao trânsito em ciclovias de alta e baixa
qualidade e o comportamento de olhar foi captado com equipamento
específico. Identificou-se que não existem diferenças na velocidade ao
pedalar nas condições experimentais, ainda que os ciclistas, nas vias de
baixa qualidade, tenham mudado o foco da atenção das regiões mais
distantes do ambiente para propriedades mais próximas. Conclui-se que
a baixa qualidade das vias pode alterar o estado de alerta e a velocidade
da resposta do ciclista em relação ao trânsito, colocando-o em perigo.
No contexto brasileiro, Kienteka, Rech, Fermino e Reis (2012)
analisam a validade e fidedignidade de um instrumento para avaliar a
percepção de barreiras no uso da bicicleta em adultos. Ao compararem
ciclistas que pedalam por lazer e por transporte, os autores se colocam
ao lado de outros estudos quantitativos que verificam barreiras no uso da
bicicleta (Nkurunziza et al., 2012; Wooliscroft & Ganglmair-
Wooliscroft, 2014). Com esse instrumento, Kienteka et al. (2012)
identificam que as principais barreiras para o uso da bicicleta são fatores
individuais, sociais e ambientais, o que reforça a compreensão
sócioecológica do fenômeno.
Por fim, McIlveny (2014) conduziu estudo de caráter qualitativo
com objetivo de documentar como os ciclistas se orientam
espacialmente e como as pessoas se posicionam nas vias quando em
movimento. A esse fenômeno o autor deu o nome de mobile formations
(formações móveis, em tradução livre para o português), que se refere
também aos agrupamentos que os ciclistas fazem para se relacionarem
no espaço, seja formando uma linha, um círculo ou aglomerados
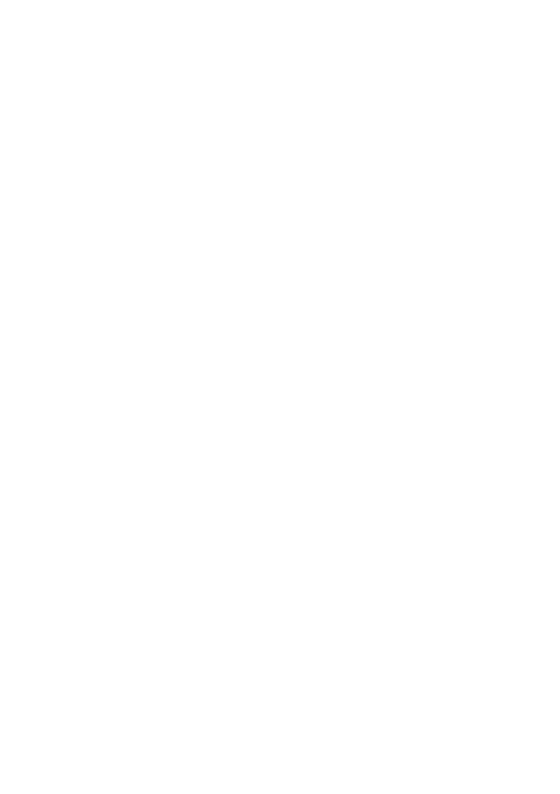
69
diversos. Interessa, portanto, o modo como os ciclistas cooperam e
mantêm relações espaciais. As análises dos dados obtidos por meio de
gravações de áudio e vídeo enfatizam a importância do ―pedalar com‖,
ou seja, do uso da bicicleta como uma prática social e não simplesmente
como uma tarefa rotineira que inclui uma pessoa ao lado.
Os artigos incluídos nesta categoria se caracterizam pela
heterogeneidade metodológica, uma vez que congrega três estudos de
delineamento experimental e outro na perspectiva qualitativa utilizando-
se de procedimentos característicos à etnografia. No entanto, os estudos
convergem ao enfatizarem o impacto do processo perceptivo ao pedalar,
seja pelos sentidos corporais como visão e audição (de Waard et al.,
2011, 2014) e suas implicações na atenção (Vansteenkiste et al., 2014),
seja pela percepção do outro nas relações sociais (McIlveny, 2014).
Além disso, ressalta-se a existência de uma escala validada (Kienteka et
al., 2012), que pode aperfeiçoar a exploração do fenômeno do uso da
bicicleta no contexto brasileiro. Esses estudos subsidiam principalmente
a compreensão de fatores referentes à segurança do ciclista e às barreiras
por eles encontradas no uso desse modo de transporte.
Identificou-se na revisão das publicações sobre uso de bicicleta
como meio de transporte nos estudos pessoa-ambiente que, no período
entre 2009 e 2014, os artigos se concentraram em três eixos principais.
Em primeiro lugar, a categoria hábitos e atitudes concentra a maior
parte dos estudos e tratou das influências individuais, sociais e culturais
na escolha da bicicleta. Em segundo lugar, ambiente e comportamento
reúne artigos que trataram dos impactos do ambiente natural e
construído no comportamento do ciclista. Por último, estudos sobre
percepção indicam os desdobramentos de pedalar em sentidos como
visão e audição, bem como a possibilidade de compreender o uso da
bicicleta como prática social ao perceber o outro que pedala.
As categorias criadas vão ao encontro daquelas propostas por
Heinen et al. (2010), ao discutirem os estudos a respeito do uso de
bicicleta para o trabalho com base nas influências do ambiente
construído, do ambiente natural, de variáveis socioeconômicas, dos
fatores psicológicos e de aspectos como tempo, custo, segurança, etc.
Dentre estes, os autores ressaltam a importância dos fatores psicológicos
envolvidos no uso da bicicleta, em especial as atitudes, e sugerem
pesquisas que aprofundem essa investigação.
De maneira geral, os artigos revisados exploram as variáveis
relacionadas ao uso da bicicleta e apontam para a multideterminação do
fenômeno. Incluem-se aspectos pessoais, ambientais e culturais, e suas
análises devem guardar as dimensões geográficas, históricas e sociais.

70
Nesse sentido, Heinen et al. (2010) advertem que é necessário cautela ao
transferir os resultados dessas pesquisas para contextos diferentes.
As comparações de resultados referentes às variáveis
sociodemográficas explicam a ressalva dos autores em relação à
generalização. Por exemplo, os estudos convergem ao concluírem que
ter um carro (Heinen et al., 2010), usar o carro (Zhang et al., 2014), ter
estacionamento grátis no local de trabalho (Buehler, 2012) se
relacionam negativamente com o uso de bicicleta. Por outro lado, acesso
reduzido a carros (Hansen & Nielsen, 2014), dificuldade de encontrar
vagas para estacionar e a possibilidade de evitar congestionamentos
(Franco et al., 2014) estimulam o uso da bicicleta. Portanto, as
condições atreladas ao uso do carro (como congestionamentos e
dificuldade de estacionar) parecem se relacionar positivamente com o
uso da bicicleta, e não necessariamente ter acesso a ele e às suas
facilidades, aspectos que são característicos de segmentos
populacionais, culturas e locais específicos.
Além disso, surgem divergências ao se comparar transporte com
bicicletas e níveis educacionais. Heinen et al. (2010) identificam que
pessoas com alta escolaridade pedalam menos para o trabalho, enquanto
Hansen e Nielsen (2014) relatam associação positiva entre esses fatores.
Diante disso, aponta-se para a possibilidade de as particularidades
culturais, econômicas e políticas dos locais de pesquisa influenciar nos
resultados. Análises produzidas em países europeus, onde o uso da
bicicleta é bastante difundido, serão diferentes daquelas de países em
desenvolvimento.
Tabela 2. Identificação dos aspectos metodológicos das pesquisas
Referências
Araújo et al.,
(2009a)
Araújo et al.,
(2009b)
Basu e
Vasudevan
(2013)
Buehler
(2012)
Chataway et
al. (2014)
Daley e
Natureza da
Pesquisa
Quantitativa
Quantitativa
Quantitativa
Quantitativa
Quantitativa
Qualitativa
Instrumento /
Técnicas
Entrevista estruturada
Entrevista estruturada
Área de
Origem
Psicologia
Psicologia
Questionário
Tecnologia
Diário de viagens
Questionário
Grupos focais
Planejamento
Engenharia civil;
transportes
Saúde

71
Rissel (2011)
de Bruijn et
al. (2009)
de Waard et
al. (2011)
de Waard et
al. (2014)
Eryiğit e Ter
(2014)
Flynn et al.
(2012)
Forward
(2014)
Franco et al.
(2014)
Gatersleben e
Haddad
(2010)
Hansen e
Nielsen
(2014)
Heinen et al.
(2011)
Kakefuda et
al. (2009)
Kienteka et
al. (2012)
Kienteka et
al. (2014)
McIlveny
(2014)
Nkurunziza
et al. (2012)
Passafaro et
al. (2014)
Sallis et al.
(2013)
Quantitativa
Quantitativa
Quantitativa
Quantitativa
Quantitativa
Quantitativa
Quantitativa
Quantitativa
Quantitativa
Quantitativa
Quantitativa
Quantitativa
Quantitativa
Qualitativa
Quantitativa
Quantitativa
Quantitativa
Questionário e escala
Protocolo experimental
Ciências da
comunicação;
medicina;
promoção de
saúde
Psicologia
Protocolo experimental Psicologia
Questionário e
observação
Relatórios nacionais de
viagens
Questionário e escalas
Não identificado
Medicina;
transporte
Transportes
Questionário
Engenharia
Questionário e escalas
Psicologia
Questionário e
entrevista semi-
estruturada
Escalas
Saúde e
tecnologia;
transportes
Tecnologia
Questionário
Escala
Questionário e escala
Gravação de áudio e
vídeo
Questionário
Questionário e escala
Questionário e escalas
Psicologia
Atividade física;
qualidade de
vida
Saúde e
biociências
Cultura e estudos
globais
Planejamento
urbano
Psicologia;
ciências sociais
Psicologia;
saúde;
planejamento
comunitário e
regional
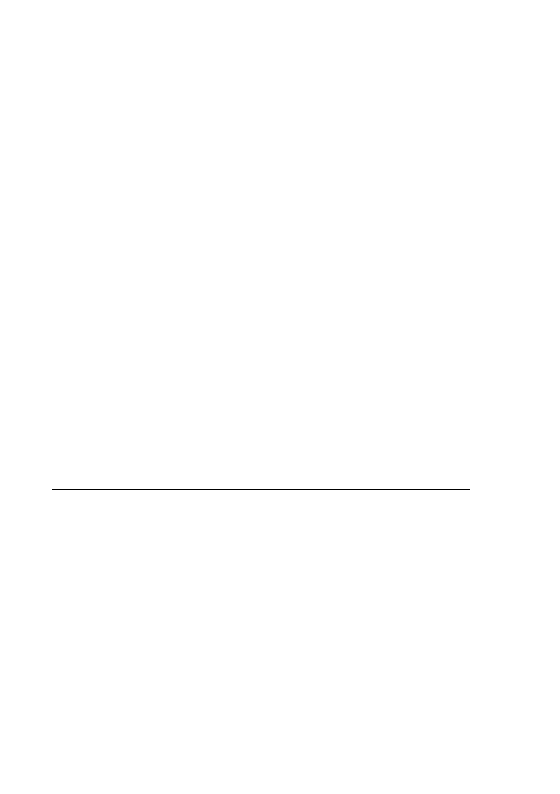
72
Sherwin et
al. (2014)
Spencer et al
(2013)
Underwood
et al. (2014)
Vandenbulck
e et al.
(2011)
Vansteenkist
e et al.
(2014)
Willis et al.
(2013)
Woo et al.
(2010)
Wooliscroft e
Ganglmair-
Wooliscroft
(2014)
Zhang et al.
(2014)
Zhao (2014)
Qualitativa
Qualitativa
Qualitativa
Quantitativa
Quantitativa
Quantitativa
Quantitativa
Quantitativa
Quantitativa
Quantitativa
Entrevista
semiestruturada
Grupos focais e
entrevistas individuais
Entrevista
semiestruturada
Questionário
Planejamento;
arquitetura
Medicina;
transporte
Saúde pública;
ciências
ambientais;
medicina
Geografia;
medicina do
esporte;
tecnologias
Protocolo experimental
Ciências do
esporte
Questionário
Planejamento
urbano
Questionário e escala Não identificado
Escalas
Questionário
Questionário
Não identificado
Engenharia
ambiental;
engenharia dos
transporte
Ciências urbanas
e ambientais
Fonte: Busca em bases de dados (2014)
Em relação aos aspectos metodológicos, identificou-se a
preponderância de estudos quantitativos que fazem uso de escalas e
análises estatísticas para a apreensão do fenômeno. Conforme a Tabela 2
foram identificados 28 estudos nessa perspectiva, que contrastam com
os cinco artigos que se orientam pela abordagem qualitativa. Daqueles,
17 trataram basicamente dos aspectos psicológicos envolvidos, e é com
base nisso que se discute a necessidade de aprofundar o entendimento
sobre as características envolvidas com o fenômeno por meio de
investigações de abordagem compreensiva (Heinen et al., 2010).
Além disso, em grande parte dos estudos quantitativos foi feito
uso de questionários e escalas para acessar os fenômenos investigados.
Neles os instrumentos foram variados e contemplaram escalas

73
desenvolvidas especificamente para a pesquisa (Forward, 2014;
Kakefuda et al., 2009; Kienteka et al., 2012), escalas validadas em
estudos anteriores (Kienteka et al., 2014; Woo et al. 2010) e
questionários utilizados em pesquisa de levantamento feitas
anteriormente (Sallis et al., 2013; Zhao, 2014). Os estudos qualitativos
privilegiaram a realização de grupos focais (Daley & Rissel, 2011),
entrevistas individuais semiestruturadas (Sherwin et al., 2014;
Underwood et al., 2014), a combinação entre as duas técnicas (Spencer
et al., 2013) e uso de gravações de áudio e vídeo (McIlveny, 2014).
No que tange aos aspectos psicológicos, nos artigos desta revisão
a psicologia não foi disciplina unânime no embasamento dos estudos.
Oito artigos relataram pesquisas conduzidas por psicólogos ou que
incluíam na equipe membros oriundos desse campo do conhecimento,
ainda que os descritores utilizados nas buscas tenham sido psicologia e
psicologia ambiental. Assim, pesquisas sobre o uso de bicicletas podem
consistir em terreno produtivo para pesquisadores da psicologia.
Além disso, não parece haver consenso teórico nas pesquisas que
abordam a temática do uso de bicicletas. Dos 33 artigos analisados, 18
não apresentaram fundamentação teórica explícita, enquanto cinco
utilizaram-se da Teoria do Comportamento Planejado de Ajzen (1991)
como sustentação dos resultados (de Bruijn et al., 2009; Forward, 2014;
Gatersleben et al., 2014; Heinen et al., 2011; Underwood et al., 2014).
Reflexo disso pode ser a falta de unidade ao se lidar com aspectos
cognitivos e afetivos na escolha da bicicleta. Nos estudos que tratam
dessa temática, por vezes a cognição e os afetos aparecem como
aspectos antagônicos, como negação um do outro (cognitivo é aquilo
que não envolve afeto), além de os afetos serem definidos por
sentimentos, como o medo de pedalar. Desse modo, a falta de
consistência teórica pode apontar para aspectos epistemológicos ao lidar
com a esfera afetiva, o que evidencia a necessidade de aprofundamento
a respeito do tema.
Por fim, os estudos apontam para os ganhos psicológicos de se
utilizar a bicicleta como meio de transporte. Diminuição do estresse,
experiências positivas e bom humor (Hansen & Nielsen, 2014) e a
possibilidade de produção e fortalecimento da identidade (Gatersleben
& Haddad, 2010, Passafaro et al., 2014; Underwood et al., 2014; Willis
et al., 2013) aparecem atrelados ao uso da bicicleta.

74

75
4. MÉTODO
4.1 Caracterização da pesquisa
Tratou-se de uma pesquisa orientada pelos pressupostos da
investigação qualitativa (González Rey, 2002; Olabuénaga, 2009), uma
vez que buscou compreender a construção da identidade de lugar pela
identificação de suas particularidades, sustentada na matriz do
pensamento indutivo. Priorizou-se a emergência dos significados em
relação a um objeto ou prática social, a dizer, a relação dos ciclistas com
a cidade mediada pelo transporte ciclístico. Assim, teve vistas à captura
da origem, processo e natureza dos significados que emergem nas
relações simbólicas estabelecidas pelos indivíduos (Olabuénaga, 2009).
Em função de seus objetivos, foi uma pesquisa de campo, de
caráter exploratório e descritivo, uma vez que buscou identificar
características da ocorrência de um fenômeno em um contexto
específico. As informações a respeito do fenômeno foram acessadas no
momento de sua produção, ou seja, em termos temporais o estudo teve
corte transversal.
A produção dos dados se deu em duas etapas: a primeira delas,
centrada no ambiente, teve como instrumento principal o registro
fotográfico das estruturas ciclísticas e anotações a respeito da ida a
campo. A segunda, centrada na pessoa, teve a entrevista semiestruturada
como técnica de acesso aos conteúdos narrativos dos participantes. Os
dados dessas etapas foram codificados e organizados em categorias de
análise, subcategorias e elementos de análise com vistas aos objetivos
geral e específicos, que encaminham à análise das características que
configuram a identidade de lugar em pessoas que utilizam a bicicleta
como meio de transporte.
4.2 Considerações sobre o campo de pesquisa
Este estudo foi conduzido com base na experiência de ciclistas na
cidade de Florianópolis - SC. Os participantes, frequentadores de um
campus universitário, foram indagados a respeito de suas experiências
ao se deslocarem de bicicleta entre seu ponto de origem até este campus.
Capital do estado de Santa Catarina, Florianópolis tem grande
parte de seu território situado em uma ilha e outra porção menor em
território continental, separadas pelas baías norte e sul. Com clima
subtropical, possui estações do ano bem definidas com chuvas
regularmente distribuídas ao longo do ano. Seu relevo irregular recorta a
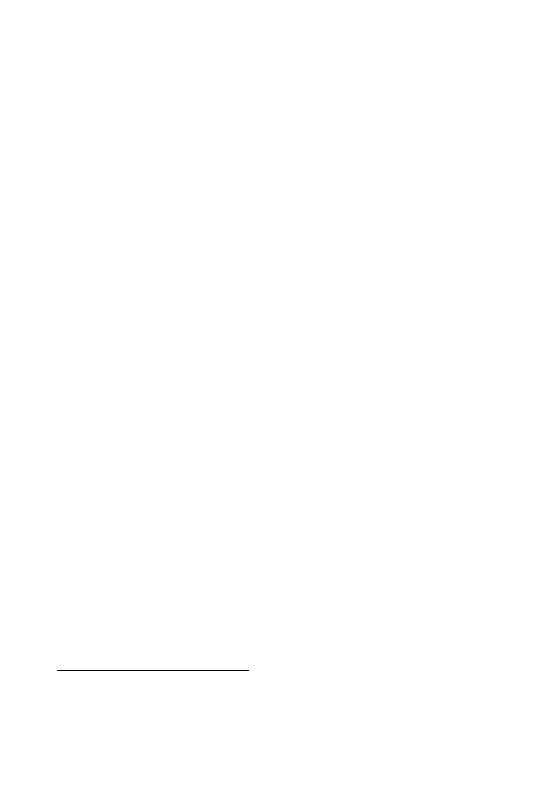
76
paisagem com morros e planícies, sendo que da área total da ilha, 172
km2 são de encostas (Kuhnen, 2002).
A porção insular e a continental são ligadas por três pontes, uma
delas em desuso. Em termos de mobilidade urbana, as pontes Colombo
Salles e Pedro Ivo Campos (que fazem a ligação continente-ilha) são os
―gargalos‖ do trânsito de Florianópolis. De acordo com a pesquisa feita
pela equipe do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande
Florianópolis - PLAMUS9 (Plamus, 2014a, 2014b, 2014c) estima-se que
por ali passam diariamente quase 200 mil veículos (entre carros e
motos) que, nos horários de pico, ocupam 90% da capacidade da ponte.
Por outro lado, nas mesmas condições o transporte coletivo representa
3% dos veículos sobre a ponte que ocupam 1% de sua capacidade. Em
números absolutos de pessoas transportadas, os motorizados individuais
e coletivos levam quantidades bastante semelhantes.
O índice de mobilidade da cidade (calculado em função da
quantidade de viagens feitas por habitante diariamente) é de 1,70, ou
seja, cada habitante realiza quase duas viagens de deslocamento por dia.
Se comparado com outras regiões metropolitanas do Brasil, o resultado
de Florianópolis é compatível com o de outras capitais brasileiras, ainda
que a taxa de utilização do carro para deslocamentos diários seja
bastante superior. Isso porque a maior parte dos deslocamentos feitos na
cidade envolve os modos individuais motorizados (47,7%) e outra
porção significativa por modais não motorizados (25,8%).
No entanto, nesta categoria o uso da bicicleta representa 3,4% das
viagens e o restante é feito a pé. Assim, mesmo que a bicicleta seja
entendida como uma das potencialidades da cidade, existem
aproximadamente 43 km de vias para ciclistas (que incluem ciclovias,
ciclofaixas e faixas de lazer) dispostas na região de Florianópolis de
maneira irregular, apresentando problemas de conectividade entre elas.
Essa situação pode ser entendida como um emblema do trânsito
de Florianópolis. O panorama atual da mobilidade urbana na cidade, de
predominância do transporte individual motorizado, não é um evento
isolado no presente e encontra ressonâncias na história do planejamento
urbano de Florianópolis e em seus planos diretores (Raquel, 2010). O
crescimento econômico da cidade esteve diretamente relacionado à
ampliação do sistema viário desde a proposta do primeiro plano diretor,
9 As informações técnicas, numéricas e estatísticas apresentadas nesta seção
fazem referência aos documentos produzidos pelo PLAMUS. Para maiores
informações sobre o panorama da mobilidade urbana da região
metropolitana de Florianópolis, ver Plamus (2014a, 2014b, 2014c).

77
na década de 1950. Tratava-se de propostas de caráter rodoviarista com
foco no transporte automotor individual, que se consolidaram no plano
diretor de 1976 principalmente em decorrência do interesse imobiliário
nos balneários ao norte e leste da ilha. O disciplinamento do uso do solo,
a preservação do patrimônio natural e cultural e a menção à construção
de ciclovias apareceram como preocupações na agenda política de
Florianópolis no plano diretor de 1985 (Raquel, 2010).
Ao aliar o planejamento urbano e do trânsito, identificou-se que a
forma de urbanização da cidade de Florianópolis colocou as pessoas em
uma distância superior à escala humana. Assim, o padrão de uso do solo,
a urbanização dispersa, a concentração dos empregos em uma região
específica da cidade e de moradia em outras e a existência de vias que
não formam uma malha adequadamente conectada são características
importantes para a definição da mobilidade urbana como um problema
de Florianópolis e região, bem como um convite ao uso do automóvel
particular.
Em resposta a esse convite, os poderes públicos do estado e do
município investiram de maneira maciça na construção de infraestrutura
rodoviária nas últimas décadas. Atualmente o sistema de trânsito de
Florianópolis conta com túnel, pontes, viadutos, duplicações de vias,
aterros, entre outros (CECCA, 2001) que, diante da demanda de uso,
estão saturados. São 453.285 pessoas que habitam na cidade e uma frota
de aproximadamente 220 mil veículos registrados, circulando em uma
malha viária que soma quase cinco mil quilômetros (contabilizando
Florianópolis e a região metropolitana). Somando-se a região
metropolitana, é quase um milhão de pessoas em circulação, o que
consolida Florianópolis como o grande polo de atração de viagens
(aproximadamente 1.125.000).
A distribuição desigual da mobilidade urbana na região de
Florianópolis, a saturação das vias, prioridade ao uso de automóveis
particulares e a emergência da necessidade de superar essa situação se
evidenciam no campus da Universidade Federal de Santa Catarina em
Florianópolis (Campus Reitor João David Ferreira Lima). Assim como
Florianópolis é um polo de atração de viagens da região metropolitana, o
campus UFSC também o é dentro da cidade.
Local de abordagem dos entrevistados, o alvo desta pesquisa foi o
trajeto percorrido pelo ciclista de um ponto de origem (residência, local
de trabalho, etc.) até esse campus. Sua estrutura congrega onze centros
de ensino, além dos órgãos administrativos e suplementares. Em estudo
realizado a fim de caracterizar os deslocamentos até o campus UFSC –
Florianópolis (Subcomitê de Mobilidade UFSC, 2012), estimou-se que a
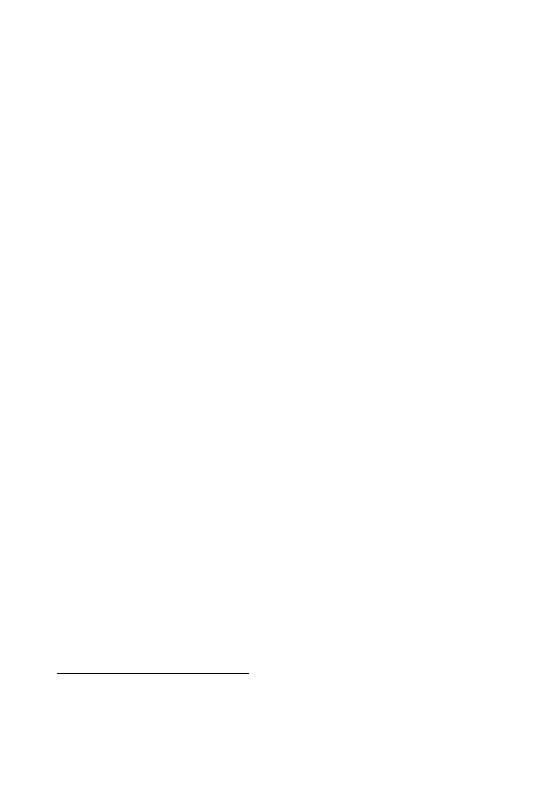
78
população universitária desse campus era de 29.361 pessoas (entre
servidores, professores, alunos do colégio de aplicação, graduação e
pós-graduação). Mais da metade delas acessavam o local na condição de
motorista ou passageiro de automóvel particular, com viagens
originadas em grande parte nos bairros adjacentes ao campus. Mesmo
que essa característica represente uma potencialidade para o uso da
bicicleta (no raio de cinco quilômetros), apenas 1,74% declararam
deslocamento com esse modal até a universidade. Nesse percentual
estão incluídos os participantes da pesquisa.
4.3 Participantes
Participaram deste estudo 18 pessoas de ambos os sexos que
utilizam a bicicleta como meio de transporte diário. A seleção dos
participantes foi intencional e por conveniência, com quantidade
delineada em função da saturação teórica dos dados, ou seja, do ponto
em que as entrevistas não produziam novas informações relacionadas
aos objetivos do estudo a fim de se organizarem em uma nova categoria
de análise. Em pesquisas de natureza qualitativa com o uso de
entrevistas, entende-se que a redundância dos dados comece a se
delinear por volta da sexta entrevista e a saturação ocorra na décima
segunda (Guest, Bunce & Johnson, 2006), considerando a complexidade
do fenômeno investigado e as variáveis relacionadas.
Por se tratarem de participantes vinculados a uma universidade,
neste estudo optou-se pela diversificação dos participantes, na tentativa
de abarcar pessoas vinculadas a diversos setores da organização. Desse
modo, dentro do critério de saturação teórica dos dados, procurou-se
acessar pessoas de diferentes centros da universidade com vistas à
diversidade de experiências e discursos a respeito do uso da bicicleta na
cidade.
Participaram da pesquisa aqueles ciclistas que cumpriram os
seguintes critérios de inclusão:
a) Ter mais de 18 anos;
b) Viver em Florianópolis quando da realização da pesquisa;
c) Utilizar a bicicleta como meio de transporte ao menos uma vez
na semana10;
10 Daley e Rissel (2011), por exemplo, utilizaram como critério de classificação
de ‗ciclista regular‘ aquelas pessoas que tivessem utilizado a bicicleta de duas a
três vezes no último mês. Como o foco da pesquisa são ciclistas que utilizam a
bicicleta como meio de transporte, optou-se por esse critério de inclusão.

79
d) Ser vinculado à universidade (aluno, funcionário ou professor);
e) Ter ido à universidade de bicicleta pelo menos uma vez no
semestre corrente;
f) Aceitar participar da pesquisa, mediante assinatura do termo de
consentimento livre e esclarecido.
Os participantes foram escolhidos pela técnica da ―bola de neve‖
(Dewes, 2013), em que um participante, ao final da entrevista, sugere o
nome de outro possível participante. Com base nisso, o procedimento
encaminhou apenas à participação de estudantes, ou seja, não houve
respondentes que fossem funcionários ou professores da universidade.
4.4 Etapas da pesquisa (Instrumentos e Procedimentos)
A pesquisa foi realizada em duas etapas distintas e suplementares.
Os instrumentos foram selecionados de acordo com a especificidade de
cada uma delas, direcionados ao ambiente e à pessoa. Cada etapa contou
com instrumentos e procedimentos diferentes para a produção dos
dados, conforme segue.
4.4.1 Etapa 1 (centrada no ambiente)
Esta etapa consistiu em mapear as estruturas ciclísticas
disponíveis para as pessoas que circulam pelo campus da UFSC de
bicicleta. Assim, além de quantificar os bicicletários, paraciclos e
ciclovias à disposição, a circulação pela universidade e seus entornos
possibilitou a visualização de alguns entraves e facilidades de pedalar no
local, atividade que faz parte do cotidiano dos participantes da pesquisa.
As idas a campo contaram com os seguintes instrumentos:
1) Mapa da Universidade: serviu como guia para localizar os
prédios e caminhos do campus da UFSC (Anexo 1).
2) Registros fotográficos: uma forma de documentar o que foi
visto em campo e serviu de subsídio para análises e articulações com a
experiência dos entrevistados.
3) Anotações: em forma de diário, tomou-se nota de maneira
assistemática sobre a quantidade de vagas para estacionamento de
bicicletas, suas condições físicas e de segurança, algumas impressões a
respeito dessas estruturas, bem como acontecimentos e intercorrências
das idas a campo (Apêndice A).
Essa etapa da pesquisa, de caráter exploratório, foi executada em
três dias distintos, no período matutino. Optou-se por dividir o campus
universitário em três setores, sendo que tal divisão foi feita por

80
conveniência e viabilidade. As rotas utilizadas e os deslocamentos feitos
nesses dias foram gravados com o auxílio de um aplicativo de celular
que registra percursos ciclísticos de acordo com o posicionamento
global – GPS (ver Apêndice A).
As incursões se deram com o uso da bicicleta e cada prédio da
universidade foi circundado, utilizando os caminhos existentes ou não,
visando localizar alguma estrutura destinada para o uso dos ciclistas
(principalmente paraciclos e bicicletários). Quando identificada,
procedeu-se o registro fotográfico e a anotação da quantidade de vagas
disponíveis para as bicicletas, das condições físicas das estruturas, da
existência ou não de cobertura, da pavimentação do piso onde se
encontravam e ainda se existia algum elemento que garantisse a
segurança dos usuários (como câmeras, guaritas de segurança e
iluminação). Os registros não se pautaram em critérios técnicos11 e
foram feitos com base na existência ou não dos referidos elementos. No
final de cada dia as anotações foram transcritas e compuseram o diário
das idas a campo (Apêndice A).
4.4.2 Etapa 2 (centrada na pessoa)
A segunda etapa da pesquisa teve início antes da ida a campo,
com a qualificação do projeto de pesquisa e sua submissão ao Comitê de
Ética de Pesquisa com Seres Humanos da UFSC. Durante o período de
tramitação do projeto no comitê de ética, foi elaborado o instrumento de
pesquisa, que consistiu em um roteiro de entrevista semiestruturado e
um questionário autoadministrado.
O roteiro de entrevista foi elaborado com base no instrumento
gerador dos mapas afetivos (Bomfim, 2008), que tem por objetivo
identificar sentimentos e emoções envolvidos na relação das pessoas
com a cidade. Recorre a desenhos como recursos disparadores dos
afetos e metáforas como meio de sintetizá-los. Para adaptá-lo aos
propósitos deste estudo, foram necessárias modificações do teor das
perguntas e no procedimento de aplicação.
Como aplicação de uma técnica para a produção dos dados, a
entrevista semiestruturada possibilita ao pesquisador ter a liberdade de
fugir do rigor formal de um roteiro estruturado e fazer os
questionamentos que julgar necessários para o aprofundamento da
compreensão sobre um tópico específico. Por parte do entrevistado,
11 Para maiores informações sobre os detalhes técnicos das estruturas ciclísticas
da UFSC, ver Izzi (2013).

81
fornece contexto de flexibilidade para dar as respostas com liberdade e
espontaneidade necessárias para enriquecer a investigação (Minayo,
2000; Triviños, 2010).
Para atender aos objetivos, foi feito o uso da fotografia como
recurso imagético (em substituição ao desenho dos mapas afetivos),
seguidas de questões a respeito das mesmas. O propósito das perguntas
foi investigar os afetos existentes na relação entre ciclista e cidade, os
motivos para a escolha da bicicleta, os aspectos que facilitam e
dificultam o uso desse meio de transporte, bem como indicadores da
apropriação do espaço pelos participantes.
A complementação dessas informações foi registrada no
questionário autoadministrado, cujo objetivo foi produzir informações
de identificação dos participantes (sexo, idade, tempo de residência em
Florianópolis, vínculo com a universidade), caracterizar o uso da
bicicleta (quantos dias na semana utiliza, quantos trajetos por dia,
duração média dos deslocamentos e há quanto tempo utiliza a bicicleta
como meio de transporte). Em seguida pediu-se a descrição de dois
trajetos utilizados com maior frequência e os motivos para a escolha da
bicicleta (modelo final do roteiro de entrevista, ver Apêndice D).
Após a adaptação do instrumento gerador dos mapas afetivos para
os propósitos desta pesquisa, procedeu-se seu teste em dois formatos
diferentes com dois participantes: um com inquérito da primeira parte do
roteiro de entrevista (questões 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 do Apêndice C); e
outro com o inquérito de todas as questões (1 a 8 do Apêndice C). Em
ambos os casos, o inquérito foi gravado e os dados do questionário
autoadministrado foram respondidos por escrito pelo próprio
entrevistado.
A etapa de teste do instrumento demonstrou que o segundo
procedimento resultou em maior riqueza de detalhes discursivos, e as
demais entrevistas foram feitas do mesmo modo. Assim, os
instrumentos desta etapa da pesquisa foram:
1) Fotografias: utilizadas como disparadores da fala dos
participantes. Consistiram em retratos de situações cotidianas do ciclista
na cidade de Florianópolis (ver Apêndice C);
2) Roteiro de entrevista semiestruturado (Apêndice C):
elaborado com base em Bomfim (2010) e nos objetivos desta pesquisa;
3) Questionário (Apêndice D): de caráter autoadministrado, teve
por objetivo registrar informações sociodemográficas, a descrição dos
trajetos e os motivos para uso da bicicleta.
A produção dos dados procedeu com o uso sequencial dos
instrumentos. Inicialmente era apresentada a pesquisa e seus propósitos,

82
seguindo a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido
(Apêndice B) em duas vias. As fotos eram apresentadas sempre na
mesma sequência (de 1 a 6), seguidas do inquérito com base no roteiro
de entrevista (Apêndice C). Ao final da entrevista era solicitado ao
participante que respondesse ao questionário, com o uso de prancheta e
caneta.
As entrevistas foram gravadas com o auxílio de telefone celular,
transcritas na íntegra e compuseram o corpus desta pesquisa. Tiveram
em média 24 minutos de duração, sendo que a mais breve teve pouco
mais de 12 minutos e a mais longa pouco mais de 36 minutos. O tempo
total de gravações foi de aproximadamente sete horas.
A escolha dos participantes seguiu a técnica da ―bola de neve‖
(Dewes, 2013), em que um participante sugere o nome de outra pessoa
que se enquadre nos critérios de inclusão da pesquisa. O contato com os
participantes foi feito preferencialmente por meio eletrônico (e-mail e
redes sociais) por serem as únicas formas de contato que os participantes
sugeriam. No contato inicial, o possível participante era questionado
sobre o interesse em participar e se atendia aos critérios de inclusão da
pesquisa. Caso concordasse, era agendada a entrevista de acordo com a
disponibilidade da pessoa, em local e horário convenientes.
Entendeu-se que essa técnica era a que melhor se adequava às
particularidades dos participantes, pois a busca ativa implicaria em
situações restritas de abordagem. Os possíveis participantes poderiam
ser abordados ao chegarem ou saírem da universidade (se estivessem
nos bicicletários) ou em movimento sobre a bicicleta. Assim, optou-se
pelo agendamento de entrevistas em outra situação que não a de
deslocamento.
4.5 Procedimentos Éticos
O projeto de pesquisa que originou esse estudo foi submetido à
apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da
Universidade Federal de Santa Catarina após ser aprovado no exame de
qualificação. A pesquisa foi delineada em conformidade com as
normativas da resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde,
que estabelece diretrizes para pesquisas envolvendo seres humanos. A
aprovação da proposta de pesquisa foi registrada com parecer
consubstanciado número 1.012.155 (Anexo 2).
As informações referentes aos propósitos da pesquisa, à
participação voluntária, aos riscos envolvidos, ao anonimato das
informações prestadas e à possibilidade de desistência a qualquer

83
momento da pesquisa foram expostas antes do início das entrevistas e
registradas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice
B), assinado pelo pesquisador e pelo participante em duas vias, uma
delas entregue ao participante e a outra armazenada como arquivo de
pesquisa.
A fim de garantir o anonimato, sigilo e privacidade das
informações prestadas nas entrevistas, os participantes foram
identificados pela letra P seguida de um número seriado. Aos dezoito
participantes da pesquisa foram atribuídas as identificações apresentadas
no decorrer do trabalho (P1, P2,..., P18).
4.6 Análise dos dados
As informações produzidas nas duas etapas pelo uso dos
instrumentos descritos compuseram o corpus de pesquisa. As
informações das entrevistas e dos questionários foram transcritos
integralmente e serviram de base para a análise dos dados. Com suporte
dos pressupostos da psicologia ambiental, do referencial teórico e da
revisão da literatura, procedeu-se a organização dos dados e a análise do
conteúdo com base nas dimensões teóricas da identidade de lugar, a
dizer, comportamentos, afetos e cognições, conforme Figura 1.
Os dados foram codificados e organizados em função de seu
conteúdo em três categorias de análise (Tabela 6), derivadas teórica e
empiricamente. Seguiram-se as seguintes etapas de codificação (Strauss
e Corbin, 2008):
1) Codificação aberta: consistiu na separação das informações
em partes diversas (palavras ou trechos de fala) inscritas sob insígnias
diversas de modo a agrupar os dados em função de suas semelhanças e
diferenças.
2) Codificação axial: nesta etapa os dados codificados foram
reagrupados de modo a constituir categorias e subcategorias.
3) Codificação seletiva: procedeu-se o refinamento da análise
das subcategorias, identificando os elementos de análise referente a cada
uma delas.
4) Nomeação das categorias: a partir do referencial teórico e dos
dados da pesquisa, as categorias foram nomeadas mantendo a
consistência entre categoria, subcategoria e elementos de análise, de
modo que os elementos de análise (a unidade analítica da categoria)
correspondessem à categoria geral e ao fenômeno investigado.
O processo de organização, codificação e análise dos dados foi
auxiliado pelo uso do software Atlas/ti 7.5, que contribui para a
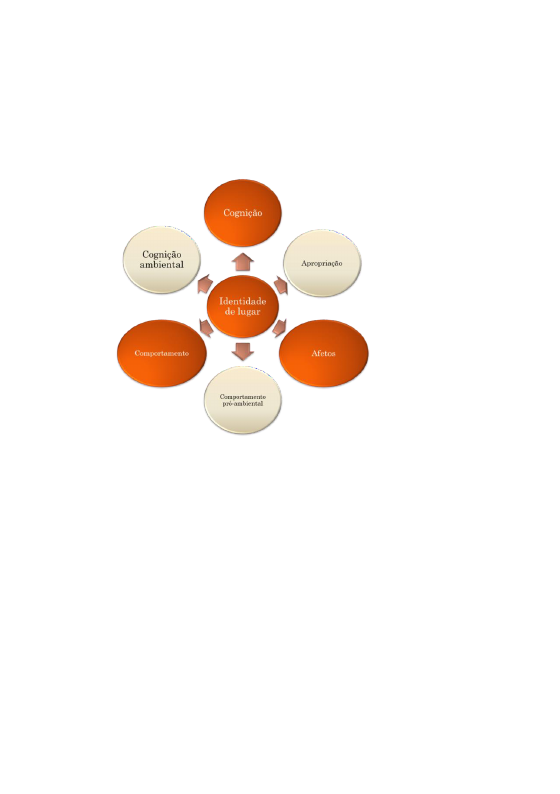
84
sistematização de grandes quantidades de informações em pesquisas de
natureza qualitativa. Ele comporta análises com base em arquivos de
texto, áudio, vídeo e imagens, estabelecendo relações e hierarquizações
entre os dados (Friese, 2014).
Figura 1. Dimensões e conceitos relacionados à identidade de lugar
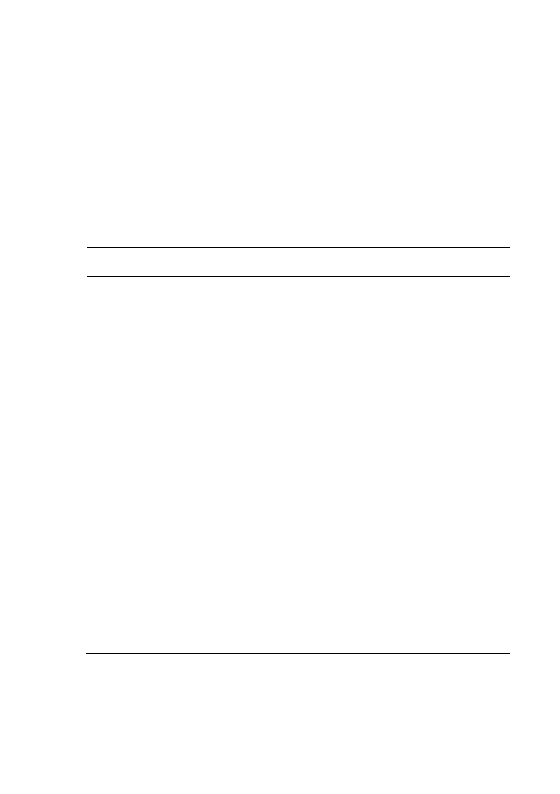
85
5. RESULTADOS
5.1 Caracterização dos participantes
Os dados de caracterização dos participantes foram obtidos na
aplicação do questionário autoadministrado. Dizem respeito ao sexo e
idade dos participantes, tempo de residência em Florianópolis e o centro
de ensino ao qual está vinculado na universidade. A síntese dessas
informações está apresentada na Tabela 3.
Tabela 3. Caracterização dos participantes
Participante Sexo
Idade Tempo de residência
(anos)
em Florianópolis
1
M
24
7 anos
2
M
31
24 anos
3
M
23
2 anos
4
M
27
11 meses
5
F
23
4 anos e 6 meses
6
M
23
4 anos
7
F
21
5 anos
8
M
37
6 anos
9
F
25
5 anos
10
M
28
8 anos
11
F
28
2 anos e 10 meses
12
F
23
6 anos
13
M
21
4 anos e 6 meses
14
M
24
4 anos e 6 meses
15
M
23
5 anos
16
M
30
8 anos
17
F
22
22 anos
18
M
21
3 anos e 6 meses
Setor / Centro
CTC
CFH
CTC
CCE
CFH
CCE
CFH
CCA
CCB
CFH
CCA
CFH
CCJ
CSE
CCE
CSE
CCS
CCS
Foram entrevistadas 18 pessoas, sendo 12 do sexo masculino e
seis do sexo feminino. A idade variou entre 21 e 37 anos (média de 25
anos), sendo que 12 se incluem na faixa etária de 21 a 25 anos, quatro
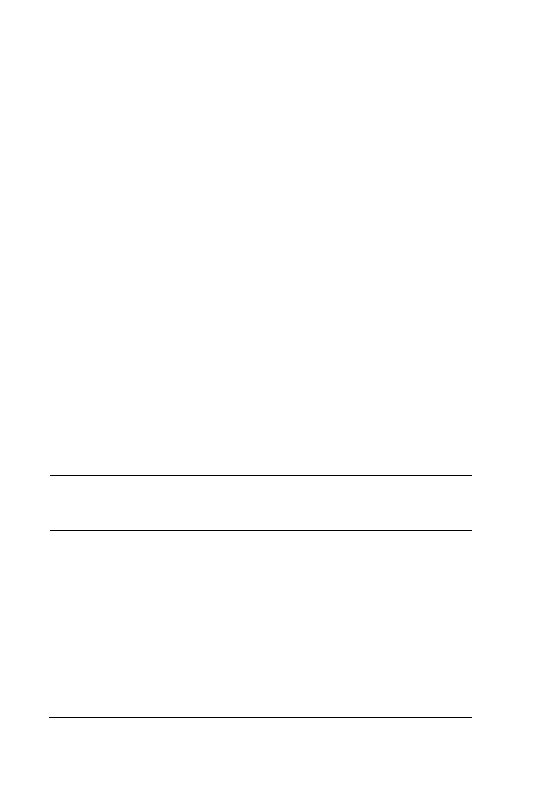
86
entre 26 a 30 anos e dois com mais 31 anos de idade. Em relação ao
tempo de residência em Florianópolis, o intervalo variou entre onze
meses e 24 anos. Observou-se que dois participantes residem na cidade
há mais de 20 anos e o tempo médio foi seis anos e meio.
De acordo com os procedimentos de seleção dos participantes,
apenas discentes em nível em graduação e pós-graduação foram
acessados e participaram da pesquisa, ainda que docentes e funcionários
pudessem ser eventualmente selecionados. Desse modo, das 18 pessoas,
quatro eram estudantes em nível de pós-graduação (três mestrandos e
um doutorando) e 14 de graduação, pertencentes aos seguintes centros
de ensino: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (cursos de
Psicologia, História, Geografia); Centro de Ciências Biológicas (curso
de Ciências Biológicas); Centro de Ciências da Saúde (curso de
Medicina); Centro Tecnológico (cursos de Engenharia Mecânica e
Engenharia de Materiais); Centro de Comunicação e Expressão (cursos
de Cinema, Letras e Jornalismo); Centro de Ciências Agrárias (cursos de
Agronomia e Agroecossistemas); Centro de Ciências Jurídicas (curso de
Direito) e Centro Socioeconômico (cursos de Ciências Econômicas e
Administração).
Em relação aos deslocamentos diários com bicicleta, os dados
foram organizados em função do uso da bicicleta ao longo do dia e da
semana, o tempo médio dos deslocamentos e há quanto tempo faz o uso
desse meio de transporte, conforme a Tabela 4.
Tabela 4. Caracterização dos deslocamentos diários
Parti Desloc Quantos dias da Tempo médio
cipan ament semana usa a
dos
te os por
bicicleta
deslocamentos
dia
1
1a4
2
Entre 10 e 20
min
2
1a4
3
Menos de 10
3
1a4
4
1a4
5
1a4
6
1a4
7
1a4
5
Entre 10 e 20
min
7
Entre 30 min e
1h
2
Entre 20 e 30
min
7
Entre 10 e 20
min
6
Entre 10 e 20
min
Uso da bicicleta como
meio de transporte
(anos)
3a5
1e3
1e3
3a5
5 e 10
1e3
1e3
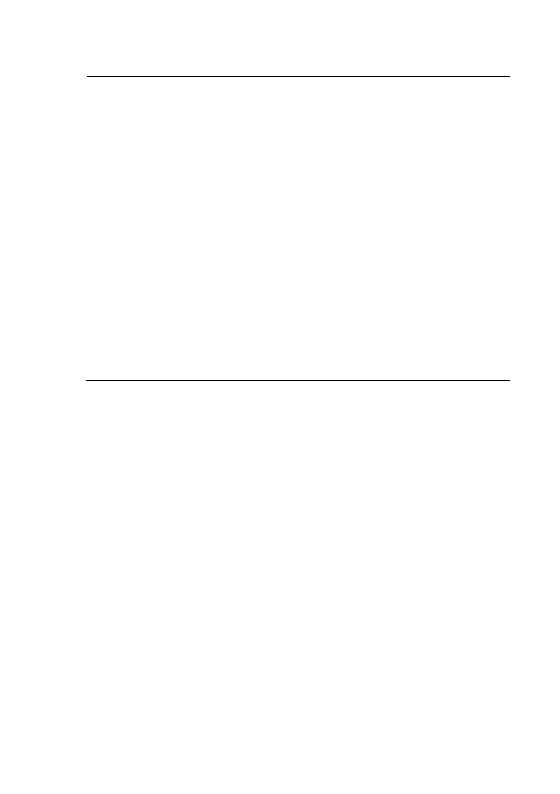
87
8
1a4
9
1a4
10 1 a 4
11 1 a 4
12 1 a 4
13 1 a 4
14 1 a 4
15 1 a 4
16 1 a 4
17 1 a 4
18 1 a 4
6
Entre 10 e 20
5 e 10
min
7
Entre 30 min e
5 e 10
1h
5
Entre 20 e 30
mais de 10
min
5
Entre 20 e 30
1e3
min
7
Entre 10 e 20
5 e 10
min
6
Entre 10 e 20
1e3
min
7
Entre 10 e 20
mais de 10
min
4
Entre 20 e 30
mais de 10
min
5
Entre 20 e 30
mais de 10
min
7
Entre 20 e 30
3a5
min
7
Entre 30 min e
5 e 10
1h
Em relação aos deslocamentos diários, todos os participantes
relataram que fazem entre um e quatro deslocamentos diários com a
bicicleta. Dispostos nos dias da semana, a maioria dos participantes
utilizava a bicicleta em quatro ou mais dias, sendo que sete utilizavam a
bicicleta todos os dias, três utilizavam a bicicleta seis dias na semana,
quatro utilizavam a bicicleta cinco dias na semana e um participante
utilizava a bicicleta quatro dias na semana, o que reforça que o ciclismo
é uma prática habitual no dia a dia dessas pessoas.
O tempo médio de deslocamento para oito participantes variou
entre 10 e 20 minutos e para seis participantes entre 20 e 30 minutos.
Houve o relato de um participante que pedala menos de 10 minutos em
seus deslocamentos e três que pedalam entre 30 minutos e uma hora,
demonstrando que o uso da bicicleta entre eles é bastante diverso e as
distâncias percorridas podem ser variadas, entre as mais curtas para
aqueles que pedalam menos tempo e mais longas para os que pedalam
por mais tempo. Como não foi perguntado sobre a distância percorrida,
entendeu-se que o tempo gasto reflete o quão longo é o trajeto.
Em relação ao tempo que os participantes utilizam a bicicleta
como meio de transporte, seis participantes relataram o uso entre um e
três anos, cinco participantes utilizam entre três e cinco anos, cinco
participantes entre cinco e dez anos e quatro participantes há mais de
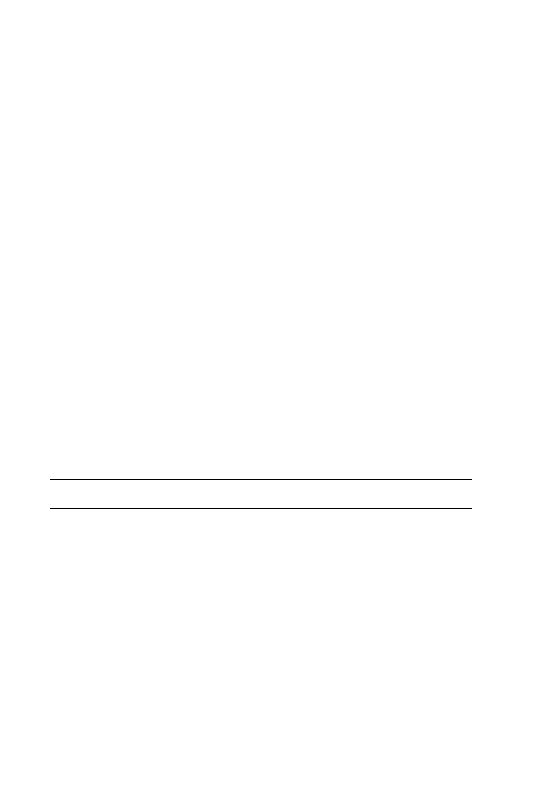
88
dez anos. Ressalta-se o fato de que metade dos participantes utiliza a
bicicleta entre um e cinco anos, período médio de residência em
Florianópolis.
5.2 Caracterização do campo de pesquisa
Os resultados de caracterização do campo se referem à primeira
etapa da pesquisa, que consistiu no mapeamento das estruturas
ciclísticas no campus UFSC – Florianópolis e de seus entornos. Tomou-
se como elementos de análise as anotações das idas a campo, os
registros fotográficos das principais ruas ao redor do campus, bem como
as vias que fazem a ligação do campus Trindade com o Centro de
Ciências Agrárias – bairro Itacorubi.
Em primeiro lugar, com a exploração do campus foi possível
identificar grande parte dos paraciclos e bicicletários existentes na
universidade, vagas destinadas ao estacionamento de bicicletas que
foram denominadas pelos participantes de lugares oficiais. Estima-se
que todos os paraciclos e bicicletários tenham sido identificados e
registrados, mas é possível que na etapa de exploração alguns tenham
sido deixados a parte dessa lista pela dificuldade de acesso ou de
visualização. A Tabela 5 exibe as quantidades de vagas disponíveis para
os ciclistas que circulam pela UFSC.
Tabela 5. Quantidade de paraciclos e vagas para bicicletas encontradas na
UFSC
Local
Quantidade de Total de
paraciclos
vagas
BU
2
39
CCA
9
132
CCB
6
37
CCE
2
23
CCJ
1
12
CCS
4
31
CDS
10
121
CED
1
5
Centro de Eventos
3
15
CERTI
1
16
CFH
2
44
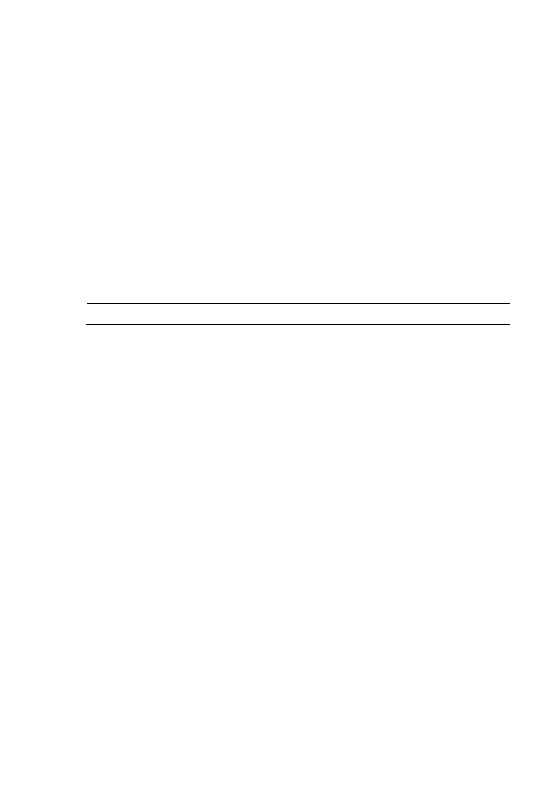
89
CFM
2
21
CSE
1
8
CTC
6
102
EFI
1
30
Engenharia e Gestão do Conhecimento
2
26
FAPEU
1
9
HU
1
9
Reitoria
1
5
Reitoria - Prédio II
1
4
RU
1
12
Departamento de Projetos em Arquitetura e
2
9
Engenharia
Total
60
710
De acordo com a Tabela 5, o campus UFSC – Florianópolis, que
compreende as estruturas do bairro Trindade e o CCA, possui 60
paraciclos (suportes para bicicletas) com um total de 710 vagas de
estacionamento. Grande parte dessas vagas se encontra sobre locais
pavimentados, descobertos ou parcialmente cobertos, próximos às
entradas dos prédios. Ainda que não tenha sido observada a existência
de câmeras de vigilância em todos, algumas vagas de bicicleta são
monitoradas, atendendo às demandas de alguns participantes da
pesquisa por segurança para as bicicletas. Apenas dois bicicletários
(estruturas cobertas e cercadas, de acesso restrito, destinadas ao
estacionamento de bicicletas) foram identificados na CERTI e no CCB,
com total de 22 vagas.
Grande quantidade de vagas se encontram concentradas no CTC e
no CDS (total de 223), enquanto que nos locais de grande confluência
de alunos e funcionários, como a BU e o RU há vagas em quantidades
desiguais. Além disso, o CCA, centro que possui grande quantidade de
paraciclos e vagas para bicicletas, tem essas estruturas distribuídas em
todo o centro, que se localiza distante dos demais.
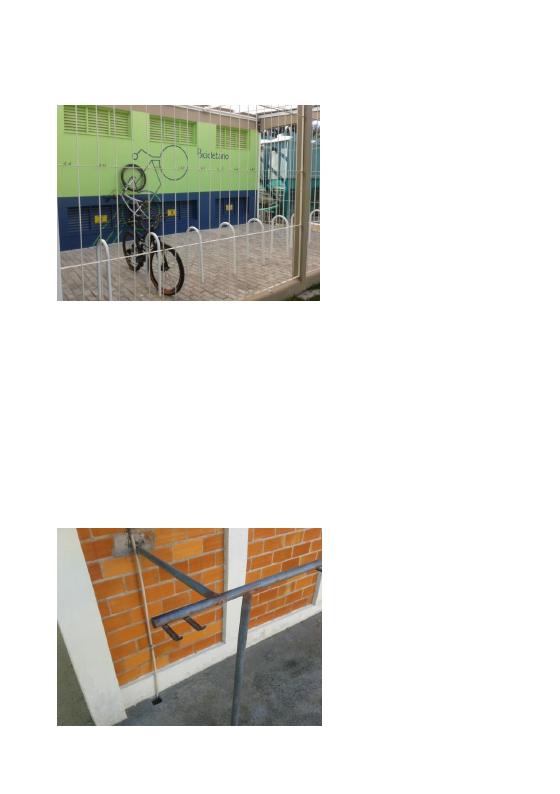
90
Figura 2. Bicicletário em frente à CERTI – UFSC
Fonte: Arquivos de pesquisa.
Das 710 vagas localizadas, foi possível distinguir três tipos de
suportes, conforme figuras 3, 4, 5 e 6. Os predominantes são do mesmo
tipo das figuras 3 e 4, que consistem em duas hastes metálicas paralelas
que suportam o guidão da bicicleta. A figura 5 exibe outro tipo de
estrutura, utilizada para prender o aro da bicicleta. Estas são menos
eficiente em termos de garantia de segurança contra roubos, uma vez
que a roda é o único ponto de fixação. A figura 6 demonstra o terceiro
tipo de paraciclo, que consiste em uma barra de ferro fixada ao chão em
dois pontos e possibilita ao ciclista prender sua bicicleta em mais de um
ponto, proporcionando maior segurança.
Figura 3. Exemplo de suporte para bicicleta - CDS

91
Fonte: Arquivos de pesquisa.
Figura 4. Exemplo de suporte para bicicleta – CCB
Fonte: Arquivos de pesquisa.
Figura 5. Exemplo de suporte de bicicleta - CCA
Fonte: Arquivos de pesquisa.

92
Figura 6. Exemplo de suporte de bicicleta - EFI
Fonte: Arquivos de pesquisa.
As figuras 7 e 8 demonstram duas situações comuns vivenciadas
pelos ciclistas da UFSC. A figura 7 exibe dois paraciclos situados em
áreas descobertas e piso não pavimentado, consistindo em uma
dificuldade para os ciclistas, principalmente em períodos chuvosos. Por
outro lado, a figura 8 exibe a situação de um paraciclo sinalizado e
semicoberto, sob a marquise do prédio.
Figura 7. Paraciclo sobre área descoberta e não pavimentada
Fonte: Arquivos de pesquisa.

93
Figura 8. Paraciclo CCJ
Fonte: Arquivos de pesquisa.
Além das vagas nos paraciclos e bicicletários, consideradas de
uso exclusivo dos ciclistas, existem usos diversos dessas estruturas. As
figuras 9 e 10 demonstram uma situação corriqueira no campus que é o
estacionamento das bicicletas em locais informais ou não destinados, em
princípio, às bicicletas. Seja pelo esgotamento das vagas dos paraciclos
ou pela facilidade em parar em um poste ou pilar, os ciclistas
improvisam seus suportes da maneira mais conveniente.
Figura 9. Paraciclo CFH
Fonte: Arquivos de pesquisa.

94
Figura 10. Locais alternativos para estacionar bicicletas
Fonte: Arquivos de pesquisa.
Alguns prédios do CCB e CTC, bem como alguns prédios
administrativos da UFSC estão separados dos demais por uma via de
trânsito rápido de seis pistas (três em cada sentido), local de acesso para
três bairros dos arredores da universidade. Pedestres e ciclistas que
queiram ir de um lado para o outro sem precisar atravessar a rua podem
utilizar uma passagem sob a pista, sinalizada conforme a figura 11.
Além de dar acesso para os demais prédios da universidade, esse
caminho conduz o ciclista até uma das extremidades da ciclovia que
tangencia a Avenida Beira Mar. Ademais, trata-se do trecho de um
projeto experimental de ciclovia, que ligaria a Avenida Beira Mar à BU,
passando pelo CCS. No entanto, esse trecho não possui sinalização, está
em mau estado de conservação, tem uso compartilhado com pedestres e
é local de depósito de containers de lixo dos prédios da universidade
(Figura 12).
Trata-se também de um dos pontos que liga o campus ao CCA,
pela ciclovia. Assim, quem deseja sair da Trindade em direção ao CCA
possui ao menos duas opções para fazê-lo: pelo bairro Santa Mônica,
que possui ciclovia em parte do trajeto, ou pelo bairro Itacorubi, também
provido de ciclovia. Os dois trajetos possuem distâncias semelhantes e o
segundo garante circulação em ciclovia na maior parte do trajeto. A
localização dos paraciclos do campus e das ciclovias dos entornos estão
expostos na Figura 13.

95
Figura 11. Passagens de pedestres e ciclistas sob a avenida
Fonte: Arquivo de pesquisa.
Figura 12. Trecho da ciclovia experimental
Fonte: Arquivo de pesquisa
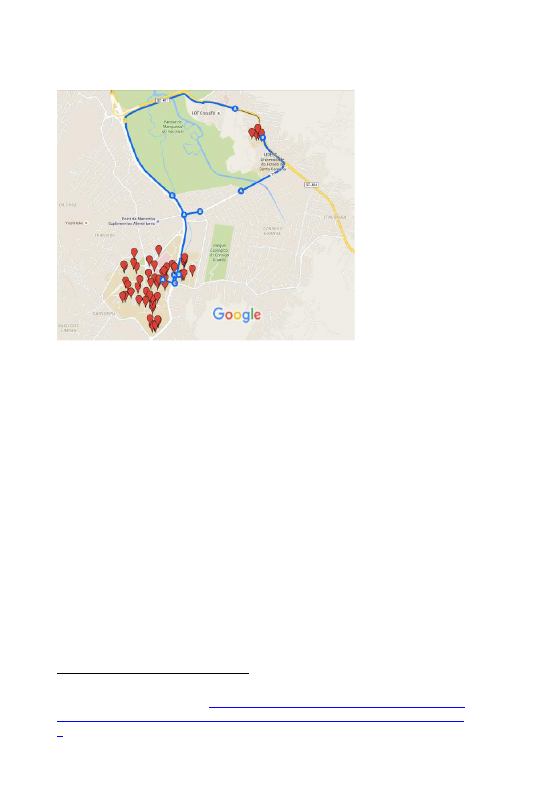
96
Figura 13. Mapa de localização das ciclovias e paraciclos da UFSC
Fonte: Google Maps12
5.3 Apresentação das categorias, subcategorias e elementos de
análise
Com base no corpus da pesquisa, construído nas duas etapas deste
estudo, organizou-se os dados em três categorias (baseadas nas dimensões da
identidade de lugar), compostas por subcategorias e seus respectivos elementos
de análise. Sua formulação seguiu a matriz do pensamento dedutivo, partindo
dos elementos de análise identificados nos trechos de discursos em direção à sua
esfera conceitual. Trata-se de um movimento que vai da particularidade do
discurso em direção à esfera genérica do conceito, respeitando a fala dos
entrevistados e a singularidade de suas experiências bem como os articuladores
teóricos que norteiam esse trabalho (González Rey, 2002). A Tabela 6 apresenta
os aspectos analisados.
12 Para ver mapa produzido a partir das informações obtidas nessa etapa do
estudo,
acessar:
https://www.google.com.br/maps/@-27.5914071,-
48.5123622,14z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1szpEZpp8ZUYWQ.kWz62C7sfUD
8
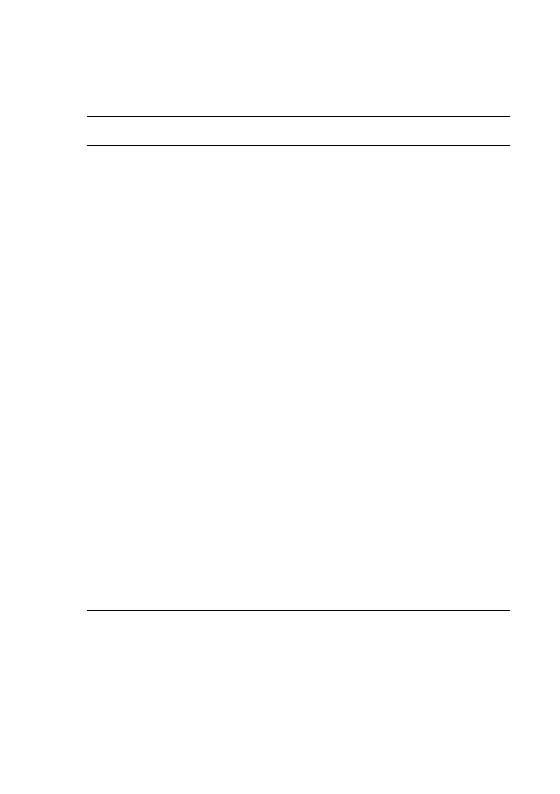
97
Tabela 6. Apresentação das categorias, subcategorias e elementos de análise
Categoria
Subcategoria
1.1 Sentimentos
provocados
1.2 Imagem da cidade
Categoria 1
Aspectos afetivos da relação ciclista-
cidade
1.3 Posição do ciclista
no espaço
1.4 História pessoal
1.5 Encontros
1.6 Ser ciclista é...
2.1 Motivos /
Benefícios do uso da
bicicleta
Elementos
de análise
Potencializador
es;
Afetos ciclista-
cidade;
Despotencializa
dores;
Ambivalências;
A cidade
imóvel /
inacessível;
Cidade boa;
Natureza /
beleza;
Contrastes;
Imagem
negativa;
Ciclista no
trânsito;
Ausências;
Na condição de
outro integrante
do trânsito;
Família /
amigos;
Lugar de
origem;
Outras épocas,
outros lugares;
Ciclismo como
modo de
conhecer
pessoas;
Encontrar /
estar com outras
pessoas;
Envolvimento /
identificação /
participação;
Compor com a
cidade;
Modo de vida;
Desafio /
resistência;
Autonomia;
Bem estar;
Contato com o
lugar;
Gostar de
pedalar;
Custo;
Praticidade;
Tempo;
Trânsito e
transportes;
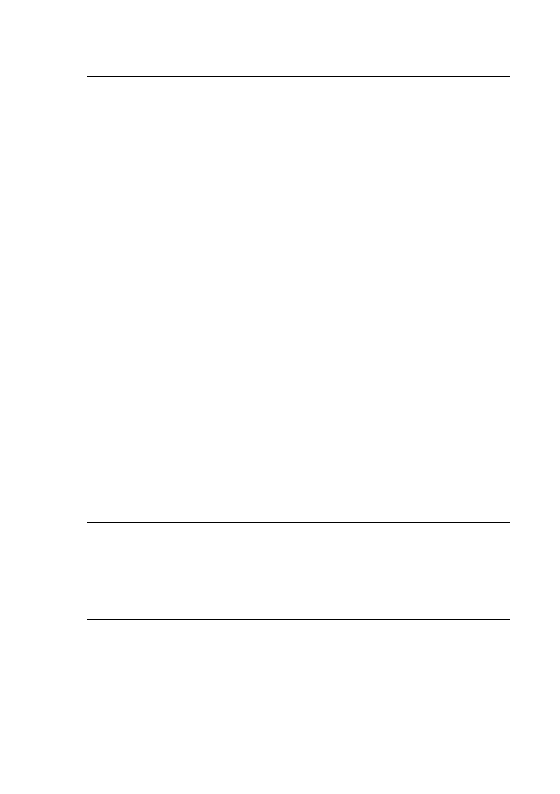
98
Convicções e
escolhas;
2.2 Fatores que
dificultam o uso da
bicicleta
Categoria 2
Aspectos cognitivos da relação ciclista- 2.3 Finalidades do uso
cidade
da bicicleta
2.4 Avaliações sobre as
estruturas ciclísticas
2.5 O ciclismo ideal
2.6 Cognições
ambientais
3.1 Modos de pedalar
Categoria 3
Aspectos comportamentais da relação
ciclista-cidade
3.2 Hábitos de saúde
3.3 Segurança
Fatores
ambientais;
Condições da
via;
Motivos
pessoais;
Aspectos
culturais;
Fatores
políticos;
Gastos e custos;
Deslocamentos
utilitários;
Esporte / lazer;
Compras;
Encontros
sociais;
Falta de espaço;
Suficiência /
Insuficiência;
Falta de
incentivo
político;
Infraestrutura;
Mais incentivos
políticos;
Cultura da
bicicleta;
Reivindicação;
Marcadores do
trajeto;
O que chama a
atenção;
Escolha do
trajeto;
Orientação
espacial;
Sensações;
Inadequados;
Cuidado;
Impor-se na via;
Compartilhar;
Saudáveis;
Não saudáveis;
Da bicicleta;
Ao circular;
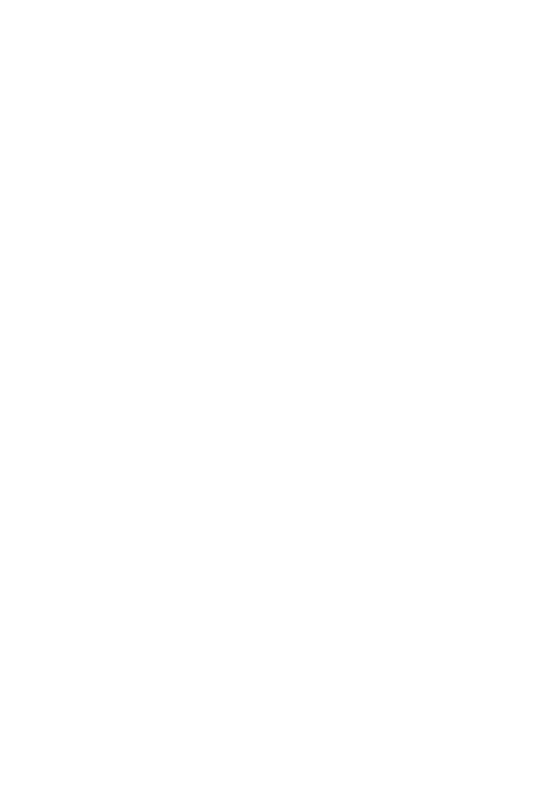
99
6. DISCUSSÃO
A organização dos dados em três categorias se ampara na
fundamentação teórica a respeito do conceito de identidade de lugar,
bem como no conteúdo da narrativa dos participantes e na descrição do
campo de pesquisa. A forma adotada é um meio de nortear a
apresentação dos resultados e não pretende demarcar um campo neutro.
Características afetivas, cognitivas e comportamentais da relação do
ciclista com a cidade, entendidas como constitutivas da identidade de
lugar, não são categorias ―puras‖, tampouco podem ser compreendidas
isoladamente. Ressalta-se que afetos, cognições e comportamentos são
elementos que se constituem mutuamente, eles se tangenciam e
perpassam as três categorias, sendo aglutinados os conteúdos que
coincidem em suas valências e significados.
6.1 Categoria 1 – Aspectos afetivos da relação ciclista-cidade
Esta categoria foi composta pelas características afetivas da
relação do ciclista com a cidade. Parte-se do entendimento que a
dimensão afetiva diz sobre o modo como o ambiente afeta quem nele
está e que fundamenta a dimensão dos significados produzidos na
relação com o entorno. Entendeu-se que os Sentimentos provocados, a
Imagem da cidade, a Posição do ciclista no espaço, a História
pessoal, os Encontros e Ser ciclista é... são as subcategorias que
explicam essa dimensão da identidade de lugar em ciclistas.
A subcategoria 1.1, que diz sobre os sentimentos provocados
pode ser analisada, em primeiro lugar, pelos sentimentos que
potencializam a capacidade de agir dos ciclistas e de transformar seu
entorno. Na esteira dos afetos ético-políticos (Sawaia, 2000), referem-se
a sentimentos, sensações e emoções que reverberam todos no corpo e
medeiam a relação das pessoas com o entorno, desdobrando-se nas
relações das pessoas consigo mesmas, com os outros e com a cidade.
O primeiro nível de análise dessa subcategoria é a pele ou o
próprio corpo. Pelo fato de o ciclismo urbano ser uma atividade que
implica a exposição direta da pessoa com o ambiente, as sensações
corporais foram citadas pelos participantes como um grande atrativo
para o uso da bicicleta nos deslocamentos diários. Assim, estar exposto

100
ao ambiente, ao vento, ao sol e ao ar bom de respirar pode ser gerador
de prazer e bem estar13.
Além disso, emoção, adrenalina e euforia, palavras evocadas
como definidoras do encontro do ciclista com a cidade, reforçam a
potência do ambiente em afetar o corpo. Nesse sentido, uma das
participantes evocou a imagem da bicicleta como uma extensão do
corpo, ou seja, um aparato que além de ser um meio de transporte e de
experimentar a cidade, amplia a superfície de contato do ciclista com o
lugar por onde transita.
Pedalar na cidade também se relaciona ao bem estar. Entende-se
que ―sentir-se bem‖ está atrelado tanto à esfera individual, que
possibilita a contemplação do ambiente, sensações prazerosas, de
relaxamento e esvaziamento, como à dimensão interpessoal, na esfera da
alteridade. Como retrata um participante:
[...] sentir bem é quando está em paz consigo
mesmo e com os outros, não ter nenhuma
preocupação, não tem nenhum sentimento, aquele
estresse, [...] de raiva, ou de culpa, de
preocupação, de estar no trânsito, de ter que
chegar a tempo, de estar atrasado (P18).
A ênfase nesse trecho aponta para a existência do componente
ético da afetividade (Sawaia, 2000). Desse modo, mesmo que o bem
estar se refira de maneira predominante aos desdobramentos do uso da
bicicleta na esfera pessoal, a possibilidade de não ter raiva e estar bem
com os outros diz respeito a algo que vai além de si próprio. Isso porque
os deslocamentos diários constituem um campo de relações sociais em
que alguns ciclistas se preocupam com melhores condições de
relacionamento no trânsito, o que nem sempre é compartilhado por
outros participantes do trânsito (McKenna & Whatling, 2007). No
mesmo sentido, Gatersleben e Haddad (2010) sinalizam a existência de
uma classe de ciclistas caracterizada principalmente pela gentileza no
trânsito, o que reforça a preocupação de alguns ciclistas com a boa
convivência ao circularem nas ruas.
Além disso, sentir-se bem ao pedalar se relaciona com a utilidade
de bicicleta, pois além de o ciclista estar ao ar livre, existe a
possibilidade de ir para onde quiser, que garante a sensação de
liberdade e autonomia. Assim, os participantes relataram que pedalando
13 Nesta seção do trabalho, trechos e palavras em itálico são referências diretas e
indiretas a fragmentos de fala dos participantes.

101
se sentem livres para fazer o caminho que quiserem e não precisam
depender de outra pessoa para chegar onde querem, ou seja, liberdade
do ponto de vista da mobilidade urbana e libertação sob o ponto de vista
da alma.
Sob a perspectiva das políticas de mobilidade e do substrato
ideológico dos meios de locomoção, usar a bicicleta como meio de
transporte indica a possibilidade de fazer algo que goste, fazer bem pro
corpo, usar um meio que impacte menos no ambiente e, assim, subverter
um modo hegemônico de circular na cidade. Uma das participantes
retratou o modo como se sente ao circular de bicicleta por Florianópolis:
Ousada! [...] Na cidade de Florianópolis eu sinto
que eu estou pensando diferente [...] não sei se é
ousada a palavra, porque eu estou fazendo bem o
que eu estou afim de fazer, não estou me
prendendo ao jeito que a cidade propõe para eu
ser. Estou sendo do jeito que eu quero e não do
jeito que a cidade quer (P17).
A fala da participante deflagra os desdobramentos políticos de
estar envolvido afetivamente em uma atividade urbana (Sawaia, 2000).
No nível das relações pessoa-ambiente, entende-se que a forma da
cidade e das ruas ―propõe‖ um modo de ser e circular pelos espaços, que
no caso de Florianópolis é um convite à circulação motorizada. Na
esfera individual, a ousadia reside em um dos motivos para a escolha da
bicicleta: pedalar por opção.
Ademais, trata-se de uma escolha implicada e produz impactos
não só na vida de quem escolhe a bicicleta, mas no trânsito de maneira
global. Desse modo, além da ousadia, o discurso dos participantes expôs
a sensação de resistência, ou seja, de manter uma opção diferente de ser
e estar na cidade mesmo quando ela própria não fornece condições
adequadas para tal.
Assim, ao aliar o útil ao agradável, o deslocamento por bicicleta
parece mediar um sentimento pela cidade de maneira geral. Quando
comparam a cidade de Florianópolis com outros lugares, os participantes
relataram que se sentem respeitados no trânsito, privilegiados por poder
desfrutar das paisagens da cidade e felizes por residirem no local.
Produz-se o sentimento de lar e se nutre um carinho pela cidade, mesmo
para aqueles participantes que moram temporariamente na cidade estão
de passagem à jornada universitária.

102
Como prolongamento dos ―sentimentos potentes‖, pode-se
relacionar o que foi denominado de afetos ciclista-cidade. Esse
elemento de análise não é composto propriamente por sentimentos
nomeados, mas retrata o modo como o ciclista é afetado pelas situações
do trânsito e pela paisagem urbana de Florianópolis. Assim, o que
caracteriza esses elementos são intensidades e velocidades, algo que por
vezes não pode ser nomeado, mas produz uma marca, afeta.
Nesse sentido, a bicicleta acaba sendo, ela própria, um veículo
afetivo que conduz o ciclista ao encontro da cidade e de seus lugares.
Não se trata, portanto, de uma descrição de cenários e das belezas
naturais de Florianópolis, mas sim da composição com esse plano, em
que o ciclista não é um elemento destacado do fundo, mas é antes de
tudo parte dele. Uma das participantes resumiu sua experiência da
seguinte maneira:
[De bicicleta] tu não meramente passa, tu passa
como observador, tu tá participando daquele
local... tu tá fazendo parte. Eu sinto isso, porque a
bike é totalmente aberta, então sei lá, tu tá em
contato com que tu tá... e acaba descobrindo,
vivendo as cenas que você passa durante a
pedalada, acho que é isso o descobrindo (P17).
Se a afetividade é o indicador da implicação das pessoas com a
cidade (Bomfim, 2010), o relato da participante sugere que experimentar
a cidade pelo viés da bicicleta possibilita aliar-se à paisagem. Vivenciá-
la, descobrir a cidade, ver e sentir suas irregularidades e inconsistências:
retratos da experiência urbana incorporada. Como sugerem Hissa e
Nogueira (2013), ver a cidade é vivê-la, experimentá-la, é uma aliança
indissolúvel entre corpo e cidade que, quando mediada pela bicicleta,
torna-se ainda mais explícita. Nesse caso, a propulsão humana dita o
ritmo do deslocamento e as barreiras do trajeto são transpostas pelo
esforço físico de quem pedala. Entre suor e gratificação, adrenalina e
descobertas, corpo e cidade se tecem reciprocamente.
Outra esfera afetada pelo uso da bicicleta é o tempo. Na condição
de uma propriedade medida pela física, é uma grandeza que varia em
função do espaço e da velocidade. Regida pelas leis da física, a
velocidade pode ser medida na razão entre a variação do espaço e a
variação do tempo. Por outro lado, no estatuto subjetivo da mobilidade
urbana a velocidade e o tempo não configuram grandezas mensuráveis,
senão grandezas vividas. Assim, a velocidade alcançada na descida de
um morro, a duração total do trajeto ou o tempo que seria gasto caso

103
estivesse se deslocando de outra maneira são importantes para o ciclista,
pois garantem um tipo de relação com o espaço e potencializam o sentir-
se bem da pedalada. Como relata o participante P10:
[...] sentir que talvez esse tempo vai ser um tempo
ganho. Porque não é um tempo perdido o
deslocamento. Porque ao mesmo tempo que tu tá
pedalando, tu tá com a cabeça pensando em
várias outras coisas que talvez tu não estaria
pensando fazendo qualquer outra coisa... meio
que tu usa o tempo também pra construir algo...
nem que seja mentalmente, mas é um tempo
aproveitado (P10).
Por outro lado, pedalar pela cidade nem sempre afeta
positivamente o ciclista e por vezes é algo desagradável. Trata-se
daqueles sentimentos que despotencializam ou diminuem a capacidade
de agir dos ciclistas, que foram valorados negativamente pelos
participantes. Em linhas gerais, eles se referem à experiência de estar no
trânsito, sobre o desafio que é utilizar a bicicleta como meio de
transporte em um ambiente hostil.
Assim, seja pela falta de estrutura para circular na cidade ou
pela falta de respeito de outros integrantes do trânsito com o ciclista, os
relatos dizem sobre a sensação de insegurança e desamparo provocada
pela exposição a algumas situações cotidianas. Por vezes, pedalar é estar
alheio ao devir, ou seja, saber que existe o risco de vida se houver
algum descuido por parte do outro ou do próprio ciclista. Do alheamento
às condições do trânsito advém a angústia, o receio e o medo.
Este último sentimento foi um dos mais relatados para se referir
à experiência de pedalar na cidade: o medo é grande, é constante, é
comum para quem anda de bicicleta, o medo te trava. Os objetos do
medo também são diversos: medo de ser roubado, de se desequilibrar,
de cair, de se machucar, de morrer. Por isso, uma das estratégias
utilizadas para lidar com esse sentimento é a sua naturalização. Alguns
ciclistas partem do entendimento de que pedalar sem estruturas
adequadas, expostos a situações arriscadas e adversas são circunstâncias
normais.
O entendimento de algumas situações do trânsito como normais e
os sentimentos delas advindos como naturais aponta para outro
horizonte de análise. Elas podem ser correlatas à naturalização da cidade
como um sistema partido e desigual, que ao longo da história tem
destinado seus recursos e facilidades para garantir a comodidade de uma

104
parcela de seus moradores. No entanto, a naturalização dessa situação
deflagra a ruptura no uso e direito à cidade, bem como a manutenção das
desigualdades que se engendram nesse território. Dessa cisão extrai-se
que nem sempre pedalar é prazeroso e libertador, conforme o relato do
participante:
[...] a experiência de se deslocar de bike às vezes
é penosa, nem sempre ela é só agradável. Tu tem
que conviver com os carros, com as motos, com os
caminhões, com os ônibus, com os outros
pedestres... e por vezes aparece muitos conflitos,
com todos esses outros elementos que estão
andando até nosso caminho mesmo, conflitos
chatos, se tornam chatos (P18).
Pela fala do participante, entende-se que a mobilidade urbana por
bicicletas encarna as contradições que são próprias das cidades. Estas se
configuram como espaços de encontro com a diferença, o que nem
sempre resulta em concordância e convivência pacífica. O território da
cidade é opaco, arena de controvérsias, conflitos e disputas, enfim,
terreno político. De maneira análoga, é este mesmo território que
possibilita as afecções de múltiplas valências e provocam sentimentos e
emoções diversas.
Desse modo, ao pedalar na cidade os ciclistas se veem sujeitos a
situações que envolvem tanto a esfera das políticas públicas (condições
da via, falta de segurança, estruturas precárias) quanto o âmbito das
relações entre pessoas no trânsito (falta de espaço, falta de respeito). Por
vezes, essas situações provocam raiva, revolta e ódio, sentimentos que
não são interessantes de o ciclista demonstrar e que pouco se pode
construir a partir deles. Uma participante relatou sua experiência no
trânsito da seguinte maneira:
[...] passa bastante raiva, o que não é bom porque
eu não gosto de sentir raiva pelas pessoas, eu
acho que não é um sentimento que te leve a algo
construtivo. Claro, tu pode sentir isso, mas tu
reagir com raiva não é algo construtivo, é isso
que eu não gosto e acabo reagindo com raiva na
hora [...] (P17).
Com base em Sawaia (2000), é possível sinalizar a existência das
nuances afetivas que o uso da bicicleta dispara. Por um lado os
sentimentos, ou aquelas reações moderadas de prazer ou desprazer que

105
nos ciclistas se expressaram como felicidade, paz, medo e estresse. Por
outro sobressaíram as emoções, fenômenos afetivos intensos e breves
disparados por um fenômeno que interrompe o fluxo normal dos
acontecimentos. Ganharam tônus nas afecções do ciclista com a cidade,
naquilo que dificilmente é representado, senão experimentado na
velocidade impressa pelo relevo da cidade e no impacto que a paisagem
provoca no olhar lento. Desse modo, mesmo que a experiência de
pedalar na cidade produza sentimentos e emoções de valências
diferentes, evidencia-se que a afetividade é o motor das ações dos
ciclistas tanto em relação ao outro como nas situações que sinalizam
desigualdades.
Além disso, além de sentimentos potencializadores e
despotencializadores, existem aqueles que deflagram as ambivalências
de ser ciclista na cidade de Florianópolis. Nesse nível de análise o
enfoque foi dado na tensão existente entre o bem estar e o mal estar,
entre o perigo e a liberdade. Assim, a tônica é dada à conjunção entre os
sentimentos, que quase sempre indica oposição. São situações que
demonstram simultaneidade, embate de sensações, contrastes, isso
porque pedalar na cidade não faz sentir uma coisa só. Assim, pedalar em
Florianópolis é uma delícia, só que não tem infraestrutura, provoca
medo, mas ao mesmo tempo prazer e fascínio, cansaço, mas
independência.
Portanto, existem diariamente pontos altos e baixos durante a
pedalada, permeados por emoções e sentimentos que se sobressaem em
frentes distintas, por vezes opostas. Assim, o que resta dos contrastes é a
potencialidade do pedalar, o prazer da atividade, os ganhos que a
bicicleta apresenta no trânsito quando comparada com outros meios de
transporte e a possibilidade de vivenciar as paisagens urbanas de
Florianópolis.
Na construção dos mapas afetivos, as análises de Bomfim (2010)
conduziram à compreensão do contraste como uma categoria de análise
da afetividade dos moradores com a cidade. De maneira análoga, na
relação do ciclista com a cidade, as ambivalências se anunciaram no ato
de se mover e foram organizadas como unidade de análise por uma
peculiaridade linguística. Assim, mesmo que sejam sentimentos e
emoções de valências diferentes (como nos contrastes), privilegiou-se a
ligação linguística entre os adjetivos-sentimentos, com predominância
das conjunções adversativas (mas..., no entanto..., por outro lado...).
Simultaneidade que possibilitou sintetizar sentimentos e emoções em
imagens que conjugam ambiente, mobilidade e afetividade.

106
A subcategoria 1.2, que trata das imagens da cidade, diz respeito
ao modo como os ciclistas enxergam e vivenciam a cidade. Essas
imagens foram retratadas por avaliações, opiniões e metáforas, todas
elas transversalizadas pelo uso da bicicleta. Foram categorizadas como
um aspecto afetivo uma vez que se referem à síntese entre imagem e
sentimento.
O primeiro grupo de imagens se refere à cidade imóvel ou
inacessível, que descreve a cidade por sua condição do trânsito. Com
base no desenho urbano de Florianópolis e em sua estrutura viária,
alguns participantes se referiram à imagem de uma cidade que possui a
cultura do automóvel muito arraigada, onde o deslocamento por
qualquer modal é bastante complicado. Exemplo disso é o relato de um
dos participantes, que retrata a cidade da seguinte maneira:
É uma cidade que tem uma cultura do automóvel
muito forte, muito mais forte do que eu
imaginava! Que acho que se liga muito a essa
loucura da ilha da magia: é ilha da magia se tu
não está preso num congestionamento, se tu não
fica duas horas pra chegar ao continente! Daí
talvez seja a ilha da magia, tu tá na frente de uma
praia, sai do teu hotel, vai pra praia e volta... daí
é mais tranquilo (P15).
Trata-se de uma imagem da cidade pelo viés da mobilidade e do
deslocamento com predomínio da paralisação e dos congestionamentos.
Em sua fala o participante condensa duas imagens de Florianópolis e se
remete a duas experiências diferentes da cidade: uma diz respeito àquela
pessoa que está de passagem, como o turista, que vivencia a Ilha da
Magia da orla da praia e desfruta prioritariamente das potencialidades do
lugar; e outra do morador, que diariamente passa várias horas do dia na
tentativa de se deslocar.
Imagens em conflito, representadas metaforicamente pelo
morador como a cidade engarrafada, ou então o trânsito como um
cabelo enrolado, sem forma definida, em alusão à constituição viária do
centro da cidade. Além disso, movimentar-se pela cidade se torna ainda
mais difícil por sua constituição territorial, pois é tudo distante, são
várias ilhas em uma mesma ilha, o que a torna pouco prática.
Portanto, a cidade imóvel ou inacessível é uma imagem que entra
em conflito com a ideia de Florianópolis como um paraíso, com vistas
maravilhosas, praias e paisagens belas. Os participantes aludiram a
duas experiências que dizem respeito à beleza em contraste com o

107
trânsito, que tornam movediça a imagem da cidade como ilha da magia.
Por um lado ela é positiva quando permeada pelo trânsito sem fricção e
sem preocupações, como na tranquilidade de ir à praia no final de
semana. Por outro lado, é negativa quando o deslocamento envolve
tráfego pesado, pessoas com pressa, que querem tirar vantagem umas
das outras.
Com ênfase na face positiva, outro aspecto ressaltado nessa
subcategoria foi a imagem de Florianópolis como uma cidade boa.
Foram enfatizados principalmente seus aspectos naturais e a qualidade
de vida relacionada ao uso de suas áreas naturais. Assim, a imagem de
uma cidade relativamente calma, com possibilidades diversas de lazer e
trabalho, é reforçada por sua tendência voltada para os esportes, coisas
mais ligadas à natureza ou liberdade. Um dos participantes relatou:
Porque não tem milagre, não tem um lugar ideal
pra você viver. Você pode viver num lugar que
tem boa cultura, mas provavelmente o nível de
urbanização é muito grande, ai você não vai ter
tanto natureza, por exemplo. Ou as coisas que te
podem te dar energia, podem te dar inspiração
pra viver. E Floripa é isso, é um lugar muito
inspirador em todos os aspectos (P16).
Nesses termos, viver em Florianópolis permite vê-la também em
suas imperfeições e de certa forma desidealizar a imagem que é
transmitida pela mídia ou pelo turismo de um lugar mágico, onde os
altos índices de desenvolvimento humano se aliam ao cenário perfeito
para manter a saúde e a qualidade de vida. Pela ótica dos universitários
entrevistados, foi possível perceber que circular de bicicleta permite a
integração das fraquezas e potencialidades da cidade e vivenciá-la como
um lugar inspirador.
Atrelado à ideia da cidade boa, as paisagens e as belezas
naturais de Florianópolis geralmente são seus principais atributos
definidores. A pintura da cidade é feita em função de seus detalhes,
observados cotidianamente como se fosse a primeira vez: os morros, as
praias, a vista do morro da Lagoa ou então pela diferença da coloração
entre o sol e o céu na paisagem da Avenida Beira Mar. Não foram raras
as ocasiões em que Florianópolis foi citada como um lugar paradisíaco,
aliando-se à imagem de uma cidade boa para viver.
Além disso, a dimensão da cidade foi referenciada como um
aspecto que pode auxiliar a formar uma imagem da mesma. A cidade

108
pequena e a cidade grande aparecem emaranhadas no imaginário dos
participantes e proporcionam um tipo de relação com o território de
Florianópolis. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que ela é vista por
alguns como uma megalópole que tende a crescer, também é uma
cidade grande que às vezes parece uma cidade pequena, ou então se
assemelha a uma vila. De acordo com um participante, isso ocorre
porque:
[...] ela consegue, de algum jeito, misturar os
elementos de cidades pequenas, de você ter uma
coisa muito mais de proximidade, com elementos
de cidades grandes, que você vai conseguir
encontrar de tudo que você precisa. Sem ter
grandes problemas de cidades grandes, né? Então
eu vejo uma integração muito interessante (P13).
Desse modo, a partir da experiência de pedalar na cidade, é
possível delinear imagens contrastantes de Florianópolis. Diferente dos
sentimentos ambivalentes em relação à cidade (descritos na subcategoria
1.1), o que caracteriza este elemento de análise é a tensão existente entre
a cidade e o uso que é feito dela. Para além da imagem ―positiva‖ ou
―negativa‖ da cidade, aqui os contrastes exprimem o modo como a
pessoa experimenta a cidade e não propriamente dos sentimentos
disparados nessa relação. Assim, Florianópolis é uma cidade boa, mas
tem trânsito, tem belezas naturais e qualidade de vida embora seja
bastante elitizada. Para ilustrar esses contrastes, o uso de metáforas foi
um dos recursos utilizados, como expôs o participante P18:
Poderia até comparar com um circo, porque [...]
ao mesmo tempo que ele pode ser uma parada
agradável, que tu vai ali pra rir, pra se entreter,
pra apreciar, ele é uma ilusão, ele é só um peça
[...]. Muitas pessoas vêm pra cá com essa
proposta de qualidade de vida, querendo mais
tranquilidade, e eu não sei, acho que muita gente
acaba entrando num caminho errado nessa busca
da qualidade de vida, porque a cada ano que
passa a gente acaba tendo mais problemas, e o
trânsito é um dos maiores problemas de
Florianópolis na minha opinião. E as pessoas
parecem que vivem nesse circo de ilusões mesmo!
De viver a sua vida acreditando numa felicidade
que nunca chega, e todo dia só stress e o trânsito

109
multiplica tudo isso, e é cada um por si, ninguém
tem paciência pra olhar pro outro (P18).
Pela metáfora do circo, o participante aglutinou muitos dos
conteúdos afetivos tratados nesta categoria de análise. ―De fora e de
longe‖, vê-se Florianópolis como aquela cidade retratada pelos
indicadores socioeconômicos, que sinalizam alta qualidade de vida,
local ideal para viver e investir. No entanto, o olhar ―de perto e de
dentro‖ essas imagens se chocam contra aquelas a respeito dos
moradores individualistas, sem paciência para o outro, marcada por uma
imobilidade que denuncia a ilusão que, muitas vezes, é viver na Ilha da
Magia.
As metáforas, apesar de remeterem algumas vezes a formas
cognitivas (como nas imagens do trânsito que se referem ao desenho
urbano de Florianópolis), são entendidas por Bomfim (2010) como um
modo de apreender os afetos que extrapola a cognição. ―Falar por
imagens‖ é um modo de expressão afetiva que, ao condensar imagens e
sentimentos, reflete a experiência cotidiana, permite o insight
comunitário e o contato com a coletividade (Bomfim, 2010).
Diferente dos sentimentos ambivalentes em relação à cidade, que
em última análise tiveram como destaque a potencialidade de ser ciclista
e as sensações que isso gera, as imagens que exprimem contrastes
ressaltaram principalmente os entraves de estar em Florianópolis, de
viver nesse lugar e de circular por ele. Na esteira dessas imagens, por
vezes os participantes desenharam o cenário da cidade de maneira
negativa. Este elemento de análise congregou os juízos que ressaltam
aquilo que é disfuncional na cidade.
Distante da imagem da cidade boa ou paradisíaca encontra-se a
Florianópolis elitista, racista, que está ficando mais violenta e que tem o
trânsito como um problema sério. Para os ciclistas que se deslocam
diariamente até a universidade, a vivência do espaço universitário é uma
extensão do que é visto na cidade: um descaso com o ciclista.
Ainda que as duas imagens povoem o mesmo território, neste
momento prevalece a imagem de deterioração, de crescimento urbano
desordenado que coloca em risco a manutenção de seus recursos
naturais. Trata-se de um lugar saturado, que não suporta mais a
intervenção humana em seu território. Como resumiu um dos
participantes, a cidade pode ser comparada com um câncer, ou seja,
local onde ocorre a inserção repetida de elementos físicos e agentes
externos que com o passar do tempo vai se espalhando e, se não for
destruído, fica cada vez mais forte e maior.

110
É necessário destacar que as imagens evocadas tiveram seu
sentido atribuído pelo próprio participante. A organização dos conteúdos
afetivos remete parcialmente aos dados de Bomfim (2010) sobre as
cidades de São Paulo e Barcelona. Em primeiro lugar, os dados que
descrevem Florianópolis como uma cidade boa, bem como as imagens
de natureza e de beleza são análogos à imagem de agradabilidade
identificada por Bomfim (2010). São elementos da cidade que se
referem ao pertencimento, prazer, natureza, entre outros.
Em segundo lugar, a imagem da cidade imóvel e inacessível, bem
como seus atributos negativos se relacionam à imagem de destruição,
que em Bomfim (2010) são o retrato de um lugar em degradação, de
desequilíbrio, desamparo e inconformidade. Por fim, os contrastes
surgiram como conteúdo tanto no estudo da autora quanto nas imagens
dos ciclistas. Essas imagens declaram a tensão entre poluição e natureza,
aceitação e distanciamento, prazer e desprazer.
Ainda que as subcategorias deste estudo tenham sido organizadas
de maneira diferente daquelas de Bomfim (2010), o conteúdo afetivo
que ambas reúnem confluem no que diz respeito à potência do espaço
urbano em disparar afetos. Trata-se da abertura da cidade e das pessoas
à capacidade de afetarem e serem afetados, que se revela apenas em
relação. Mesmo se tratando de estudos em contextos diferentes, é
possível indicar para a continuidade afetiva que une a pessoa ao
ambiente urbano, conteúdos de permanência que caracterizam esse
vínculo.
As imagens da cidade de Florianópolis formuladas pelos ciclistas
estão longe de constituir uma unidade. Individualmente os entrevistados
escancararam na mesma narrativa as ambivalências e contradições de
viver em um paraíso imóvel. As imagens da cidade, quando criadas
pelos ciclistas, denunciam sortes e azares de utilizar a bicicleta como
meio de transporte, pois ao mesmo tempo em que ela proporciona a
circulação em uma velocidade menor em comparação com o trânsito
caótico e possibilita vivenciar a paisagem, esse olhar detido também
demonstra suas imperfeições, o que exige do ciclista certo
posicionamento ou postura no espaço.
A subcategoria 1.3 aborda justamente a posição do ciclista no
espaço e no trânsito. Trata-se de como o ciclista percebe o espaço (no
sentido real e figurado) que lhe é destinado para pedalar na cidade e de
como se percebe nesse espaço e no trânsito. Trata-se de um diálogo
constante do ciclista consigo mesmo, com os diversos participantes do
trânsito e com as políticas públicas que produzem condições (ou não)
para utilizar a bicicleta como meio de transporte.

111
De início, foi identificada sua posição no trânsito, em
circulação. Assim, dentro da categoria de ―ciclistas‖, existe uma
hierarquização de prioridades, o que coloca ciclistas diversos em
posições diversas. Refere-se à diferenciação entre os ciclistas que saem
para andar na ciclovia de domingo e aqueles que andam todo dia pela
rua. Com isso, a impressão de uma das participantes é que:
Para essas pessoas que querem utilizar a bicicleta
como lazer ou como esporte tem-se um espaço,
mas a partir do momento em que se pretende
substituir [...] principalmente o carro, as
dificuldades aparecem. Porque você tem o seu
espaço para andar ali no lazer e no esporte, [...]
mas pra se locomover você não tem esse espaço.
O espaço é dos carros (P7).
Assim, os ciclistas que andam de coletinhos, todos aqueles
equipamentos, que pedalam em grupos maiores, em suma, aqueles que
se utilizam da bicicleta como uma atividade esportiva e de lazer
parecem ter um espaço garantido para sua prática. Essa diferenciação
dentro do próprio grupo, que pode caracterizar a criação de estereótipos
de um ciclista para outro, encontra fundamento a partir do momento em
que se percebe uma diferença fundamental, a legitimação e a garantia de
um espaço para um uso específico da bicicleta, o lazer e o esporte.
A partir do trecho de fala do participante é possível identificar a
criação de algumas imagens dentro do próprio grupo de ciclistas que os
separam em função do uso da bicicleta. Dentro da categorização de
Gatersleben e Haddad (2010), são aqueles ciclistas que utilizam a
bicicleta como estilo de vida. Assim, seja como estereótipo (Gatersleben
& Haddad, 2010) ou estigmas (Aldred, 2013) a respeito dos ciclistas,
fato é que a adjetivação ou a atribuição de um lugar a tal ou qual grupo
se fundamenta em uma prática social e pode ser o subsídio para a
construção de uma identidade específica no trânsito (Murtagh et al.,
2012).
Entretanto, identidades que se embasam em estereótipos só
podem dizer respeito à lógica identitária, pois são pressupostas na
relação entre os ciclistas e produzidas a partir de opiniões e
preconceitos. Desdobra-se disso uma identidade atribuída e não
construída, que implica uma imagem estanque do que é ―ser ciclista na
cidade‖.

112
Adentrando nas relações entre o ciclista e o trânsito, há ainda a
classificação dos ciclistas folgados, ou seja, aqueles que não têm
consciência de seus direitos e deveres no trânsito e circulam de maneira
errática, pela contramão, pela calçada e que não se portam de modo a
respeitar os benefícios já alcançados por outros ciclistas, que brigam
pela garantia de melhores condições de circulação. Nesse aspecto, o
mesmo se aplica a respeito da estigmatização dentro da ―categoria‖ dos
ciclistas, que condiz com os ciclistas incompetentes de Aldred (2013).
No entanto, ressalta a autora, as identidades relacionadas ao
transporte encontram respaldo nas negociações que ocorrem nas ruas
(Aldred, 2013). Se se considerarem as identidades como construção
humano-ambiental, o olhar cuidadoso demonstra que a cidade tem sido
um pouco hostil com o ciclista. Ao colocar na mesma operação a
estrutura viária de Florianópolis, o fluxo de veículos que se intensifica
cada vez mais e o clima de disputa que se instala no trânsito, resulta um
convite ao ciclista a se relacionar de uma maneira específica com esse
espaço, postura que por vezes destoa do ―ciclista ideal‖. Como relata
uma participante:
Às vezes eu estou de bike na chuva, o cara tá
dentro do carro dele, fechado e tal... Claro, cada
um tem seus motivos para andar de carro, mas
querendo ou não, poluindo, enfim, dentro de toda
essa lógica da indústria automobilística e tudo
mais... Eu tenho que praticamente pedir pra ele
me dar um espaço que é meu por direito, sabe,
legal! [...] Isso quando ele simplesmente não te
fecha, te jogam pra calçada, e tu pensa que a
cidade tem sido um pouco hostil para que você
faça uma boa escolha, sabe? É um pouco isso que
eu sinto (P7).
O trecho relatado condensa algumas situações cotidianas
vivenciadas pelos ciclistas que disparam os afetos despotencializadores,
que entravam a potência de ação-transformação da realidade. Assim, se
na esfera afetiva os participantes sentem raiva, a posição à qual é
convidado a adotar geralmente o coloca em risco, pois exige costurar o
trânsito: subir a calçada, desviar das pessoas e dos carros, circular entre
os carros. Por mais que o ciclista se considere parte do trânsito, que as
vias devam ser compartilhadas por diversos modais e que os motoristas
não queiram matar ninguém, prevalece o cenário em que todo mundo
tem pressa, cada um quer ser o primeiro, quer tirar uma vantagem e

113
ninguém entende ninguém, e que é necessário um pouco de fé de que
nada acontecerá.
Portanto, diante dessas condições o ciclista é convocado a se
posicionar no espaço, a ocupá-lo. Por exemplo, impor-se no trânsito foi
uma das estratégias utilizadas pelos participantes para se fazerem
visíveis e, de certa forma, reivindicar sua posição. Não ficar colado no
meio fio e ocupar a faixa refletem a postura adotada para lidar com as
disputas do trânsito. Assim, os ciclistas relataram que em locais com
ruas estreitas é necessário pedalar no centro da pista, acompanhando o
fluxo dos carros e, de certa forma, impedir que a ultrapassagem dos
outros veículos os coloque em risco.
A relação do ciclista com o trânsito deflagra, portanto, uma
conjuntura de ausências frente à qual ele é convocado a tomar posição.
Assumidas como elemento de análise, elas configuram aquilo que os
participantes relacionaram à falta: falta de espaço, falta de visibilidade,
falta de voz quando se trata de políticas públicas para a mobilidade.
Nesse sentido, também são elaboradas algumas estratégias de
enfrentamento da situação para manter a possibilidade de continuar
pedalando nos deslocamentos diários.
Assim, o ciclista se considera uma pessoa com voz reduzida ao
circular pela cidade, que não é valorizado e não é reconhecido como
meio de transporte legítimo. Desse modo, o retrato feito do trânsito
exibe um espaço definido para cada modal: a calçada é do pedestre, a
rua é dos carros e o ―corredor‖ é das motos. Esse contexto exige do
ciclista um posicionamento lateral no espaço, restando o cantinho da
rua para trafegarem.
Portanto, o modo como é concebida a mobilidade urbana postula
uma hierarquia entre os modais que, diferente do que é proposto em
termos legais, prevalece um modo hegemônico de circulação. Se a
legislação define a prioridade dos meios não motorizados em detrimento
dos motorizados e os públicos sobre os privados, a experiência do
ciclista na cidade de Florianópolis demonstrou algo que se distancia
dessa situação ideal. Portanto, do ponto de vista histórico a circulação
motorizada é entendida como modo ―adequado‖ de se locomover nas
cidades, uma vez que estas produziram aparatos robustos para o fluxo de
automóveis. Nesse contexto, o ciclismo é entendido como algo que está
à margem, como define um dos participantes:
Massifica a ideia, sabe, torna um senso comum.
Aí todo mundo tem que se agarrar a essa ideia ou
tu já é marginal! Tu tá fora! E o ciclismo é muito
isso. O ciclismo é sempre estar figurativamente e

114
literalmente à beira da estrada, na margem...
ciclista, via de regra, está na margem (P15).
Distante da posição de vítima do trânsito e frente à falta de
condições ideais de circulação, os participantes descreveram algumas
estratégias de resistência a essas ausências, tomando justamente a
potência de sua ―errância‖ como motor para transformar essa realidade.
Justamente por sua condição marginal, sempre à beira (da pista, das
políticas, dos meios de transporte), e muitas vezes por não ter um lugar
específico para transitar, os ciclistas se utilizam desse lugar a eles
atribuído para circularem da maneira que quiserem. Pedalar acaba sendo
um deslize, uma costura nas vias da cidade, desafiando as práticas
instituídas nesse cenário. Como expõe o participante:
Pra calçada eu só vou realmente quando tem o
ônibus. [...] Geralmente quando tem mais carro é
quando está mais parado, daí eu vou me
embrenhando, às vezes eu tenho que parar de
pedalar, tenho que [...] levar na mão, assim, mas
eu não saio da pista. Pra mostrar tipo assim: tem
uma bicicleta aqui, você não está dando espaço
pra mim, mas eu vou passar de qualquer jeito!
(P13).
Muitas vezes, por sua condição marginal no trânsito e pela pouca
regulamentação (ou fiscalização) da bicicleta como meio de transporte,
o ciclista transita por todos os espaços. Calçada, meio fio, contramão,
corredores, ciclovias: não há lugar que vá direcionar, pois muitas vezes
o sentido da via não ―faz sentido‖ para o ciclista. Além de ser um modo
de se fazer presente em sua invisibilidade, utilizar a bicicleta permite
traçar o próprio caminho sem que a rua seja a única opção de circulação,
na busca do trajeto sem barreiras ou que não ofereça fricção ao
movimento (Jensen, 2009).
Considerando que as condições para a circulação na cidade estão
postas, outra estratégia utilizada é tomá-las como naturais. Assim, a
configuração geográfica de Florianópolis com suas vias estreitas, a falta
de espaço para o trânsito compartilhado e muitas vezes a falta de
respeito no trânsito acabam sendo normais, cabendo ao ciclista adaptar-
se às situações relatadas. Por vezes, a naturalização e adaptação a
algumas contingências é um dos modos de continuar pedalando.
Assim, costurar as ruas, deslizar da via para as calçadas, impor-se
corporalmente no centro da pista e se fazer visto foram alguns modos

115
encontrados pelos participantes para continuarem a transitar na cidade
da maneira que escolheram, e não do jeito que a cidade quer. Ao ilustrar
esse modo de uso da cidade e de circular por ela, não se pretende
defender uma prática certa ou errada, adequada ou inadequada, perigosa
ou segura. Para além dos juízos, são ações concretas do cotidiano dos
entrevistados, que refletem modos de circular e de estar na cidade.
Outra posição que os participantes relataram foi na condição de
outro integrante do trânsito. Isso porque os participantes não são
ciclistas em todos os deslocamentos, e por vezes recorrem ao
deslocamento a pé, de carro ou de ônibus. Nesse sentido, quando estão
inseridos no trânsito pela perspectiva do motorista, o ciclismo sempre se
mostra de maneira transversal.
Esse elemento de análise explora situações em que o ciclista se
retira desse lugar e adota a perspectiva de outro meio de transporte, ou
então se coloca hipoteticamente na condição de um motorista, na
tentativa de imaginar como seria estar ―do lado de lá‖. Isso demonstra
que os integrantes do trânsito mudam seus papéis constantemente, e o
ciclista pode também ser pedestre ou motorista em algum momento de
seu trajeto.
Por exemplo, quando estão na posição de motorista o trânsito tem
outro funcionamento, um pouco mais difícil. Por outro lado, a
experiência de pedalar está sempre presente e pode incentivar outra
postura ao conduzir. Para aqueles ciclistas que também são conduzem
carros, dirigir perto de uma bicicleta é um convite a diminuir a
velocidade, esperar e dar espaço de passagem, principalmente por saber
das dificuldades de passar pela mesma experiência. Nesse caso a
aproximação é quase empática, e o ciclista parte de sua própria
experiência nas ruas para que, ao conduzir um veículo, consiga se
colocar no lugar de outra pessoa.
De maneira análoga, na posição do passageiro do ônibus, a
percepção do deslocamento é outra, principalmente em relação ao
tempo. Para aqueles que utilizam o transporte coletivo, o tempo de
espera (pelo ônibus e durante a viagem) demonstrou-se um entrave que,
na matemática da mobilidade urbana, configura-se como perda ou
prejuízo para o dia. Logo, o uso de ônibus é algo a ser evitado ou ser
feito como último recurso. Nesse caso, a marca deixada pela bicicleta na
experiência do transporte coletivo é que, ao pedalar, o tempo é
aproveitado de outra maneira, seja para fazer exercício ou aproveitar a
paisagem durante o caminho, algo que o ônibus não proporciona.
No caso dos ciclistas que se deslocam de outras maneiras além da
bicicleta, colocam-se em jogo as múltiplas identidades relacionadas ao

116
trânsito (Murtagh et al, 2012). A ―identidade ciclística‖ ou o modo de
ser ciclista é um discurso transversal nas outras identidades do trânsito,
como ser motorista ou passageiro. Desse modo, mesmo quando os
ciclistas se colocam na condição de motoristas, a experiência de pedalar
está presente. Nesse aspecto, ressalta-se a disposição de alguns ciclistas
para flexibilizar os contornos identitários e se colocarem no lugar do
outro. Aponta-se para a possibilidade de negociações e miscigenações
entre as formações de identidade relacionadas ao trânsito que permitam
relações mais solidárias e respeitosas na circulação e no uso da cidade.
Evidenciou-se nessa subcategoria a articulação entre as políticas
que se cruzam na mobilidade urbana por bicicletas. Pela ótica das
políticas públicas e do planejamento urbano, historicamente a bicicleta
tem sido colocada ―de lado‖ para dar passagem aos veículos
automotores. Do ponto de vista das políticas relacionais, o ciclista é
alguém que está sempre ―à margem‖, posição delegada, assumida e
quase sempre combatida corporalmente. Tal combate exige uma postura
afetiva de ação-intervenção na realidade.
Esses discursos políticos que se entrecruzam nas práticas de
mobilidade urbana produzem uma categorização e hierarquização de
pessoas no trânsito. Referem-se a processos de subjetivação e
identificação que possuem em seu fundamento uma situação de
desigualdade. Ao tomar os afetos ético-políticos como horizonte de
análise (Sawaia, 2000), a postura dos ciclistas pode desvelar as situações
de segregação nas ruas e o desejo de superá-la, bem como aponta para
atos de reivindicação e a demarcação de territórios como um ato político
na cidade. Assim, se a afetividade é o termômetro da implicação das
pessoas com a cidade (Bomfim, 2010), adotar uma posição no espaço
pode ser um passo para o estabelecimento de um lugar para o ciclista.
A subcategoria 1.4 trata da história pessoal e congrega os
elementos que se referem à história de vida dos participantes e que se
relacionam com o uso da bicicleta como meio de transporte. A primeira
referência à história de vida foi sobre como os amigos e familiares
influenciam e são influenciados pelos participantes e por sua condição
de ciclistas. Para alguns, a principal referência ao iniciar o uso da
bicicleta foram os pais, que faziam uso anterior da bicicleta e suas
experiências serviram de incentivo e alerta para os possíveis perigos.
Além disso, há a possibilidade de influenciar outras pessoas a
partir da prática atual. Nesse sentido, os relatos foram a respeito de
amigos e pessoas próximas que, ao verem os participantes utilizando a
bicicleta também adotaram esse hábito no dia a dia, em uma influência
natural. Esse elemento de análise se respalda nos resultados de Sherwin
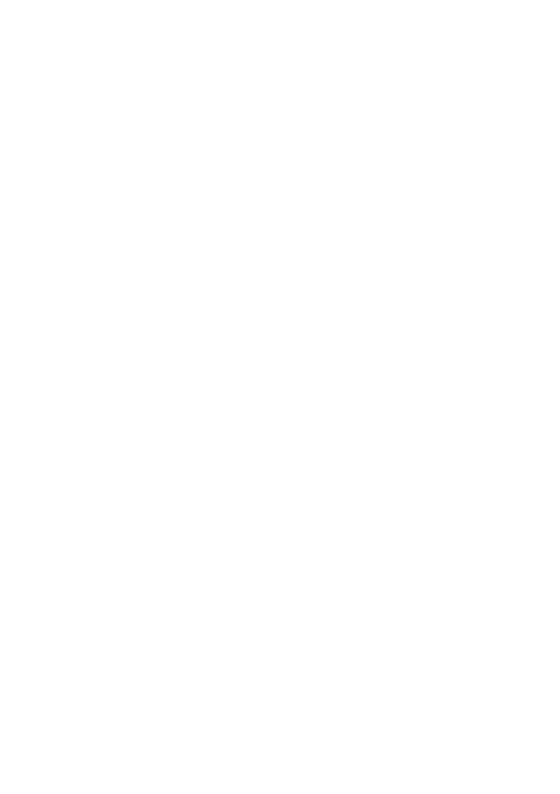
117
et al. (2014) e Eryiğit e Ter (2014), que indicam a família, os amigos e o
contexto social como importantes fatores na opção pela bicicleta como
meio de transporte.
Outra referência à história pessoal foi a respeito do lugar de
origem dos participantes. Nessas narrativas, o lugar onde cresceram e
viveram antes de se mudarem para Florianópolis produzem
desdobramentos no uso atual da bicicleta. Desse modo, aprender a
pedalar em uma cidade pequena do interior que não tenha tanto trânsito,
e de certa maneira circular com maior liberdade, pode fornecer
ferramentas importantes para encarar o trânsito de Florianópolis. Por
outro lado, sair de uma cidade grande que não forneça condições
mínimas de segurança para o uso da bicicleta pode proporcionar uma
experiência de mais tranquilidade em Florianópolis.
A referência ao lugar de origem remete, portanto, a outra esfera
de tempo e lugar que de certa maneira povoam a pedalada atual.
Passado e futuro se tangenciam no discurso que constitui o uso presente
da bicicleta. Assim, a memória de lugares da infância (caminhar na
Beira Mar sempre foi perto, uma coisa que eu fazia muito na infância) e
de experiências infantis com a bicicleta (Eu adoro andar de bicicleta
desde criança) se presentificam na prática cotidiana. De maneira
análoga, a possibilidade de deixar a cidade de Florianópolis em um
futuro breve devido ao término dos estudos universitários também
produz efeito no presente e dispara o desejo de aproveitar todo o tempo
que tiver para andar de bicicleta.
Mesmo fazendo menção a um passado recente, a memória do uso
da bicicleta produz desdobramentos potentes, ainda que esteja menos
presente no cotidiano. Como relata uma das participantes:
Tinha épocas na minha vida que eu estava
fazendo disciplinas que eu estava odiando e que
era a época que eu estava vindo mais de bicicleta,
que daí, às vezes o que me motivava a vir pra
UFSC não era nem chegar na UFSC, mas era
pelo trajeto de vir (P5).
Ao atingir a prática atual do uso da bicicleta, a dimensão
temporal aponta para os lugares e histórias de vida referentes a eles. Os
lugares experimentados, lembranças das brincadeiras infantis ou das
recomendações dos pais são atualizados no uso atual da bicicleta na
cidade de Florianópolis. Permeados por afetos e memórias, os lugares

118
ganham vida pois são banhados por significados advindos justamente
das experiências anteriores.
O amálgama entre história e lugar ganha corpo no que tem sido
denominado de identidade de lugar. Identidade, nesses termos, é o
desdobrar de uma narrativa, um modo de reatar com a história pessoal e
social. Portanto, a dimensão temporal perpassa a identidade e os lugares,
que consistem na síntese entre passado, presente e futuro. Assim, os
lugares concentram memórias, condensam as vivências atuais e
apresentam outras possibilidades de ser.
A subcategoria 1.5 trata dos encontros que acontecem na cidade e
são conduzidos pela bicicleta. Nesse sentido, pedalar pode ser uma
maneira de conhecer outras pessoas e fazer novos amigos, sejam
pessoas de um mesmo grupo ou desconhecidos. Como expõe uma das
participantes:
Muitas vezes eu pedalo sozinha, mas o pedal é
sempre acompanhado, se está sozinho tu encontra
alguém no caminho, mesmo que desconhecido, tu
vai indo junto [...]. Essa semana mesmo eu estava
[...] indo sozinha e no meio da Beira Mar passei
pelo lado de três meninas que também estavam
andando de bicicleta e a gente foi conversando e
indo juntas até a ponte. Então acontece muito isso
de você estar se locomovendo na mesma direção
e, sei lá, se a pessoa demonstra interesse em
conversar você vai conversando. [...] De bicicleta
acontece frequentemente de eu me encontrar com
alguém que eu não conheço e fazer uma amizade
(P17).
Entender o ciclismo como uma prática social que se dá nas
cidades faz dele um produtor de encontros. As formações que os
ciclistas criam no espaço, alinhando-se ou circulando lado a lado,
servem de base para sustentar essa proposição (McIlvenny, 2014), já que
não são somente maneiras de coordenar a pedalada, mas de estar com o
outro e criar possibilidades de trocas. Nesse sentido, um argumento
recorrente foi que o pedalar é quase sempre compartilhado e apesar de
parecer uma atividade individual, o ciclista está disposto a ter um
contato os outros e com a natureza. É, portanto, um meio de encontrar
e estar com outras pessoas, de produzir proximidades ao sair para
pedalar com pessoas da mesma tribo, visitar amigos, ir à praia, tomar
um café com uma pessoa querida.

119
Apesar de esses encontros parecerem finalidades do uso da
bicicleta, o que predomina no discurso é a tonalidade afetiva dessa
prática, ou seja, a potência do pedalar como um fator de ligação entre as
pessoas. Desse modo, estar exposto ao ambiente, ao contato visual e
corporal com o outro pode ser algo que deixe o ciclista aberto aos acasos
do caminho, à possibilidade de reduzir a velocidade, parar, encontrar ou
simplesmente perceber que a pessoa ao lado passa por dificuldades
semelhantes às suas.
Como sugeriu um participante, pedalar envolve disposição para
estar em contato. Mesmo parecendo algo casual, os encontros com o
outro e com o ambiente são possíveis sob certas condições. Do ponto de
vista individual, faz-se referência à dimensão ética da afetividade, o que
permite tratar da cidade como terreno privilegiado de alterização
(Sawaia, 1995; Ponte et al., 2009). Da perspectiva macroscópica, os
encontros são agenciados pelas formas e desenhos urbanos que
configuram a cidade como um sistema aberto (Sennet, 2006) ou
organizada para pessoas (Gehl, 2010), arranjos que pressupõem a vida
nas cidades.
Sobre a bicicleta, o contato e os encontros se dão em movimento,
particularidade que os caracterizam como efêmeros e incertos. No
entanto, eles possuem densidade o bastante para se organizarem como
subcategoria dos conteúdos analisados, uma vez que são acontecimentos
significativos que produzem memória e afetam. Desse modo, entende-se
que a bicicleta é um instrumento que deflagra a potência do lugar (no
caso, a cidade) em produzir encontros e afetar.
Além disso, os participantes entendem que com o uso da bicicleta
é possível influenciar outras pessoas a aderirem a esse meio de
transporte. Assim, a conversa com as pessoas próximas e dar o exemplo
podem ser estratégias de transmissão da cultura da bicicleta, ressaltando
os pontos positivos de seu uso em detrimento os negativos, que podem
ser contornáveis.
Nesse sentido, a influência e o convencimento podem ser
entendidos como sinônimo de sensibilização, que se enquadra no campo
afetivo. Ao adotar a bicicleta como uma decisão puramente intelectual, a
mudança de hábito seria algo de fácil modulação e as pessoas
abandonariam os confortos proporcionados pelo automóvel sem
dificuldades. No entanto, a adesão se torna mais palpável na medida em
que experimentam a pedalada, permitem-se viver a cidade sobre esse
veículo. Trata-se de um território demarcado pela racionalidade ético-
afetiva (Sawaia, 1995), disparadora da potência de criação de formas de
socialização na cidade.
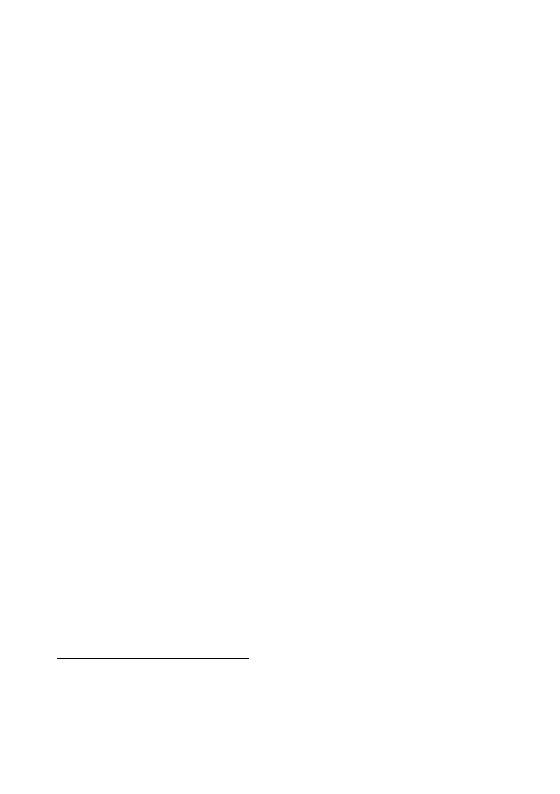
120
Os encontros promovidos pelo uso da bicicleta também dizem
respeito ao envolvimento e participação em grupos. Uma participante
exemplificou essa dimensão ao dizer que se identifica com pessoas que
andam de bicicleta e que faria amizade facilmente com elas. Assim, seja
em nível individual ou grupal, a bicicleta foi referenciada como um
veículo de aglutinação de pessoas: encontrar pessoas conhecidas e
desconhecidas, participar de grupos de passeio e esportivos ou então
reivindicatórios (a exemplo das pedaladas da Massa Crítica14, também
citadas nesse elemento de análise) são possibilidades concretas e
cotidianas para os participantes.
Esse elemento de análise, ainda que menos presente que os
demais, sinaliza a necessidade de lembrar que a participação e a
reivindicação são indicadores da estima e cidadania na cidade (Bomfim,
2010). Nesse sentido, os dispositivos associativos e participativos
norteiam a estima pela cidade e tomam a afetividade como caminho para
a emancipação.
O objetivo deste trabalho não contemplou a relação entre
participação ou não em movimentos sociais e associações e a construção
da identidade de lugar. No entanto, entende-se que o reconhecimento de
si mesmo pela dimensão grupal é uma das características da identidade,
que tem a cidade como lugar de encontro e de reconhecimento dos pares
(Sawaia, 1995). Além disso, identificou-se que o pedalar, por si próprio,
pode ser dotado de potência micropolítica, como mote da transformação
da realidade.
A subcategoria 1.6, a última definidora dos aspectos afetivos da
relação do ciclista com a cidade, é um modo de sintetizar essa aliança
pela tentativa de responder o que é ser ciclista. A resposta a essa
pergunta transitou da esfera funcional do uso da bicicleta (como uma
maneira de se locomover) até os estereótipos do ciclista (aquele que usa
roupas coladas). O primeiro aspecto destacado da fala dos participantes
é que ser ciclista diz sobre a possibilidade de compor com a cidade.
Trata-se de conhecer a cidade a partir de outro ponto de vista,
viabilizando experiências que outros meios de transporte não
proporcionariam. De bicicleta é possível olhar as coisas com mais
calma, andar mais devagar.
14 Movimento iniciado na década de 1990 em São Francisco - Califórnia,
consolidou-se em diversas cidades do mundo como um modo de contestar a
circulação motorizada. Organização horizontal e sem hierarquias, os ciclistas se
reúnem na última sexta-feira de cada mês para celebrar a bicicleta como meio
de transporte.

121
O que é ser ciclista? [...] Acho que é ser o tempo
todo viajante, o tempo todo tu tá viajando, tá
descobrindo o local que tu tá passando, se
envolvendo (P17).
Portanto, compor com a cidade é um modo de estabelecer
relações de proximidade com os lugares por onde passa, permitir-se
diminuir a velocidade e experimentar aquilo que está à volta. É unidade
pulsante entre o ciclista e o lugar ligada pelos afetos, o que indica ambos
formam uma totalidade e não apenas um campo de interações (Bomfim,
2010). Em suma, o ciclista se relaciona com a paisagem urbana como
um componente subjetivo, algo que dá contornos à identidade de lugar,
e não como pano de fundo dos acontecimentos diários.
Outra característica do ser ciclista se relaciona a um modo de
vida existente por trás dessa atividade. Seja pela proposta de vida
saudável ou de participação em movimentos de reivindicação, é um
estilo de vida configurado por uma opção. Assim, ser ciclista é fazer
uma escolha, que é andar de bicicleta. Para uma das participantes:
Ser ciclista acho que não é só estar ali,
pedalando[...]. Não é só o hábito de pedalar, mas
é todo um [...] estilo de vida e uma escolha [...]
tanto de melhoria, de desenvolvimento externo,
interno e um caminho! [...] é uma tendência e
uma evolução também, sabe? De a gente estar
abrindo mão de coisas, de estar se dispondo, a
gente estar aproveitando. Ser ciclista talvez, ao
meu ver, é estar aproveitando do potencial que a
gente tem e que a gente está perdendo demais,
assim. Então a gente tá resgatando esse potencial
e está revertendo em pequenas coisas e está
transformando de pouquinho em pouquinho! (P9).
Se para Gatersleben e Haddad (2010) o estilo de vida referente ao
uso da bicicleta inclui gastar tempo e dinheiro com a bicicleta, o que
pode sugerir um uso da bicicleta próximo ao da recreação, este elemento
de análise excede tal compreensão. Pela fala da participante, entende-se
que a escolha pela bicicleta é sempre implicada e se desdobra em ações
concretas no dia a dia, transformando a realidade aos poucos. Além
disso, trata do resgate de uma potencialidade de movimentação própria
do corpo que, aos poucos, os modos motorizados mascararam.

122
Para outro participante, ser ciclista é ter vontade de fazer as
coisas e não ter desculpa para não fazê-las, o que implica em condições
de autonomia e liberdade para fazer o que quiser e ter compromisso com
os desdobramentos de suas escolhas. No entanto, a liberdade que devém
do uso da bicicleta é vivenciada com restrições, seja pela falta de
estrutura adequada e segura para circular ou pela cultura da bicicleta
ainda em desenvolvimento.
Assim, um modo de vida estabelecido entre a liberdade e a
restrição configura aquilo que foi analisado como a dimensão do desafio
e resistência de ser ciclista. Nesses termos, o ciclista é aquele que
desafia as dificuldades e resiste às adversidades para se deslocar da
maneira que acha melhor. Resistir também pode se desdobrar na
consciência sobre os meios de transporte como um todo, fortalecendo a
imbricação político-afetiva dessa escolha.
A Categoria 1 agregou os componentes afetivos que atravessam a
relação dos ciclistas com a cidade de Florianópolis e que configuram
uma das faces da identidade de lugar. Em primeiro lugar, viu-se que
pedalar não dispara somente uma qualidade de sentimentos e antes de
tudo aciona um espectro afetivo que implica na abertura do ciclista para
a experiência urbana. Em segundo lugar, a afetividade medeia a
construção da paisagem geral de Florianópolis, um modo de representar
a cidade por imagens e metáforas que constituem uma imagem afetiva.
Em terceiro lugar, a posição que o ciclista adota no espaço sugere a
incorporação e reprodução de um discurso sobre o ciclismo urbano:
estereótipos, marginalização e identidades preestabelecidas marcam
diariamente os deslocamentos e consistem em motes de resistência e
transformação. O quarto aspecto descritor a afetividade diz sobre as
histórias pessoais dos ciclistas, pessoas significativas e lugares
importantes que se condensam no momento presente, o que apresenta a
possibilidade de demarcar lugares na cidade povoados por experiências
passadas. O quinto ponto se referiu aos encontros promovidos pela
bicicleta que, em sua lentidão, conduz o ciclista em direção ao outro e
ao ambiente. Por último, a definição do que é ser ciclista conduziu à
síntese entre afetividade-cidade-ciclismo, um modo de produzir outros
significados à mobilidade urbana por bicicletas, muitas vezes marcada
por estigmas que a colocam à margem das políticas, do trânsito e das
relações entre pessoas.
Compreender a relação do ciclista-cidade pela afetividade
(Sawaia, 2000, Bomfim, 2010) exige uma disposição corporal, a
abertura do corpo ao regime da sensibilidade que leva o ciclista ao
encontro com o outro e com o ambiente, ressaltando sua dimensão ética.

123
A mesma disposição corporal envolve possibilidade de transformação
dos discursos que atravessam o ciclismo no trânsito. Relações poder,
segregação e a atribuição de identidades cristalizadas anunciam a
mobilidade urbana como terreno de desigualdades e disputas,
espelhamento do momento sócio-histórico atual. No entanto, a bicicleta
apresenta uma possibilidade de resistência nesse cenário e de construção
de modos colaborativos de circular nas cidades, apontando para a
dimensão política da afetividade. Nesses termos, ética e política não
devem ser compreendidas como simples adjetivações ou então como
conceitos isolados, senão como categorias mutuamente implicadas na
ação-transformação da realidade e dos modos de ser.
Assim, entende-se que a afetividade conduz a um modo de se
apropriar do espaço urbano, entendendo a apropriação como a impressão
de marcas e alterações no espaço que possibilitam o sentimento de
pertença, a projeção da pessoa no espaço (Cavalcante & Elias, 2011).
Desse modo, quem acessa a UFSC pela Rua Lauro Linhares (Figuras 13
e 14) logo se dá conta de que aquela via não é um terreno neutro, senão
um campo onde se cruzam memórias, organização grupal e
reivindicações.
Os rastros dos ciclistas, inscritos nas bordas da via, são sinais da
luta por espaço conduzida diariamente por aqueles que demandam um
lugar na cidade. Espaço dotado de significados: lugar em gestação,
terreno movediço para a construção de identidades. Apropriar-se do
espaço não significa privatizá-lo ou tomar a posse para si, mas antes
uma condição para o pertencimento, possibilidade de se sentir gente
entre pares (Sawaia, 1995). Assim, afetividade e apropriação se referem
à dimensão coletiva da identidade e do lugar. A busca de um lugar na
cidade passa (não só, mas também) por essas inscrições, que por vias
não oficiais sinalizam a existência do ciclista, tornam-no visível e
agregam mais uma camada de tinta e história no palimpsesto urbano.
Enlace entre história, significados e espaço, a construção dos
lugares e identidades dos ciclistas de Florianópolis pode ser projetada na
Figura 15. Ali quem pede passagem é Lylyan, ciclista que em 2013 foi
atropelada na saída da universidade. Em primeiro plano a grafia de seu
nome, discurso literal que inscreve a jovem no lugar que poderia ser o
do ciclista na via. Em segundo plano, uma ―bicicleta fantasma‖ como
representação de mais uma vítima fatal no trânsito de Florianópolis.
Presente nos nos dircursos e na memória, Lylyan ainda circula por
Florianópolis e no imaginário de seus ciclistas, símbolo da luta diária,
quase anônima, mas nunca silenciada daqueles que optam pela bicicleta
como meio de locomoção. Memória viva que demarca lugares, registra

124
lembranças, define posições no espaço e afeta. Características que se
costuram para compor a imagem da cidade e dos ciclistas, constituição
mútua dos elementos da identidade de lugar.
Figura 14. Estêncil na entrada da UFSC
Fonte: Arquivos de pesquisa.
Figura 15. Rótula da UFSC pela Rua Lauro Linhares
Fonte: Arquivos de pesquisa.

125
6.2 Categoria 2 – Aspectos cognitivos da relação ciclista-cidade
A segunda categoria de análise referente às características da
identidade de lugar em ciclistas se refere aos aspectos cognitivos que
envolvem a relação dessas pessoas com a cidade. É composta por
avaliações, escolhas e modos de conhecer o urbano que se relacionam ao
tempo presente ou futuro. Além de expressar os motivos para o uso da
bicicleta, sua finalidade e os benefícios envolvidos nessa atividade, diz
sobre os modos como o ciclista se movimenta e se localiza no ambiente
nos deslocamentos diários. Essa categoria foi composta por seis
subcategorias: os benefícios e motivos do uso da bicicleta, os fatores
que dificultam o uso da bicicleta; as finalidades do uso da bicicleta,
as avaliações sobre as estruturas ciclísticas, o ciclismo ideal e por
último as cognições ambientais.
A subcategoria 2.1 trata dos motivos para o uso da bicicleta e
dos benefícios decorrentes dele. Inicialmente esses dois aspectos se
configuraram como subcategorias separadas, sendo os motivos aqueles
fatores que impulsionam o uso da bicicleta (respondendo
especificamente à pergunta número dois do roteiro de entrevista,
Apêndice C) e benefícios os desdobramentos ou ganhos possíveis que se
tenha ao utilizar esse meio de transporte. No entanto, o processo de
categorização demonstrou que os elementos de análise de cada uma
dessas subcategorias convergiram em diversos pontos. Desse modo,
optou-se por agrupá-las em um único grupo e discuti-las em conjunto
por entender que os dois fatores se interconectam e se explicam
mutuamente.
Vale ressaltar que essa subcategoria não pode ser compreendida
isoladamente, pois a escolha da bicicleta implica, em alguns momentos,
em não escolher outros meios de transporte. Assim, os elementos de
análise que constituem essa subcategoria não são motivos/benefícios da
bicicleta em si, mas em relação a outro meio de transporte.
Em primeiro lugar, a autonomia é um dos benefícios/motivos
relacionados ao uso da bicicleta. Os participantes relataram que o fato de
depender somente de si mesmo para se deslocar, estar livre para ir e
voltar na hora que quiser sem se prender a horários de ônibus e caronas
garante além de autonomia em relação à mobilidade urbana certa
independência de fatores como gastos, pessoas e outros modais.
Outro aspecto que se configura como benefício/motivo é o bem
estar que seu uso gera. Entende-se por bem estar aqueles fatores
relacionados à prática de exercício físico, aos ganhos da saúde e aos
momentos de descontração referentes à pedalada. Fazer o corpo

126
trabalhar, fazer uma atividade física e soltar substâncias no organismo
e ao mesmo tempo se descontrair produzem o que os participantes
chamaram de sensação boa. Passafaro et al. (2014) apontam que essas
sensações boas, que podem incluir o relaxamento, a satisfação e a
felicidade, predizem o desejo de utilizar a bicicleta. Aliado ao
comportamento passado de pedalar, esse desejo pode indicar o uso
futuro da bicicleta e a consolidação de um hábito.
O bem estar também se relaciona com o contato com o lugar.
Os participantes citaram como um desdobramento significativo da
pedalada diária o fato de conhecerem novos lugares, de experienciarem
o caminho por onde passam e de aproveitá-lo por inteiro. Em alguns
casos, o trajeto feito é escolhido em função da paisagem mais bonita ou
do desafio que o relevo impõe para alcançar o objetivo final. Desse
modo, o sentimento de unidade com o ambiente e o bem estar podem
estar relacionados com o que Hansen e Nielsen (2014) pontuaram como
benefícios psicológicos da pedalada, a dizer, percepção de experiências
positivas, diminuição do estresse e melhora no humor.
Um aspecto pessoal que motiva/estimula o uso da bicicleta é o
fato de os ciclistas entrevistados gostarem de pedalar. Se na
subcategoria 1.6 viu-se que os participantes utilizam a bicicleta por
opção, configurando um estilo de vida, neste momento gostar de pedalar
é um estímulo a continuar a atividade, mesmo com as dificuldades a ela
inerentes. Uma das participantes relatou que seu estímulo para utilizar a
bicicleta é:
[...] a pedalada em si. É poder andar de bicicleta,
é uma das coisas que me estimula, porque mais
que o deslocamento, é porque eu sinto prazer em
andar de bicicleta (P5).
Ao considerar esse elemento de análise isoladamente, encontra-
se consonância com Araújo et al. (2009a), que se listam o gostar de
pedalar e a prática de exercício como fatores envolvidos na escolha da
bicicleta, e com Daley e Rissel (2011), que indicam a diversão como um
facilitador. Em conjunto com os quatro elementos de análise anteriores,
reforça-se a discussão de que os hábitos e atitudes referentes ao uso da
bicicleta são mantidos, ao lado dos fatores sociais, por motivações
individuais. Conforme a discussão iniciada na categoria anterior, o bem
estar, o contato com o lugar e gostar de pedalar também marcam as
características do campo afetivo.

127
Mesmo sendo motivos/benefícios que se desdobrem na
disposição emocional da escolha pela bicicleta, optou-se por enquadrá-
los como fatores cognitivos por entender que se trata da opção que passa
por um processo prévio de avaliação e ponderação por parte do ciclista
que o mantém engajado na atividade. Além disso, fatores pessoais como
motivação, saúde, diversão e liberdade são apontados como facilitadores
no uso da bicicleta como meio de transporte (Daley et al., 2007). Assim,
a escolha pelo caminho, pela bicicleta e pelas sensações que a pedalada
provoca se inscrevem, neste momento, na esfera intelectual.
Os custos relacionados ao uso da bicicleta também atraem os
ciclistas e os motivam a escolher esse modal. Em termos aquisitivos,
relataram que comprar uma bicicleta é muito mais barato que outros
meios de transporte individuais (como o carro e a moto), assim como
sua manutenção é mais barata. Não pagar combustível também foi um
argumento utilizado a favor da bicicleta, uma vez que só se gasta a
energia do alimento que comem. O terceiro argumento utilizado foi o
gasto tido com a bicicleta em relação ao transporte público. Um dos
participantes relatou que comparou o gasto que teria com a bicicleta e
com o ônibus para realizar seus deslocamentos diários em um período
de quatro meses. Como já tinha em mãos uma bicicleta, constatou que a
manutenção e a compra de alguns equipamentos seriam mais baratos do
que utilizar o ônibus em igual período. Esses dados vão ao encontro
daqueles de Bonham e Koth (2010), que identificaram a acessibilidade
econômica da bicicleta como maior motivador para o uso de bicicleta
entre universitários.
Um dos argumentos mais recorrentes que motivam o uso da
bicicleta é sua praticidade. Trata-se de um modal que agiliza o dia a
dia pois possibilita que o ciclista esteja em circulação em boa parte do
trajeto, mesmo quando o trânsito está congestionado. Estar sempre em
movimento ainda que vá mais devagar é um modo de otimizar o
aproveitamento do dia, pois implica em economia de tempo e rapidez ao
percorrer um trajeto. Os participantes relataram que ganham em tempo e
rapidez quando optam pela bicicleta. Além disso, é um veículo potente
para circular em curtas distâncias, seja para sair de casa e ir à
universidade, seja para transitar dentro do próprio campus, sendo um
veículo prático e versátil, que garante uma circulação fluida na cidade.
Para uma participante, de bicicleta é possível:
Ir pela calçada, na contramão e até dá pra ir
pela rua, mas é meio ruim [...] fazer outros
caminhos, dá pra passar por meio de prédios, de

128
centros, o que você não faria com o carro. Até
pela UFSC, né. Vir daqui, ir pra BU, sabe? (P5).
Relacionado à praticidade, o fator tempo é significativo quando
se trata dos motivos e benefícios do uso da bicicleta. Ao comparar o uso
da bicicleta com outros modais (como o transporte coletivo, por
exemplo), os participantes relataram que o tempo gasto esperando um
ônibus somado à duração do trajeto muitas vezes é superior ao que
gastariam se estivessem de bicicleta. Portanto, escolher a bicicleta por
sua praticidade perpassa pela avaliação de outros modais.
Pedalar acaba sendo mais rápido do que de carro, de ônibus ou a
pé, seja pelo tempo de deslocamento ou pelo tempo de espera. Um
participante relatou:
Acho que o maior motivo é a rapidez no
deslocamento, porque às vezes tem que passar por
três lugares durante o dia que são dois
quilômetros, um, longe do outro. Eu poderia fazer
isso a pé, mas com a bicicleta acaba fazendo esse
trajeto mais rápido e às vezes tem muita coisa
para fazer durante o dia e isso acaba ajudando
pra economizar tempo. Então, o deslocamento
utilitário eu falo que a causa mais importante é a
rapidez (P1).
Os excertos dos participantes P1e P5 reforçam a rapidez e a
eficiência da bicicleta como um fator envolvido na escolha modal
(Forward, 2014). Além disso, indicam que a praticidade inserida pela
bicicleta nos deslocamentos diários pode ser um modo de ―reverter o
sentido‖ das vias. Até dá para ir pela rua, mas o deslize pelas calçadas,
passarelas, contramão e corredores entre os automóveis possibilita
acessibilidade sem fricção e fluidez no deslocamento (Jensen, 2009).
Pedalando é possível ir a vários lugares dentro da mesma viagem
com velocidade superior à da caminhada. Para os participantes que
passam o dia no campus universitário, ou então para aqueles que
possuem muitos afazeres no dia e pouco tempo para realizá-los, a
praticidade da bicicleta e o tempo economizado são grandes atrativos
para o uso da bicicleta. Esses dados corroboram os resultados de Araújo
et al. (2009b) e Hansen & Nielsen (2014), que citam rapidez e
eficiência como benefício da pedalada. Além disso, Heinen et al. (2011)
enfatizam que, ao lado do tempo, o conforto e a flexibilidade
proporcionados pela bicicleta estão envolvidos na decisão pela bicicleta.

129
Essa avaliação do tempo na comparação com outros meios de
transporte se relaciona diretamente ao motivo / benefício do trânsito e
dos transportes. Assim, com o uso da bicicleta os participantes
relataram que podem fugir do trânsito, que ao redor da UFSC costuma
ser caótico perto das seis horas da tarde. Além disso, a falta de
alternativas viáveis, pela ineficiência e custo do transporte coletivo
reforça a opção pela bicicleta.
A aliança entre trânsito, sistema de transportes, tempo e
praticidade pode orientar a análise de uma situação que extrapola a
condição dos deslocamentos em Florianópolis, principalmente por se
referir a um desdobramento histórico da construção das cidades e da
mobilidade urbana, orientadas para o automóvel (Schiller et al., 2010).
No cenário urbano imaginado e projetado como terreno da velocidade,
os carros deveriam não só desempenhar um papel veloz, mas concretizar
um ideal de desenvolvimento, eficiência e rapidez.
As estruturas de mobilidade responsáveis por produzir
movimento e ligar os espaços (Jensen, 2009) são portadoras dessa
herança, que permanecem vivas nas ruas. É por isso que cultura e
mobilidade se tangenciam em diversos pontos, principalmente por
refletirem um modo de funcionamento social. As pessoas desejam se
mover de maneira rápida e sem fricção não apenas para transporem um
obstáculo no deslocamento, mas também por encontrarem nas ruas das
cidades um terreno propício (e projetado) para isso.
No entanto, atualmente esse cenário idealizado se concretiza
como imobilidade (Rolnik & Klintowitz, 2011), seja pelo estímulo
excessivo dos automotores ou pela deterioração dos sistemas de
transportes coletivos. O que essa situação parece apontar é a falência do
modelo de circulação individual com automóveis e o modelo de cidade
para carros. Desse modo, a praticidade, velocidade e o tempo referidos
pelos ciclistas podem ser uma reverberação cara aos modos
motorizados. Inscritos no mesmo espaço e na mesma cultura, quando os
ciclistas demandam um lugar para circularem, também requisitam a
velocidade e a liberdade de trânsito. Aproveitando-se da condição de
marginais, pervertem o sentido das vias e fazem delas lugar de outros
modos de circular e estar na cidade.
O último motivo / benefício do uso da bicicleta identificado
foram as convicções e escolhas. Assim, se na esfera afetiva a escolha do
uso da bicicleta se refere a um estilo de vida vinculado ao ciclismo, no
âmbito cognitivo trata-se de uma escolha deliberada. Enfrentar as
dificuldades vivenciadas pelos ciclistas, lutar contra o sedentarismo e
contra a lógica dos carros indicam uma postura diante da situação da
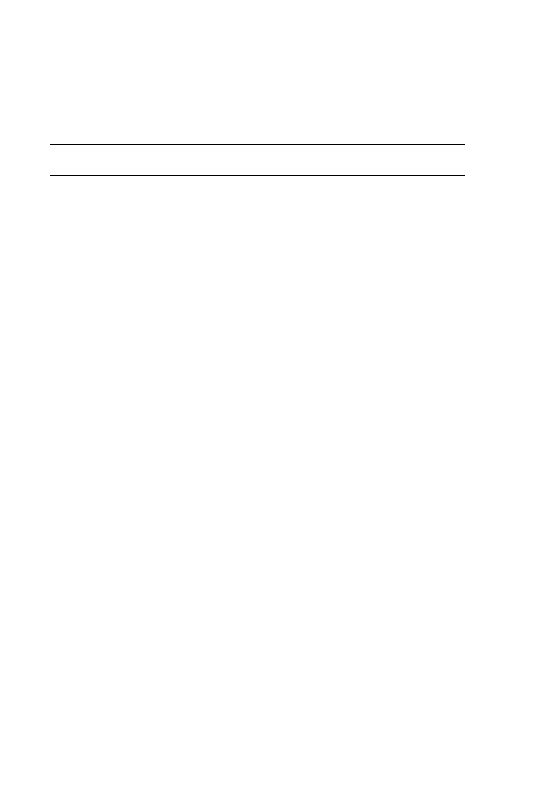
130
mobilidade na cidade e um modo de contribuir para superar um sistema
de trânsito obsoleto.
Tabela 7. Motivos para a escolha da bicicleta
Motivos para a escolha da bicicleta
Total
Rapidez no deslocamento
16
Praticidade
15
Prazer de pedalar
15
Prática de exercício
13
Econômico
11
Aproveitar a cidade
11
Saúde
9
Baixa emissão de poluentes
7
Outros
4
Não tenho outro meio
1
A Tabela 7 sintetiza os motivos para a escolha da bicicleta, de
acordo com as respostas do questionário aplicado ao final das
entrevistas. Os participantes eram solicitados a assinalar quantos
motivos quisessem ou ainda apontar outros que não estivessem
contemplados. Corroborando os dados das entrevistas, rapidez e
praticidade foram os mais citados, seguidos dos fatores referentes ao
bem estar, como o prazer de pedalar, a prática de exercício, aproveitar a
cidade e saúde. O fator econômico também foi relacionado no
questionário e nas entrevistas, principalmente quando dizem dos gastos
e custos com a bicicleta.
Quanto à emissão de poluentes, pouco foi referenciado sobre isso
nas entrevistas de forma direta. Ainda assim, não consumir gasolina e
escapar da lógica dos carros podem estar relacionados indiretamente
com este item, o que reforça os resultados de Forward (2014) e Heinen

131
et al. (2011) sobre as preocupações dos ciclistas com o meio ambiente.
Por fim, no item outros, foram citados aspectos como a autonomia,
pedalar como uma prática espiritual de libertação, a adrenalina e estar
em companhia de outros ciclistas, reforçando os dados tratados nas
subcategorias anteriores.
A subcategoria 2.2 trata dos fatores que dificultam o uso da
bicicleta, algumas barreiras referentes a aspectos ambientais, culturais,
pessoais e políticos e interferem na pedalada diária. Os fatores
ambientais citados envolvem clima e relevo, que em alguns momentos
tratam de características peculiares da cidade de Florianópolis.
Nesses termos, a chuva foi citada como a principal dificuldade
para sair de casa de bicicleta. Assim, se a chuva inicia antes da partida,
os participantes relataram que preferem outro modo de se locomover.
Por outro lado, se há previsão de chuva para o dia que saem de bicicleta,
costumam preparar-se e levar equipamentos específicos para proteger
contra as intempéries. Além disso, os ventos também foram citados
como uma dificuldade: quando o vento sul bate, demora um pouco mais.
Em relação às características geográficas de Florianópolis, o
relevo é uma barreira a ser transposta nos trajetos diários, ainda que não
tenha encontrado redundância no discurso dos ciclistas. Superar a subida
de um morro pedalando, ou então o desconforto que a velocidade da
descida pode causar são algumas dificuldades.
Vale ressaltar que os fatores ambientais interferem de maneiras
distintas de acordo com o propósito da pedalada. As pessoas que
utilizam a bicicleta prioritariamente como deslocamento referiram-se
aos fatores ambientais como dificuldades a serem superadas. Aqueles
que utilizam a bicicleta como meio de lazer ou prática esportiva buscam
justamente esses obstáculos (principalmente os morros) já que superá-
los é uma das finalidades da pedalada.
Em confluência com esses dados, o ambiente físico teve sua
importância sinalizada como barreira ou facilitador no uso da bicicleta
em outros estudos. Em relação às condições climáticas, Spencer et al.
(2013) e Flynn et al. (2012) reforçam que temperatura, precipitação e
vento são barreiras significativas na escolha da bicicleta. Quanto ao
relevo, Willis et al. (2013) indicam que o relevo é um atributo ambiental
que interfere na satisfação do ciclista.
Além disso, a condição das vias e das infraestruturas de trânsito
de Florianópolis consistiu não só em um fator que dificulta o uso da
bicicleta, mas também no principal alvo de queixas dos ciclistas
entrevistados. No que se refere a vias exclusivas para o tráfego de
bicicletas (ciclovias e ciclofaixas), são poucas e desconexas. Quanto às

132
ruas e rodovias da cidade, os buracos, a falta de manutenção e as ruas
estreitas inviabilizam pedalar em alguns locais, pois não oferecem
segurança nem para ciclistas, nem para pedestres. Com isso, não se
entende que todas as ruas deveriam ter ciclovias, uma vez que o trânsito
compartilhado é algo desejável. No entanto, são necessárias condições
para a circulação segura e eficiente para todos os modais, motorizados
ou não.
Os motivos pessoais também se incluem como barreiras ao uso
da bicicleta. Nesse sentido, a preguiça antes de sair de casa, o cansaço
provocado pelo deslocamento e a distância percorrida em um trajeto
mais longo dificultam a realização da atividade. De outro modo, a
própria bicicleta foi entendida como uma barreira, pois ela é um grande
trambolho que gera desconforto para guardar e limita, de certa maneira,
a liberdade individual. Além disso, sentir medo em alguns trechos do
trajeto diário também foi listado como um motivo pessoal que dificulta
o uso da bicicleta. Assim, concorda-se com Daley et al. (2007), que a
motivação é um fator importante para a decisão de pedalar. Entretanto,
mesmo que a esfera individual tenha relevância quando se trata da
escolha ou não pela bicicleta, é necessário considerar que elas são
situadas no ambiente e na cultura, que por sua vez também podem
influenciar ou desencorajar o ciclismo.
Em relação aos aspectos culturais relacionados ao uso da
bicicleta, o trânsito e a falta de respeito com o ciclista dificultam a
circulação com bicicletas. Entende-se que o trânsito é um fator cultural
principalmente pela importância que o automóvel possui no contexto
urbano, o que tem configurado o trânsito como congestionamentos.
Outro fator que limita o uso da bicicleta é a falta de respeito que
os ciclistas sofrem diariamente, seja por não terem espaço na via, seja
por não terem a preferência no trânsito. Nesse ponto existe o aspecto
legal que reforça a falta de respeito, que é a necessidade de os
motoristas guardarem a distância de um metro e cinquenta centímetros
ao realizarem manobra de ultrapassagem do ciclista. Pelos relatos, a
falta de respeito com o ciclista se desdobra em cascata, pois os
motoristas de carro não respeitam o ciclista, os pedestres não respeitam
a ciclovia, os motociclistas formam o corredor, o que convoca o ciclista
a pedalar na contramão, nas calçadas e furar o semáforo.
Por outro lado, o modo de funcionamento do trânsito também
pode ser um convite para pedalar na cidade. Assim, ele pode estimular o
uso da bicicleta, já que pedalar é uma maneira de não ficar parado em
congestionamentos, e ao mesmo tempo desestimular, tendo em vista a

133
violência do trânsito e os automóveis que passam em alta velocidade
muito próximo dos ciclistas.
Os fatores políticos foram os mais recorrentes nesta
subcategoria, principalmente os que se referem às falhas na segurança
pública e à falta de planejamento do trânsito voltado para bicicletas. A
falta de segurança tanto no campus da UFSC como em seus arredores
foi citada como um empecilho para sair de bicicleta. Para aqueles
ciclistas que passam o dia na universidade, deixar a bicicleta no mesmo
lugar por muito tempo pode ser um motivo de preocupação e exige
atenção redobrada com o local de estacionamento. Da mesma maneira,
pedalar à noite pode ser um gerador de tensão, e o medo de ser abordado
por assaltantes pode definir o uso ou não da bicicleta em alguns dias.
Assim, entende-se que a falta de segurança é uma questão de política
pública, à qual os ciclistas estão expostos. Por vezes os ciclistas evitam a
circulação por alguns locais ou até mesmo deixam de utilizar a bicicleta
por temerem os roubos. Aliam-se às questões políticas os entraves do
planejamento urbano de Florianópolis, refletidos na falta de visibilidade
dos ciclistas nas políticas de mobilidade e no mau planejamento urbano
para bicicletas. Essas barreiras, que são vivenciadas concretamente e
percebidas diariamente, relacionam-se a modelos de gerenciamento e
planos de ação que por vezes não saem do papel.
As preocupações dos participantes a respeito das barreiras para o
uso da bicicleta na cidade coadunam-se com aquelas identificadas na
elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande
Florianópolis – PLAMUS (Plamus, 2014a). Neste estudo identificou-se
que a falta de ciclovias é a maior barreira para a circulação de bicicletas,
seguida da insegurança no trânsito, da falta de locais para estacionar a
bicicleta e dos roubos praticados contra ciclistas. Vale observar que
mesmo sendo uma cidade recortada por morros, o relevo não foi
apontado como algo significativo que dificulta a pedalada, o que pode
indicar a preponderância de outros fatores sobre este ou até mesmo sua
inter-relação, por exemplo, no caso das subidas de morros que não
possuem acostamento. Portanto, trata-se da soma de duas barreiras
identificadas: uma referente à geografia da cidade e outra ao ambiente
construído.
Esses dados também ecoam nos resultados de Daley et al. (2007),
ao apontarem os aspectos sócio culturais referentes ao uso da bicicleta,
como a cultura do automóvel, fatores políticos, econômicos, valores e
atitudes no trânsito como preocupações importantes entre os ciclistas
regulares. Além disso, entende-se que a insegurança interfere
negativamente no uso da bicicleta (Araújo et al.,2009a; Nkurunziza et

134
al., 2012, Franco et al., 2014), e reforçam a imagem do ciclismo como
algo perigoso (Daley & Rissel, 2011). Assim, a melhoria das condições
de circulação poderia levar não só ao aumento do uso da bicicleta (Sallis
et al., 2013), mas também à revisão da imagem que o ciclismo tem como
meio de transporte.
O último elemento de análise que configura as dificuldades de
utilizar a bicicleta são os gastos e custos referentes a esse modal. Ainda
que os participantes tenham relatado o benefício financeiro da bicicleta
quando comparada a outros meios de transporte, a compra de
equipamentos de segurança como capacete e luzes de sinalização
encarece a utilização da bicicleta. Além disso, a manutenção da bicicleta
foi citada como um fator que onera seu uso, principalmente pelo
desgaste constante provocado pelo uso nas ruas de Florianópolis. Como
relatou um participante, você ouve todo dia um parafuso soltando.
Esses dados estão entrelaçados com aqueles referentes ao custo
da bicicleta como um benefício/vantagem para seu uso. No entanto, se
naquela subcategoria o custo da bicicleta e os gastos relacionados são
vantajosos em relação a outros meios de transporte, os gastos são
barreiras quando relacionados à condição do próprio ciclista. Desse
modo, comprar itens de segurança e fazer a manutenção da bicicleta
exigem a disposição individual para fazê-los. Para relembrar os
argumentos de Bonham e Koth (2010), o fato de a bicicleta ser
financeiramente acessível torna seu uso atrativo entre universitários.
Como apontou um participante, facilitar o acesso aos acessórios da
bicicleta e incentivar politicamente o barateamento de peças de
bicicletas poderia ter implicações inclusive no custo da manutenção.
A subcategoria 2.3 retrata a finalidade com que os participantes
utilizam a bicicleta no dia a dia. Além dos deslocamentos até a
universidade, os participantes relataram usos diversos da bicicleta que
extrapolam a frequência em atividades acadêmicas, e muitas vezes a
universidade é um ponto intermediário entre os demais deslocamentos
do dia.
O deslocamento utilitário foi o uso mais recorrente, sendo
locomoção a palavra-chave. Nesse caso, a bicicleta é um modo para
chegar aos compromissos diários sem a necessidade de recorrer a outros
meios de transporte, que no caso dos entrevistados estão relacionados ao
âmbito acadêmico: aulas, estágio, projetos de extensão e reuniões. Ao
sair da universidade, outras atividades diárias como ir à academia
surgiram como pontos secundários, mas que fazem parte da rotina de
deslocamento.

135
Outro uso frequente da bicicleta entre os participantes foi a
prática de esporte ou lazer. Seja como um momento de relaxar durante
a semana ou sair somente para pedalar, sem precisar ir para algum
lugar, o uso da bicicleta possibilita mudar de trajeto, parar quando
quiser ou então transformar o deslocamento de casa até a universidade
em um passeio agradável. Para aqueles que possuem cenários de praia
no caminho de casa, o ―trajeto de volta‖ pode ser um convite à parada e
à contemplação da paisagem.
Os usos menos frequentes, ainda que inseridos na rotina semanal
dos participantes, estão as idas ao supermercado para fazer compras.
Mesmo não sendo uma coisa muito agradável de ser feita de bicicleta
devido ao grande volume de itens transportados, os ciclistas relataram
algumas soluções para lidar com isso, como o uso de peças adaptadas à
bicicleta (bagageiros, cestas, caixas e alforjes) na tentativa de aumentar
o potencial de transporte de seu veículo.
Os encontros sociais também foram citados como momentos de
parada nos deslocamentos diários, principalmente para visitar amigos e
familiares. Passar na casa de um amigo sem hora marcada ou ir tomar
um café com um familiar foram alguns dos motivos que fazem os
ciclistas desviarem seus caminhos ou então os tiram de casa
eventualmente. Houve inclusive o relato de que o uso da bicicleta para
ir a eventos no período noturno (como festas ou casa de amigos)
influencia na sensação de segurança, partindo do entendimento que
pedalar é mais seguro do que estar a pé.
Reflexo da praticidade da bicicleta, esta subcategoria aponta para
a potência do uso da bicicleta entre estudantes universitários,
principalmente nos horários entre as atividades acadêmicas. Se por um
lado precisam agilizar os deslocamentos em função da quantidade de
atividades do dia, por outro é um modo de relaxarem com uma atividade
física ou ir ao encontro de alguém, o que reforça as análises de Bonham
e Koth (2010) sobre a importância da interação social no uso da bicicleta
entre universitários, principalmente para fins recreativos.
A subcategoria 2.4 reuniu as avaliações feitas pelos ciclistas
acerca das estruturas ciclísticas do campus UFSC e das vias pelas quais
transitam diariamente. Trata de opiniões e de modos de ver as estruturas
do trânsito que possuem como substrato a própria experimentação
desses elementos. Organizaram-se em torno da exiguidade do espaço
nas ruas de Florianópolis, daquilo que é suficiente ou insuficiente em
termos estruturais, da segurança proporcionada por essas estruturas e da
descrição do panorama das políticas para o uso da bicicleta. A análise
dessa subcategoria ganha profundidade se compreendida em relação

136
estreita ou como um desdobramento daquela que trata das dificuldades
de utilizar a bicicleta como meio de transporte, principalmente sobre as
condições da via. Desse modo, se existem alguns fatores do ambiente
construído que dificultam o uso da bicicleta, é certo que os ciclistas têm
algo a dizer a respeito.
A falta de espaço nas ruas de Florianópolis foi o conteúdo
central dessa subcategoria. A configuração das ruas da cidade,
apertadas e estreitas, muitas vezes não comporta a circulação
simultânea das pessoas e exigem dos ciclistas que sigam o fluxo com os
carros. Em um olhar panorâmico da cidade, é possível entender a razão
desses argumentos, principalmente por sua condição geográfica. Ilha
estreita de superfície irregular que dá no mar ou dá nos morros.
Desse modo, a falta espaço se coloca como uma barreira não só
para o ciclista, mas para todos os participantes do trânsito. Por parte dos
entrevistados, há o entendimento de que essa dificuldade é
compartilhada por todos e que a construção de ciclovias em todos os
lugares não seria possível por uma questão de espaço. No caso de não
haver necessidade de ciclovias em todas as ruas da cidade, outro entrave
é justamente a barreira cultural que o ciclismo na cidade enfrenta.
O desrespeito sofrido pelos ciclistas no trânsito, bem como a
dificuldade de compartilhamento das vias (algo que nem sempre é
praticado por alguns ciclistas) demarcam o território de domínio de
alguns modais e de subordinação de outros. Na guerra do trânsito que se
acirra a cada dia nas ruas, carros, ônibus, motocicletas e bicicletas
desenham o cenário de imobilidade (Rolnik & Klintowitz, 2011) e
tomam o lugar daquilo que deveria subsidiar a mobilidade urbana: as
pessoas e o movimento.
Em relação à quantidade e qualidade das estruturas ciclísticas
existentes, a avaliação dos participantes oscilou entre a suficiência e a
insuficiência, sendo esta a visão preponderante. As estruturas
suficientes dizem respeito principalmente ao campus UFSC, com base
no relato de alguns ciclistas que identificaram existência de paraciclos
nos locais onde costumam frequentar, rampas de acesso aos locais
calçados, espaço para circular nos passeios e nas vias internas, bem
como asfalto de boa qualidade em algumas vias nos arredores da
universidade.
Por outro lado, a insuficiência das estruturas se expande à cidade
como um todo, situação que acompanha o ciclista na maior parte do
trajeto até a universidade ou outro destino. Ainda que percebam os
esforços das políticas para a criação de melhores condições para o uso
da bicicleta (como a construção de ciclovias e ciclofaixas em alguns
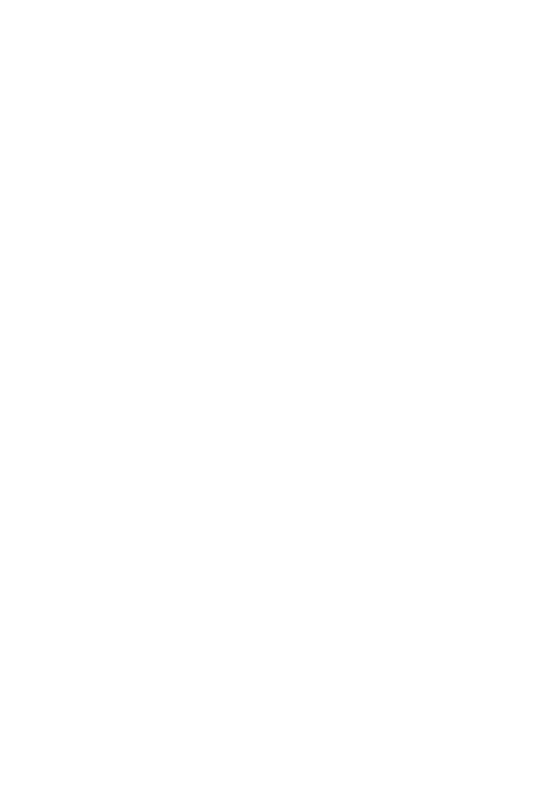
137
locais da cidade), o panorama geral desagrada: a falta de sinalização
para ciclistas, poucas vias de circulação exclusiva, ciclovias sem
interligação que levam nada a lugar, ruas que não são feitas nem para
andar a pé que colocam o ciclista em situações de risco. Um dos
participantes relatou que:
Andar sem infraestrutura é recorrente [...]. O
trajeto que eu mais faço, que é do sul da ilha até a
universidade [...] construíram uma calçada que
nem existia [...] querendo fazer o uso
compartilhado com uma ciclovia que é ridícula,
com poste no meio, dividindo com pedestre [...] e
na época que não tinha era totalmente [...]
perigoso ali, mesmo pra pedestre! Pra ciclista já é
complicado e pra pedestre não tem nem calçada
numa rodovia estadual. É complicado! (P10)
A situação relatada pelo participante é algo que se expande para
muitas vias da cidade de Florianópolis. Isso porque algumas das vias
principais que fazem a ligação entre regiões da cidade são rodovias
estaduais que recortam trechos urbanos. Assim, mesmo que essas
rodovias tenham características urbanas como a existência de
moderadores do tráfego, uso misto do solo e alta densidade de ocupação,
a responsabilidade por sua manutenção gravita entre a esfera municipal
e estadual.
Algumas dessas vias, inclusive a citada pelo participante, têm
passado por processos de ―qualificação‖, ou seja, de aprimoramento da
qualidade de circulação pelos diversos modais. No entanto, nas obras de
duplicação, por exemplo, que exigem a ampliação da área destinada aos
veículos, qualificar é uma tarefa de difícil execução, uma vez que as
calçadas adquirem dupla função: comportar bicicletas, pedestres e
serviços (postes e lixeiras). Compartilhamento que em si não é
problemático, se não denunciasse que a ―qualificação‖ das vias supõe a
distribuição desigual do espaço urbano para os modais e de seu uso.
Em relação ao campus universitário, a insuficiência se reflete na
falta de ciclovias nos arredores e à falta de segurança ao prender a
bicicleta nos locais a elas destinados. Quanto à segurança, relatos sobre
casos de furtos foram recorrentes na fala dos entrevistados, que tiveram
a própria bicicleta roubada ou conheciam alguém que passou por essa
situação. Desse modo, mesmo que não vejam a necessidade de tantos
paraciclos e bicicletários devido à grande quantidade de árvores no
campus (que podem ser locais informais para prender a bicicleta), locais

138
lotados e sem monitoramento desencorajam manter a bicicleta presa na
universidade por muito tempo pelo temor do furto. A esse respeito, um
participante relatou:
A universidade é bem representativa da cidade. A
gente não tem ciclovias perto [...], no centro que
eu estudo [...] não tem nenhum bicicletário, tem
que amarrarem qualquer lugar. Então acho que é
bem precário mesmo, poderia investir melhor
nesse quesito (P17).
Assim, seja por parte da gestão municipal ou da administração do
campus, as condições de permanência e circulação criadas em
Florianópolis e na UFSC se aproximam, sendo avaliadas como
insuficientes. No entanto, as opiniões sobre a suficiência e insuficiência
das estruturas que atendem os ciclistas na cidade e na universidade
divergem em alguns aspectos. Se por um lado é visto o esforço da
cidade em criar condições de circulação segura para ciclistas, as
estruturas são poucas e desconexas. Se não se vê um descaso da
universidade com o ciclista, é necessário prover melhores condições de
segurança para atender essas pessoas. O que parece ser consenso entre a
pluralidade de pontos de vista é que existe uma falha no âmbito das
políticas, principalmente aquelas que deveriam incentivar o uso da
bicicleta.
Trata-se de um aspecto macroscópico do uso da bicicleta na
cidade, que inclui a falta de planejamento para a inserção desse modal
no sistema de trânsito existente, falta de sinalização e a falta de
educação para o trânsito, que se inicia na formação de novos condutores
e se espalha para o dia a dia nas ruas. Tratam-se de projetos de ciclovias
que ficam só no papel, ou então vias que na prática não facilitam em
nada o ciclista e se espalham de maneira irregular no território da
cidade.
Da parte dos ciclistas existe a demanda por ações oficializadas do
poder público, que é quem pode fazer alguma coisa para solucionar o
problema. Se por um lado as ações de planejamento podem ser de
competência da gestão (do estado, da cidade, do campus universitário),
intervenções na esfera da cultura da bicicleta são tangentes a ela, a
quem compete a promoção de campanhas que difundam o uso da
bicicleta como meio de transporte e fomentem o compartilhamento das
ruas entre os diversos modais.
Assim, diferente da Figura 14, que mostra a inscrição informal do
lugar do ciclista na rua feita por ações organizadas pelos próprios
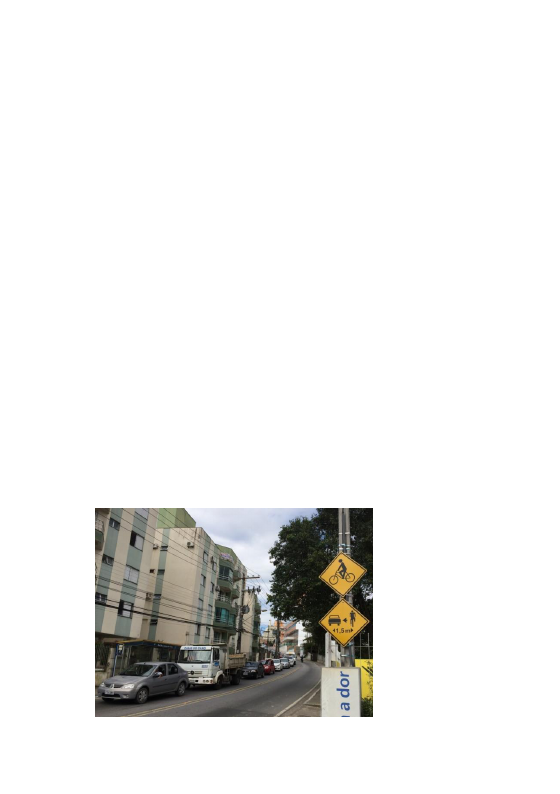
139
ciclistas, a Figura 16 exibe uma sinalização regulamentada e adequada
para alertar sobre sua existência. Situada nas adjacências da UFSC, a
Rua Deputado Antônio Edu Vieira é uma importante via que liga a
universidade com a região central e sul da ilha, sendo utilizada por
alguns participantes como rota diária. O trecho retratado é uma das faces
do morro do bairro Pantanal, paisagem que pode ser tomada como
exemplo de outras diversas vias com características semelhantes na
cidade. Trata-se de uma paisagem de leitura complexa que pode
sintetizar alguns aspectos das discussões desta categoria de análise.
Por um lado os aspectos ambientais: terreno íngreme, que mesmo
não sendo uma barreira importante para os ciclistas de Florianópolis, é
de difícil transposição para qualquer pessoa; rua estreita, que comporta a
largura de um automóvel para cada lado. Ônibus e caminhões alertam
sobre suas dimensões, anunciando a regra óbvia de que dois corpos não
ocupam o mesmo espaço. Ao centro a marcação horizontal de duas
faixas amarelas e contínuas, sinalizando a impossibilidade legal de
realizar ultrapassagens no local. Calçadas estreitas disputam o espaço
com saídas de garagens, pontos de ônibus e pedestres que acessam os
serviços ali localizados. Por outro lado a esfera sócio-política, com o
tráfego intenso em um dos sentidos, cena comum em alguns horários do
dia. A indicação vertical alerta sobre a circulação de ciclistas no local e
a necessidade de guardar a distância de 1,5 metros para manobras de
ultrapassagem, algo que garantiria a circulação segura e harmônica de
motoristas e ciclistas. No entanto, soma dos elementos ambientais e
sócio-políticos resulta em um impasse aparentemente sem solução.
Figura 16. Rua Deputado Antônio Edu Vieira
Fonte: Arquivos de pesquisa.

140
As sinalizações verticais e horizontais ressaltam a política do
dever-ser, uma vez que se deve respeitar 1,5 metros e não se deve
realizar ultrapassagens naquele local. Na esfera ético-política, na qual
estão inscritas as relações cotidianas entre as pessoas, a exiguidade da
via convoca os ciclistas a tomarem posição no espaço e sinalizar
corporalmente sua existência: o centro da pista é seu lugar. Conjuntura
que teoricamente deveria convocar ao compartilhamento é vivenciada na
prática como exclusão, desdobramento histórico da construção das
cidades e da cultura do automóvel.
Condições arriscadas para motoristas, ciclistas e pedestres, são
contingências do espaço urbano de um local onde o desenvolvimento da
mobilidade não acompanhou o desenvolvimento urbano. Nesse caso,
repensar as formas e conexões da cidade, voltadas para as pessoas, seria
colocar em questão um modo hegemônico de circulação para favorecer a
vida na cidade. No âmbito das relações interpessoais, repensar o
deslocamento nas cidades exigiria uma implicação ético-política na
cidade, fomentada pela solidariedade, compartilhamento e
sustentabilidade dos espaços urbanos.
Se por um lado existem opiniões negativas e dificuldades para
pedalar diariamente, há também uma forma de ciclismo considerada
ideal, definida em termos daquilo que facilita ou facilitaria ainda mais o
uso da bicicleta. Na subcategoria 2.5 foram reunidos os conteúdos que
configuram o ciclismo ideal para os participantes, que em linhas gerais
trata da situação oposta das dificuldades e das avaliações negativas
sobre as estruturas ciclísticas. São condições que, se cumpridas,
potencializariam o uso da bicicleta.
Em relação à infraestrutura, o consenso foi a criação de mais
ciclovias e ciclofaixas, pensando as principais ligações da cidade para
o ciclista. Está implícita nessa demanda a possibilidade de demarcação
do espaço do ciclista (na rua e na cidade), a possibilidade de circular
com segurança e, como desdobramento, atrair outras pessoas a aderirem
ao ciclismo como meio de transporte. Na universidade, a criação de
locais mais seguros para estacionar as bicicletas e instalações como
chuveiros e armários foi citada como estratégia que atrairia mais
ciclistas. Além disso, o aperfeiçoamento das condições existentes
poderia aumentar a frequência de ciclistas se deslocando até o campus
diariamente.
A esse respeito, Nkurunziza et al. (2012) apontam que a falta de
comodidades para ciclistas no ambiente de trabalho, como chuveiros e
vestiários, e falta de locais seguros para guardar a bicicleta estão
relacionados com menor uso da bicicleta. Por outro lado, além de ser um

141
facilitador para o uso da bicicleta, a presença desses aparelhos pode ser
importante na mudança de comportamento na adesão a esse meio de
transporte (Wooliscroft e Ganglmair-Wooliscroft, 2014).
De acordo com a pesquisa de caracterização dos deslocamentos
para o campus da UFSC (Subcomitê de Mobilidade UFSC, 2012), a
importância da bicicleta é citada em relação à quantidade de pessoas que
têm como ponto de origem os bairros contíguos à universidade. Estima-
se que 75% das viagens feitas até o campus tenham origem no raio de
cinco quilômetros, o que pode indicar a potencialidade da bicicleta
também para curtos trajetos. Nesse sentido, os interesses dos
entrevistados vão ao encontro das sugestões do estudo, que tem como
um de seus propósitos a criação de uma rede cicloviária que interligue
os centros do campus UFSC. Para uma participante:
O ideal seria que tivesse toda uma rede de
ciclovia de sair da UFSC, já que tem tanta gente
que poderia andar de bike aqui (P5).
Amparada na hipótese de Gehl (2010), a fala da participante pode
ser entendida sob dois pontos de vista complementares. Primeiro, a
criação de infraestruturas de circulação pode induzir uma demanda
reprimida de uso de um modal, o que leva ao entendimento de que a
ampliação do sistema cicloviário atrairia mais ciclistas para as ruas.
Segundo, essas infraestruturas que não beneficiam somente ciclistas,
pois ao aprimorar as condições de circulação, é possível melhorar as
condições de permanência, produzindo outras possibilidades de viver
nas cidades e outros modos de se relacionar com os espaços e pessoas.
Outro aspecto que facilitaria o uso da bicicleta seria a
contrapartida política por meio de incentivos na esfera das políticas
públicas para o transporte. Nesse sentido, a qualificação das vias para o
trânsito compartilhado, aprimoramento das condições de segurança
(pública e viária), facilitar o acesso a bicicletas e campanhas de
educação e conscientização no trânsito foram citadas como situações
que configurariam o ciclismo ideal.
Os resultados de Eryiğit e Ter (2014) apontam que a criação de
sistemas de compartilhamento de bicicleta, campanhas para a difusão do
ciclismo e o treinamento para aqueles que não sabem pedalar são
estratégias importantes para promover mudanças nos hábitos e valores
culturais referentes à bicicleta. De maneira análoga, ressalta-se a fala de
um participante ao propor para Florianópolis o sistema de
compartilhamento de bicicletas, serviço disponibilizado em algumas

142
cidades brasileiras por instituições privadas15. Assim, na esteira dos
resultados de Vandenbulcke et al. (2011), entende-se que o potencial de
Florianópolis como cidade voltada para os esportes se intensificaria, ao
criar um ambiente que suporte o ciclismo e que dê condições para usos
diversos da bicicleta, como transporte, lazer e saúde.
No âmbito das políticas, os participantes se referiram à
diminuição dos custos da bicicleta como algo que incentivaria mais
pessoas a aderirem a esse meio de transporte. Mesmo sendo um meio de
transporte barato em relação a outros, o acesso a uma bicicleta nova e os
gastos com equipamentos de segurança encarecem o uso da bicicleta.
Nesse sentido, a atuação política por meio da diminuição de impostos
sobre os produtos poderiam torná-los mais acessíveis, impactando
inclusive no valor dos serviços e manutenção. Esse dado reforça o
resultado de Nkurunziza et al. (2012), ao apontarem que as taxas de
importação o custo da bicicleta são barreiras políticas no acesso a esse
meio de transporte. Desse modo, mesmo a bicicleta sendo um modal
barato em relação a outros (Heinen, et al., 2010), sua ampla difusão
passaria também por incentivos fiscais e subsídios governamentais16.
A divulgação da cultura da bicicleta foi outro fatore que
configuraria o ciclismo ideal para os participantes. A abrangência desse
elemento de análise perpassa a esfera individual e coletiva, sendo
atravessada pelos vetores políticos descritos anteriormente. Assim, a
dimensão cultural do uso da bicicleta está imbricada à ética e política, e
o potencial de transformação do panorama atual para o denominado
ideal estaria nas práticas cotidianas.
Nesse sentido, existe primeiramente a necessidade de o ciclista
ter informações sobre o uso da via, noções sobre a garantia de
segurança (para si mesmo e para os outros) e sobre os direitos e deveres
ao circular. Respeitar a sinalização de trânsito e parar na faixa de
15 Proposta idealizada pela prefeitura de Florianópolis desde 2013, o projeto de
instalação de um sistema de compartilhamento de bicicletas– Floribike –
encontra entraves desde seu ponto de partida. Dois editais licitatórios foram
lançados (em 2013 e em 2015), com previsão de fornecimento de 330 bicicletas
dispostas em 30 estações em diversos pontos da cidade. No entanto, nenhum
dos editais despertou o interesse dos empresários do segmento e atualmente
aguardam-se novos desdobramentos.
16 A esse respeito, vale ressaltar a iniciativa da prefeitura de Buenos Aires que,
em parceria com um banco público, colocou à disposição de seus moradores
uma linha de crédito especial para o financiamento da bicicleta. Para mais, ver:
www.buenosaires.gob.ar/ecobici

143
pedestres exemplificam práticas para a construção de um espaço
legitimado para a bicicleta nas ruas.
Quando em relação com os outros participantes do trânsito, a
contrapartida seria dos motoristas. Ter um pouco mais de sensibilidade
ao conduzir e dar espaço para o ciclista seriam modos ideias para
garantir a convivência entre os automóveis e a bicicleta, bem como
condições de segurança e a diminuição da violência no trânsito. Para um
participante:
Facilitaria uma conscientização massiva de quem
utiliza o trânsito. Então seja pedestres, ciclistas,
motoristas [...] todo mundo! De que a bicicleta é
um meio de transporte ótimo, que deve ser usado
e deve ser substituído quando possível. E daí vem
a conscientização da esfera pública também, para
dar estrutura para o ciclista se sentir confortável
em pedalar (P14).
É importante frisar na fala do participante que a bicicleta deve ser
uma opção para as pessoas quando possível. A dimensão cultural da
bicicleta não se refere à tentativa de adesão forçada a esse modal, em
que as políticas pró-ciclismo imporiam um modo de circular,
possibilidade atrelada a um ―determinismo cultural‖ ou ―ditadura da
bicicleta‖. Pelo contrário, sua propagação passa pela melhoria das
condições de circulação e permanência nas cidades, indicando que
práticas cotidianas e modos de ser na cidade estão em sintonia com as
estruturas e desenhos urbanos de seu tempo. O aperfeiçoamento dessas
condições passa também pela redundância das possibilidades de
transporte, ou seja, poder acessar o mesmo lugar de diversas maneiras
possíveis, dando às pessoas a possibilidade de escolherem o meio de
transporte que mais lhe agradarem no momento.
O ciclismo ideal para os participantes tangencia também a esfera
das reivindicações. Os elementos descritos sobre o que facilitaria o uso
da bicicleta não são possíveis sem a construção de um terreno de
embates e manifestações para batalhar por uma melhoria na situação.
Assim, organização dos ciclistas e a reivindicação por um lugar no
trânsito se desloca do individual ao coletivo constantemente, seja na
escolha da bicicleta (como modo de vida e como resistência) ou em
manifestações coletivas organizadas ou não.
A subcategoria 2.6, a última que configura os aspectos cognitivos
da relação dos ciclistas com a cidade, discorre sobre as cognições
ambientais, ou seja, de modos de conhecer, apreender e extrair

144
conhecimento do ambiente físico e social. Nessa subcategoria foram
organizados os conteúdos que orientam o trajeto dos ciclistas em seus
deslocamentos, aquilo que chama a atenção, os motivos que os levam a
optar por uma rota em detrimento de outras, bem como as sensações
disparadas pelos sentidos.
Assim, entendeu-se que os participantes puderam, com maior ou
menor profundidade, percorrer mentalmente o trajeto diário e detalhá-lo
em função de seus detalhes e organizadores. De início, identificou-se
que os participantes descrevem seus trajetos em função de alguns
marcadores. De acordo com a distância percorrida, os detalhes do
trajeto foram mais ou menos referidos, sendo os trajetos mais longos
aqueles que possuíam mais marcações.
Foi possível caracterizar três tipos de marcadores do trajeto que
se diferenciam em função de sua escala, podendo haver coexistência
entre eles ou não. Na escala macro, os bairros e as regiões da cidade
adquiriram maior visibilidade no trajeto. Trindade, Córrego Grande, Sul
da Ilha, Rio Tavares foram citados tanto como pontos de origem quanto
locais de passagem até o destino final (geralmente a UFSC).
Em média escala, os marcadores do trajeto foram nomes de ruas,
seja ao percorrê-las por inteiro ou como designação de um bairro.
Exemplo disso é a referência à Rua Antônio Edu Vieira como um
desígnio ao bairro Pantanal, uma vez que essa rua atravessa toda a
extensão do bairro ligando a universidade aos acessos do centro-sul da
ilha. De maneira análoga, os nomes oficiais de ruas foram transformados
para facilitar sua caracterização, muitas vezes atribuindo ao nome seus
atributos físicos. A rodovia de três pistas do Rio Tavares, a continuação
da Lauro Linhares, a subida da Serrinha, rua que contorna a lagoa
foram referências a aspectos periféricos das vias que auxiliam na
organização do trajeto ao agregar elementos descritivos e maiores
detalhes à paisagem geral.
Os orientadores em escala micro foram os estabelecimentos e
prédios por onde passam, bem como elementos particulares das vias.
Supermercados, postos de gasolina, pontos de ônibus, viadutos e
prédios da universidade foram referências ao alcance da visão, aquilo
que orienta o momento de continuar reto na mesma rua ou de fazer uma
conversão. Por vezes a familiarização com o trajeto possibilitou que o
ciclista desse detalhes da própria via como marcador, como aqueles
trechinhos complicados ou o buraco na esquina de casa.
Por vezes, os marcadores do trajeto podem ser modos de se
orientar no espaço.

145
Por exemplo, para designar o local de residência, a subida da
ladeira pode ser um elemento que orienta o ciclista e indica a
proximidade do destino final. Outra maneira de se orientar no trajeto é
utilizar os marcadores (independente de sua escala) como início ou fim,
como o trecho de ciclovia que começa nas Rendeiras e vai até o final da
Lagoa.
Além disso, tempo e distância são elementos que podem servir de
orientação durante os deslocamentos. A referência a trajetos curtos foi
feita em função do tempo de deslocamento (cinco minutos até o
mercado), e os mais longos em função da distância métrica (45
quilômetros ida e volta).
Nos trajetos diários, destacam-se alguns elementos que chamam
a atenção dos ciclistas ao se deslocarem. Em primeiro lugar, foram
citados os elementos naturais do ambiente, como as paisagens do
caminho, as belezas naturais da cidade, os morros, as árvores, o ar
puro, o mar e as aves. Além disso, referiram-se aos elementos do
ambiente construído, como as ruas estreitas, obras, falta de
infraestrutura para bicicletas, buracos e irregularidades na via. O
terceiro grupo de itens foi referente aos elementos sociais presentes na
pedalada, como o trânsito intenso de veículos e seus perigos, a
competição entre motoristas, ciclistas e pedestres, a quantidade de
ciclistas que circulam, bem como as pessoas que se exercitam na
Avenida Beira Mar no fim de tarde.
O elemento de análise escolha do trajeto reuniu conteúdos que
envolvem os motivos pelos quais escolhem um trajeto em detrimento de
outro. Trata-se de uma antecipação do caminho, uma avaliação prévia
dos trajetos possíveis que designa a melhor opção para o momento.
Assim, entendeu-se que os ciclistas foram capazes de antever e avaliar o
trajeto, os locais de passagem, as melhores possibilidades e os riscos
envolvidos.
Esse processo avaliativo ocorre de acordo com o momento do dia
e a disponibilidade de horário para efetuar o trajeto. Desse modo,
quando há a opção por um caminho mais seguro e mais longo (que
compreende o uso de trechos de ciclovia), este será feito quando houver
tempo disponível. Por outro lado, se estiverem atrasados, a opção será
pelo trajeto mais curto e menos seguro. Portanto, nem sempre a ciclovia
será a melhor opção para o ciclista, ainda que ofereça condições de
circulação exclusiva e com maior segurança do que nas ruas.
Os motivos para a escolha foram diversos: rapidez, distância,
falta de opção, única opção. Sobressaíram-se aqueles que se dão em
função da menor distância e menor tempo de locomoção, ou seja, aquele

146
que levará mais rápido ao destino final. Mesmo assim, existem trajetos
que oferecem outras condições de circulação, que aliam a melhores
condições das vias, com trajeto mais longo e mais rápido e a vista
melhor, indicando que a apreciação estética da cidade é uma influência
na decisão pelo trajeto.
Além disso, as cognições ambientais podem ser definidas pelas
sensações provocadas, ou seja, pelo modo como o corpo é afetado pelos
elementos do trajeto. Desse modo, o cheiro do mangue, o ar puro, a
adrenalina disparada pelo trânsito em uma rua movimentada e a
intensidade das subidas e descidas podem ser outro modo de organizar o
conhecimento sobre o caminho, de modo que o resultado corporal da
subida e a velocidade da descida indique o final da pedalada (suado). O
relato do participante P13 retrata o modo como as sensações podem se
diferenciar no trajeto, pois em seus deslocamentos diários ele passa
pelas mesmas ruas na ida e na volta em horários diferentes. Ainda que
passe pelos mesmos lugares, as sensações provocadas são distintas.
Embora o percurso seja o mesmo, a sensação é
completamente diferente. Na ida a Lauro Linhares
e a Madre Benvenuta são tranquilas, mas na volta
são pior trecho dos dois percursos, pelo fato de
serem ruas estreitas e com muito movimento
(ainda que lento). A Gama D’Eça é igual tanto na
ida quanto na volta, bastante movimento rápido
de carros, mas ruas mais largas. A Beira Mar
quando se pega o por do sol é igual ao paraíso
(P13).
Trata-se de um modo de conhecer o ambiente que não é
puramente racional. Nesse caso, o ciclista sabe que está passando pelos
lugares habituais de acordo com o modo como o corpo reverbera com a
paisagem, bem como com os sentimentos provocados, indicando a
racionalidade ético-afetiva (Sawaia, 1995) como um modo de produzir
conhecimento sobre a cidade. Submeter-se à exposição sensível ao
ambiente, acessá-lo corporalmente, é um dos passos para poder
representá-lo mentalmente, manipular essas imagens e significá-las
(Higuchi et al., 2011). As cognições ambientais são, portanto, um modo
de extrair e armazenar conhecimento do ambiente que subsidia a vida
simbólica e disparam modos de se portar no ambiente. Vê-se, portanto,
que afeto, cognição e comportamento, aspectos fundantes da identidade
de lugar, são indissociáveis. Desse modo, se o conhecimento for

147
possível pela experiência, pedalar é uma maneira de conceber a cidade e
de agir em seu terreno.
6.3 Categoria 3 – Aspectos comportamentais da relação ciclista-
cidade
Utilizar a bicicleta como meio de transporte implica em se
posicionar de alguma maneira na via e no trânsito. O comportamento do
ciclista nas ruas não pode ser compreendido de maneira isolada, como
uma forma adequada ou inadequada de circular, mas sempre em relação
a algo ou alguém. Entende-se que as ações são sempre engajadas na
situação que as engendram, o que exige considerar os aspectos
individuais, sociais e ambientais que as disparam. Assim, os
comportamentos podem estar relacionados com as estratégias para lidar
com as dificuldades no trânsito ou então ao modo como a história de
vida se liga ao ciclismo. Os elementos de análise da terceira categoria
congregaram as características comportamentais da relação ciclista-
cidade.
A subcategoria 3.1 trata dos modos de pedalar e congrega, entre
outros, comportamentos entendidos pelos ciclistas como sendo
inadequados ou arriscados. Seja por opção ou por falta dela, colocam-
se em situações de risco como pedalar próximo do meio fio, nas
calçadas, na contramão, entre os carros (no ―corredor‖) ou então
atravessar uma rua com o semáforo fechado. Esses comportamentos,
por vezes opostos ao que é definido em termos legais no Código
Brasileiro de Trânsito, desdobram-se por motivos diversos, com
destaque para os que sobressaíram entre os participantes.
Em primeiro lugar, o espaço físico e o tráfego de veículos podem
ser disparadores desses comportamentos. Desse modo, a falta de
infraestrutura adequada para circular aliada ao terreno acidentado de
Florianópolis e seu tráfego intenso de veículos, convoca os ciclistas a
irem para a calçada, a pedalarem no cantinho da via ou então no fluxo
contrário ao dos veículos para que os carros não passem por cima. Em
segundo, esses comportamentos podem ser uma disposição particular de
cada indivíduo, uma opção deliberada de pedalar dessa maneira e se
colocar em situações potencialmente perigosas ou em lugares onde o
ciclista não deveria estar, como no corredor das motos, por exemplo.
Diferente dos comportamentos considerados arriscados, foram
citados aqueles que expressam o cuidado do ciclista no trânsito. Desse
modo, mesmo ao pedalar em locais onde não devessem estar como nas
calçadas, houve relatos de ações de cuidado com os pedestres, como não

148
correr e não cortar todo mundo. Além disso, os ciclistas expuseram que
pedalar nas ruas exige atenção redobrada, seja com pedestres que
atravessam as ruas, com os motoristas que não sinalizam as manobras
ou que falam ao telefone enquanto dirigem, ou com irregularidades nas
vias. Vale ressaltar que os estados de atenção durante os deslocamentos
têm relação com a qualidade da via (Vansteenkiste et al., 2014), de
modo que nas vias de menor qualidade a atenção se volta para elementos
próximos e nas de melhor qualidade para os atributos mais distantes.
Ressalta-se que nas vias de grande fluxo de veículos, como nas
rodovias, conhecer os locais por onde passa e pedalar no mesmo sentido
dos carros é algo que ajuda a garantir a segurança do ciclista. Um dos
participantes relatou que além de utilizar equipamentos de segurança,
como capacete, luva e bota, procura se portar da seguinte maneira:
[...] pegar um ritmo de pedalada num
lugar específico [...] não mudar a rota [...] treinar
sempre num lugar, vou andar o máximo possível
naquele espaço para que eu saiba cada buraco
(P15).
Nesse caso, o participante sinaliza que durante a pedalada sua
atenção está direcionada para as particularidades da via e do trânsito,
pois uma distração ou desconhecimento do local por onde passa pode
coloca-lo em perigo. Por outro lado, sinaliza a imbricação entre
cognição ambiental e comportamento, uma vez que o ciclista indica a
produção conhecimento sobre o ambiente que auxilia na resolução de
problemas cotidianos (Higuchi et al., 2011).
Em outras situações, quando a dinâmica do trânsito exige, os
ciclistas expuseram a necessidade de se imporem na via,
principalmente para não permanecerem o tempo todo nos locais
inadequados, como no limiar entre via e calçada sob o risco de caírem
da bicicleta. Assim, os ciclistas colocam-se na frente dos carros no
semáforo para passarem primeiro, pedalam no centro da pista para
exigirem dos motoristas uma manobra adequada de ultrapassagem ou o
respeito à distância de 1,5 metros. A esse respeito, um participante
relatou:
Pra calçada eu só vou realmente quando tem o
ônibus. Quando tem os carros, às vezes, eu não
vou pra calçada. Geralmente quando tem mais
carro é quando está mais parado. Daí eu vou me
embrenhando, às vezes eu tenho que parar de
pedalar, tenho que, meio que levar na mão, assim,

149
mas eu não saio da pista... pra mostrar tipo
assim: tem uma bicicleta aqui, você não está
dando espaço pra mim, mas eu vou passar de
qualquer jeito! (P13).
Trata-se de comportamentos que não são somente reflexos
desencadeados pelas situações ambientais. De certa forma, o
comportamento do participante intenta dizer algo às outras pessoas,
veicula a mensagem de que, tal como os motoristas ou pedestres, está
fazendo uma opção de deslocamento e tentando chegar ao seu destino
final. Essas posturas produzem a possibilidade de igualdade do ciclista
no trânsito e de, aos poucos, serem reconhecidos como partícipes
legítimos do sistema de transporte.
Se por um lado a postura de imposição pode sugerir o
acirramento do clima de disputa no trânsito, existem os comportamentos
que indicam os momentos em que o ciclista compartilha o espaço. Dar a
vez aos pedestres, andar no mesmo fluxo dos veículos, ser ágil no
trânsito e por vezes se adaptar a ele são comportamentos que indicam
que o ciclista é parte desse sistema e que deve se igualar aos outros
integrantes do trânsito, seja parado ou em movimento. O participante P6
relatou que procura fazer uso de sua bicicleta da mesma maneira que um
motociclista faz uso de seu veículo, aproximando-se dos direitos e
deveres deste.
Portanto, os ciclistas costumam andar na pista, dividindo espaço
com carros, motos e pedestres, o que não necessariamente configura
uma situação de exclusão, e sim de compartilhamento. Exemplo disso
foram as imagens três e seis apresentadas durante as entrevistas
(Apêndice C). São imagens do centro e de um bairro de Florianópolis
que mostram um ciclista à margem da pista de rolamento. Elas foram
lidas de maneiras diferentes por alguns participantes, que ora viam-nas
como sustações de exclusão, ora como desejáveis, dado o contexto de
compartilhamento da rua. Desse modo, dividir o espaço não implica
perder uma parte do que se tem, mas sim construir a possibilidade de
coabitar o mesmo lugar. O relato do participante P18 ilustra essa
situação.
Tento ser bem educado também, quando eu puder
dar a vez também para um motorista, embora
sabendo que segundo o código de trânsito a
preferência é minha, mas também posso dar o
exemplo pra ele do que deve ser feito (P18).

150
Esta situação reforça a possibilidade de o trânsito não ser regido
somente pela lógica do dever-ser, mas também pela racionalidade ético-
afetiva (Sawaia, 1995). O comportamento pode ser pensado como
projeção afetiva da pessoa no ambiente, motivados pelos afetos que
potencializam a capacidade de ação, e não como resposta mecânica às
situações humano-ambientais do trânsito. As ações no trânsito deveriam
passar não só por vias racionais, mas pela sensibilização. Como é
possível indicar na fala do participante, dar o exemplo e ser educado é
uma situação inusitada em um contexto de predomínio da intolerância,
do estresse e do desrespeito.
A subcategoria 3.2 reuniu alguns comportamentos que se referem
à saúde e que estão atrelados ao uso da bicicleta, ou então a práticas que
foram adotadas a partir da inserção do ciclismo no dia a dia. Como o uso
da bicicleta acarreta em benefícios para a saúde física de quem pedala
(Gatersleben & Haddad, 2010; Passafaro, et al., 2014), alguns
participantes também adotaram o ciclismo como uma maneira de
colocar atividade no dia e no corpo. Um exemplo de como o uso da
bicicleta auxiliou no desenvolvimento de hábitos saudáveis foi o
participante P15, que expôs a modificação de hábitos alimentares,
alimentando-se melhor, e a diminuição do tabagismo como
transformações decorrentes do uso da bicicleta.
Por outro lado, há casos em que o uso da bicicleta como meio de
transporte não está necessariamente ligado a práticas saudáveis, mas sim
a um objetivo utilitário, que é o deslocamento, o que configura uma
prática não saudável. Como expressou o participante P6, não é para ser
saudável que pedala, exemplificando que às vezes utiliza a bicicleta
após ter comido muito, não sendo sua principal preocupação pedalar de
uma maneira saudável.
Por fim, a subcategoria 3.3 definiu os comportamentos
relacionados à segurança do ciclista, referentes principalmente à
segurança da bicicleta e às ações adotadas para transitar de maneira
segura no trânsito. No que se refere à segurança da bicicleta, trata-se de
estratégias adotadas pelos ciclistas para lidarem com as dificuldades
relacionadas aos roubos e ao medo de ser assaltado.
Nas ruas, os ciclistas relataram que evitam circular em alguns
locais e em alguns horários. Desse modo, tentam andar de bicicleta em
horários mais tranquilos, como durante o dia por exemplo. De maneira
análoga, deixar a bicicleta presa em algum local até tarde é algo que
evitam fazer para garantir que esteja no mesmo lugar onde a deixaram.
Na universidade, as estratégias utilizadas pelos ciclistas para
driblar os problemas de segurança incluem o uso de dois cadeados,

151
levar a bicicleta para onde forem e deixar a bicicleta em locais não
oficiais, como dentro dos prédios, postura que indica atenção e
preocupação redobradas com a segurança da bicicleta. Além disso,
costumam prestar atenção no local onde estacionam a bicicleta e, se
forem passar o dia no campus, passam diversas vezes para ver se a
bicicleta ainda está lá.
Os comportamentos para garantir a segurança durante a
circulação sobre a bicicleta se referem principalmente à sinalização das
manobras. Como a bicicleta não possui um sistema de sinalização como
os veículos automotores, os ciclistas costumam apontar com as mãos as
manobras que fazem (conversões, parada, seguir em frente). Outra
maneira de garantir a visibilidade no trânsito é a utilização de luzes e
buzina para alertar outras pessoas sobre sua presença, bem como
equipamentos de segurança como capacete e luvas. Em dias de chuva, a
única proteção é o uso de capa de chuva e plástico para não se
molharem.
Por fim, aspectos individuais relacionados à história do ciclista
auxiliam na garantia de segurança. Para alguns, o fato de terem carteira
de motorista e saberem o que se passa ―por trás do volante‖ garante uma
posição diferenciada quando estão sobre a bicicleta. Nesse sentido, a
referência foi ao senso de segurança, de se fazer visto na rua e saberem
que o motorista está visualizando o ciclista (implica no que foi
denominado impor-se), além de ter a atenção redobrada ao pedalar
entre os carros.
Os aspectos comportamentais que ligam o ciclista à cidade
disparam a discussão sobre como eles podem se tornar habituais e
incorporadas a um estilo de vida. Práticas saudáveis e sustentáveis de
deslocamento, bem como condutas de compartilhamento e de
cooperação no trânsito não são somente desejáveis, mas necessárias para
a transformação das práticas de mobilidade na cidade.
A ocorrência dos comportamentos se dá de maneira situada e
engajada no contexto que os engendram, uma articulação político-
afetiva entre pessoa e ambiente. Assim, se as avaliações sobre o
ambiente de trânsito (como os congestionamentos, as infraestruturas
ciclísticas e o sistema de transporte coletivo) forem negativas ou não
convidarem ao uso, ações que visem a produção de novos hábitos de
circulação como o uso da bicicleta e a caminhada, por exemplo,
dificilmente terão ampla adesão.
Ações para minimizar a força de hábitos antigos devem ter foco
no comportamento individual (como as campanhas sugeridas pelos
participantes), mas também focarem em intervenções na esfera das

152
políticas públicas ou do planejamento urbano – intervenções upstream
de acordo com Cristo e Günther (2015). Ações nessas esferas implicam
na construção do espaço urbano que pressuponha a vida nas cidades
(Gehl, 2010) e que produzam condições de outros modos de se
relacionar com a cidade e com as pessoas que não a paralisação e a
indiferença.
6.4 Síntese dos atributos definidores da identidade de lugar em
ciclistas
Em busca dos rastros que constituem a identidade de lugar em
ciclistas, analisou-se o conteúdo de entrevistas com ciclistas
universitários e de observações dos entornos da universidade, dados que
foram subdivididos em três eixos analíticos. É necessário reforçar que as
categorias de análise não são definitivas. Elas estão em constante
negociação, e cristalizá-las como único modo de compreender o
fenômeno seria interromper o fluxo dos lugares e das identidades que
emerge nas relações pessoa-ambiente.
Em primeiro lugar, as características afetivas apontaram para a
implicação corporal do ciclista com a cidade, pois os sentimentos e
emoções disparados são possíveis somente nessa relação. Em segundo
lugar, os aspectos cognitivos passaram pela avaliação prévia dos
ciclistas ao utilizarem seu meio de transporte: facilidades, barreiras e
opiniões sobre a ambiência ciclística medeiam a construção de um saber
particular sobre a cidade. Por último, as características comportamentais
indicaram um modo de se posicionar no espaço e de lidar com as
dificuldades existentes na pedalada, apontando para a necessidade de
construção de hábitos que reforcem a ―cultura da bicicleta‖.
A afetividade foi caracterizada pelos sentimentos e emoções
despertados na relação ciclista-cidade. Identificou-se que pedalar não
faz sentir uma coisa só, e o espectro dos sentimentos provocados transita
entre a potencialização ou não da capacidade de agir e as ambivalências,
que deixam as marcas da cidade nos ciclistas e vice-versa. Esses
sentimentos são mediadores na construção da imagem da cidade,
cenários afetivos que representam o modo como os ciclistas percebem e
vivem os lugares sobre seu veículo. Sentimentos e imagens sintetizaram
os prazeres e as dificuldades de pedalar em um lugar paradisíaco que
não tem sido pensado e projetado para ciclistas.
No horizonte do paraíso imóvel, os ciclistas são convocados a se
posicionarem no espaço ou então são localizados nos discursos que se
entrecruzam no trânsito. Localização que sempre requer o deslocamento,

153
sair do lugar, romper com imagens preestabelecidas. O ciclista, que é
colocado à margem (das vias e das politicas), aproveita-se dessa posição
no trânsito, muitas vezes delegada, para resistir a um modo hegemônico
de circulação e de relação com a cidade.
Desse modo, assumir um posicionamento central na pista e se
portar de maneira visível para os demais integrantes do trânsito são
estratégias comportamentais que localizam corporalmente o ciclista no
espaço, delimitam seu lugar na via e deflagram um posicionamento
político diante das disputas nas ruas. Nessas tensões cotidianas, os
ciclistas são pessoas dispostas a se abrirem para o regime estético da
cidade, delineando seus lugares pelas afecções que esses espaços
produzem nos corpos e admitindo a possibilidade de se sentir parte da
cidade, de se identificar com ela.
Como características cognitivas, identificou-se que a bicicleta é
um modo de acessar e conhecer a cidade. A escolha por esse modal
passa por avaliações ambientais e pessoais prévias, que indicam o bem
estar, gostar de pedalar, o contato com o lugar e a economia de tempo
como fatores importantes. Assim, se os motivos/benefícios da bicicleta
se referem principalmente à esfera individual, as barreiras sinalizam a
preponderância dos fatores político-ambientais, remetendo às condições
climáticas, ao planejamento urbano, às formas da cidade e à cultura da
bicicleta. Esse processo de avaliação no uso da bicicleta implica em um
modo de conhecer a cidade. Nos deslocamentos diários, os ciclistas
orientam seus trajetos e se localizam no espaço a partir de elementos do
ambiente natural ou construído, dando a esses organizadores o tom de
familiaridade.
De maneira menos marcante, mas não menos importante, os
conteúdos que remetem a comportamentos sinalizaram que o ambiente e
a cultura ciclística convocam o ciclista a se posicionar no espaço. Impor-
se no centro da pista e sinalizar corporalmente sua existência é um
chamado comportamental pelo lugar e uma demanda para a inscrição do
ciclista no corpo da cidade. Além disso, os indicadores comportamentais
da identidade de lugar em ciclistas se desdobram em diversas esferas da
relação pessoa-ambiente: por um lado, o hábito de pedalar pode ser um
convite à produção de um modo de vida saudável, afetando outras
esferas da vida pessoal; por outro lado, sob o enfoque da cultura da
mobilidade nas cidades, indica-se a possibilidade de construção de
práticas de compartilhamento das ruas e dos demais espaços da cidade.
Destacam-se dois processos que se sobressaíram na síntese entre
cognição, afeto e comportamento, elementos fundamentais na
construção da identidade de lugar. Em primeiro lugar, para que o espaço

154
se torne próprio, ou para ser significado, ele deve ser antes percebido,
conhecido e representado, processo demonstrado pelos ciclistas e
inscrito no lugar por eles demandado. Portanto, o processo de
apropriação do espaço é fundamental na produção do senso de
pertencimento e de continuidade no espaço e no tempo.
Em segundo lugar, a inscrição do ciclista nesse lugar fomenta a
criação de uma paisagem geral que se denominou de imagem da cidade.
Por vezes retratada metaforicamente, sua composição reúne afeto e
cognição por demandar a implicação do ciclista com a cidade, o
conhecimento dos espaços bem como avaliações e juízos acerca dos
mesmos. Foi uma estratégia utilizada para retratar o modo como se
veem na cidade, como concebem a vida nesse lugar, como atualizam
suas histórias de vida e suas vivências de outros tempos e espaços no
terreno de Florianópolis, bem como as estratégias possíveis para a
construção de outros modos de se relacionarem com ele.
Assim, tomam-se como indicadores da identidade de lugar em
ciclistas a significação do entorno, a potência de afetar e ser afetado pela
cidade, de tomar posição no espaço e de se apropriar dele. Com isso,
sugere-se que a criação de outros modos de viver e circular na cidade,
que pressuponham encontros, trocas e afecções passa pelo modo como
as pessoas se apropriam e significam os entornos.
Se em Proshansky et al. (1983) a identidade de lugar se refere
principalmente a cognições sobre o mundo físico, ou seja, a uma
estrutura situada na mente, entendeu-se que a afetividade é aquilo que
―dá o tom‖ e redimensiona a relação pessoa-ambiente. O que a
experiência do ciclista sugere para a compreensão da identidade de lugar
é que o deslocamento dessa estrutura mental para a relação pessoa-
cidade permite pensar o lugar e a identidade em função das marcas
deixadas.
Apesar de os ciclistas serem afetados por fragmentos da cidade –
paisagens, cenários, impressões e imagens –, a pedalada pode ser
mediadora de um sentimento pela cidade em sua totalidade, como o de
lar. Nesse sentido, a identidade de lugar diz sobre a possibilidade de
integrar seus aspectos, formar uma imagem única ainda que
multifacetada, que afeta de diversas maneiras. Além de ser um modo de
conceber o espaço é também uma forma de ligar os pedaços da cidade,
produzindo ―ilhas‖ afetivas de pertencimento e reconhecimento entre
pares, os lugares. Ilhas dentro da ilha, uma imagem evocada por um dos
participantes e que nesse momento parece fazer mais sentido ao aliar
identidade e lugar.

155
Assim, além de passar pelo reconhecimento de que o próprio
ciclista e o entorno formam uma unidade de múltiplas determinações, a
identidade de lugar passa pela consideração, por parte do poder público
da cidade e dos citadinos, de que o ciclista é parte desse corpo. Portanto,
não se trata somente de criar vias, demarcar territórios, separar os
ciclistas em troca de uma pretensa segurança. Trata-se de criar
condições para as pessoas circularem e experimentarem a cidade da
maneira como escolherem, compartilhando suas vivências nesse lugar.
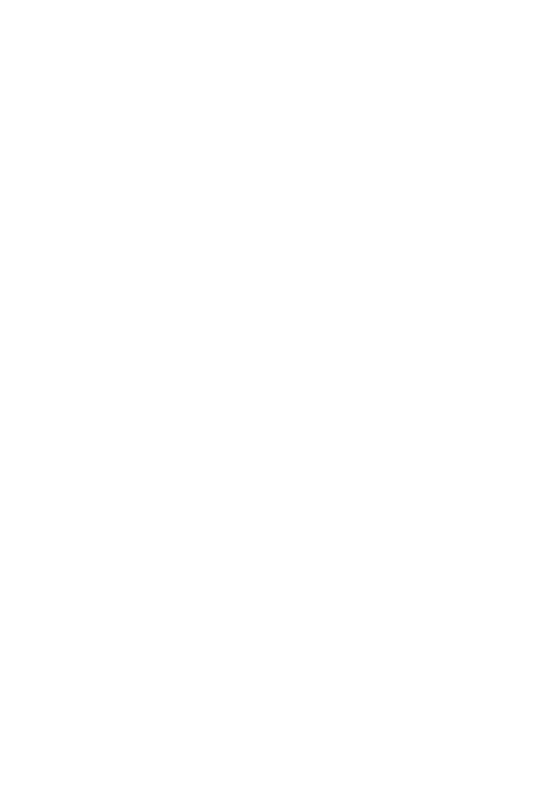
156

157
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo desta pesquisa foi analisar as características da
identidade de lugar em ciclistas da cidade de Florianópolis. Com o
propósito de descrever e explorar esse fenômeno buscou-se percorrer as
estruturas ciclísticas da região de um campus universitário, identificar as
barreiras, os facilitadores e os motivos para a escolha da bicicleta como
meio de transporte, caracterizar a afetividade na relação do ciclista com
a cidade e identificar o modo como essas pessoas se apropriam do
espaço.
De início, a exploração do campus universitário e de seus
entornos demonstrou que as características ambientais não facilitam a
circulação dos ciclistas. Como principais atributos, sinalizam-se as vias
estreitas e o intenso fluxo de automotores, o que muitas vezes coloca a
bicicleta à margem das vias. Se no sentido literal essa marginalização se
refere à exiguidade do espaço e à dificuldade de demarcação espacial de
uma via exclusiva para ciclistas, em termos relacionais ela não se
justifica, já que essas vias deveriam ser palco de compartilhamento entre
os diversos modais, e não de protagonismo dos automotores.
No entanto, a segregação no uso das ruas, com prioridade para a
circulação destes, encontra respaldo histórico na construção das cidades
modernas, que na tentativa de imprimir velocidade na vida urbana
acabou produzindo distanciamento e indiferença – ao outro e ao lugar.
Assim, entende-se que pedalar é uma maneira de resistir a essas
circunstâncias urbanas e seu uso pode sinalizar que outros modos de
relação e cooperação no trânsito são possíveis.
Os dados da primeira etapa da pesquisa estão diretamente
imbricados com a identificação das barreiras e facilitadores, bem como
os motivos para a escolha da bicicleta. São aparatos de uso coletivo que
convocam a uma leitura cognitiva do espaço e a uma postura
comportamental dos ciclistas, como avaliações a respeito dos atributos
ambientais que se desdobram em modos de uso e circulação. Essas
estruturas foram avaliadas negativamente pelos ciclistas, sinalizando a
predominância de motivos pessoais para a escolha da bicicleta e os
ambientais e políticos como entrave à pedalada.
Não se pode negar o fato de que a UFSC é alimentada por uma
ciclovia bem avaliada pela comunidade (que a liga diretamente com as
pontes passando pela região central da cidade), e que esforços políticos
têm sido movidos para melhorar a condição de circulação por bicicletas.
No entanto, os acessos às demais ciclovias e ciclofaixas são desconexos,
distanciando-se de uma proposta de rede cicloviária. Desse modo, criar
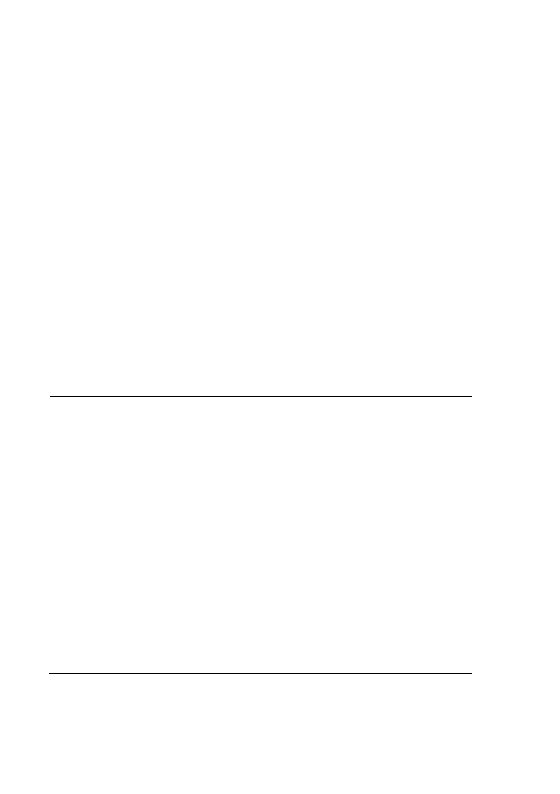
158
condições de permanência e circulação, como segurança nos
bicicletários e vias para o tráfego seguro de bicicletas, seria apenas uma
das estratégias para induzir a demanda de uso desse modal e estimular a
adesão de mais pessoas ao transporte com bicicletas.
A respeito das estruturas ciclísticas que a universidade oferece, é
necessário ressaltar que o uso feito pelos ciclistas pode sugerir algo
sobre sua qualidade. Sua distribuição no campus, os locais de instalação
e o formato dos paraciclos são algumas características que devem ser
consideradas na eventual expansão dessas estruturas, e não somente
presença, ausência e quantidades. Observou-se que mesmo com a
existência de paraciclos, muitos ciclistas prendem suas bicicletas em
árvores ou postes, sob o pretexto de facilidade para estacionar. Os
aspectos relacionados às formas e aos usos feitos dessas estruturas
devem ser considerados pela administração do campus na instalação de
novos paraciclos e bicicletários, atentando para a centralidade do local,
iluminação, proximidade de câmeras e guaritas de vigilância e formato
do suporte para bicicletas. Essas sugestões estão esquematizadas na
Tabela 8.
Tabela 8. Sugestões para bicicletários e paraciclos
Sugestões sobre segurança
- Locais de grande circulação de pessoas;
- Locais iluminados;
- Locais monitorados por câmeras ou por
guaritas de vigilância;
Sugestões sobre uso
- Locais acessíveis;
- Espaço para manobras;
- Formato do suporte, que garanta
segurança e praticidade (por exemplo,
barras que favoreçam prender a bicicleta
em pontos diferentes, conforme Figura
6);
- Distribuição homogênea das vagas no
campus;
- Verificar os locais de maior circulação
de pessoas (Restaurante Universitário,
Centro de Eventos, Hospital
Universitário, entre outros);
Entende-se que a fluidez no trânsito, promovida por
infraestruturas que produzem mobilidade, proporciona a articulação dos

159
lugares da cidade, experimentados em movimento. Nesse sentido,
destaca-se a importância das dimensões urbana, política e subjetiva da
mobilidade, pois a criação de condições de circulação e acesso
favorecem a experiência da cidade, bem como a produção de
significados, reforçando a construção da identidade com o lugar onde
transita. Nesses termos, os sentidos se dão pela conexão entre os espaços
e pela fluidez do ir e vir entre eles.
Produção de sentidos e significados que se torna possível pela
mediação afetiva, cognitiva e pela implicação corporal do ciclista com a
cidade. Este se dispõe às aberturas e encontros com o outro e com o
ambiente, decorrência da implicação ético-afetiva com o entorno. Nesse
sentido, a categoria de afetividade mostrou-se como uma alternativa
possível na análise da identidade de lugar em ciclistas, pois medeia a
potência de as pessoas agirem e transformarem os espaços por onde
transitam. Estar implicado com o entorno indica, portanto, a
possibilidade de escapar à compreensão da cidade como um território de
passagem, um pano de fundo desligado das pessoas que nela transitam e
de entendê-la como núcleo produtor de sentidos e lugares, estes
compartilhados, vivenciados, intersubjetivos.
Sob a perspectiva da afetividade, pedalar na cidade pode ser uma
oportunidade de vivenciá-la em outra velocidade, experimentar seu
território por outros ângulos, percorrer seus caminhos no tempo
suportado pelo próprio corpo. Para além da objetividade dos
deslocamentos utilitários e dos trajetos cujas distâncias são empecilhos
para alcançar o destino final, o uso da bicicleta como meio de transporte
pode ser um modo de produzir vínculos entre pessoa e cidade. Nesse
sentido, os ciclistas parecem estar abertos ao regime estético proposto
pela cidade e de sentir algo com ela.
A mesma implicação afetiva da pessoa com a cidade que produz a
identidade de lugar aponta para elementos de apropriação do espaço,
modo complementar para a explicação do fenômeno enfocado neste
estudo. O modo como os ciclistas se apropriam do espaço indica um
conhecimento territorial, uma demanda de inscrição simbólica no espaço
e a necessidade do posicionamento corporal para garanti-lo. Nesse
sentido, a criação de vínculos afetivos com os entornos implica na
criação de modos mais solidários de uso do espaço e de condutas que
visem tanto ao compartilhamento das vias quanto à conservação do
ambiente. Sob a ótica do ciclista, apropriar-se do espaço é uma via para
produzir lugares, ―ilhas‖ de intensidades afetivas que resistem àquilo
que na cidade é somente piche e concreto. Desse modo, o transporte
―lento‖ pode ser uma maneira de estar em contato, de se permitir afetar

160
pelo entorno, de vivenciar o lugar e estar aberto à relação com os outros
e com o ambiente.
A articulação entre as esferas afetiva, cognitiva e comportamental
encaminharam à compreensão da identidade de lugar em ciclistas como
uma composição com a cidade mediada por um sentimento de unidade
com seus lugares, admitindo a possibilidade de integrá-la em
movimento. Se as ruas são o palco da velocidade, a lentidão dos ciclistas
é um modo de reatar seus pedaços e concebê-lo de outra maneira.
Entretanto, é necessário lembrar: mesmo que mesmo a velocidade
experimentada pelos ciclistas na cidade seja menor que a dos
automóveis, eles reivindicam para si a possibilidade de se mover
rapidamente e sem fricção.
Considerar que o ciclista compõe com a cidade é entender que ele
não é um personagem num cenário, mas um todo com o ambiente, visto
que ambos compartilham a mesma objetividade e a mesma subjetividade
(Sawaia, 2000). Essa implicação ética com o outro-ambiente possibilita
o sentimento de cuidado, estima e conexão com o ambiente,
possibilitando ações mais responsáveis em relação ao entorno. Essas são
algumas implicações da continuidade histórica do lugar, ou seja, de
entendê-lo como algo que se perpetua no tempo e nas práticas sociais.
No terreno da psicologia ambiental, promover a tensão entre
identidade de lugar e mobilidade urbana por bicicletas permitiu pensar
essas categorias pelo movimento que promovem no cotidiano e pela
vitalidade que imprimem na cidade, a despeito da demarcação do lugar
em um território específico, como a nação, povo, lar, entre outras
categorias que podem sugerir totalizações. O lugar em movimento é
uma totalidade inacabada, que sempre devém outro de acordo com os
fluxos que perpassam em sua superfície. Como foi enfatizado
anteriormente, o lugar se define pela vida que nele acontece.
Desse modo, a compreensão da identidade de lugar pela
afetividade tem sua importância reforçada, pois permitiu sugerir a
abertura da noção de identidade, entendida como identificações em
curso, e de lugar, como afecções do corpo inscritas no espaço e no
tempo. Se a experiência da mobilidade urbana é corporal e implica em
sentir a cidade em um recorte espaço-temporal, pedalar é um modo
possível de conceber o espaço e o tempo, dimensões que sintetizam
lugares, histórias e subjetividades.
Identidade de lugar não pode ser resumida ao conhecimento do
lugar. Procurou-se enfatizar o status social da identidade, produzida por
agenciamentos coletivos e discursivos. É necessário reforçar que os
discursos são componentes importantes na construção da identidade,

161
sendo necessário lançar o olhar mais detido a isso. Exemplo disso foi o
discurso de gênero que emergiu transversalmente no conteúdo das
entrevistas, principalmente na fala das mulheres. Ainda que as
diferenças entre gênero não tenham sido o enfoque do trabalho, é
importante enfatizar que elas marcam presença importante na
mobilidade por bicicletas e evidenciam outras formas de desigualdade
na prática cotidiana do ciclismo.
É necessário lembrar que a cidade não é vivida da mesma forma
por todos. Apesar de ela estar aí e ser um dado concreto para seus
moradores, suas condições de uso, acesso e trânsito são desiguais. Por
isso, as investigações da e na cidade exigem pensá-la como um todo,
agenciada por vetores políticos, econômicos, subjetivos e estéticos. Os
discursos dos ciclistas, acessados pelas entrevistas semi-estruturadas e
por suas inscrições nas ruas da cidade, foram fontes importantes para
acercar os objetivos desse estudo e compreender como pessoa e
ambiente se afetam e se constituem mutuamente, bem como as
grandezas desses vetores se cruzam em uma prática cotidiana que é o
deslocamento por bicicletas. Outra possibilidade técnica de abordagem
seria a pedalada conjunta, que tem sido utilizada em outros estudos
sobre a mobilidade por bicicletas (McIlveny, 2014). Nestas, os
comportamentos poderiam ser analisados pela observação em contexto,
e não somente pelo autorrelato do participante.
Quanto aos aspectos cognitivos da relação do ciclista com a
cidade, a aproximação foi feita pela noção de cognição ambiental, como
um modo de avaliar e produzir conhecimento a partir da representação e
significação do entorno. Trata-se de um modo de conhecer o ambiente
que auxilia na resolução dos problemas diários, como referendam os
estudos conduzidos em psicologia ambiental e, em última análise,
localizam a cognição como um processo puramente mental. Para a
investigação do contexto de mobilidade nas cidades, uma aproximação
possível do fenômeno seria pela noção ampliada de cognição, que a
considere um modo de invenção de si mesmo e do mundo. Alinhado
com estudos da psicologia e da biologia, por exemplo, esse olhar
permite pensar a cognição como prática de invenção de regimes
cognitivos diversos, pautados no co-engendramento de si e do mundo.
Estudos futuros sobre a cognição na psicologia ambiental poderiam
seguir essa orientação teórica e epistemológica.
No que se refere à escolha dos participantes e do local de
pesquisa, enfatiza-se que ela se deu em função da viabilidade de acesso
e dos acontecimentos recentes da cidade, como o desenvolvimento do
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis e a

162
proposta de construção de ciclovias no entorno da UFSC. Além disso, o
uso da técnica da ―bola de neve‖ no acesso aos participantes conduziu
apenas ao contato com estudantes universitários, reduzindo o espectro
possível de vivências e discursos sobre a cidade e o transporte por
bicicletas. Em termos metodológicos, essa técnica pode ter produzido
dados homogêneos (ao invés de prezar pela multiplicidade de
experiências), principalmente no que concerne à faixa etária, condição
socioeconômica e função que os participantes ocupam dentro da
universidade.
Desse modo, não se pode dizer que os dados refletem o contexto
de Florianópolis, mesmo que em alguns pontos as percepções sobre o
ciclismo na cidade e as experiências afetivas que nela se inscrevem
possam coincidir. Uma vez que Florianópolis passa pelo processo de
discussão sobre as políticas de mobilidade urbana, uma possibilidade
para aprofundar essa investigação seria acessar os demais moradores da
cidade, comparando os afetos, cognições e comportamentos referentes
ao meio físico no desenvolvimento dessas políticas, visando relacionar o
modo como o aperfeiçoamento das condições de circulação por
bicicletas influenciam na construção da identidade de lugar.
Por fim, no que se refere a estudos da e na cidade, aponta-se a
importância metodológica de conhecer e viver o local de pesquisa.
Diferente de misturar avaliações pessoais com o conteúdo dos dados, na
tentativa de enviesá-los ou de produzir conhecimento baseado em
opiniões, deixar-se afetar pelo local pesquisado e se inserir na dinâmica
urbana permite praticar a pesquisa de outra maneira. Assim, a pesquisa
pode ser vivida e não somente pensada, abrindo margem para a escuta
daquilo que não é dito no contexto da entrevista com os participantes,
mas para os discursos que atravessam a prática investigada. Nesse
sentido, a afetividade não indica somente a implicação do ciclista com a
cidade, mas também do pesquisador com o fenômeno de interesse,
admitindo-se a possibilidade de se acercar dos dados de maneira mais
próxima e íntima.
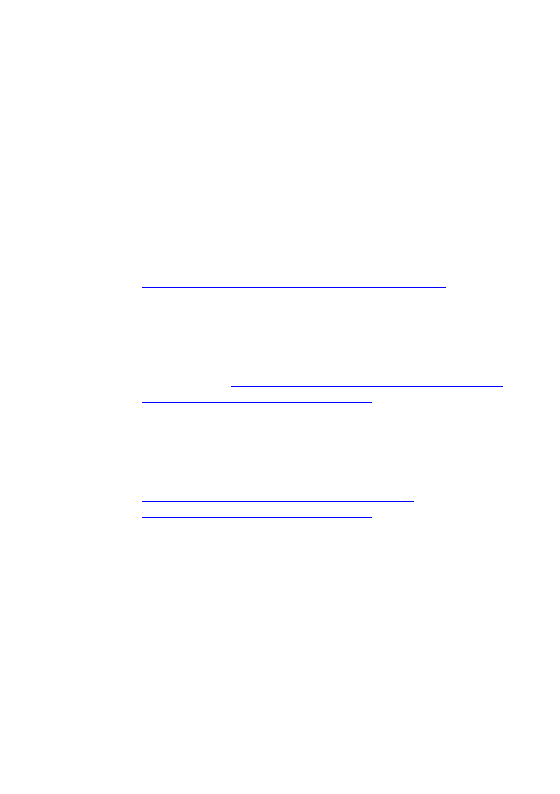
163
REFERÊNCIAS
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational
Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211. doi:
10.1016/0749-5978(91)90020-T
Aldred, R. (2013). Incompetent or too competent? Negotiating everyday
cycling identities in a motor dominated society. Mobilities, 8
(2), 252-271. doi: 10.1080/17450101.2012.696342
Araújo, E. R. (2004). A mobilidade como objeto sociológico.
Recuperado em 30 de abril de 2015, de:
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/3913.
Araújo, M. R. M., Sousa, D. A., Oliveira, J. M., Jesus, M. S., Sá, N. R.,
Santos, P. A. C., Macedo Jr., R. & Lima, T. C. (2009a). Andar
de bicicleta: contribuições de um estudo psicológico sobre
mobilidade. Temas em Psicologia, 17(2), 481-495. Recuperado
de
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413-
389X2009000200018&script=sci_arttext
Araújo, M. R. M., Sousa, D. A., Oliveira, J. M., Jesus, M. S., Sá, N. R.,
Santos, P. A. C., Macedo Jr., R. & Lima, T. C. (2009b).
Bicicleta e transferência modal: uma investigação em Aracaju.
Temas em Psicologia, 17(2), 463-480. Recuperado de
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413-
389X2009000200017&script=sci_arttext
Augé, M. (2012). Não lugares: introdução a uma antropologia da
supermodernidade. 9ª ed. Campinas, SP: Papirus.
Bacchieri, G., Barros, A. J. D., dos Santos, J. V. & Gigante, D. P.
(2010). Cycling to work in Brazil: users profile, risk behaviors,
and traffic accident occurrence. Accident Analysis and
Prevention, 42, 1025-1030. doi: 10.1016/j.aap.2009.12.009
Basu, S. & Vasudevan, V. (2013). Effect of bicycle friendly roadway
infrastructure on bicycling activities in urban India. Procedia -
Social and Behavioral Sciences, 104, 1139-1148. doi:
10.1016/j.sbspro.2013.11.210
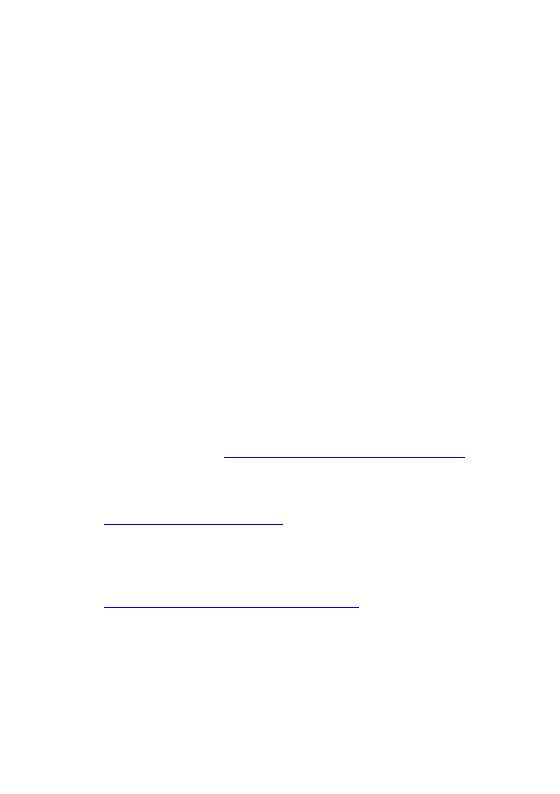
164
Bauman, Z. (1999). Globalização: as consequências humanas. Rio de
Janeiro: Zahar.
Bauman, Z. (2005). Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor.
Bomfim, Z. A. C. (2008). Afetividade e ambiente urbano: uma proposta
metodológica pelos mapas afetivos. J. Q. Pinheiro & H.
Günther (orgs.). Métodos de pesquisa nos estudos pessoa-
ambiente. São Paulo: Casa do Psicólogo.
Bomfim, Z. A. C. (2010). Cidade e afetividade: estima e construção dos
mapas afetivos de Barcelona e São Paulo. Fortaleza: Edições
UFC.
Bonham, J. & Koth, B. (2010). Universities and the cycling culture.
Transportation Research Part D, 15, 94-102. doi:
10.1016/j.trd.2009.09.006
Buehler, R. (2012). Determinants of bicycle commuting in the
Washington, DC region: the role of bicycle parking, cyclist
showers, and free car parking at work. Transportation Research
Part D, 17, 525-531. http://dx.doi.org/10.1016/j.trd.2012.06.003
Carlos, A. F. A. (2007). O lugar no/do mundo. São Paulo, FFLCH.
Recuperado em 31 de maio de 2015, de
http://www.fflch.usp.br/dg/gesp.
Casakin, H., Hernández, B. & Ruiz, C. (2015). Place attachment and
place identity in Israeli cities: the influence of city size. Cities,
42,
part
B,
p.
224-230.
http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2014.07.007
Cavalcante, S. & Elias, T. F. (2011). Apropriação. S. Cavalcante & G.
A. Elali (orgs.). Temas básicos em Psicologia Ambiental.
Petrópolis, RJ: Vozes.
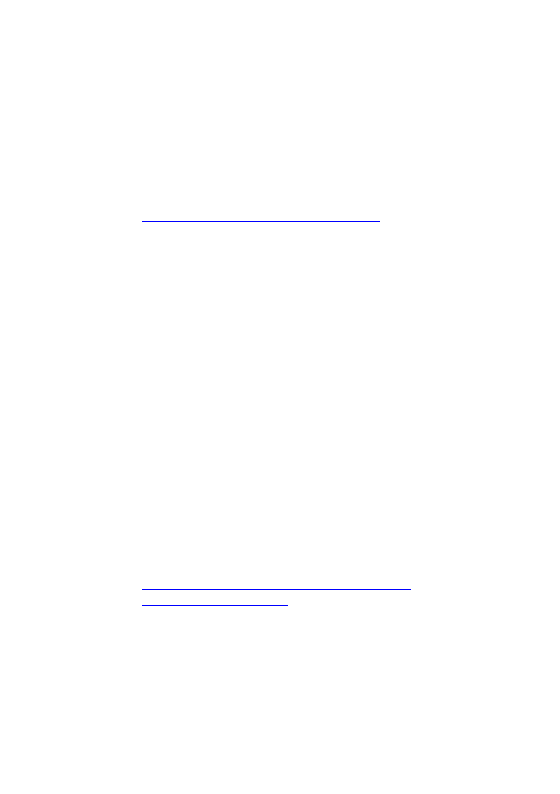
165
CECCA (2001). Qualidade de vida e cidadania: a construção de
indicadores socioambientais da qualidade de vida em
Florianópolis. Florianópolis: Cidade Futura.
Chataway, E. S., Kaplan, S., Nielsen, T. A. S. & Prato, C. G. (2014).
Safety perceptions and reported behavior related to cycling in
mixed traffic: a comparison between Brisbane and Copenhagen.
Transportation Research Part F, 23, 32-43.
http://dx.doi.org/10.1016/j.trf.2013.12.021
Ciampa, A. (1995). Identidade. S. T. M, Lane & W. Codo (org.).
Psicologia social: o homem em movimento. São Paulo: Editora
Brasiliense.
Cristo, F. de & Günther, H. (2015). Hábito: por que devemos estudá-lo e
o que podemos fazer? Psico, 46 (2), 233-242. doi:
http://dx.doi.org/10.15448/1980-8623.2015.2.17816
Daley, M. & Rissel, C. (2011). Perspectives and images of cycling as a
barrier or facilitator of cycling. Transport Policy, 18, 211-216.
doi: 10.1016/j.tranpol.2010.08.004
de Bruijn, G-J., Kremers, S. P. J., Singh, A., van den Putte, B. & van
Mechelen, W. (2009). Adult active transportation: adding habit
strength to the Theory of Planned Behavior. American Journal
of
Preventive
Medicine,
36(3),
189-194.
doi:10.1016/j.amepre.2008.10.019
Brasil (2012) Lei N º 12.587. Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Recuperado em 29 de setembro de 2014, de:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12587.htm.
Devine-Wright, P. & Clayton, S. (2010). Introduction to the special
issue: place, identity and environmental behavior. Journal of
Environmental Psychology, 30, 267-270. doi: 10.1016/S0272-
4944(10)00078-2
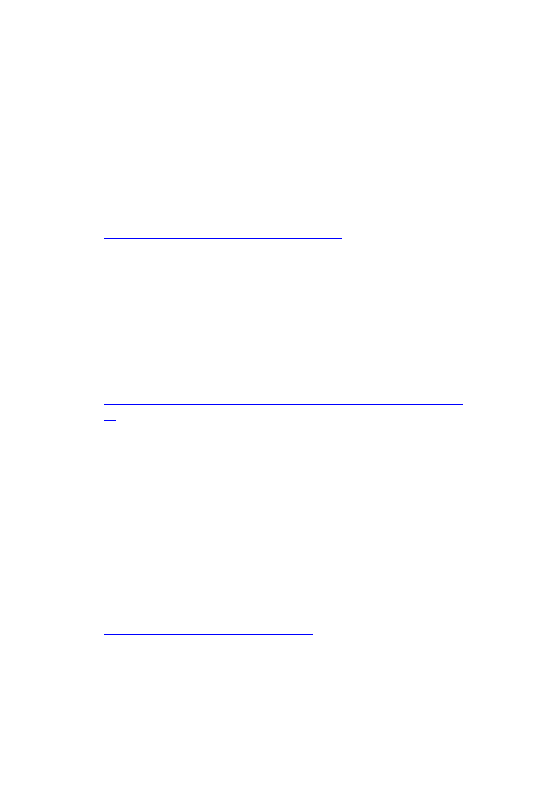
166
de Waard, D., Edlinger, K. & Brookhuis, K. (2011). Effects of listening
to music, and of using a handheld and handsfree telephone on
cycling behaviour. Transportation Research Part F, 14, 626-
637. doi:10.1016/j.trf.2011.07.001
de Waard, D., Lewis-Evans, B., Jelijs, B., Tucha, O. & Brookhuis, K.
(2014). The effects of operating a touch screen smartphone and
other common activities performed while bicycling on cycling
behaviour. Transportation Research Part F, 22, 196-206.
http://dx.doi.org/10.1016/j.trf.2013.12.003
Dewes, J. O. (2009). Amostragem em bola de neve e respondent-driven
sampling: uma descrição dos métodos. Monografia apresentada
para obtenção do grau de Bacharel em Estatística, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, RS, Brasil.
Dixon, J. & Durrheim, K. (2000). Displacing place-identity: a discursive
approach to locating self and other. British Journal of Social
Psychology,
39,
27-44.
Recuperado
de
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1348/014466600164318/p
df
D‘Mello, M. & Sahay, S. (2007). ―I am kind of nomad where I have to
go places and places‖… Understanding mobility, place and
identity in global software work from India. Information and
Organization,
17,
162-192.
doi:
10.1016/j.infoandorg.2007.04.001
Engbers, L. H & Hendriksen, I. J. M. (2010). Characteristics of a
population of commuter cyclist in the Netherlands: perceived
barriers and facilitators in the personal, social and physical
environment. International Journal of Behavioral Nutrition and
Physical
Activity,
7:89.
Recuperado
de
http://www.ijbnpa.org/content/7/1/89
Eryiğit, S. & Ter, U. (2014). The effects of cultural values and habits on
bicycle use - Konya sample. Procedia - Social and Behavioral
Sciences, 140, 178-185. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.04.406
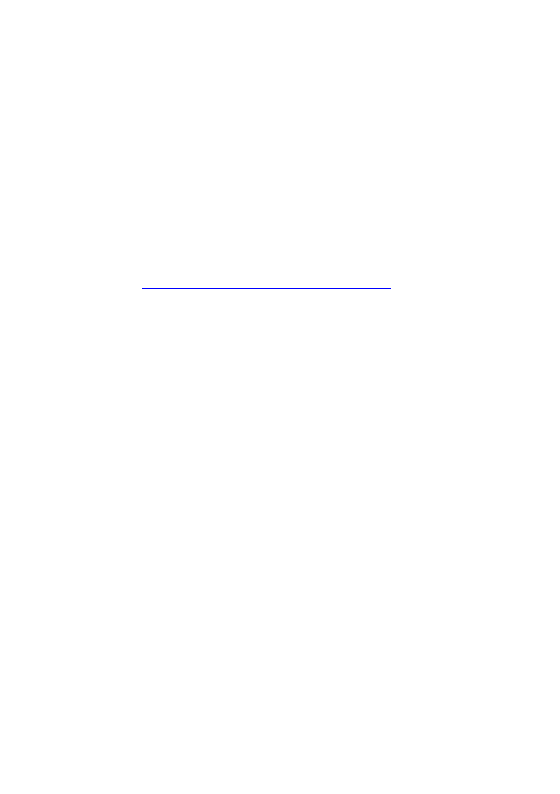
167
Farr, R. M. (1998). As raízes da psicologia social moderna. Tradução:
Pedrinho A. Guareschi e Paulo V. Maya. Petrópolis: Editora
Vozes.
Flynn, B. S., Dana, G. S., Sears, J. & Aultman-Hall, L. (2012). Weather
factor impacts of commuting to work by bicycle. Preventive
Medicine, 54, 122-124. doi:10.1016/j.ypmed.2011.11.002
Forward, S. E. (2014). Exploring people's willingness to bike using a
combination of the theory of planned behavioural and the
transtheoretical model. Revue européenne de psychologie
appliquée,
64,
151-159.
http://dx.doi.org/10.1016/j.erap.2014.04.002
Franco, L. P. C., Campos, V. B. G. & Monteiro, F. B. (2014). A
characterisation of commuter bicycle trips. Procedia - Social
and Behavioral Sciences, 111, 1165-1174. doi:
10.1016/j.sbspro.2014.01.151
Friese, S. (2014). ATLAS.ti 7 Manual. Berlin: Scientific Software
Development GmbH.
Gatersleben, B. & Haddad, H. (2010). Who is the typical bicyclist?
Transportation Research Part F, 13, 41-48.
doi:10.1016/j.trf.2009.10.003
Gehl, J. (2010) Cities for people. London: Island Press.
González Rey, F. L. (2002). Pesquisa qualitativa em psicologia:
caminhos e desafios. São Paulo: Pioneira Thomson Learning.
Guattari, F. (1999). As três ecologias. Campinas, SP: Papirus.
Guest, G., Bunce, A. & Johnson, L. (2006). How many interviews are
enough? An experiment with data saturation and variability.
Field Methods, 18 (1), p. 59-82. doi:
0.1177/1525822X05279903
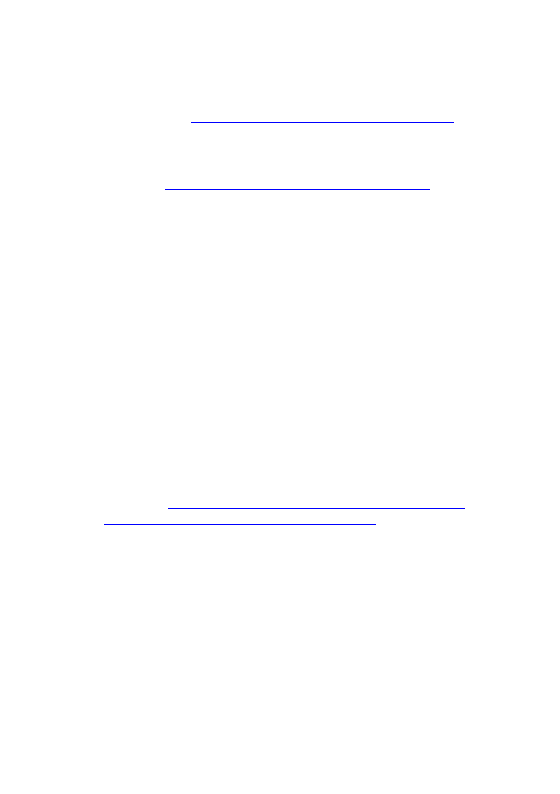
168
Günther, H. (2003). Mobilidade e affordance como cerne dos estudos
pessoa-ambiente. Estudos de Psicologia, 8(2), 273-280.
Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/epsic/v8n2/19043.pdf
Hansen, K. B. & Nielsen, T. A. S. (2014). Exploring characteristics and
motives of long distance commuter cyclists. Transport Policy,
35, 57-63. http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2014.05.001
Hardt, M., Negri, A. (2001). Império. 2ª ed . Rio de Janeiro: Record.
Heinen, E., Van Wee, B. & Maat, K. (2010). Commuting by bicycle: an
overview of the literature. Transport Reviews, 30 (1), 59-96.
doi: 10.1080/01441640903187001
Heinen, E., Maat, K. & van Wee, B. (2011). The role of attitudes toward
characteristics of bicycle commuting on the choice to cycle to
work over various distances. Transportation Research Part D,
16, 102-109. doi:10.1016/j.trd.2010.08.010
Hernández, B., Hidalgo, M. C., Salazar-Laplace, M. E. & Hess, S.
(2007). Place attachment and place identity in natives and non-
natives. Journal of Environmental Psychology, 27, 310-319.
doi: 10.1016/j.jenvp.2007.06.003
Higuchi, M. I. G., Kuhnen, A. & Bomfim, Z.A.C. (2011). Cognição
ambiental. S. Cavalcante & G. A. Elali (orgs.). Temas básicos
em Psicologia Ambiental. Petrópolis, RJ: Vozes.
Hissa, C. E. V. (2012). A lentidão no lugar da velocidade. Redobra, 9, p.
75-82.
Hissa, C. E. V. & Corgosinho, R. R. (2006). Recortes de lugar.
Geografias, 2 (1), p. 07-21.
Hissa, C. E. V. & Melo, A. F. (2008). O lugar e a cidade: conceitos do
mundo contemporâneo. Hissa, C. E. V. (org). Saberes
ambientais: desafios para o conhecimento disciplinar. Belo
Horizonte: Editora UFMG.
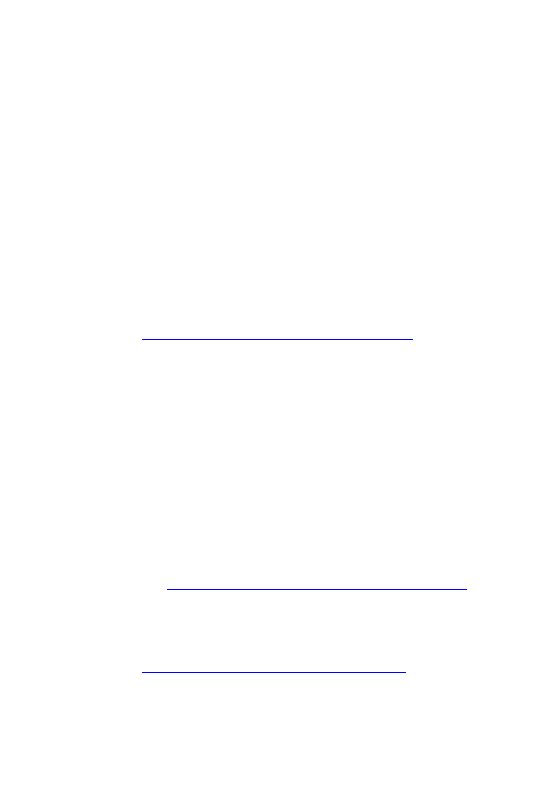
169
Hissa, C. E. V. & Nogueira, M. L. M. (2013). Cidade-corpo. Revista
UFMG, 20 (1), p. 54-77.
Izzi, A. L. M. (2013). Análise de equipamentos de apoio aos modos de
transporte coletivos e não motorizados no campus sede da
Universidade Federal de Santa Catarina. Dissertação
(Mestrado em Arquitetura). Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis.
Jacques, M. G. C. (2013). Identidade. M. N. Strey et al. Psicologia
social contemporânea: livro texto. Petrópolis, RJ: Vozes.
Jensen, A. (2013). Controlling mobility, performing borderwork: cycle
mobility in Copenhagen and multiplication of boundaries.
Journal of transportation geography, 30, p. 220-226. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2013.02.009
Jensen, O. B. (2009). Flows of meaning, cultures of movements – urban
mobility as meaningful everyday practices. Mobilities, 4 (1), p.
139-158. doi: 10.1080/17450100802658002
Kakefuda, I., Stallones, L. & Gibbs, J. (2009). Discrepancy in bicycle
helmet use among college students between two bicycle use
purposes: commuting and recreation. Accident Analysis and
Prevention, 41, 513-521. doi:10.1016/j.aap.2009.01.014
Kienteka, M., Rech, C. R., Fermino, R. C. & Reis, R. S. (2012).
Validade e fidedignidade de um instrumento para avaliar as
barreiras para o uso de bicicleta em adultos. Revista Brasileira
de Cineantropometria e Desempenho Humano, 14 (6), 624-635.
doi: http://dx.doi.org/10.5007/1980-0037.2012v14n6p624
Kienteka, M., Reis, R. S. & Rech, C. R. (2014). Personal and behavioral
factors associated with bicycling in adults from Curitiba, Paraná
State, Brazil. Cad. Saúde Pública, 30 (1), 79-87.
http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00041613
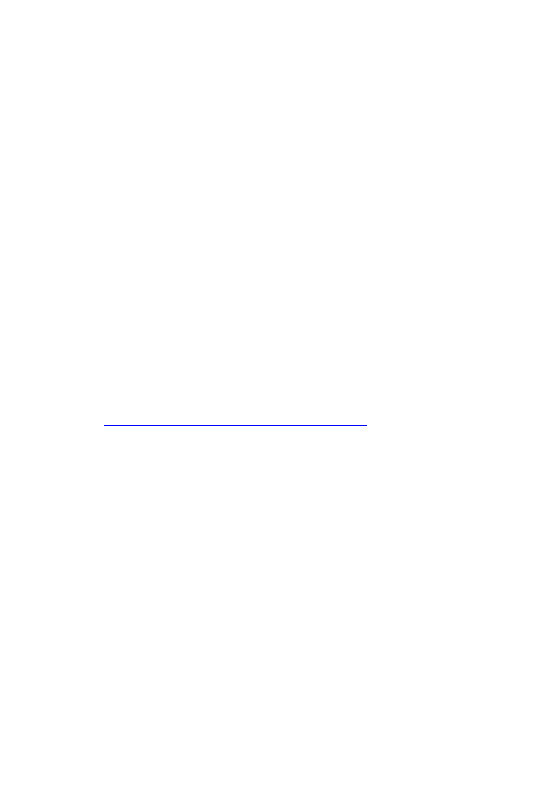
170
Korpela, K. M. (1989). Place-identity as a product of environmental
self-regulation. Journal of Environmental Psychology, 9, 241-
256. doi: 10.1016/S0272-4944(89)80038-6
Kuhnen, A. (2002). Lagoa da Conceição: meio ambiente e modos de
vida em transformação. Florianópolis: Cidade Futura.
Lynch, K. (1997). A imagem da cidade. 1ª ed. São Paulo: Martins
Fontes.
Magnani, J. G. C. (2002). De perto e de dentro: notas para uma
etnografia urbana. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 17
(49), p. 11-29.
McIlvenny, P. (2014). Vélomobile formations-in-action: biking and
talking together. Space and Culture, 17 (2), 137-156. doi:
10.1177/1206331213508494
McKenna, J. & Whatling, M. (2007). Qualitative accounts of urban
commuter cycling. Health Education, 107 (5), p. 448-462. doi:
http://dx.doi.org/10.1108/09654280710778583
Melo, A. F. & Hissa, C. E. V. (2004). O lugar e a cidade no mundo
contemporâneo. Maestria, 2, p. 25-40.
Minayo, M. S. C. (org) (2000). Pesquisa social: teoria, método e
criatividade. Petrópolis: Vozes.
Moser, G. (2012). Cities. S. D. Clayton (org.). The Oxford handbook of
environmental and conservation psychology. Oxford: Oxford
University Press.
Murtagh, N., Gatersleben, B. & Uzzel, D. (2012). Multiple identities and
travel mode choice for regular journeys. Transportation
Research Part F, 15, 514-524. doi: 10.1016/j.trf.2012.05.002
Nkurunziza, A., Zuidgeest, M., Brussel, M. & Van Maarseveen, M.
(2012). Examining the potential for modal change: motivators
and barriers for bicycle commuting in Dar-es-Salaam.
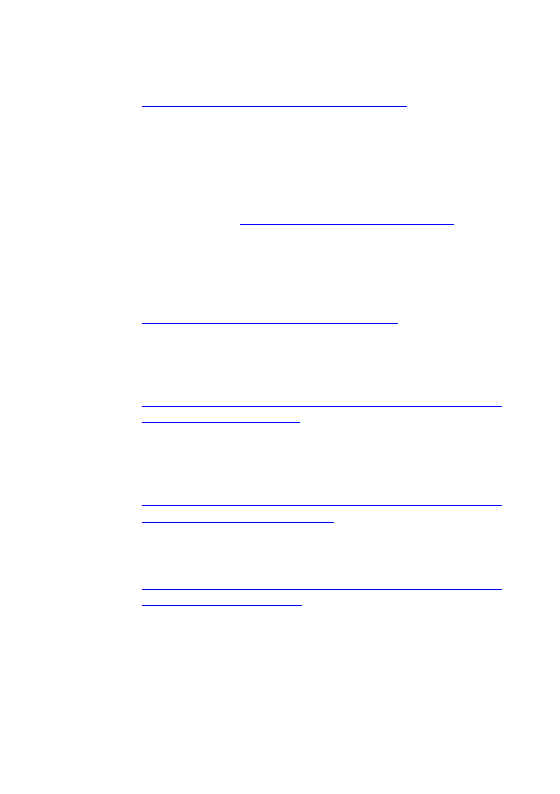
171
Transport
Policy,
24,
http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2012.09.002
249-259.
Olabuénaga, J. I. R. (2009). Metodología de la investigación cualitativa.
4ª edição. Bilbao, Universidad de Deusto.
Organização das Nações Unidas (2014). World Urbanization Prospects:
The 2014 Revision, CD-ROM Edition. Recuperado em 10 de
abril de 2015 de: http://esa.un.org/unpd/wup/CD-ROM/
Passafaro, P., Rimano, A., Piccini, M. P., Metastasio, R., Gambardella,
V., Gullace, G. & Lettieri, C. (2014). The bicycle and the city:
desires and emotions versus attitudes, habits and norms. Journal
of
Environmental
Psychology,
38,
76-83.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvp.2013.12.011
Plamus (2014a). Divulgação preliminar dos resultados de pesquisa:
Parte I – Visão Geral. Recuperado em 30 de outubro de 2015
de:
http://www.plamus.com.br/arquivos/plamus_apresentacao_resul
tados_parte1_visaogeral.pdf
Plamus (2014b). Divulgação preliminar dos resultados de pesquisa:
Parte II – Análise Territorial. Recuperado em 30 de outubro de
2015
de:
http://www.plamus.com.br/arquivos/plamus_apresentacao_resul
tados_parte2_analiseterritorial.pdf
Plamus (2014c). Apresentação dos resultados. Recuperado em 30 de
outubro
de
2014
de:
http://www.plamus.com.br/arquivos/plamus_apresentacao_resul
tados_claudia_martinelli.pdf
Pol, E. & Valera, S. (1999). Symbolisme de l‘espace public et identitée
sociale. Villes em Paralèlle, 28-29, p. 13-33.
Ponte, A. Q., Bomfim, Z. A. C. & Pascual, J. G. (2009). Considerações
teóricas sobre identidade de lugar à luz da abordagem histórico-
cultural. Psicologia Argumento, 27(59), 345-354. Obtido de
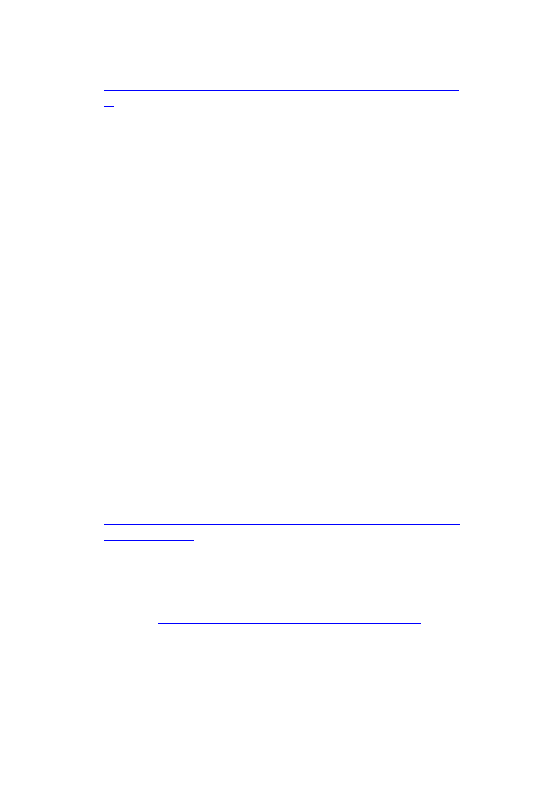
172
http://www2.pucpr.br/reol/index.php/PA?dd1=3375&dd99=vie
w.
Proshansky, H. M., Fabian, A. K. & Kaminoff, R. (1983). Place-
identity: physical world socialization of the self. Journal of
Environmental Psychology, 3, 57-83. doi: 10.1016/S0272-
4944(83)80021-8
Raquel, R. (2010). Espaço em transição: a mobilidade ciclística e os
planos diretores de Florianópolis. Dissertação (Mestrado em
Geografia). Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis.
Rivlin, L. G. (2003). Olhando o passado e o futuro: revendo
pressupostos sobre as interações pessoa-ambiente. Estudos de
Psicologia, 8 (2), p. 215-220.
Rolnik, R & Klintowitz, D. (2011). (I)mobilidade na cidade de São
Paulo. Estudos Avançados, 25 (71), p. 89-108.
Rolnik, S. (1997a). Toxicômanos de identidade. Subjetividade em tempo
de globalização. D. Lins (org.) Cultura e Subjetividade: saberes
nômades. Campinas: Papirus.
Rolnik, S. (1997b). Uma insólita viagem à subjetividade: fronteiras com
a ética e a cultura. Recuperado em 17 abr. 2015, de:
http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/SUELY/via
gemsubjetic.pdf.
Sallis, J. F., Conway, T. L., Dillon, L. I., Frank, L. D., Adams, M. A.,
Cain, K. l. & Saelens, B. E. (2013). Environmental and
demographic correlates of bicycling. Preventive Medicine, 57,
456-460. http://dx.doi.org/10.1016/j.ypmed.2013.06.014
Santos, M. (2014). A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e
emoção. 4ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo.
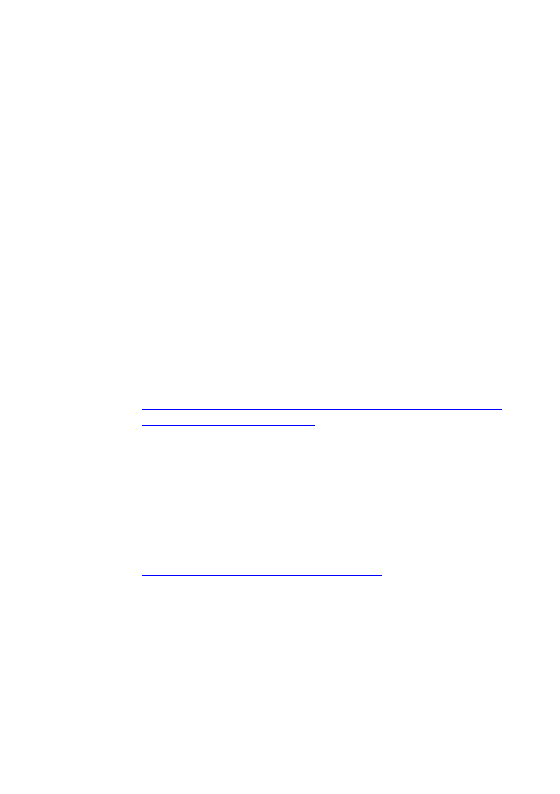
173
Sawaia, B. B. (1995). O calor do lugar: segregação urbana e identidade.
São Paulo em perspectiva, 9 (2), p. 20-24.
Sawaia, B. B. (1999). Comunidade como ética e estética da existência.
Uma reflexão mediada pelo conceito de identidade. PSYKHE, 8
(1), p. 19-25.
Sawaia, B. B. (2000). Por que investigo afetividade. Texto apresentado
para concurso de promoção na carreira para a categoria de
Professor Titular do Departamento de Sociologia da PUCSP.
São Paulo: PUC-SP.
Sennet, R. (2000). Street and office: two sources of identity. W. Hutton
& A. Giddens (Eds.) Global Capitalism. London, Jonathan
Cape.
Sennet, R. (2003). Carne e pedra. 3ª ed. Rio de Janeiro: Record.
Sennet (2006). The open city. Recuperado em 30 de outubro de 2015 de:
http://downloads.lsecities.net/0_downloads/Berlin_Richard_Sen
nett_2006-The_Open_City.pdf.
Schiller, P. L., Bruun, E. C. & Kenworthy, J. R. (2010). An introduction
to sustainable transportation: policy, planning and
implementation. London: Earthscan.
Sherwin, H., Chatterjee, K. & Jain, J. (2014). An exploration of the
importance of social influence in the decision to start bicycling
in England. Transportation Research Part A,
http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2014.05.001
Short, J. R. & Pinet-Peralta, L. M. (2010). No accident: traffic and
pedestrians in modern city. Mobilities, 5 (1), p. 41-59. doi:
10.1080/17450100903434998.
Silva, I. M. (2011). Por uma antropologia da mobilidade. Revista de
Ciências Sociais, 42 (2), p. 154-158.
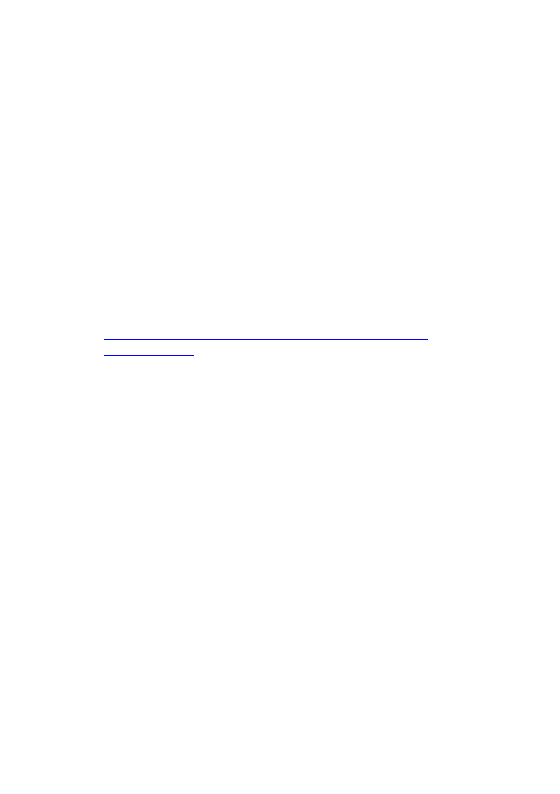
174
Simões, A., Gonçalves, G. A., Corgozinho, B. M. S. & Lopes, A. M. H.
(2011). A subjetividade fora da mente. Fractal: Revista de
Psicologia, 23 (2), p. 353-366.
Spencer, P., Watts, R., Vivanco, L. & Flynn. (2013). The effects of
environmental factors on bicycle commuters in Vermont:
influences of a northern climate. Journal of Transport
Geography, 31, 11-17. doi: 10.1016/j.jtrangeo.2013.05.003
Strauss, A. & Corbin, J. (2008). Pesquisa qualitativa: técnicas e
procedimentos para o desenvolvimento de teoria fundamentada.
2ª ed. Porto Alegre: Artmed.
Subcomitê de Mobilidade UFSC. (2012). Plano diretor participativo da
UFSC. Recuperado em 07 de Setembro de 2014, de:
http://planodiretor.ufsc.br/files/2012/04/24.04.12-Leitura-
Mobilidade.pdf.
Tassara, E. T. O. & Rabinovich, E. P. (2001). A invenção do urbano e o
poético: uma cartografia afetiva – estudo sobre o bairro
paulistano da Barra Funda. Tassara, E. T. O. (org.). Panoramas
interdisciplinares para uma psicologia ambiental do urbano.
São Paulo: EDUC.
Tassara, E. T. O., Rabinovich, E. P. & Goubert, J-P. (2004). O lugar da
poética nas relações pessoa-ambiente. O caso da Barra Funda:
uma arqueologia de um elo social em vias de desaparecimento.
Tassara, E. T. O., Rabinovich, E. P., Guedes, M. C. (eds.).
Psicologia e ambiente. São Paulo: EDUC.
Thibaud, J-P. (2004). O ambiente sensorial das cidades: para uma
abordagem de ambiências urbanas. Tassara, E. T. O.,
Rabinovich, E. P., Guedes, M. C. (eds.). Psicologia e ambiente.
São Paulo: EDUC.
Thibaud, J. P. (2012). O devir ambiente do mundo urbano. Redobra, 9,
p. 30-36.
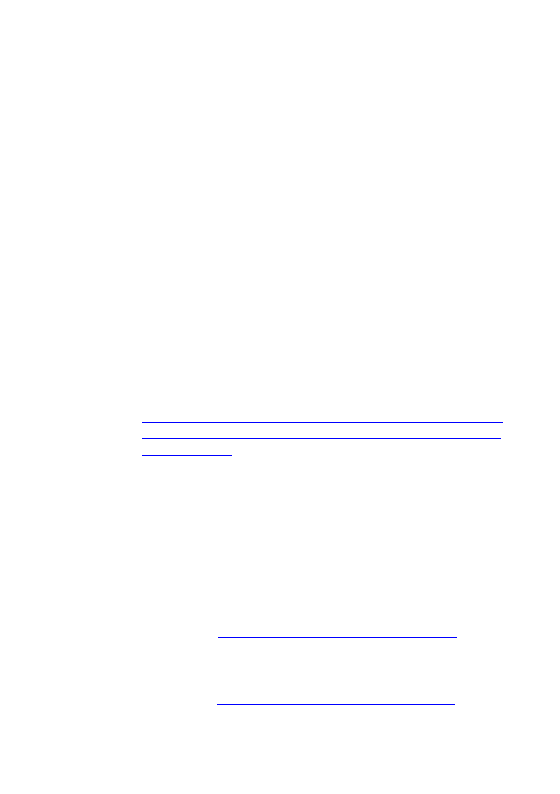
175
Triviños, A.N.S. Introduzindo a pesquisa em ciências sociais – pesquisa
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 2010.
Tuan, Y-F. (1983). Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. São
Paulo: DIFEL.
Twigger-Ross, C. L. & Uzzel, D. L. (1996). Place and identity
processes. Journal of Environmental Psychology, 16, 205-220.
doi: 10.1006/jevp.1996.0017
Underwood, S. K., Handy, S. L., Paterniti, D. A. & Lee, A. E. (2014).
Why do teens abandon bicycling? A retrospective look at
attitudes and behaviors. Journal of Transport & Health, 1, 17-
24. http://dx.doi.org/10.1016/j.jth.2013.12.002
Valera, S. (1996). Psicología Ambiental: bases teóricas y
epistemológicas. In: L. Iñiguez & E. Pol (eds.). Cognición,
representación y apropiación del espacio. Barcelona:
Publicacions Universitat de Barcelona, 1-14. Recuperado em 30
de
outubro
de
2015
de:
http://laciudadnoshabita.bligoo.cl/media/users/9/475982/files/39
374/capitulo_1._Psicolog_a_Ambiental._Bases_te_ricas_y_epis
temol_gicas.pdf
Vandenbulcke, G., Dujardin, C., Thomas, I., de Geus, B., Degraeuwe,
B., Meeusen, R. & Panis, L. I. (2011). Cycle commuting in
Belgium: spatial determinants and 're-cycling' strategies.
Transportation Research Part A, 45, 118-137.
doi:10.1016/j.tra.2010.11.004
Vansteenkiste, P., Zeuwts, L., Cardon, G., Philippaerts, R. & Lenoir, M.
(2014). The implications of low quality bicycle paths on gaze
bahavior of cyclists: a field test. Transportation Research Part
F, 23, 81-87. http://dx.doi.org/10.1016/j.trf.2013.12.019
Willis, D. P., Manaugh, K. & El-Geneidy, A. (2013). Uniquely satified:
exploring cyclist satisfaction. Transportation Research Part F,
18, 136-147. http://dx.doi.org/10.1016/j.trf.2012.12.004
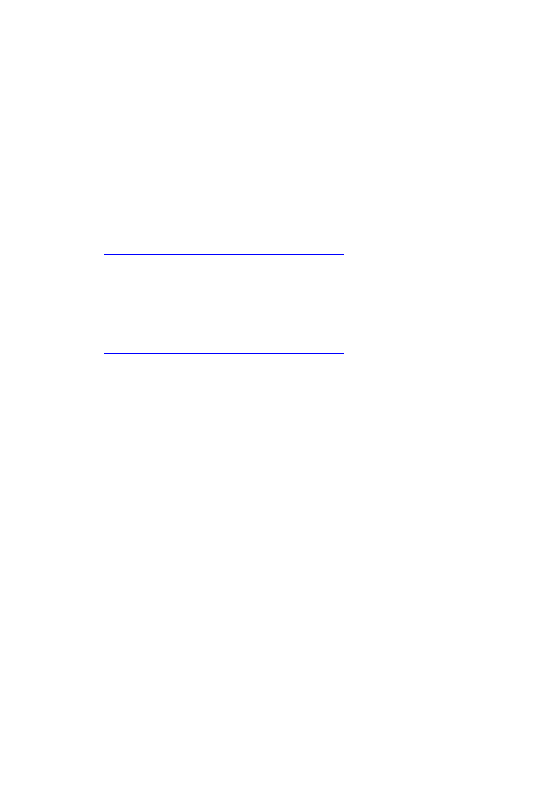
176
Woo, T. C., Helton, W. S. & Russel, P. N. (2010). The role emotion and
gender play in the choice of commuting by bicycle: a
preliminary study from Christchurch, New Zealand.
Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society
Annual
Meeting,
54,
1067-1071.
doi:
10.1177/154193121005401404
Wooliscroft, B. & Ganglmair-Wooliscroft, A. (2014). Improving
conditions for potential New Zealand cyclists: an application of
conjoint analysis. Transportation Research Part A, 69, 11-19.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2014.08.005
Zhang, D., Magalhães, J. D. A. V. & Wang, X. (2014). Prioritizing
bicycle paths in Belo Horizonte City, Brazil: analysis based on
user preferences and willingness considering individual
heterogeneity. Transportation Research Part A, 67, 268-278.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2014.07.010
Zhao, P. (2014). The impact of the built environment on bicycle
commuting: evidence from Beijing. Urban Studies, 51 (5),
1019-1037. doi: 10.1177/0042098013494423

177
APÊNDICES
Apêndice A – Anotações das idas a campo
Dia 1 (06/06/2015)
A exploração do campo de pesquisa a ser pesquisado, os
espaços que os frequentadores do campus universitário circulam e suas
aventuras cotidianas no deslocamento até seu local de trabalho/estudo
tocam, em diversos momentos, minha própria experiência de ciclista e
frequentador desse mesmo espaço em questão. Portanto, dois pontos
devem ser enfatizados desde o início: existe uma implicação pessoal e
vivencial da e na pesquisa; a exploração do campo não iniciou nem
terminou no dia 06 de junho de 2015.
A ida ao camp(o)us, desde o início de 2014, é quase diária, via
de regra aliada ao uso da bicicleta. Então, em diversas ocasiões
vivenciei os desafios e prazeres de pedalar em Florianópolis, o que
venho descobrindo também ser uma experiência compartilhada com os
participantes da pesquisa até o momento.
No entanto, nesse momento volto meu olhar aos aspectos
estruturais do campus: como e onde circular nesse lugar, como acessá-
lo, onde parar... o que antes era apenas incômodo, nesse momento tento
mapear e nomear. Caracterizar, em termos de infraestrutura, o que o
campus da UFSC oferece ao ciclista: passagens, paraciclos,
bicicletários, e o que mais estiver à disposição dos frequentadores que
utilizam a bicicleta como meio de transporte.
Assim, no primeiro dia de exploração, tive o objetivo de
transitar pelos lugares conhecidos: basicamente os entornos do CFH,
CTC e CCE. Instrumentos de registro: caneta, caderno, mapa da UFSC
uma câmera fotográfica. O dia estava ensolarado, o que favoreceu a
circulação, mas prejudicou a qualidade das fotos.
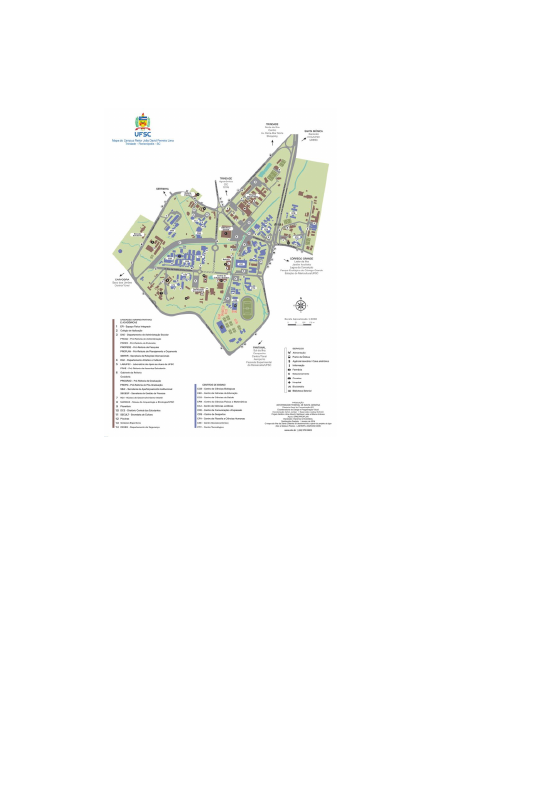
178
Imagem 1: Mapa do Campus UFSC - Florianópolis
Fonte: http://estrutura.ufsc.br/mapa/
Procurei circular pelo máximo de caminhos possível, circundar
tantos prédios quanto fossem possíveis em busca de equipamentos para
suporte do ciclista. Essa exploração foi feita sobre uma bicicleta; desci
dela apenas para tomar notas e fazer os registros fotográficos. Entendi,
no momento, que essa seria uma estratégia de me colocar diante das
dificuldades e facilidades que os estudantes e funcionários do campus da
UFSC têm ao usar esse meio de transporte.
O início foi pela entrada da Carvoeira, circulando pelos
estacionamentos e blocos situados à direita de quem entra. O primeiro
paraciclo encontrado foi no CFH, uma estrutura cujo modelo se repete
em quase toda a universidade: uma longa barra de ferro fixada na parede
e no chão, saindo dela duas hastes metálicas destinadas a suportar o
guidão da bicicleta. Ali existiam dois paraciclos:
1) um em frente ao bloco do departamento de psicologia, com
22 vagas parcialmente cobertas, piso coberto com pedras (que favorece
o escoamento da água em dias de chuva) e recebe iluminação dos
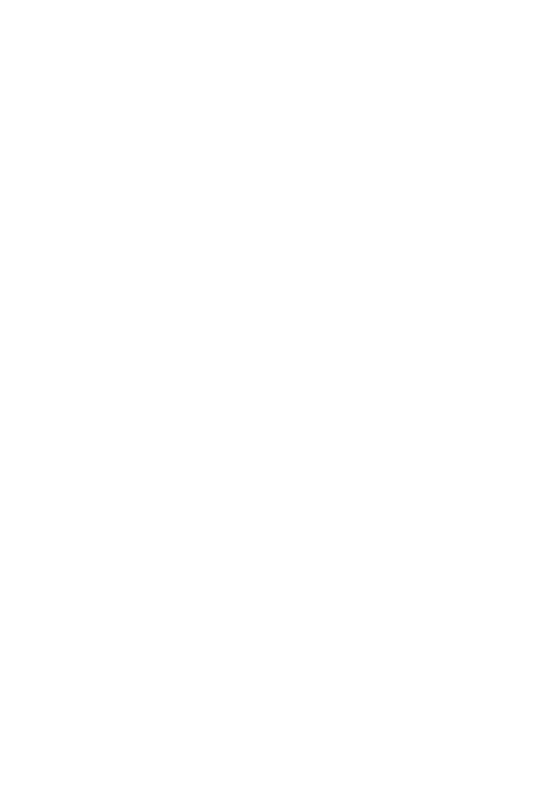
179
demais blocos desse centro. É contíguo a uma rampa de acessibilidade
de pessoas com dificuldade de locomoção, que é ladeada por corrimão.
Não são raras as vezes em que se encontram bicicletas presas nesse
corrimão, havendo ou não vagas disponíveis no paraciclo;
2) um ao lado do bloco das salas de aula do CFH (em frente ao
bosque). São 22 vagas descobertas, sobre a grama e é iluminado
indiretamente pelos holofotes direcionados ao bosque.
Em seguida, o bloco do CED foi observado. Ali existe um
paraciclo situado no vão central desse bloco. Localiza-se do lado oposto
ao estacionamento (de acesso exclusivo) e ao lado da porta principal de
acesso do centro. São 5 vagas disponíveis, com cobertura e piso de
concreto em boas condições.
No Restaurante Universitário, local de confluência diária de
milhares de estudantes, a situação não pareceu muito favorável ao
ciclista. Existe apenas um paraciclo com 12 vagas descobertas e situadas
sobre a grama, o que dificulta em dias de chuva ou posteriores a ela. No
entanto, como é um local bastante arborizado, é usual que os ciclistas
improvisem seu suporte nas árvores.
Nos fundos do restaurante, entre os blocos da engenharia e
gestão do conhecimento e da editora da UFSC, em um bolsão de
estacionamento de terra, encontram-se dois paraciclos, ambos com 13
vagas, totalizando 26. Apesar de ser mais que o dobro disponível no RU,
prédio que não deve distar 100 metros dali, o acesso a esses paraciclos é
bastante precário e isolado, diferente do anterior.
Nesse momento, iniciei a incursão ao CDS, que se situa atrás do
RU, é bastante espalhado e possui dezenas de edificações (entre quadras,
ginásios, piscinas, salas de aula, administração, almoxarifado, etc.). Ali
passei boa parte do tempo no dia, por não conhecer o local e para me
certificar de que toda a extensão daquela área seria coberta. Chamou
minha atenção dois aspectos nesse centro: a quantidade de paraciclos e a
dificuldade de acessar muitos deles: ruas de terra e esburacadas, blocos
desconexos, sem caminhos que os unam e exigindo grandes voltas para
ir de um lugar a outro. Esse é um entrave não apenas para o ciclista, mas
para qualquer pessoa que tente circular na universidade (lembrando que
os caminhos calçados são prioridade do pedestre e é comumente
compartilhado com os ciclistas).
1) ginásio 3 – são 15 vagas sobre um piso gramado. O paraciclo
está bastante avariado, mas fixado firmemente no chão. Destas vagas,
duas podem ser consideradas inúteis por oferecerem pouca segurança (o
que demonstrarei com fotos);

180
2) 1 paraciclo com 11 vagas em frente ao almoxarifado do
atletismo. Parcialmente coberto, sobre piso de concreto, possui uma
vaga inútil;
3) Bloco 5A – 1 paraciclo com 11 vagas (1 inútil). Local
parcialmente coberto, sobre piso de concreto e monitorado com câmera
de vigilância;
4) Bloco 5 – 1 paraciclo com 13 vagas (2 inúteis) situado em
local com piso de cimento, parcialmente coberto e monitorado por
câmera de vigilância;
5) Bloco novo do CDS – ainda que o bloco não esteja
totalmente pronto, ali existem 40 vagas para bicicletas com paraciclos
em forma de U invertido. É uma estrutura que oferece maior segurança
(pois é possível prender a bicicleta em mais de um ponto) e em cada
paraciclo é possível fixar mais de uma bicicleta, aumentando a
quantidade de ciclistas que possam usá-lo. Além disso, o acesso a esse
local é bastante ruim, até mesmo para carros, em via de terra e com
muitos buracos;
6) Bloco 6 – em frente ao bloco em construção, ali existem dois
paraciclos, um com 11 vagas (2 inúteis) e outro sem suportes para
bicicletas (apenas uma longa barra de ferro fixada ao chão). Situa-se
sobre um gramado e não possui cobertura;
7) complexo aquático – 2 paraciclos com 5 vagas cada,
totalizando 10. Sobre piso de cimento e sem cobertura;
8) Bloco 1 – um paraciclo com 5 vagas (2 inúteis) em local
parcialmente coberto, com piso de cimento e monitorado com câmera;
9) Bloco 3 - um paraciclo com 5 vagas (2 inúteis) em local
parcialmente coberto, com piso de cimento e monitorado com câmera;
Ao sair desse centro, é possível passar pelo bloco de arquitetura.
Uma construção aparentemente nova, mas com o acesso muito ruim.
Chamou a atenção que nesse local não existe uma única vaga para
bicicletas, e alguns alunos que estavam por ali deixaram suas bicicletas
presas nas colunas dos prédios ao lado.
Em seguida, a maior surpresa do primeiro dia da exploração do
campus. No prédio da CERTI existe um bicicletário muito bem
sinalizado, coberto, cercado com grades, cartaz com instruções de
alongamento, em área monitorada com câmera e acesso restrito
mediante senha. Ali são 9 ganchos para pendurar a bicicleta na parece
(na posição vertical) e mais 9 suportes em formato de U, totalizando 16
vagas para bicicletas. Sem dúvidas, a melhor estrutura do campus para
atender o ciclista. A pergunta é: qual ciclista?

181
No prédio ao lado, Centro de eventos da UFSC existem 3
paraciclos para prender a roda da bicicleta (diferente dos anteriores):
1) um nos fundos do prédio, com 7 vagas cobertas, sobre piso
revestido, que se situa abaixo de uma escada. O local é monitorado por
câmera de vigilância, ainda que ela não cubra a área do paraciclo;
2) na parte da frente do bloco, ao lado da agência bancária. São
3 vagas situadas embaixo de uma escada, sobre piso revestido e coberto.
Local monitorado por câmera.
3) também na parte da frente, mas situado na calçada. São 5
vagas disponíveis, sobre piso de concreto e sem cobertura. No momento
do registro desse local, o paraciclo não estava fixado ao chão, não
oferecendo a segurança devida às bicicletas que porventura fossem
presas ali. Em perambulações anteriores pelo local, já vi motos paradas
em frente e até mesmo o paraciclo jogado sobre um canteiro ao lado,
reforçando a sugestão da falta de segurança.
Atravessando a rua, fui em direção ao CCE. Nessa região da
UFSC, que compreende os prédios contíguos às ruas de acesso (Lauro
Linhares, João Pio Duarte, Edu Vieira), a circulação com bicicleta é
mais fluida. Ruas pavimentadas, calçamento amplo, caminhos que se
conectam. Além disso, existem rampas de acesso às calçadas,
oferecendo menos resistência à pedalada. No CCE são dois paraciclos:
1) 1 com 14 vagas (2 inúteis) na parte da frente do bloco. O
local possui calçamento e é monitorado por câmera. No local tem uma
placa sugerindo que motociclistas não parem seus veículos sobre o
passeio;
2) um paraciclo na parte lateral do bloco com 9 vagas semi
cobertas, local possui calçamento e é monitorado por câmera. Esse local
também é compartilhado com motociclistas, que param os veículos ali.
Na parte dos fundos desse bloco situa-se um grande
estacionamento de carros, que leva até os blocos das ciências biológicas.
No CCB a circulação sobre a bicicleta é bastante complicada, pois
muitas vezes os caminhos existentes são também corredores entre
prédios. São lugares estreitos com passagem constante de pedestres, o
que torna perigoso pedalar por ali (por colocar em risco o ciclista e o
pedestre). Talvez a dificuldade de circular nesse centro tenha me levado
a encontrar um único paraciclo com seis vagas sobre uma área gramada
e coberta com árvores. Como o local é arborizado, é frequente ver
bicicletas presas em árvores.
No prédio ao lado, uma construção nova, o EFI também tem um
acesso complicado. Pode ser acessado pelo labirinto do CCB, pelo
labirinto do bloco de matemática e física (que mais parece uma prisão),

182
ou pelo estacionamento, que dá para os fundos do bloco. A segunda
surpresa boa do dia, pois ali existem 30 paraciclos em formato de U
invertido, todos em local coberto, com calçamento e monitorado por
câmera. Ainda que não seja um lugar muito intuitivo de se encontrar, a
estrutura é muito boa e o acesso pelos fundos (onde também tem um
elevador) facilita quem chega de bicicleta.
Do lado oposto do estacionamento situa-se o CFM, entre
prédios em construção. Ali existem dois paraciclos:
1) 1 em frente à central de análises do departamento de química,
com 11 vagas (2 inúteis). O local é calçado e monitorado por câmera.
2) 1 paraciclo com 10 vagas em frente ao departamento de
matemática. O local é coberto com árvores e sobre uma área de grama e
terra, ao lado de uma passagem de concreto que liga a porta do prédio ao
estacionamento.
No CCJ foi localizado apenas um paraciclo com 12 vagas. O
local fica em frente à porta do bloco e ao estacionamento e é sinalizado
com uma placa indicativa. Destaque para o prédio ao lado, onde se situa
o fórum, onde não pude identificar nenhuma vaga para bicicleta.
No CSE, bloco ao lado, existe um paraciclo com 8 vagas (2
inúteis). O local é parcialmente coberto, calçado e monitorado por
câmera. É um local de bastante circulação de pessoas pois está entre a
entrada de três blocos. Outro ponto que vale ressaltar é que os prédios
administrativos que se situam nessa região também não possuem vagas
para bicicleta.
Ao retornar em direção à reitoria, localizei ao lado desse prédio
um paraciclo com 5 vagas, situado sobre chão calçado. No prédio ao
lado, na FAPEU, também há um paraciclo com 9 vagas (2 inúteis) em
local com calçamento e monitorado por câmera.
Na biblioteca central da UFSC, em frente à porta principal,
existem dois paraciclos, um ao lado do outro:
1) um com 14 vagas;
2) um com 25 vagas;
No total são 39 vagas em local descoberto, com calçamento e
não pude ver a existência de câmera de monitoramento.
Por último, a circulação pelo CTC encerrou o dia de
exploração. Esse centro também ocupa uma área grande no campus (se
comparado com outros centros) e possui dezenas de blocos.
Diferentemente do CDS, o acesso não é tão difícil: apesar de existir um
estacionamento não pavimentado, os caminhos que ligam os blocos são
conservados, facilitando a circulação. Encontrei 5 paraciclos, sendo eles:
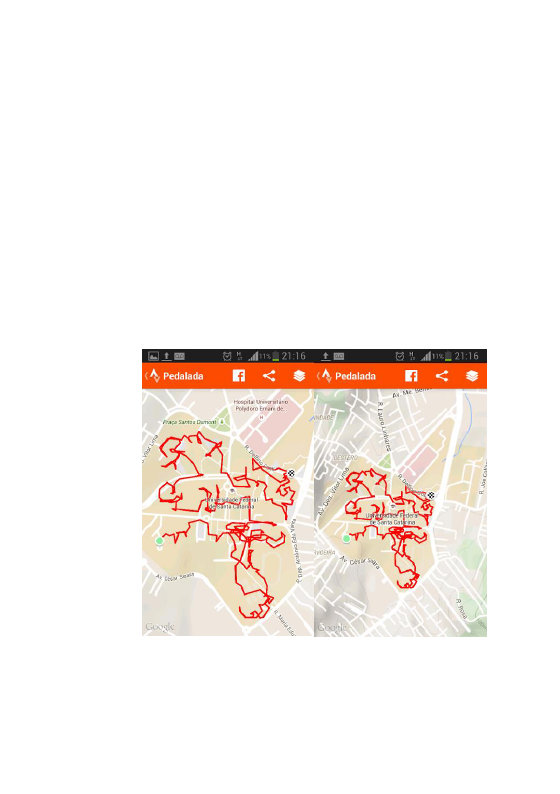
183
1) dois em frente ao departamento de engenharia mecânica.
Possuem 9 vagas cada, totalizando 18 disponíveis. O local possui
calçamento e não possui cobertura.
2) um nos fundos do bloco de informática e estatística, com 27
vagas. O acesso pode ser feito tanto pelo estacionamento (onde não
existe calçamento) ou pelos caminhos que saem da rua. O local é
monitorado por câmera.
3) 42 vagas em paraciclos em forma de U invertido situado em
frente ao prédio central do CTC. O local é calçado, possui um mapa de
localização da UFSC e é descoberto. Possui iluminação proveniente dos
blocos ao redor.
4) um paraciclo com 10 vagas no bloco de engenharia de
produção e sistemas, ao lado da empresa júnior. É um local com
calçamento e parcialmente coberto.
*****
Imagem 2: Caminho percorrido no dia 1
Fonte: Strava ®
Com isso terminei o primeiro dia de exploração do campus.
Foram 11.6 km rodados em 2h 10 min. Foi uma experiência interessante
por diversos motivos. Ressalto o fato de ter conhecido um grande setor
do campus (que antes nunca tinha andado) e ter tido algumas surpresas

184
no que diz respeito às estruturas ciclísticas: positivas, ao ver
bicicletários e paraciclos daqueles ―vistos na Europa‖; e negativas, ao
ver a precariedade e dificuldade de acesso de alguns locais. Imagino que
pessoas com mobilidade reduzida, que façam uso de cadeiras de roda ou
até mesma com baixa visibilidade sofram bastante ao circularem no
campus.
Isso também pode ter limitado minha busca: muitas vezes
desisti de seguir um caminho pela dificuldade de circular. A conclusão
de que não havia um paraciclo ali foi presumida, uma vez que a
dificuldade de acesso faria outras pessoas desistirem antes mesmo de
chegar ao seu objetivo.
Além disso, a distribuição dos paraciclos pareceu bastante
irregular. A maior quantidade se concentrou no CDS (que também é um
centro grande), enquanto que nos locais de grande circulação de pessoas,
como RU e BU, as opções não são tantas. Outro ponto se refere aos
prédios administrativos: apenas a reitoria possui vagas reservadas aos
ciclistas. Fora esse, não localizei outros. Vale ressaltar também que
prédios de grande circulação de pessoas e de atendimento à comunidade,
como o fórum, não possuem estruturas adequadas para ciclistas.
Impressões gerais: facilidade de circulação nas áreas centrais do
campus, no entorno das ruas principais. As calçadas, ainda que tenham
buracos, favorecem o uso da bicicleta, ainda que seja um espaço de
prioridade do pedestre. Por vezes, a indisponibilidade de paraciclos nos
prédios é compensada com a arborização do campus. É bastante
frequente ver bicicletas presas em paraciclos improvisados como
árvores, postes e grades. Reforço aqui que a circulação sobre as calçadas
não é a situação mais adequada, embora seja a realidade experienciada
por aqueles que optam por usar a bicicleta no campus da UFSC.
Ressalto também a estranheza que minha circulação (em
primeira análise errante) gerou nas pessoas que estavam na UFSC
naquela manhã de sábado, principalmente nos vigias. Eu, que por minha
vez estranhava os lugares onde nunca tinha andado, provocava o
estranhamento dos vigias que faziam seus turnos. Quando me via em
lugares afastados e isolados, lá vinha um vigia mostrar sua presença...
Para amenizar a situação (que inicialmente me gerou incômodo),
expliquei a alguns meu propósito.
Por fim, o final da exploração do campus não encerrou a
experiência ciclística do dia. Com a proximidade da hora do almoço,
resolvi ir até o continente, onde acontecia um evento gastronômico na
Beira Mar continental. Dessa maneira, aproveitei o dia e a ocasião e
continuei a circulação pelos espaços que também são compartilhados

185
pelos ciclistas da UFSC. A ciclovia da beira mar norte, conforme tem
sido notado nas entrevistas, é um espaço importante de circulação e
lazer dessas pessoas.
Levei aproximadamente 40 minutos até chegar ao destino
pretendido, imaginando que em dias úteis, nos horários em que a
avenida beira mar está completamente parada, um ciclista que saia da
UFSC e atravesse a ponte pode chegar antes ao seu destino do que uma
pessoa que opte pelo transporte coletivo ou pelo carro.
Durante meu momento de descanso, aproveitando a vista (para
mim inédita) da ilha sob a perspectiva do continente, sentou-se próximo
a mim um homem que aparentava ter idade por volta dos 60 anos.
Iniciou uma conversa trivial, ressaltando a beleza da paisagem daquele
ponto de vista. Respondi, cordialmente, que o dia ensolarado enfatizava
a beleza da vista e que era a primeira vez que parava ali para observar. O
senhor me disse que era morador das redondezas e que circula por toda a
cidade de Florianópolis, praias, ilha, continente... Falou também que há
muito tempo frequenta a beira mar continental e que cada vez que vai ao
lugar, é como se fosse a primeira vez. Não era exatamente essa frase que
ele usou, mas a singeleza, a beleza e a precisão de suas palavras naquele
momento e naquele dia me sinalizou que o dia tinha valido a pena.
Anotações da ida a campo – dia 2 – 07/06/2015
O segundo dia de procura pelas estruturas ciclísticas do campus
da UFSC se iniciou no dia seguinte pela manhã. Novamente pedalando,
o CCS foi o primeiro ponto de parada. Inicialmente pedalei pela parte de
trás do hospital universitário, onde não encontrei nada que se
assemelhasse a algo que desse suporte para ciclistas. Ao passar em
frente às agências bancárias próximas, vi que a Caixa Econômica
disponibiliza para seus clientes um paraciclo (de prender as rodas da
bicicleta) com cinco vagas e o banco do Brasil disponibiliza um suporte
em formato de U invertido com capacidade para cinco bicicletas. Ainda
que essas estruturas não estejam no domínio da Universidade e não
entrem no cômputo dos paraciclos da UFSC, são mais opções que os
ciclistas que frequentam o campus têm para deixar sua bicicleta com
certa segurança, uma vez que o local tem vigilância e grande fluxo de
pessoas diariamente.
Retornando ao CCS, foram identificados quatro paraciclos:
1) um paraciclo com 5 vagas em frente ao café daquele centro.
Encontra-se em local calçado e parcialmente coberto. Destaque para o
estado do paraciclo, que tinha dois suportes quebrados, diminuindo sua
capacidade;

186
2) um paraciclo com 12 vagas em frente ao bloco A. situa-se em
local com calçamento, sem cobertura e possui 4 suportes quebrados;
3) um paraciclo com 8 vagas nos fundos do bloco A, próximo
ao setor de odontologia. Situa-se sobre uma área com grama, ainda que
próximo ao calçamento e é monitorado por câmera;
4) um paraciclo com 6 vagas, em frente ao bloco de farmácia e
nutrição. Encontra-se sobre a grama e próximo ao calçamento.
A circulação nesse centro não apresentou resistências. O
calçamento é de qualidade, sem buracos, e interliga grande parte dos
blocos. Duas coisas chamaram a atenção negativamente. Em primeiro
lugar, a qualidade dos suportes para as bicicletas, uma vez que foi a
primeira vez que os vi quebrados (vi outros bastante entortados, mas não
quebrados). Em um lugar onde há baixa oferta de vagas para bicicletas,
comparado com os outros centros, (6 quebrados no total de 31)
estruturas avariadas colocam ainda mais em risco a segurança e o bem
estar do ciclista.
Em segundo lugar, encontrei ali um trecho de ciclovia que, pelo
que soube, foi resultado de um projeto piloto de implantação de vias
para bicicleta no campus. Inicialmente ela ligava o CCB (passando pelo
túnel sob a avenida beira mar norte) à BU. Hoje existe um resquício de
tinta vermelha sobre algo que se assemelha a um calçamento
convencional. Ali não existe sinalização da existência de ciclovia,
existem buracos na via e diversas lixeiras no meio do caminho,
dificultando a circulação dos pedestres e ciclistas.
Por último, conforme citei, ao final dessa ciclovia (ainda no
CCS) existe uma passagem sob a avenida beira mar que leva ao outro
lado da UFSC, onde se situam o CCB, CTC e alguns prédios
administrativos. A passagem para pedestres e cadeirantes é separada
daquela para ciclistas e tratores da manutenção do campus, e essa via
também liga a UFSC à ciclovia da beira mar.
Do outro lado da avenida, o primeiro bloco percorrido foi o
CCB. Os blocos desse centro são enfileirados um ao lado do outro. São
4 blocos que possuem, na parte do fundo (Departamento de
Microbiologia) 5 estruturas, sendo elas:
1) um paraciclo com 6 vagas, coberto e cercado por grades (de
acesso restrito), sobre piso calçado;
2) 2 paraciclos, um ao lado do outro (um com seis outro com
sete vagas, no total de 13). Situa-se a alguns metros do anterior e está
descoberto e sobre piso calçado;

187
3) 2 paraciclos, um ao lado do outro, com seis vagas cada (total
de 12). Localizado sobre piso calçado e sem cobertura. Possui dois
suportes quebrados.
Saindo dali, me direcionei para os blocos destinados aos setores
de manutenção da UFSC. Ali não encontrei nenhuma estrutura para
atender ciclistas, tampouco os seguranças do local sabiam dizer sobre a
existência de algum.
Do lado oposto, nos blocos destinados ao CTC, detectei a
existência de apenas um suporte para bicicletas (de prender a roda) com
5 vagas em frente ao bloco da engenharia química e de alimentos.
Encontra-se sobre piso calçado e descoberto. Os outros paraciclos
encontrados, em frente ao bloco da engenharia civil, estavam
amontoados, possivelmente devido à reforma que o bloco passa. Não
consegui contar quantos suportes existiam, mas ali é um lugar onde,
após as reformas, possivelmente os ciclistas poderão prender suas
bicicletas.
Em seguida, transitei pelos prédios da administração da UFSC.
Identifiquei 2 paraciclos:
1) um com quatro vagas em formato de U invertido, localizado
nos fundos do departamento de projetos de arquitetura e engenharia da
UFSC (Próximo ao setor da segurança). O local possui calçamento e é
descoberto.
2) um paraciclo com cinco vagas, no bloco ao lado do
departamento de projetos de arquitetura e engenharia. Está sobre um
gramado, ao lado do caminho calçado e coberto por árvores.
As dificuldades para circular por esse lado da UFSC foi um
pouco maior que do outro lado (do dia anterior e no CCS). Havia locais
sem vias para circulação (principalmente no setor destinado à
manutenção) e os centros, talvez pelas inúmeras obras, não possuem
tantos caminhos que conectem os blocos. Além disso, a baixa oferta de
vagas, principalmente no CTC chama a atenção quando comparado com
os blocos do CTC do outro lado da avenida. Por parte dos blocos
administrativos, por ser ali o QG do campus, imaginei que a situação
seria diferente. Encontrei paraciclos ali quando estava prestes a desistir
da busca.
Por último, fui até o prédio II da reitoria que se localiza no
bairro da serrinha, em frente ao CFM. Ali identifiquei um paraciclo
(para prender a roda da bicicleta) com capacidade para 4 bicicletas. Está
sobre um local calçado, descoberto e atrás de um ponto de ônibus.
Nesse dia, circulei pela UFSC por pouco menos de uma hora no
total de 5 quilômetros. As impressões gerais dessa parte da universidade
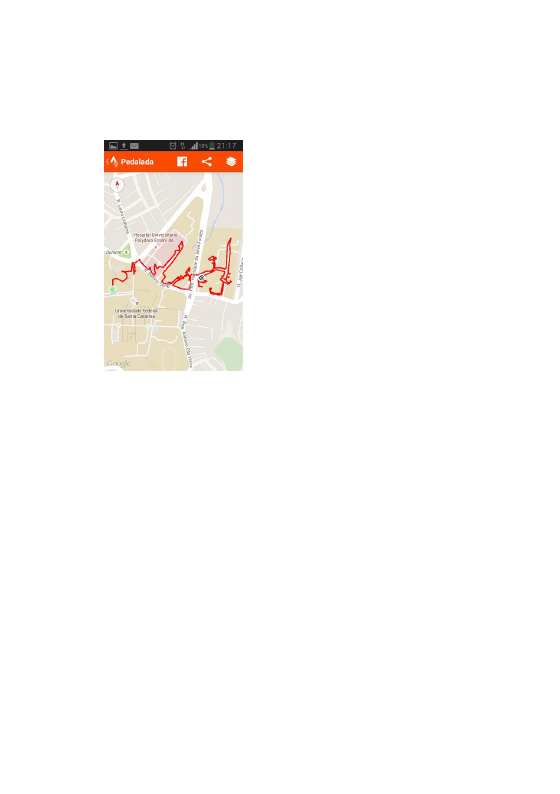
188
foram diferentes do dia anterior, pois vi estruturas com menos
qualidades, acessos piores e poucas opções para o ciclista circular e
parar.
Imagem 3: Caminho percorrido no dia 2
Fonte: Strava ®
Anotações da ida a campo – dia 3 – 08/06/2015
Como era um dia de atividade normal da universidade, imaginei
que nesse dia encontraria as os equipamentos ciclísticos em uso. Iniciei
a busca partindo do HU, local que não tinha ido nos dias anteriores. A
passagem por ali foi rápida, pois não havia muito que ser visto. Existe
apenas um paraciclo, em frente ao bloco da direção geral do hospital,
com 9 vagas para prender a roda da bicicleta.
Saindo dali, me dirigi à ciclovia da beira mar para explorar o
CCA, que fica a alguns quilômetros dali. O caminho pode ser feito de
duas formas mais fáceis: indo pela Avenida Madre Benvenuta, mais
curto mas com trechos sem ciclovia; e continuando pela ciclovia até o
bairro Itacorubi, caminho mais longo porém com estrutura para o
ciclista até o portão de entrada. Resolvi ir pelo primeiro caminho e
voltar pelo segundo.
Na ida, sabia que a exposição ao trânsito seria maior. O trecho,
que corta o bairro Santa Monica, é bastante conhecido pelos ciclistas da
cidade de Florianópolis. Existe um debate que se estende há muitos anos
entre a comunidade, prefeitura e administração do shopping do local a
respeito da execução de um projeto cicloviário que contempla a bacia do
Itacorubi. Os projetos e debates resultam do que seria a contraproposta

189
do shopping para minimizar os impactos viários e ambientais causados à
comunidade com a sua construção. Após muitos protestos, debates e
projetos arquivados, iniciou no ano de 2014 a construção de um trecho
de ciclovia (pouco mais de 500 metros), continuação daquela que
termina no portão de entrada da UDESC..
Dessa maneira, a ciclovia da Beira Mar e da Madre Benvenuta
não se conectam por algumas centenas de metros. Enquanto projetos não
saem do papel, segui por ali mesmo. Ao sair da ciclovia da beira mar
existe um pequeno trecho de ciclofaixa (cerca de 100 metros) que vai até
o supermercado Angeloni. Dali em diante é necessário dividir a via com
outros veículos até conseguir acessar os primeiros metros da ciclovia
ainda em construção. Essa ciclovia passa pela frente do portão da
UDESC, por prédios do governo estadual e finalmente ao CCA.
Chegando ao centro, fiquei surpreso com a quantidade de
árvores no local e pela quantidade de paraciclos concentrados no mesmo
lugar. Próximo à entrada existe um paraciclo com 16 vagas e
monitorado por câmera, com placas sinalizando a prioridade das
bicicletas. Mais adiante, em frente ao restaurante universitário, existem
3 paraciclos: um com 18 e um com 6 vagas, situados um ao lado do
outro, sobre o gramado e coberto por árvores. Do lado oposto, sobre
chão pavimentado, existe um paraciclo sinalizado com placa que oferece
11 vagas para prender a roda das bicicletas. Total de 34 vagas no RU.
Indo em direção à biblioteca setorial do CCA, encontrei 6
paraciclos um ao lado do outro, dispostos em linha e fixados na parede.
São 29 vagas para suporte do guidão da bicicleta (como a maioria dos
demais) e mais 9 vagas para prender a roda da bicicleta, totalizando 38
vagas. As vagas estão sobre o gramado e cobertas por árvores. Nos
fundos do bloco da biblioteca existe mais um paraciclo com 19 vagas,
dispostas sobre o chão calçado e sem cobertura.
Na sequência, encontrei mais dois paraciclos em frente ao
laboratório de morfogênese vegetal, um com cinco vagas e outro com
14, no total de 19. O local é coberto por árvore e sobre o gramado. Por
último, no átrio do bloco do departamento de ciências e tecnologia de
alimentos existe um paraciclo com cinco vagas. O local é calçado e sem
cobertura.
Como o CCA é um local de pequena extensão, pude fazer essa
etapa exploratória rapidamente, quase sempre circulando por lugares
calçados e arborizados. Apenas para fazer uma comparação breve entre
o campus João Ferreira Lima e o CCA, é possível perceber que os
blocos compartilhados por todas a comunidade acadêmica, como
biblioteca e restaurante possuem números diferentes. No RU, por
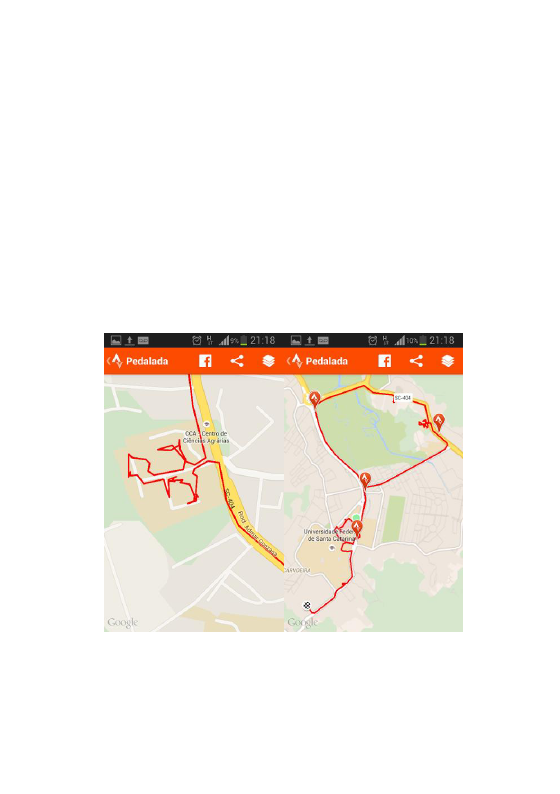
190
exemplo, são 12 vagas no campus central que contrastam com os 34 do
CCA. Na biblioteca, são 39 no campus central e 38 no CCA. Em termos
absolutos e isolados, esses números não dizem muita coisa, mas quando
colocado em relação com a quantidade de pessoas que circulam pelos
dois lugares e pelo tamanho da área, fica mais nítida a diferença e a
defasagem que o campus central tem em relação à quantidade de vagas
nos paraciclos.
Ao voltar, fui em direção à ciclovia da beira mar. Ali é
necessário percorrer algumas centenas de metros antes de acessar a
ciclovia novamente, circulando em uma calçada larga e com boas
condições, que é compartilhada com pedestres. A partir do hotel
Mercure é possível circular em uma via exclusiva para bicicleta até a
entrada do bairro Córrego Grande, um dos portões de entrada da UFSC.
Nesse dia foram percorridos 12,7 km, contando com o deslocamento de
ida e volta até o CCA.
Imagem 4: Caminho percorrido no dia 3
Fonte: Strava ®
O objetivo dessa etapa exploratória foi identificar a existência e
condição estrutural dos equipamentos destinados a ciclistas no campus
da UFSC. Os detalhes a que me detive foram: facilidade ou não de
acesso, piso sobre o qual estão fixados os paraciclos e as condições dos
mesmos, existência de cobertura ou não. Esses aspectos não foram

191
sistematizados em termos observacionais, e os critérios também não
foram objetivos. Existem estudos feitos anteriormente a respeito das
condições dos equipamentos ciclísticos realizados na UFSC que podem
dizer com maior precisão se essas estruturas atendem aos aspectos
técnicos ou não. Como fui durante o dia não me atentei para a
iluminação dos locais, fator importante para garantia da sensação de
segurança daqueles que frequentam a universidade à noite. Além disso,
como era final de semana, não pude registrar o uso feito desses
equipamentos, ainda que as passagens diárias pelos locais me permitam
ver como os ciclistas andam e param pela universidade.
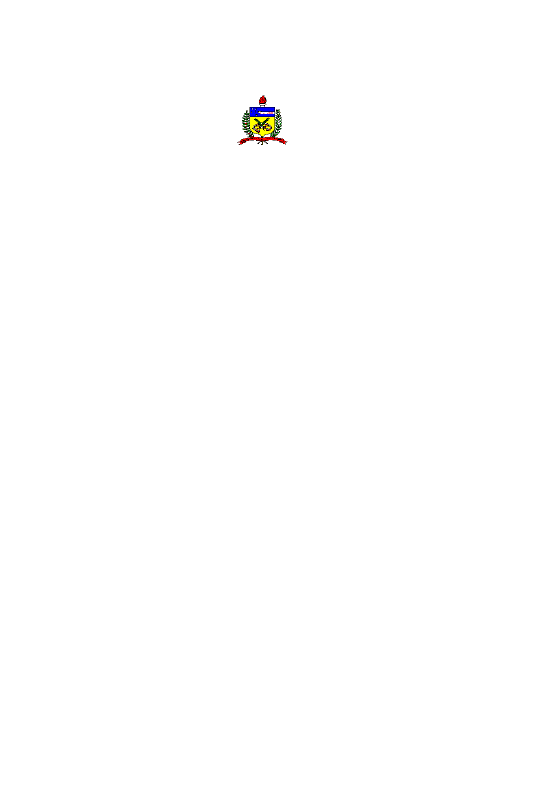
192
Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Centro de Filosofia e Ciências Humanas
Departamento de Psicologia
Programa de Pós-Graduação em Psicologia
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu, Nikolas Olekszechen, psicólogo e aluno do Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) convido-o(a) a participar do processo de coleta de dados de minha
Dissertação de Mestrado, sob orientação da Profª. Drª. Ariane Kuhnen,
intitulada: “Mover-se na cidade: produção da identidade de lugar em
ciclistas”. Tem-se como objetivo compreender o modo como os ciclistas se
vinculam afetivamente ao espaço urbano por onde transitam, bem como
identificar os motivos pela escolha da bicicleta como meio de transporte.
Entende-se que esse entendimento pode contribuir na identificação de
necessidades presentes no cotidiano dos ciclistas e no aprimoramento de
políticas públicas para fins de mobilidade urbana com bicicletas.
Sua participação na pesquisa consiste em responder um instrumento
composto por fotografias, perguntas a respeito das mesmas e um
questionário sociodemográfico.
O seu nome ou quaisquer dados que possam identificá-lo, não serão
utilizados nos documentos pertencentes a este estudo. Sua participação é
absolutamente voluntária, sendo os riscos envolvidos nessa pesquisa
aqueles relacionados à evocação de sentimentos e emoções negativas
envolvidas na atividade de utilizar a bicicleta na cidade. Caso isso ocorra, o
pesquisador poderá fazer o acolhimento necessário dessa demanda e, se for
necessária intervenção por tempo prolongado, será realizado o devido
encaminhamento para o Serviço de Atenção Psicológica – SAPSI, da
Universidade Federal de Santa Catarina, sem qualquer ônus para o
participante.
Mantém-se também o seu direito de desistir da participação a
qualquer momento sem qualquer tipo de penalização. Os dados obtidos na
pesquisa serão utilizados para posterior publicação de artigos ou trabalhos
em eventos científicos. Além disso, os materiais produzidos pelo
participante estarão à disposição para consulta pelo período de cinco anos
no Laboratório de Psicologia Ambiental – LAPAM, sala 11B do
Departamento de Psicologia da UFSC.

193
O pesquisador responsável compromete-se a cumprir as exigências
contidas na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, sobre
pesquisa com seres humanos. O contato com o Comitê de Ética em Pesquisa
com Seres Humanos pode ser feito através do telefone (48) 3721-9206 ou
na Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Universitário Reitor
João David Ferreira Lima, bairro Trindade - Florianópolis-SC, CEP 88040-
900, na Biblioteca Universitária Central, Setor de Periódicos.
O pesquisador se coloca à disposição para dirimir quaisquer dúvidas
por meio dos seguintes contatos: telefone (48) 9828-5026 ou no Campus
Universitário, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de
Psicologia – Laboratório de Psicologia Ambiental, LAPAM, sala 11B,
bairro Trindade, Florianópolis-SC, CEP 88040-970.
Após ler este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e aceitar
participar do estudo solicito a assinatura do mesmo em duas vias, sendo que
uma delas permanecerá com você.
Declaro que fui informado sobre todos os procedimentos da pesquisa
e que recebi de forma clara e objetiva todas as explicações pertinentes ao
projeto e que os meus dados de identificação serão sigilosos. Declaro que
fui informado que posso me retirar do estudo a qualquer momento.
Nome por extenso do participante:
_________________________________________
Assinatura do participante:
_______________________________________________
Assinatura do pesquisador:
________________________________________________
Data: _____/_____/______.
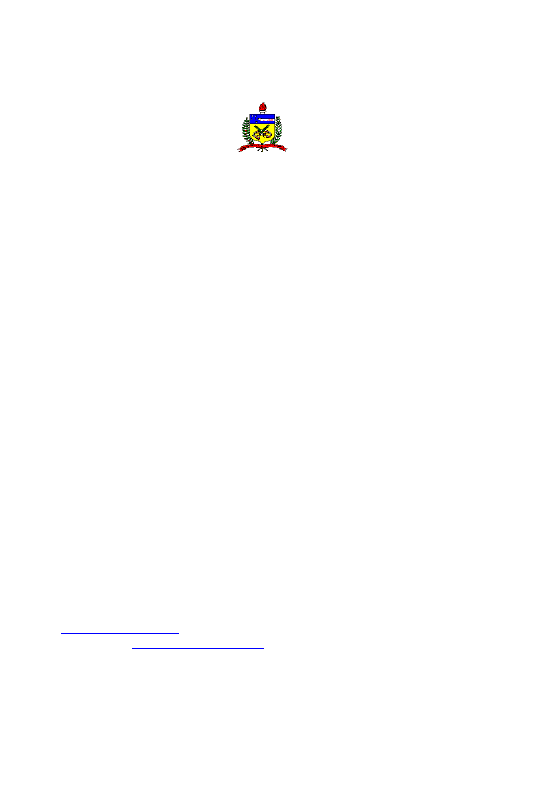
194
Apêndice C - Roteiro de Entrevista
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Centro de Filosofia e Ciências Humanas
Departamento de Psicologia
Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada ―Mover-
se na cidade: produção da identidade de lugar em ciclistas‖. O objetivo deste
questionário é identificar quais são as suas percepções sobre o uso da bicicleta
como meio de transporte e a relação que você estabelece com sua cidade nos
deslocamentos diários.
Por isso, para responder às questões, remeta-se aos trajetos feitos
diariamente, inclusive aquele entre seu local de origem (casa, trabalho, etc.) até
a Universidade. Leia as instruções e responda com base naquilo que sente ao
transitar na cidade com bicicleta.
Gostaríamos de lembrar que não existem respostas certas ou erradas para
as perguntas. Portanto, seja o mais honesto possível ao responder. Com isso,
você estará nos auxiliando a entender como o uso da bicicleta pode
proporcionar diferentes experiências da cidade. Os resultados desse estudo
podem contribuir na identificação de necessidades presentes no cotidiano dos
ciclistas e no aprimoramento de políticas públicas para fins de mobilidade
urbana com bicicletas.
Além disso, as respostas são anônimas, em nenhum momento da
pesquisa você será identificado. Ao terminar, por favor, verifique se você
respondeu a todas as questões.
Se você tiver alguma dúvida, contate a Professora Ariane Kuhnen
(ariane.kuhnen@ufsc.br) orientadora dessa pesquisa, ou o mestrando Nikolas
Olekszechen, (nikolas.oleks@gmail.com) responsável por sua execução.
Muito obrigado pela colaboração.

195
Fotografias utilizadas:
Foto 1
Fonte: http://m.ndonline.com.br/uploads/global/materias/2012/08/07-08-2012-
09-50-49-bicicleta-beiramar-florianopolis-aluguel.jpg
Foto 2
Fonte:
https://www.facebook.com/168898886645499/photos/a.168917003310354.107
3741827.168898886645499/397986320403420/?type=1&theater
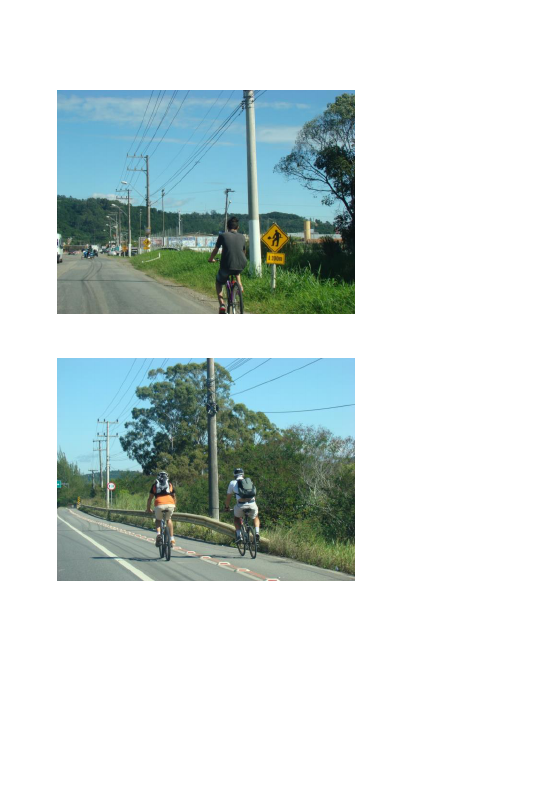
196
Foto 3
Fonte: Arquivo de pesquisa
Foto 4
Fonte: Arquivo de pesquisa

197
Foto 5
Fonte: http://bicicletopolis.org/wp-content/uploads/2015/02/Final_UDESC-
1024x683.jpg
Foto 6
Fonte: Arquivo de pesquisa

198
1.1 Explique brevemente o que as imagens te provocam, a que elas
remetem ou o que te fazem sentir.
1.2 Fale até seis palavras que resumam seus sentimentos em relação às
imagens.
1_______________________ 4_______________________
2_______________________ 5_______________________
3_______________________ 6_______________________
1.3 Quando alguém lhe pergunta sobre Florianópolis, o que você diz?
1.4 Se você tivesse que fazer uma comparação da sua cidade com
alguma coisa, com o que você a compararia? (Quando fala em
Florianópolis, que imagem te vem à mente?) Explique.
1.5 Das fotografias apresentadas, existe alguma que represente melhor a
maneira como você vê sua cidade? Por que? (Se não, como você a
enxerga?)
Daqui em diante, você deve responder às perguntas pensando em
sua cidade e em seu trajeto para a Universidade.
2. O que te faz/ motiva/estimula pedalar até a Universidade?
3. O que impede/desestimula/dificulta pedalar até a Universidade?
4. Qual sua opinião a respeito das estruturas que o campus da
Universidade Federal de Santa Catarina oferece aos ciclistas?
5. Em sua opinião, o que facilita o uso da bicicleta como meio de
transporte?
6. E quais são as maiores dificuldades de utilizar a bicicleta nos como
meio de transporte? O que faz para lidar com essas dificuldades?
7. Como você se sente ao pedalar na cidade?
8. Para mim, ser ciclista é...

199
Apêndice D – Questionário autoadministrado
9. Dados pessoais e sociodemográficos:
9.1 Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino
9.2 Idade: ________
9.3 Há quanto tempo você mora em Florianópolis?
____________________________
9.4 Qual seu vínculo com a universidade?
( ) Aluno
( ) Professor
( ) Funcionário /
Técnico
Curso
/
Departamento
/
Setor
______________________________________________
9.5 Quantos dias na semana utiliza a bicicleta?
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )6 ( )7
9.6 Quantos trajetos você faz de bicicleta por dia?
( )1a4
( )5a9
( ) Mais de 10
9.7 Em média, quanto tempo leva em cada um desses trajetos?
( ) menos de 10 minutos ( ) entre 10 e 20 minutos ( ) entre 20 e 30
minutos
( ) entre 30 minutos e 1 hora
( ) mais de uma hora
9.8 Há quanto tempo utiliza a bicicleta como meio de transporte?
( ) menos de 1 ano
( ) entre 1 e 3 anos
()
entre 3 e 5 anos
( ) entre 5 e 10 anos
( ) mais de 10 anos
Agora você tratará dos trajetos que faz de bicicleta com maior
frequência.
10. Ao pedalar, você passa por alguns lugares até chegar ao seu destino.
Qual trajeto você faz? Por quais ruas passa? Existe alguma coisa que
chame a sua atenção?
Descreva dois trajetos utilizados com frequência (cite nomes de lugares
de origem e destino e detalhes que chamem a sua atenção durante o
trajeto). Indique também com que objetivo você passa por este(s)
lugar(es).
Trajeto 1
Origem:
Destino:
Descrição:

200
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________
Objetivo:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________O que lhe chama a atenção no trajeto:
__________________________________________________________
____________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________
Por que escolhe esse trajeto e não outro?
__________________________________________________________
____________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________

201
Trajeto 2
Origem:
Destino:
Descrição:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________
Objetivo:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________
O que lhe chama a atenção no trajeto:
________________________________________________________________
______
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________
Por que escolhe esse e não outro?
________________________________________________________________
______
________________________________________________________________
______
________________________________________________________________
______
11. Qual o principal motivo para a escolha da bicicleta nos deslocamentos até a
Universidade? (Se necessário, marque mais de uma opção).
( ) Praticidade
( ) Não tenho outro meio de me
locomover
( ) Rapidez no deslocamento
( ) Saúde
( ) Econômico
( ) Prática de exercício
( ) Prazer de pedalar
( ) Aproveitar a cidade
( ) Baixa emissão de poluentes
(
)
Outros
______________________________________________________________
Obrigado pela participação!
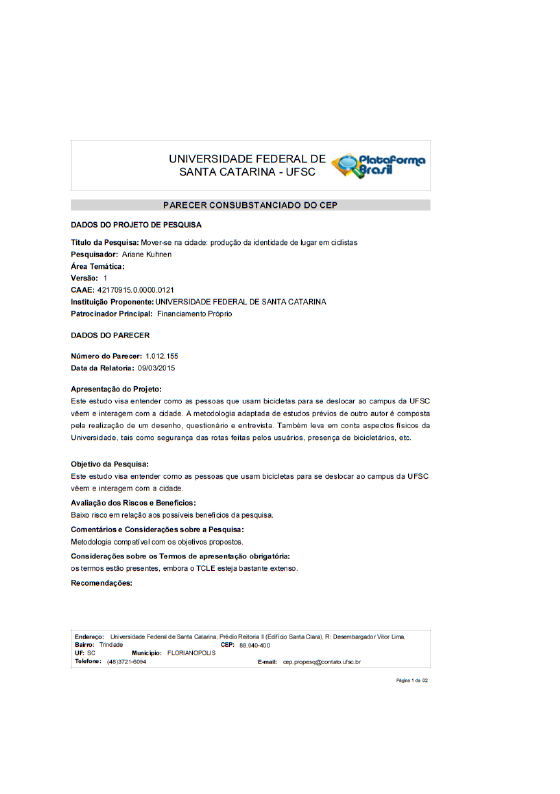
202
ANEXOS
Anexo 1 – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa
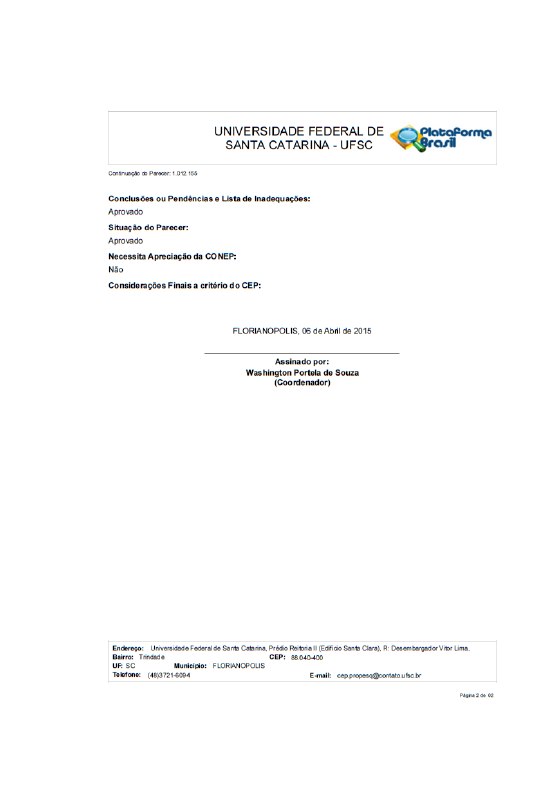
203

204
Anexo 2 – Mapa da Universidade Federal de Santa Catarina
Fonte: http://estrutura.ufsc.br/mapa/
