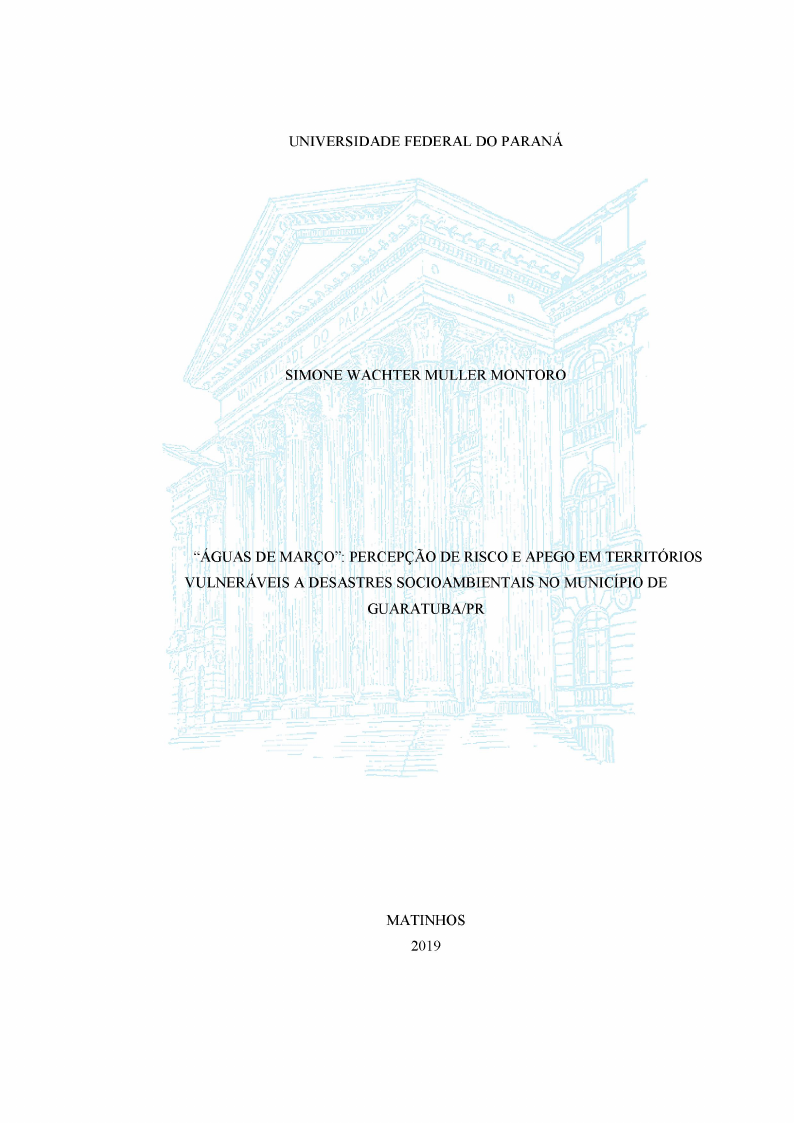
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SIMONE WACHTER MULLER MONTORO
“ÁGUAS DE MARÇO”: PERCEPÇÃO DE RISCO E APEGO EM TERRITÓRIOS
VULNERÁVEIS A DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE
GUARATUBA/PR
MATINHOS
2019

SIMONE WACHTER MULLER MONTORO
“ÁGUAS DE MARÇO”: PERCEPÇÃO DE RISCO E APEGO EM TERRITÓRIOS
VULNERÁVEIS A DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE
GUARATUBA/PR
Dissertação apresentada como requisito parcial à
obtenção do grau de Mestre em Ciências
Ambientais, no Curso de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Territorial Sustentável, Setor
Litoral, da Universidade Federal do Paraná.
Orientador: Prof.aDr.a Luciana Castilho Weinert
Coorientador: Prof.a Dr.a Eveline Fávero
MATINHOS
2019

Dados Internacionais de Catalogação na Fonte
Biblioteca da Universidade Federal do Paraná - Setor Litoral
M798a
Montoro, Simone Wacfiter Muller
'Aguas de março": percepção de risco e apego em territórios vulneráveis
a desastres socioambientais no município de Guaratuba/PR / Simone Wachter
Muller Montoro; onentadora Luciana Castilho Weinert; coonentadora Eveline
Fávero.- 2 0 1 9 .
103 f.
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Paraná • Setor Litoral.
Matinhos/PR. 2019.
1. Desastres socioambientais (Litoral do Paraná) 2. Desastres ambientais
(Litoral do Paraná). 3. Mudanças climáticas 4. Águas de março (Guaratuba, PR). I.
Dissertação (Mestrado) - Dissertação (Mestrado) - Programa do Mestrado em
Desenvolvimento Territorial Sustentável. II. Titulo.
C D D -363.34
Marco» Vmicius Fidenoo CR8-9MB11

M 1 N E T Ö W J DA E íjjC A Ç A Q
s e t o r b e t « ? LITO RAL
UW lVBRSffilAiie F E U ÍR M . DD PAftANA
P R ÍL R E T O R lA DE PESÜ U lSA E ROS-GRADUAÇÀD
PR Ü M A M A D E P*S-GRADüAÇÃO D EEESJO LVRAEW TC
T E R R IT O R IA L S JÇ T E N T A V E l - AQOQ ieiflÖ A1P3
TER MIO DE À PR O V A Ç A 0
Ü i membros Oe B H d a Ex im nadera d e iijn ed e pald Cpltgiadp doPrpgrana de P p l C-■jdija^äp «m D FLln vC 'L'.'i'M Ew T ö
TERRITORIAL SU STEN T Á V EL d» Unlvaradada Föderal oa Parana lorarn oonvoceooa p a n raakur a ergmsdo da daaanaçto da
M M lrat» da SIMONE WÄCHTER MÜLLER MONTORO knKuUMM *AGUAS DE MARCO* PERCEPÇÃO OE R B C O E APEOO
EM TERRITORíOA VULNER AvLlE A 0 L&A5 THÇ5 SOCIO AMBIENTAIS HO MLWICIPK9 DE OU A HATUBA.'PR RK>4 kann
Ibflulrmi " nluia a ragimnp ■ gviliacAS dB O lbU lp , iGrp da pantLti pah u n
rarb m
d a fn i
A o u lo r f i de llllAd d t ip a ilr * e i l t » u e lL i a hapu iln ja f i n ptilp eaM giada a a m*r.:i 'r- nlb iRi '-i-Jab bk M ie d f B R a * b o f H d a *
feGilüläGäi ptid Im'ii.ü e k j pleno JiLeniiirneiita nie rk.n -annai Hajicit-rii** de
(5c l'i .m-T.i « l u r á .
MAT1NHQS, 3S d l AdN d» M lfi.
i#sD
UUC1AMA
CAÄTilmO 'MEWERT
PrM clio t* da Üanc* E iim m w o r* (UFPQ i
'Cr*-. ,elL-- —
AH1X5 DUMHA THQMAIJSIM
Avancen EaMtirp (i# p n i
■nJA
MAHTCÜ5 U j t A A <>SIQNOHE Lll
Avaka3nrEr(WTn lUPPR)
R Ü A JA C U A H tA lV A , 512 MATIN H DS ■P a ra n l -Grast!
T-tP Í J M M M - T H [A l) KM1-&371 E m a il rag d ttÇ n T íf pr
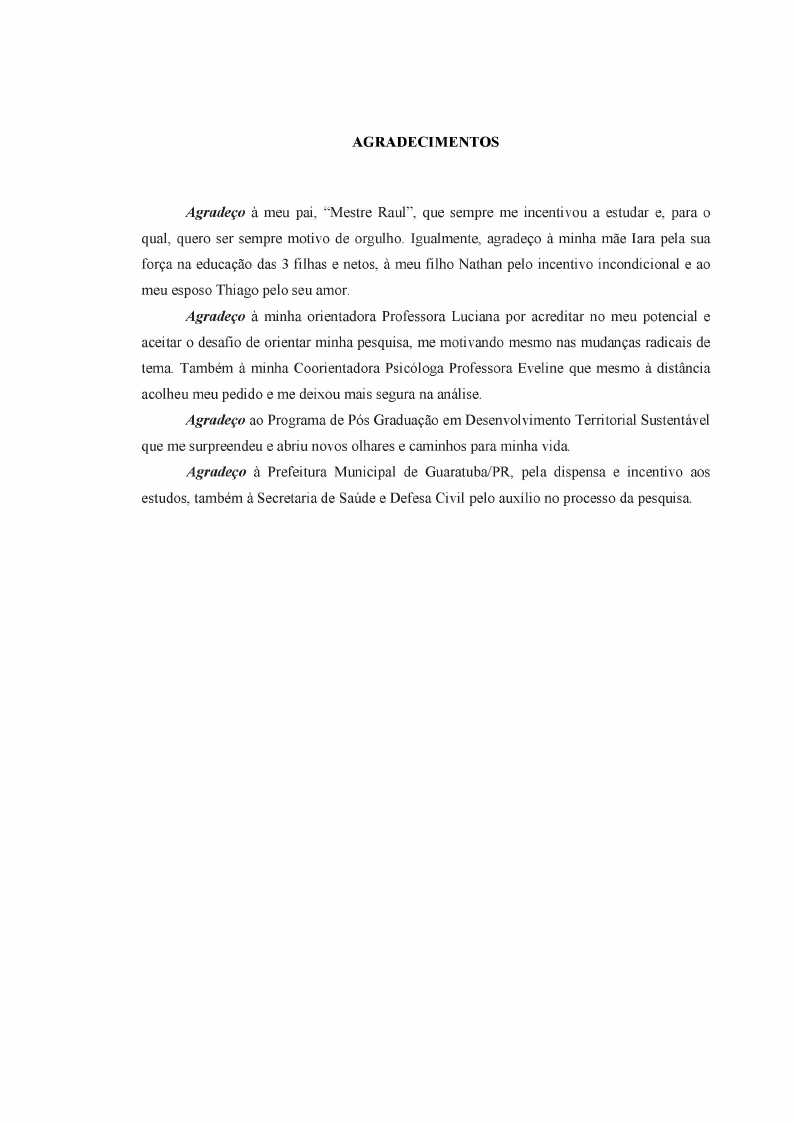
A G R A D EC IM EN TO S
Agradeço à meu pai, “Mestre Raul”, que sempre me incentivou a estudar e, para o
qual, quero ser sempre motivo de orgulho. Igualmente, agradeço à minha mãe Iara pela sua
força na educação das 3 filhas e netos, à meu filho Nathan pelo incentivo incondicional e ao
meu esposo Thiago pelo seu amor.
Agradeço à minha orientadora Professora Luciana por acreditar no meu potencial e
aceitar o desafio de orientar minha pesquisa, me motivando mesmo nas mudanças radicais de
tema. Também à minha Coorientadora Psicóloga Professora Eveline que mesmo à distância
acolheu meu pedido e me deixou mais segura na análise.
Agradeço ao Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável
que me surpreendeu e abriu novos olhares e caminhos para minha vida.
Agradeço à Prefeitura Municipal de Guaratuba/PR, pela dispensa e incentivo aos
estudos, também à Secretaria de Saúde e Defesa Civil pelo auxílio no processo da pesquisa.

“É pau, é pedra, é ofim do caminho
É um resto de toco, é um pouco sozinho
É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã
É um belo horizonte, é uma febre terçã
São as águas de março fechando o verão
É a promessa de vida no teu coração
(Tom Jobin).

Dedico esta dissertação à
todos aqueles que, de alguma forma, passaram
por uma situação de desastre socioambiental e
encontraram forças para recomeçar.

RESUMO
Eventos de desastres, principalmente relacionados às mudanças climáticas que vem
ocorrendo nos últimos anos, são destaques nas literaturas, noticiários e senso comum. O
litoral paranaense foi uma das áreas afetadas, acometida por um grande volume de chuva no
ano de 2011, ocasionando um desastre socioambiental de amplas proporções, evento que
ficou conhecido como “Águas de Março” e causou diversos estragos e perdas significativas
para os moradores das áreas atingidas. Frente à esta temática, realizou-se esta pesquisa, com
o objetivo principal de investigar a percepção de risco, a identidade e o apego ao lugar de
pessoas residentes em áreas afetadas por desastres socioambientais no município de
Guaratuba e através deste resultado, buscou-se compreender como as pessoas se relacionam
com este ambiente vulnerável. Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa
do setor de Ciências da Saúde da UFPR com critérios de inclusão de ser maior de 18 anos e
residir há pelo menos 8 anos na região pré-estabelecida. Traçou-se para esta pesquisa, o
delineamento metodológico qualitativo, observacional e transversal que dividiu-se em B fases:
1° coletou-se os dados, através de 9 entrevistas em profundidade aplicadas em moradores da
área determinada; 2° realizou-se a pré-análise das entrevistas transcritas que formaram B
categorias iniciais, sendo elas: i) Experiência do Desastre; ii) Identidade e Apego ao Lugar - a
escolha do território como uma lugar para viver e iii) Percepção de risco e destas, surgiram
categorias intermediárias e B° analisou-se os dados pelo método de Análise de Conteúdo.
Como resultado, percebe-se que as influências relacionadas às necessidades satisfeitas com o
local onde vivem, são determinantes nos processos de identificação e apego com o lugar.
Também compreende-se que a ocorrência de uma situação de desastre, mesmo que em
grandes proporções, como a ocorrida no ano de 2011, não modificou a relação que os
moradores têm com seu ambiente. Estes não o percebem como um lugar que ofereça perigo
eminente e também não vinculam o evento como um fator negativo para sua permanência no
local. Espera-se, através desta pesquisa e das teorias psicológicas, ter a possibilidade de
contribuir com a compreensão do que ocorre quando pessoas passam por situações de
desastres e continuam vivendo em ambientes de risco, assim como, analisar suas dimensões e
consequências contribuindo para a construção de comunidades mais seguras, capazes de lidar
com situações extremas e adversas.
Palavras-chave: Psicologia Ambiental, Desastres, Apego, Percepção de Risco

ABSTRACT
Disasters, mainly related to climate change that have been occurring in recent years,
are highlights in literature, news and common sense. The coast of Paraná was one of the
affected areas, affected by a large amount of rain in 2011, causing a socio-environmental
disaster of large proportions, an event that was known as "Águas de Março" and caused
several damages and significant losses for the residents of affected areas. In the face of this
theme, this research was carried out, with the main objective of investigating the perception of
risk, identity and attachment to the place of people living in areas affected by socio-
environmental disasters in the municipality of Guaratuba, and through this result, understand
how people relate to this vulnerable environment. This research was submitted to the
Research Ethics Committee of the Health Sciences sector of UFPR with inclusion criteria
being over 18 years old and residing for at least 8 years in the pre-established region. The
qualitative, observational and cross-sectional methodological design was divided into three
phases: 1) the data were collected through 9 in-depth interviews applied to residents of the
determined area; 2° the pre-analysis of the transcribed interviews was carried out that formed
3 initial categories, being: i) Experience of the Disaster; ii) Identity and Attachment to the
Place - the choice of the territory as a place to live and iii) Perception of risk and from these,
intermediate categories appeared and 3rd was analyzed the data by the Content Analysis
method. As a result, it is perceived that the influences related to the needs satisfied with the
place where they live, are determinant in the processes of identification and attachment with
the place. It is also understood that the occurrence of a disaster situation, even to a large
extent, such as occurred in 2011, did not change the relationship that residents have with their
environment. These do not perceive it as a place that offers eminent danger and also do not
bind the event as a negative factor for their stay in place. It is hoped, through this research and
psychological theories, to be able to contribute to the understanding of what happens when
people go through disasters and continue to live in risky environments, as well as to analyze
their dimensions and consequences contributing to the construction communities to deal with
extreme and adverse situations.
Key-words: Environmental Psychology, Disasters, Attachment, Perception of Risk
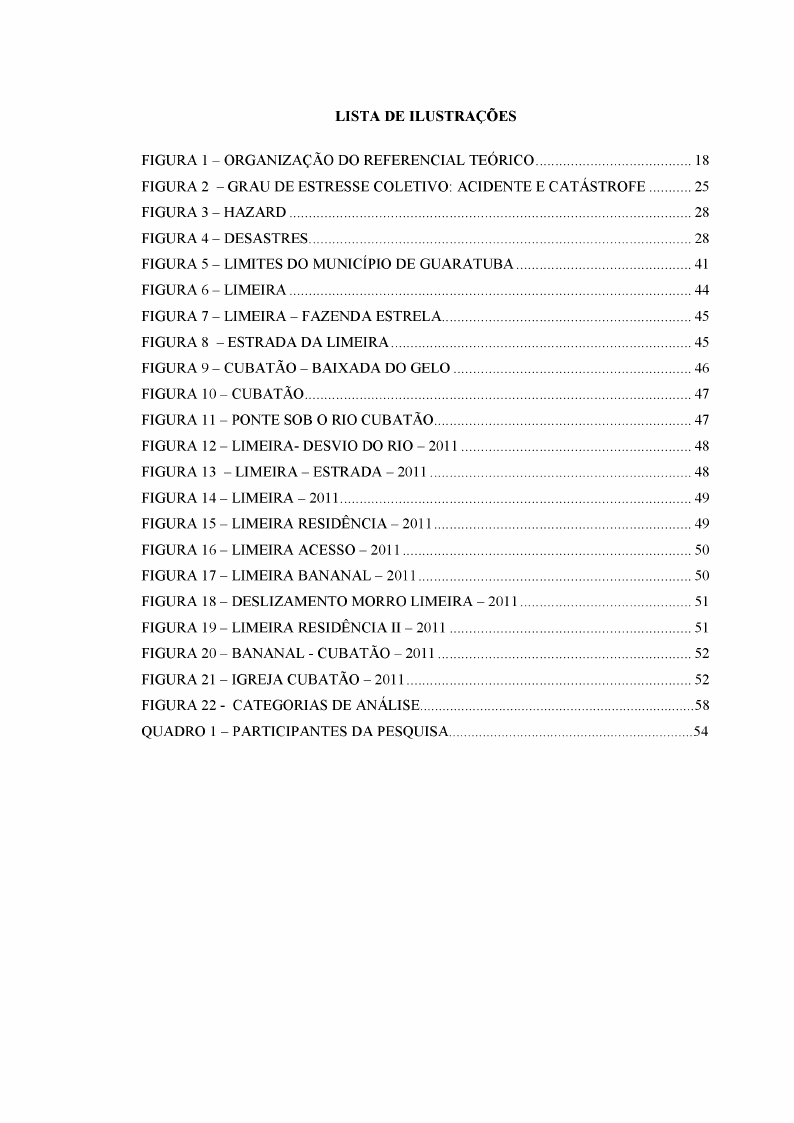
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
FIGURA 1 - ORGANIZAÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO..............................................18
FIGURA 2 - GRAU DE ESTRESSE COLETIVO: ACIDENTE E CATÁSTROFE
25
FIGURA 3 - HAZARD.................................................................................................................... 28
FIGURA 4 - DESASTRES...............................................................................................................28
FIGURA 5 - LIMITES DO MUNICÍPIO DE GUARATUBA...................................................41
FIGURA 6 - LIM EIRA.................................................................................................................... 44
FIGURA 7 - LIMEIRA - FAZENDA ESTRELA........................................................................ 45
FIGURA 8 - ESTRADA DA LIM EIRA.......................................................................................45
FIGURA 9 - CUBATÃO - BAIXADA DO G ELO .....................................................................46
FIGURA 10 - CUBATÃO................................................................................................................47
FIGURA 11 - PONTE SOB O RIO CUBATÃO.......................................................................... 47
FIGURA 12 - LIMEIRA- DESVIO DO RIO - 2011...................................................................48
FIGURA 13 - LIMEIRA - ESTRADA - 2011............................................................................48
FIGURA 14 - LIMEIRA - 2011......................................................................................................49
FIGURA 15 - LIMEIRA RESIDÊNCIA - 2011.......................................................................... 49
FIGURA 16 - LIMEIRA ACESSO - 2011....................................................................................50
FIGURA 17 - LIMEIRA BANANAL - 2011............................................................................... 50
FIGURA 18 - DESLIZAMENTO MORRO LIMEIRA - 2011..................................................51
FIGURA 19 - LIMEIRA RESIDÊNCIA II - 2 0 1 1 ...................................................................... 51
FIGURA 20 - BANANAL - CUBATÃO - 2011......................................................................... 52
FIGURA 21 - IGREJA CUBATÃO - 2011...................................................................................52
FIGURA 22 - CATEGORIAS DE ANÁLISE...............................................................................58
QUADRO 1 - PARTICIPANTES DA PESQUISA......................................................................54
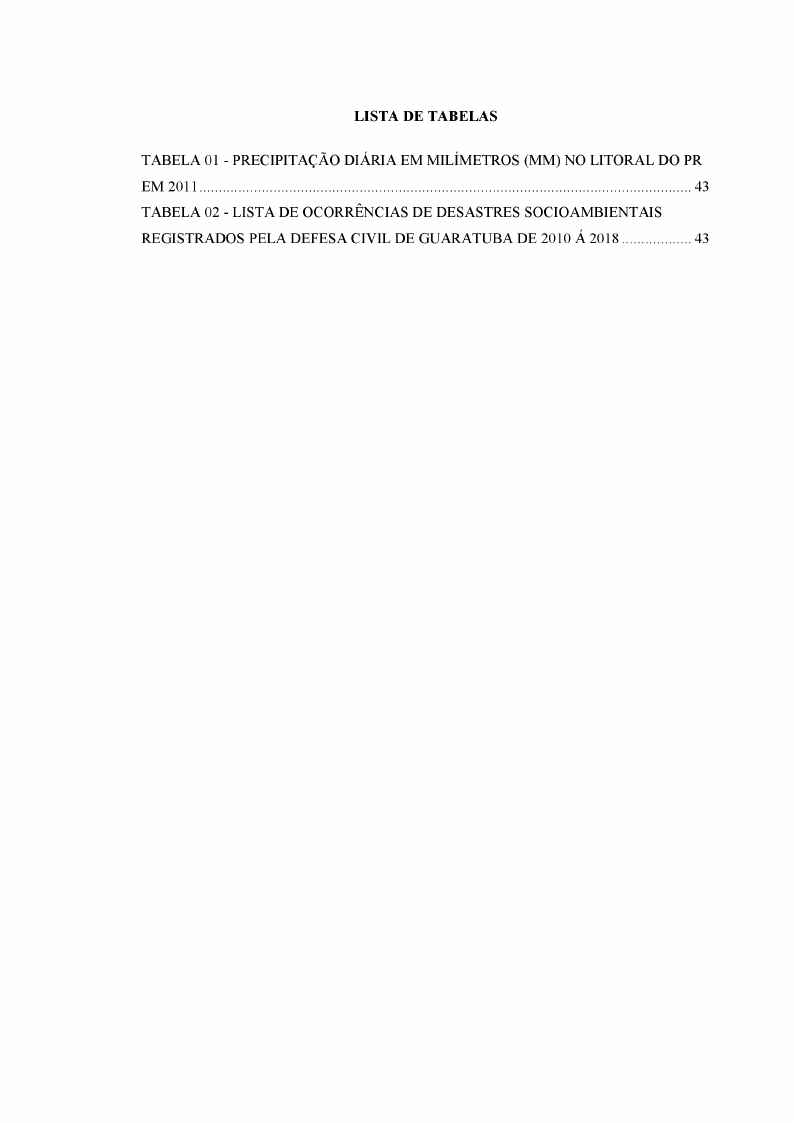
LISTA DE TABELAS
TABELA 01 - PRECIPITAÇÃO DIÁRIA EM MILÍMETROS (MM) NO LITORAL DO PR
EM 2011.............................................................................................................................................. 43
TABELA 02 - LISTA DE OCORRÊNCIAS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS
REGISTRADOS PELA DEFESA CIVIL DE GUARATUBA DE 2010 Á 2018.................... 43
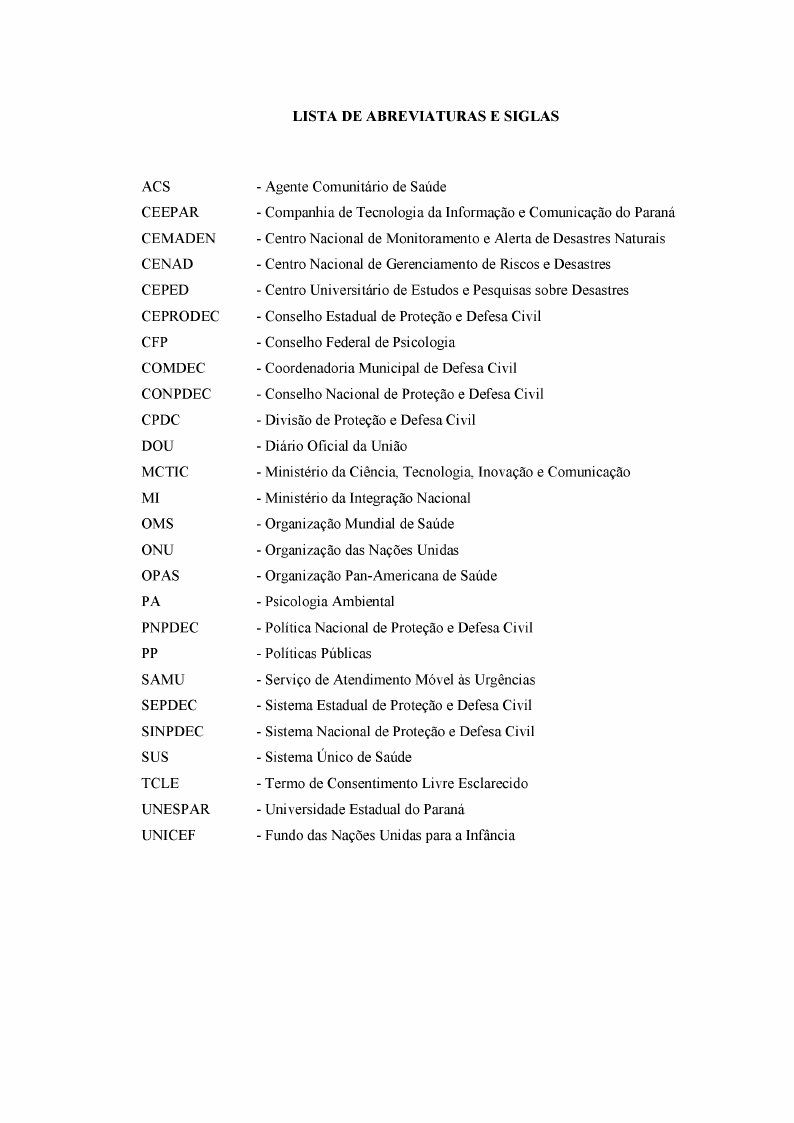
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ACS
CEEPAR
CEMADEN
CENAD
CEPED
CEPRODEC
CFP
COMDEC
CONPDEC
CPDC
DOU
MCTIC
MI
OMS
ONU
OPAS
PA
PNPDEC
PP
SAMU
SEPDEC
SINPDEC
SUS
TCLE
UNESPAR
UNICEF
- Agente Comunitário de Saúde
- Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná
- Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais
- Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres
- Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres
- Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil
- Conselho Federal de Psicologia
- Coordenadoria Municipal de Defesa Civil
- Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil
- Divisão de Proteção e Defesa Civil
- Diário Oficial da União
- Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação
- Ministério da Integração Nacional
- Organização Mundial de Saúde
- Organização das Nações Unidas
- Organização Pan-Americana de Saúde
- Psicologia Ambiental
- Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
- Políticas Públicas
- Serviço de Atendimento Móvel às Urgências
- Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil
- Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil
- Sistema Único de Saúde
- Termo de Consentimento Livre Esclarecido
- Universidade Estadual do Paraná
- Fundo das Nações Unidas para a Infância
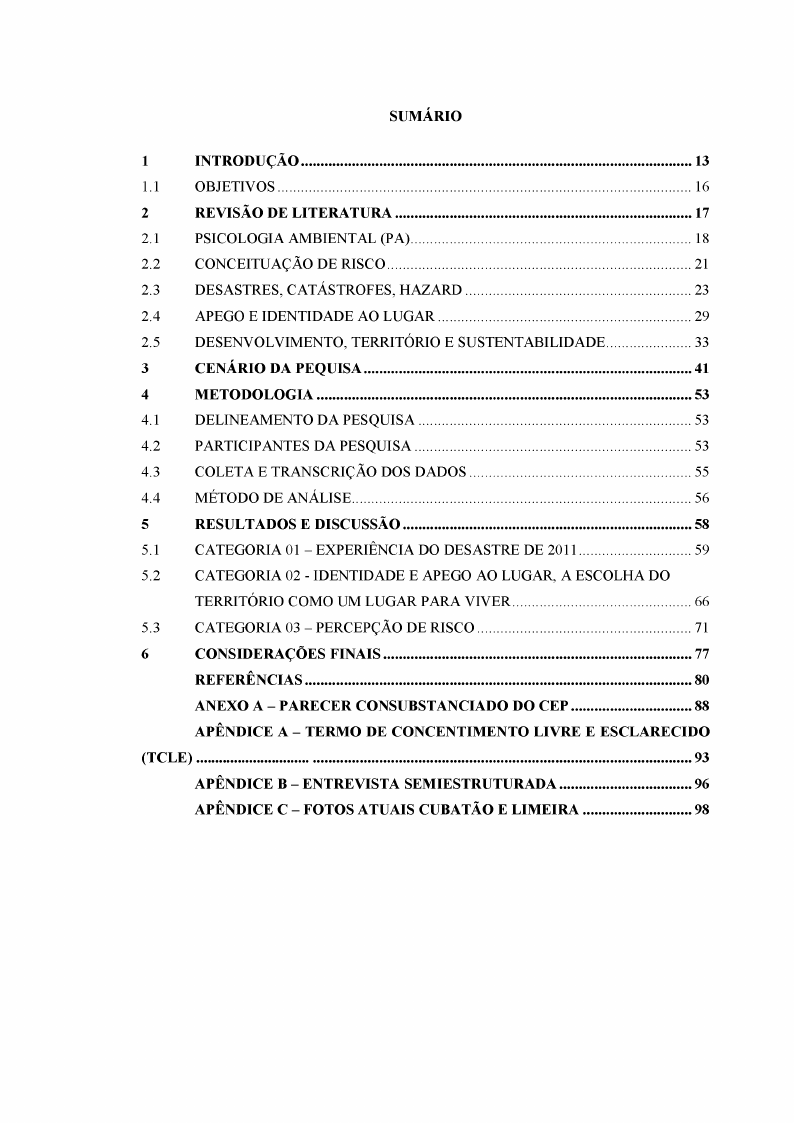
SUMÁRIO
1
IN TR O D U ÇÃ O ...................................................................................................................13
1.1 OBJETIVOS..........................................................................................................................16
2
REVISÃO DE L IT E R A T U R A ........................................................................................17
2.1 PSICOLOGIA AMBIENTAL (PA)................................................................................... 18
2.2 CONCEITUAÇÃO DE RISCO..........................................................................................21
2.3 DESASTRES, CATÁSTROFES, HAZARD ................................................................... 23
2.4 APEGO E IDENTIDADE AO LU G A R ........................................................................... 29
2.5 DESENVOLVIMENTO, TERRITÓRIO E SUSTENTABILIDADE...........................33
3
CENÁRIO DA PEQ U ISA .................................................................................................41
4
M E T O D O L O G IA .............................................................................................................. 53
4.1 DELINEAMENTO DA PESQ UISA .................................................................................53
4.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA..................................................................................53
4.3 COLETA E TRANSCRIÇÃO DOS D AD O S.................................................................. 55
4.4 MÉTODO DE ANÁLISE.................................................................................................... 56
5
RESULTADOS E DISCU SSÃO ..................................................................................... 58
5.1 CATEGORIA 01 - EXPERIÊNCIA DO DESASTRE DE 2011...................................59
5.2 CATEGORIA 02 - IDENTIDADE E APEGO AO LUGAR, A ESCOLHA DO
TERRITÓRIO COMO UM LUGAR PARA VIVER.................................................... 66
5.3 CATEGORIA 03 - PERCEPÇÃO DE R ISC O ................................................................ 71
6
CONSIDERAÇÕES F IN A IS ........................................................................................... 77
R EFE R Ê N C IA S................................................................................................................80
ANEXO A - PA R ECER CONSUBSTANCIADO DO C E P ................................... 88
APÊNDICE A - TERMO DE CONCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(T C L E )............................................................................................................................................... 93
APÊNDICE B - ENTREVISTA SEM IESTRU TU RAD A ...................................... 96
APÊNDICE C - FOTOS ATUAIS CUBATÃO E L IM E IR A ................................98
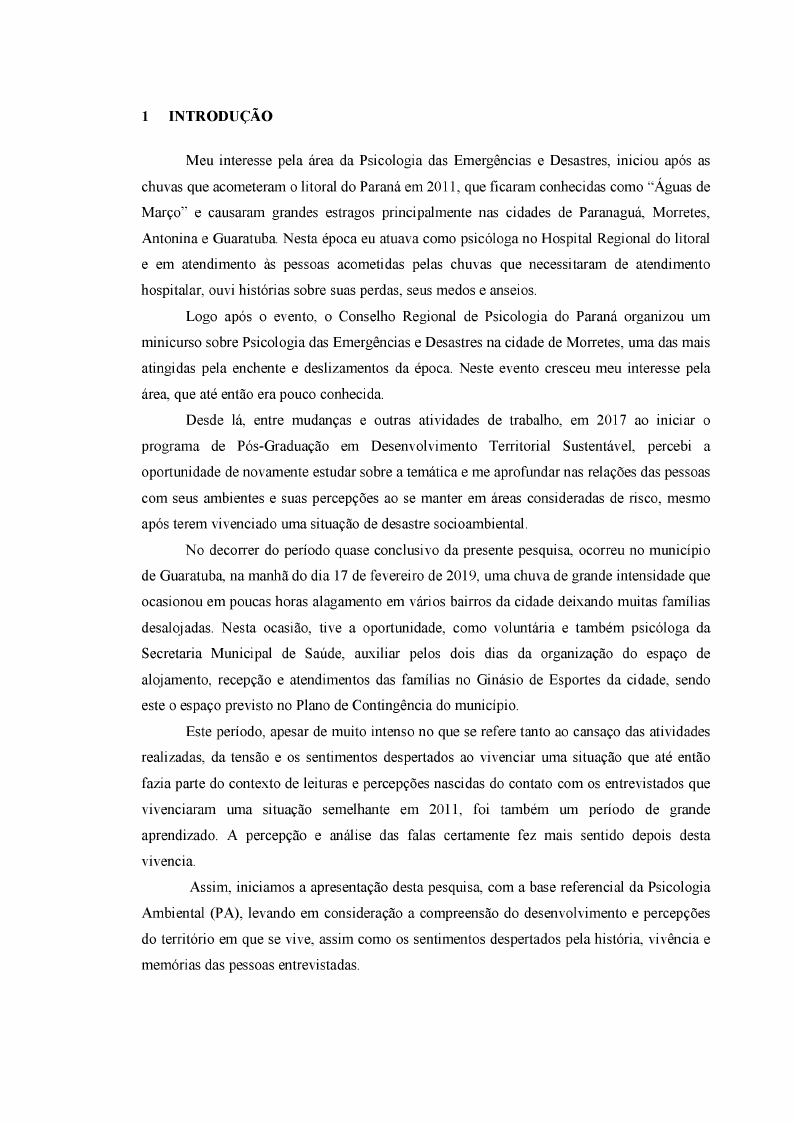
1 INTRODUÇÃO
Meu interesse pela área da Psicologia das Emergências e Desastres, iniciou após as
chuvas que acometeram o litoral do Paraná em 2011, que ficaram conhecidas como “Águas de
Março” e causaram grandes estragos principalmente nas cidades de Paranaguá, Morretes,
Antonina e Guaratuba. Nesta época eu atuava como psicóloga no Hospital Regional do litoral
e em atendimento às pessoas acometidas pelas chuvas que necessitaram de atendimento
hospitalar, ouvi histórias sobre suas perdas, seus medos e anseios.
Logo após o evento, o Conselho Regional de Psicologia do Paraná organizou um
minicurso sobre Psicologia das Emergências e Desastres na cidade de Morretes, uma das mais
atingidas pela enchente e deslizamentos da época. Neste evento cresceu meu interesse pela
área, que até então era pouco conhecida.
Desde lá, entre mudanças e outras atividades de trabalho, em 2017 ao iniciar o
programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável, percebi a
oportunidade de novamente estudar sobre a temática e me aprofundar nas relações das pessoas
com seus ambientes e suas percepções ao se manter em áreas consideradas de risco, mesmo
após terem vivenciado uma situação de desastre socioambiental.
No decorrer do período quase conclusivo da presente pesquisa, ocorreu no município
de Guaratuba, na manhã do dia 17 de fevereiro de 2019, uma chuva de grande intensidade que
ocasionou em poucas horas alagamento em vários bairros da cidade deixando muitas famílias
desalojadas. Nesta ocasião, tive a oportunidade, como voluntária e também psicóloga da
Secretaria Municipal de Saúde, auxiliar pelos dois dias da organização do espaço de
alojamento, recepção e atendimentos das famílias no Ginásio de Esportes da cidade, sendo
este o espaço previsto no Plano de Contingência do município.
Este período, apesar de muito intenso no que se refere tanto ao cansaço das atividades
realizadas, da tensão e os sentimentos despertados ao vivenciar uma situação que até então
fazia parte do contexto de leituras e percepções nascidas do contato com os entrevistados que
vivenciaram uma situação semelhante em 2011, foi também um período de grande
aprendizado. A percepção e análise das falas certamente fez mais sentido depois desta
vivencia.
Assim, iniciamos a apresentação desta pesquisa, com a base referencial da Psicologia
Ambiental (PA), levando em consideração a compreensão do desenvolvimento e percepções
do território em que se vive, assim como os sentimentos despertados pela história, vivência e
memórias das pessoas entrevistadas.
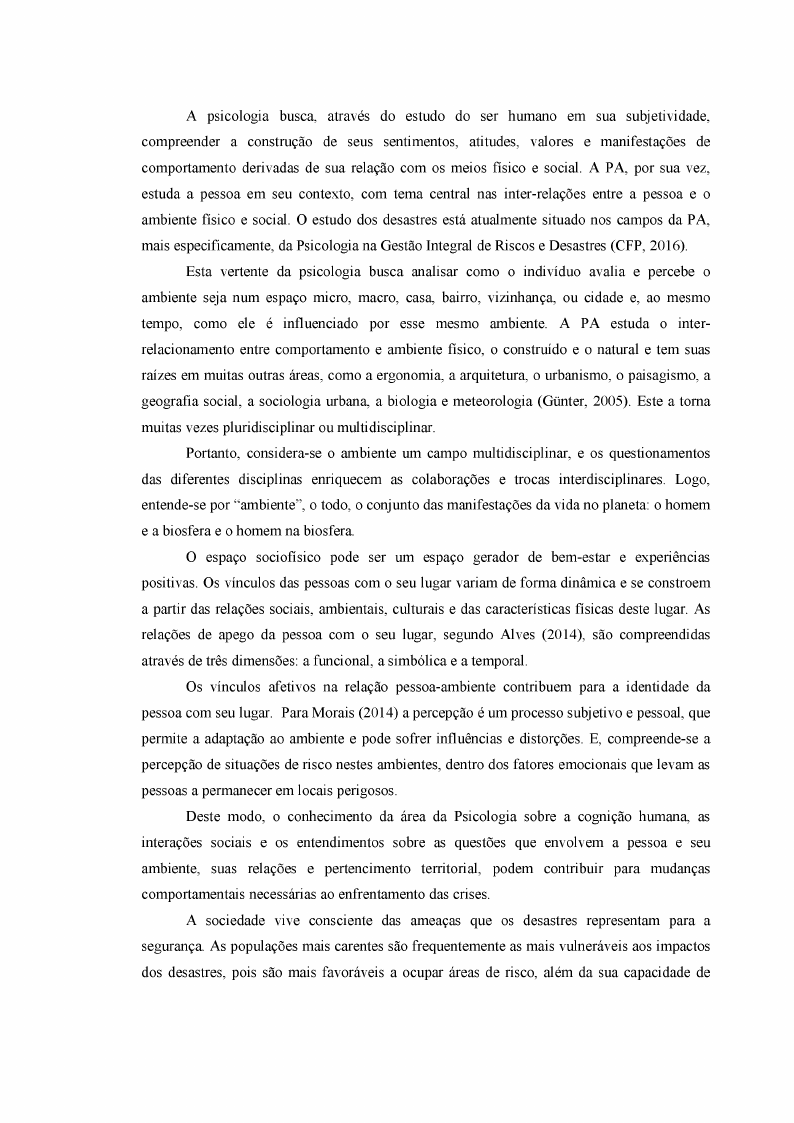
A psicologia busca, através do estudo do ser humano em sua subjetividade,
compreender a construção de seus sentimentos, atitudes, valores e manifestações de
comportamento derivadas de sua relação com os meios físico e social. A PA, por sua vez,
estuda a pessoa em seu contexto, com tema central nas inter-relações entre a pessoa e o
ambiente físico e social. O estudo dos desastres está atualmente situado nos campos da PA,
mais especificamente, da Psicologia na Gestão Integral de Riscos e Desastres (CFP, 2016).
Esta vertente da psicologia busca analisar como o indivíduo avalia e percebe o
ambiente seja num espaço micro, macro, casa, bairro, vizinhança, ou cidade e, ao mesmo
tempo, como ele é influenciado por esse mesmo ambiente. A PA estuda o inter-
relacionamento entre comportamento e ambiente físico, o construído e o natural e tem suas
raízes em muitas outras áreas, como a ergonomia, a arquitetura, o urbanismo, o paisagismo, a
geografia social, a sociologia urbana, a biologia e meteorologia (Günter, 2005). Este a torna
muitas vezes pluridisciplinar ou multidisciplinar.
Portanto, considera-se o ambiente um campo multidisciplinar, e os questionamentos
das diferentes disciplinas enriquecem as colaborações e trocas interdisciplinares. Logo,
entende-se por “ambiente”, o todo, o conjunto das manifestações da vida no planeta: o homem
e a biosfera e o homem na biosfera.
O espaço sociofísico pode ser um espaço gerador de bem-estar e experiências
positivas. Os vínculos das pessoas com o seu lugar variam de forma dinâmica e se constroem
a partir das relações sociais, ambientais, culturais e das características físicas deste lugar. As
relações de apego da pessoa com o seu lugar, segundo Alves (2014), são compreendidas
através de três dimensões: a funcional, a simbólica e a temporal.
Os vínculos afetivos na relação pessoa-ambiente contribuem para a identidade da
pessoa com seu lugar. Para Morais (2014) a percepção é um processo subjetivo e pessoal, que
permite a adaptação ao ambiente e pode sofrer influências e distorções. E, compreende-se a
percepção de situações de risco nestes ambientes, dentro dos fatores emocionais que levam as
pessoas a permanecer em locais perigosos.
Deste modo, o conhecimento da área da Psicologia sobre a cognição humana, as
interações sociais e os entendimentos sobre as questões que envolvem a pessoa e seu
ambiente, suas relações e pertencimento territorial, podem contribuir para mudanças
comportamentais necessárias ao enfrentamento das crises.
A sociedade vive consciente das ameaças que os desastres representam para a
segurança. As populações mais carentes são frequentemente as mais vulneráveis aos impactos
dos desastres, pois são mais favoráveis a ocupar áreas de risco, além da sua capacidade de
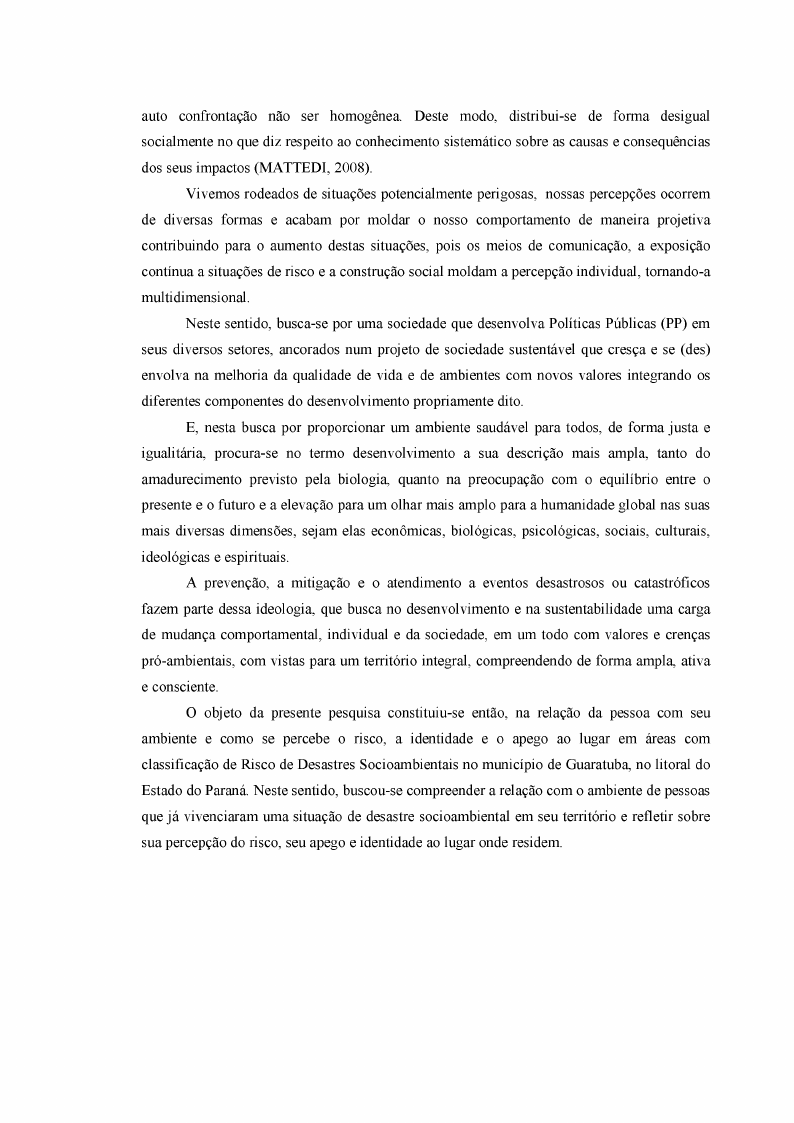
auto confrontação não ser homogênea. Deste modo, distribui-se de forma desigual
socialmente no que diz respeito ao conhecimento sistemático sobre as causas e consequências
dos seus impactos (MATTEDI, 2008).
Vivemos rodeados de situações potencialmente perigosas, nossas percepções ocorrem
de diversas formas e acabam por moldar o nosso comportamento de maneira projetiva
contribuindo para o aumento destas situações, pois os meios de comunicação, a exposição
contínua a situações de risco e a construção social moldam a percepção individual, tornando-a
multidimensional.
Neste sentido, busca-se por uma sociedade que desenvolva Políticas Públicas (PP) em
seus diversos setores, ancorados num projeto de sociedade sustentável que cresça e se (des)
envolva na melhoria da qualidade de vida e de ambientes com novos valores integrando os
diferentes componentes do desenvolvimento propriamente dito.
E, nesta busca por proporcionar um ambiente saudável para todos, de forma justa e
igualitária, procura-se no termo desenvolvimento a sua descrição mais ampla, tanto do
amadurecimento previsto pela biologia, quanto na preocupação com o equilíbrio entre o
presente e o futuro e a elevação para um olhar mais amplo para a humanidade global nas suas
mais diversas dimensões, sejam elas econômicas, biológicas, psicológicas, sociais, culturais,
ideológicas e espirituais.
A prevenção, a mitigação e o atendimento a eventos desastrosos ou catastróficos
fazem parte dessa ideologia, que busca no desenvolvimento e na sustentabilidade uma carga
de mudança comportamental, individual e da sociedade, em um todo com valores e crenças
pró-ambientais, com vistas para um território integral, compreendendo de forma ampla, ativa
e consciente.
O objeto da presente pesquisa constituiu-se então, na relação da pessoa com seu
ambiente e como se percebe o risco, a identidade e o apego ao lugar em áreas com
classificação de Risco de Desastres Socioambientais no município de Guaratuba, no litoral do
Estado do Paraná. Neste sentido, buscou-se compreender a relação com o ambiente de pessoas
que já vivenciaram uma situação de desastre socioambiental em seu território e refletir sobre
sua percepção do risco, seu apego e identidade ao lugar onde residem.
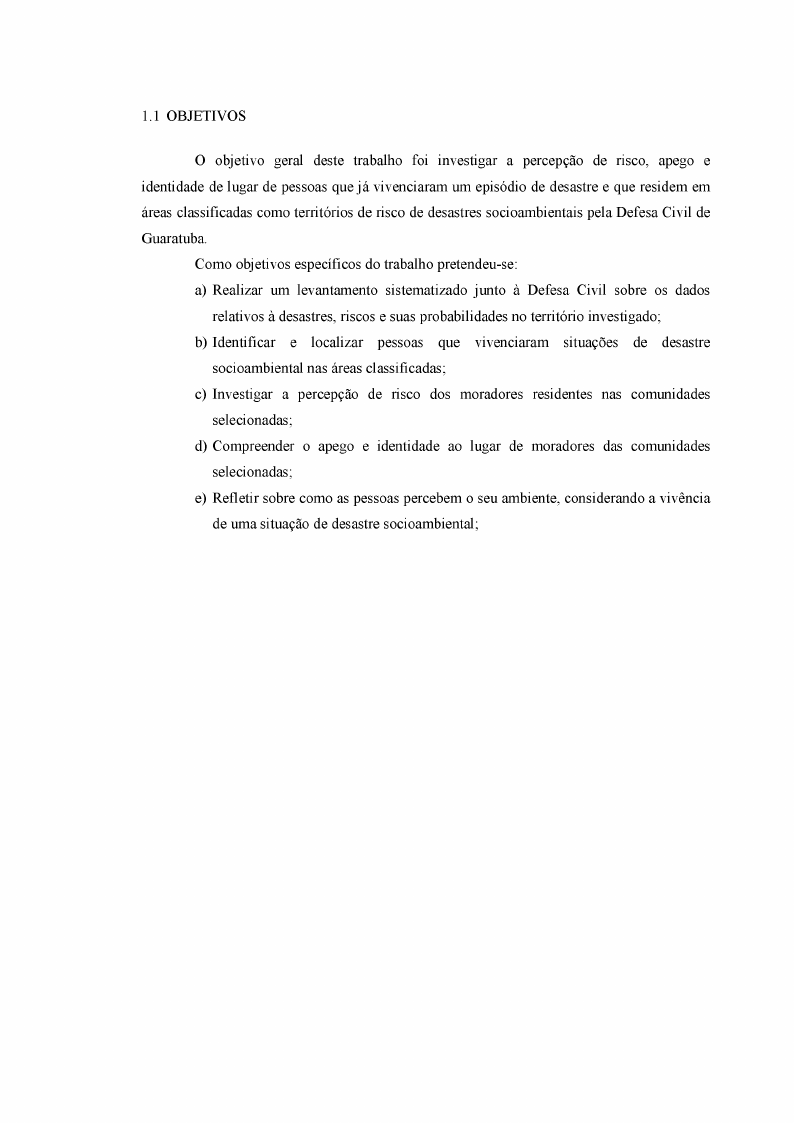
1.1 OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho foi investigar a percepção de risco, apego e
identidade de lugar de pessoas que já vivenciaram um episódio de desastre e que residem em
áreas classificadas como territórios de risco de desastres socioambientais pela Defesa Civil de
Guaratuba.
Como objetivos específicos do trabalho pretendeu-se:
a) Realizar um levantamento sistematizado junto à Defesa Civil sobre os dados
relativos à desastres, riscos e suas probabilidades no território investigado;
b) Identificar e localizar pessoas que vivenciaram situações de desastre
socioambiental nas áreas classificadas;
c) Investigar a percepção de risco dos moradores residentes nas comunidades
selecionadas;
d) Compreender o apego e identidade ao lugar de moradores das comunidades
selecionadas;
e) Refletir sobre como as pessoas percebem o seu ambiente, considerando a vivência
de uma situação de desastre socioambiental;
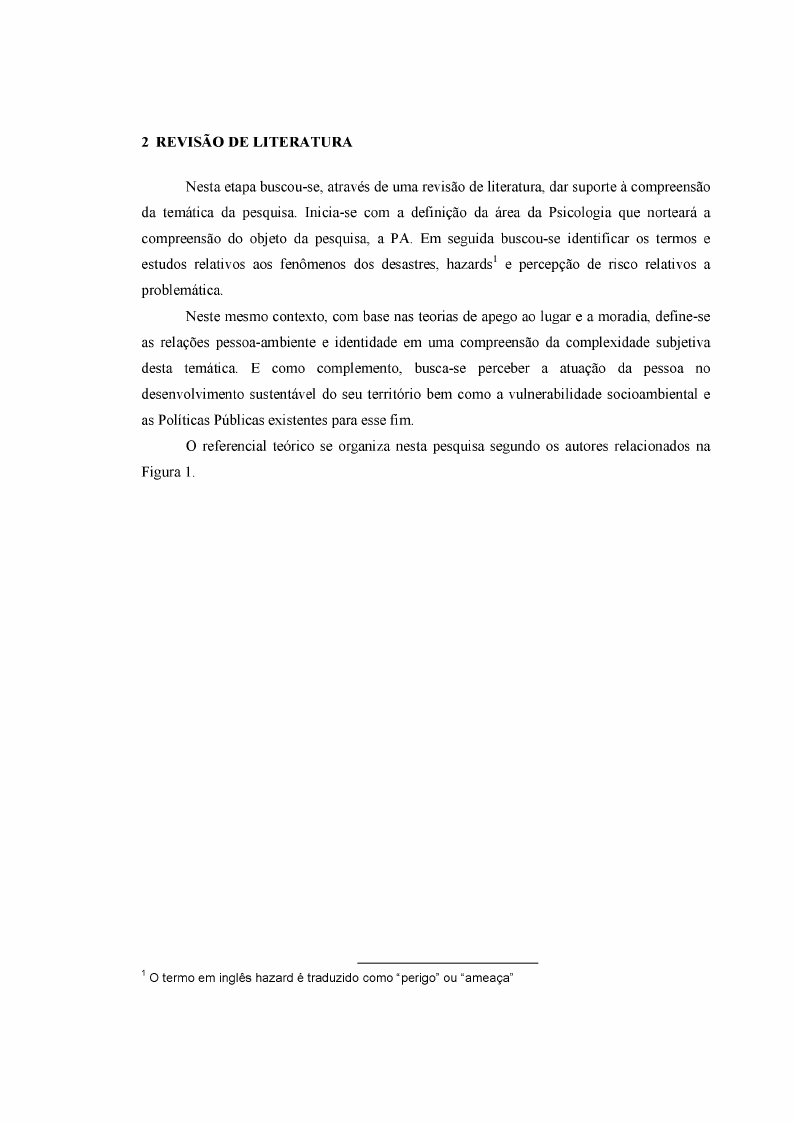
2 REVISÃO DE LITERATURA
Nesta etapa buscou-se, através de uma revisão de literatura, dar suporte à compreensão
da temática da pesquisa. Inicia-se com a definição da área da Psicologia que norteará a
compreensão do objeto da pesquisa, a PA. Em seguida buscou-se identificar os termos e
estudos relativos aos fenômenos dos desastres, hazards1 e percepção de risco relativos a
problemática.
Neste mesmo contexto, com base nas teorias de apego ao lugar e a moradia, define-se
as relações pessoa-ambiente e identidade em uma compreensão da complexidade subjetiva
desta temática. E como complemento, busca-se perceber a atuação da pessoa no
desenvolvimento sustentável do seu território bem como a vulnerabilidade socioambiental e
as Políticas Públicas existentes para esse fim.
O referencial teórico se organiza nesta pesquisa segundo os autores relacionados na
Figura 1.
1 O termo em inglês hazard é traduzido como “ perigo” ou “ameaça”
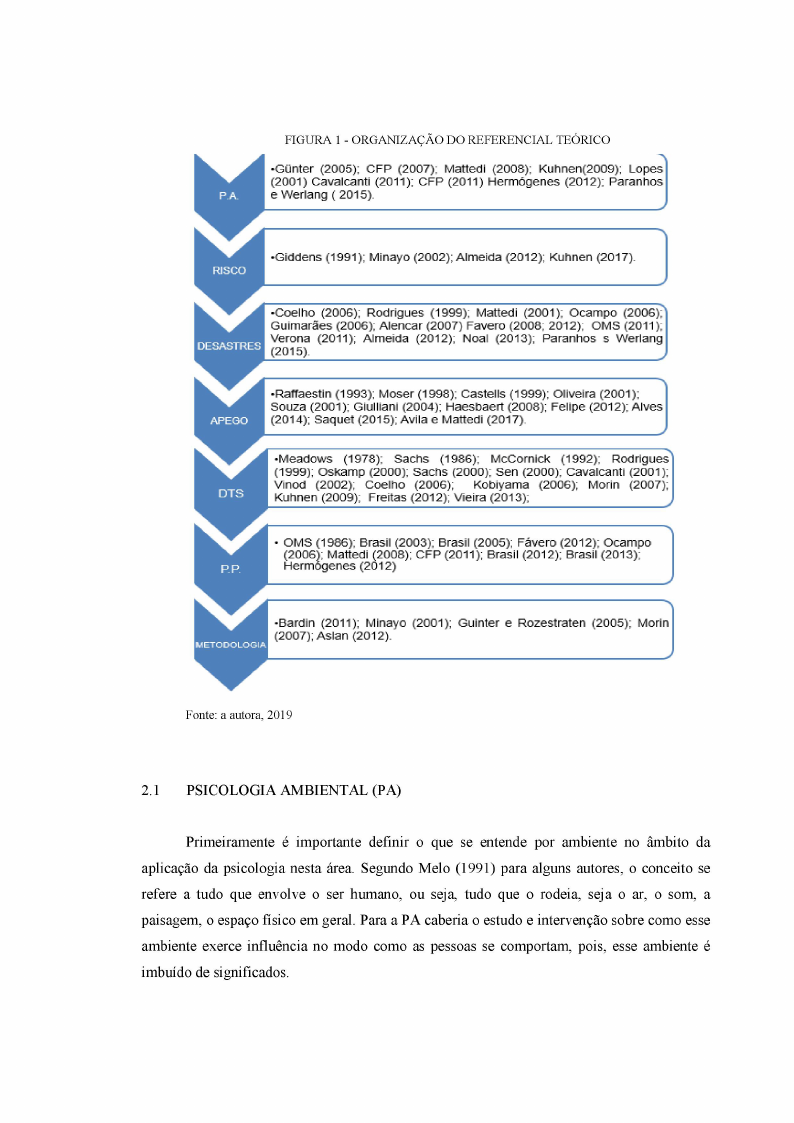
FIGURA 1 - ORGANIZAÇAO DO REFERENCIAL TEORICO
Fonte: a autora, 2019
2.1 PSICOLOGIA AMBIENTAL (PA)
Primeiramente é importante definir o que se entende por ambiente no âmbito da
aplicação da psicologia nesta área. Segundo Melo (1991) para alguns autores, o conceito se
refere a tudo que envolve o ser humano, ou seja, tudo que o rodeia, seja o ar, o som, a
paisagem, o espaço físico em geral. Para a PA caberia o estudo e intervenção sobre como esse
ambiente exerce influência no modo como as pessoas se comportam, pois, esse ambiente é
imbuído de significados.
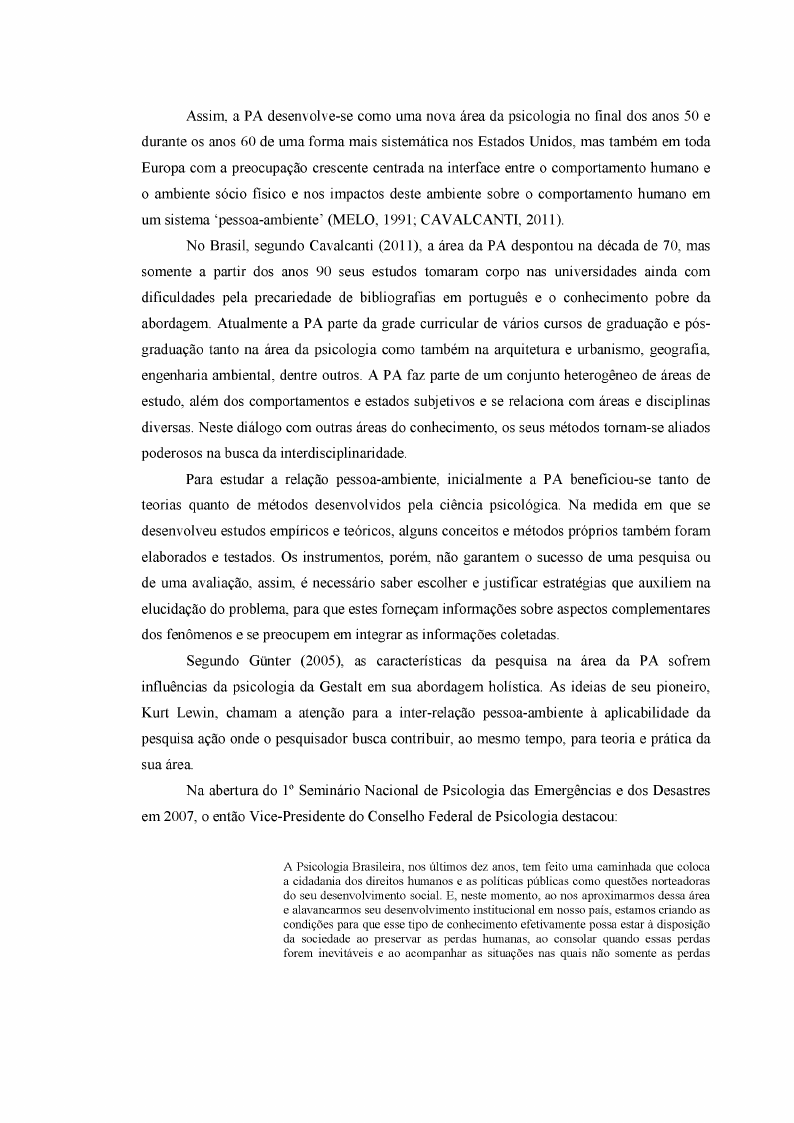
Assim, a PA desenvolve-se como uma nova área da psicologia no final dos anos 50 e
durante os anos 60 de uma forma mais sistemática nos Estados Unidos, mas também em toda
Europa com a preocupação crescente centrada na interface entre o comportamento humano e
o ambiente sócio físico e nos impactos deste ambiente sobre o comportamento humano em
um sistema ‘pessoa-ambiente’ (MELO, 1991; CAVALCANTI, 2011).
No Brasil, segundo Cavalcanti (2011), a área da PA despontou na década de 70, mas
somente a partir dos anos 90 seus estudos tomaram corpo nas universidades ainda com
dificuldades pela precariedade de bibliografias em português e o conhecimento pobre da
abordagem. Atualmente a PA parte da grade curricular de vários cursos de graduação e pós-
graduação tanto na área da psicologia como também na arquitetura e urbanismo, geografia,
engenharia ambiental, dentre outros. A PA faz parte de um conjunto heterogêneo de áreas de
estudo, além dos comportamentos e estados subjetivos e se relaciona com áreas e disciplinas
diversas. Neste diálogo com outras áreas do conhecimento, os seus métodos tornam-se aliados
poderosos na busca da interdisciplinaridade.
Para estudar a relação pessoa-ambiente, inicialmente a PA beneficiou-se tanto de
teorias quanto de métodos desenvolvidos pela ciência psicológica. Na medida em que se
desenvolveu estudos empíricos e teóricos, alguns conceitos e métodos próprios também foram
elaborados e testados. Os instrumentos, porém, não garantem o sucesso de uma pesquisa ou
de uma avaliação, assim, é necessário saber escolher e justificar estratégias que auxiliem na
elucidação do problema, para que estes forneçam informações sobre aspectos complementares
dos fenômenos e se preocupem em integrar as informações coletadas.
Segundo Günter (2005), as características da pesquisa na área da PA sofrem
influências da psicologia da Gestalt em sua abordagem holística. As ideias de seu pioneiro,
Kurt Lewin, chamam a atenção para a inter-relação pessoa-ambiente à aplicabilidade da
pesquisa ação onde o pesquisador busca contribuir, ao mesmo tempo, para teoria e prática da
sua área.
Na abertura do 1° Seminário Nacional de Psicologia das Emergências e dos Desastres
em 2007, o então Vice-Presidente do Conselho Federal de Psicologia destacou:
A Psicologia Brasileira, nos últimos dez anos, tem feito uma caminhada que coloca
a cidadania dos direitos humanos e as políticas públicas como questões norteadoras
do seu desenvolvimento social. E, neste momento, ao nos aproximarmos dessa área
e alavancarmos seu desenvolvimento institucional em nosso país, estamos criando as
condições para que esse tipo de conhecimento efetivamente possa estar à disposição
da sociedade ao preservar as perdas humanas, ao consolar quando essas perdas
forem inevitáveis e ao acompanhar as situações nas quais não somente as perdas
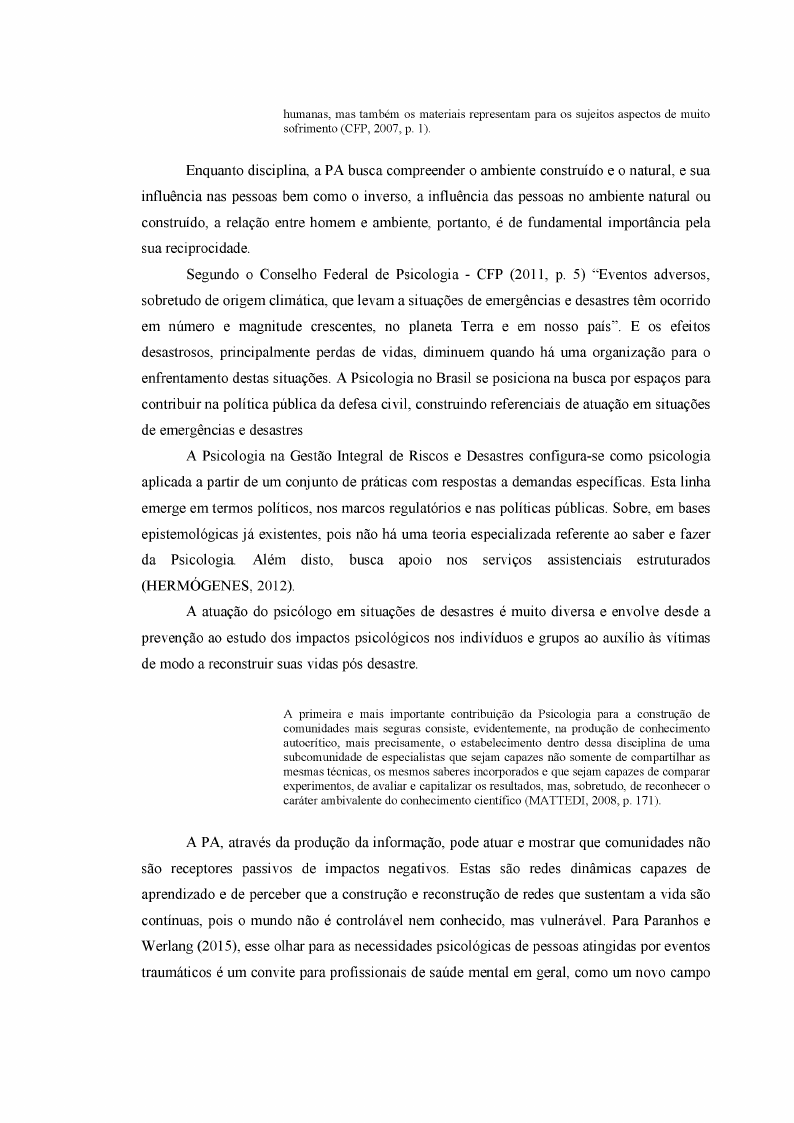
humanas, mas também os materiais representam para os sujeitos aspectos de muito
sofrimento (CFP, 2007, p. 1).
Enquanto disciplina, a PA busca compreender o ambiente construído e o natural, e sua
influência nas pessoas bem como o inverso, a influência das pessoas no ambiente natural ou
construído, a relação entre homem e ambiente, portanto, é de fundamental importância pela
sua reciprocidade.
Segundo o Conselho Federal de Psicologia - CFP (2011, p. 5) “Eventos adversos,
sobretudo de origem climática, que levam a situações de emergências e desastres têm ocorrido
em número e magnitude crescentes, no planeta Terra e em nosso país”. E os efeitos
desastrosos, principalmente perdas de vidas, diminuem quando há uma organização para o
enfrentamento destas situações. A Psicologia no Brasil se posiciona na busca por espaços para
contribuir na política pública da defesa civil, construindo referenciais de atuação em situações
de emergências e desastres
A Psicologia na Gestão Integral de Riscos e Desastres configura-se como psicologia
aplicada a partir de um conjunto de práticas com respostas a demandas específicas. Esta linha
emerge em termos políticos, nos marcos regulatórios e nas políticas públicas. Sobre, em bases
epistemológicas já existentes, pois não há uma teoria especializada referente ao saber e fazer
da Psicologia. Além disto, busca apoio nos serviços assistenciais estruturados
(HERMÓGENES, 2012).
A atuação do psicólogo em situações de desastres é muito diversa e envolve desde a
prevenção ao estudo dos impactos psicológicos nos indivíduos e grupos ao auxílio às vítimas
de modo a reconstruir suas vidas pós desastre.
A primeira e mais importante contribuição da Psicologia para a construção de
comunidades mais seguras consiste, evidentemente, na produção de conhecimento
autocrítico, mais precisamente, o estabelecimento dentro dessa disciplina de uma
subcomunidade de especialistas que sejam capazes não somente de compartilhar as
mesmas técnicas, os mesmos saberes incorporados e que sejam capazes de comparar
experimentos, de avaliar e capitalizar os resultados, mas, sobretudo, de reconhecer o
caráter ambivalente do conhecimento científico (MATTEDI, 2008, p. 171).
A PA, através da produção da informação, pode atuar e mostrar que comunidades não
são receptores passivos de impactos negativos. Estas são redes dinâmicas capazes de
aprendizado e de perceber que a construção e reconstrução de redes que sustentam a vida são
contínuas, pois o mundo não é controlável nem conhecido, mas vulnerável. Para Paranhos e
Werlang (2015), esse olhar para as necessidades psicológicas de pessoas atingidas por eventos
traumáticos é um convite para profissionais de saúde mental em geral, como um novo campo
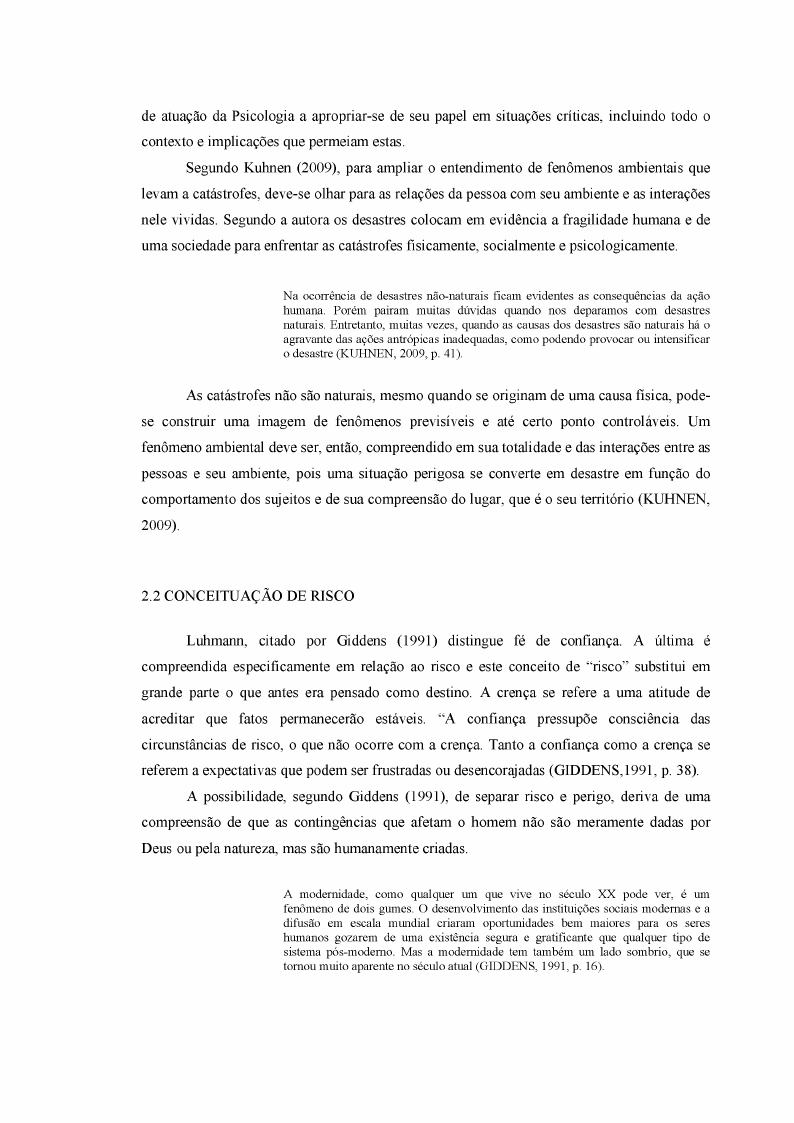
de atuação da Psicologia a apropriar-se de seu papel em situações críticas, incluindo todo o
contexto e implicações que permeiam estas.
Segundo Kuhnen (2009), para ampliar o entendimento de fenômenos ambientais que
levam a catástrofes, deve-se olhar para as relações da pessoa com seu ambiente e as interações
nele vividas. Segundo a autora os desastres colocam em evidência a fragilidade humana e de
uma sociedade para enfrentar as catástrofes fisicamente, socialmente e psicologicamente.
Na ocorrência de desastres não-naturais ficam evidentes as consequências da ação
humana. Porém pairam muitas dúvidas quando nos deparamos com desastres
naturais. Entretanto, muitas vezes, quando as causas dos desastres são naturais há o
agravante das ações antrópicas inadequadas, como podendo provocar ou intensificar
o desastre (KUHNEN, 2009, p. 41).
As catástrofes não são naturais, mesmo quando se originam de uma causa física, pode-
se construir uma imagem de fenômenos previsíveis e até certo ponto controláveis. Um
fenômeno ambiental deve ser, então, compreendido em sua totalidade e das interações entre as
pessoas e seu ambiente, pois uma situação perigosa se converte em desastre em função do
comportamento dos sujeitos e de sua compreensão do lugar, que é o seu território (KUHNEN,
2009).
2.2 CONCEITUAÇÃO DE RISCO
Luhmann, citado por Giddens (1991) distingue fé de confiança. A última é
compreendida especificamente em relação ao risco e este conceito de “risco” substitui em
grande parte o que antes era pensado como destino. A crença se refere a uma atitude de
acreditar que fatos permanecerão estáveis. “A confiança pressupõe consciência das
circunstâncias de risco, o que não ocorre com a crença. Tanto a confiança como a crença se
referem a expectativas que podem ser frustradas ou desencorajadas (GIDDENS,1991, p. 38).
A possibilidade, segundo Giddens (1991), de separar risco e perigo, deriva de uma
compreensão de que as contingências que afetam o homem não são meramente dadas por
Deus ou pela natureza, mas são humanamente criadas.
A modernidade, como qualquer um que vive no século XX pode ver, é um
fenômeno de dois gumes. O desenvolvimento das instituições sociais modernas e a
difusão em escala mundial criaram oportunidades bem maiores para os seres
humanos gozarem de uma existência segura e gratificante que qualquer tipo de
sistema pós-moderno. Mas a modernidade tem também um lado sombrio, que se
tornou muito aparente no século atual (GIDDENS, 1991, p. 16).
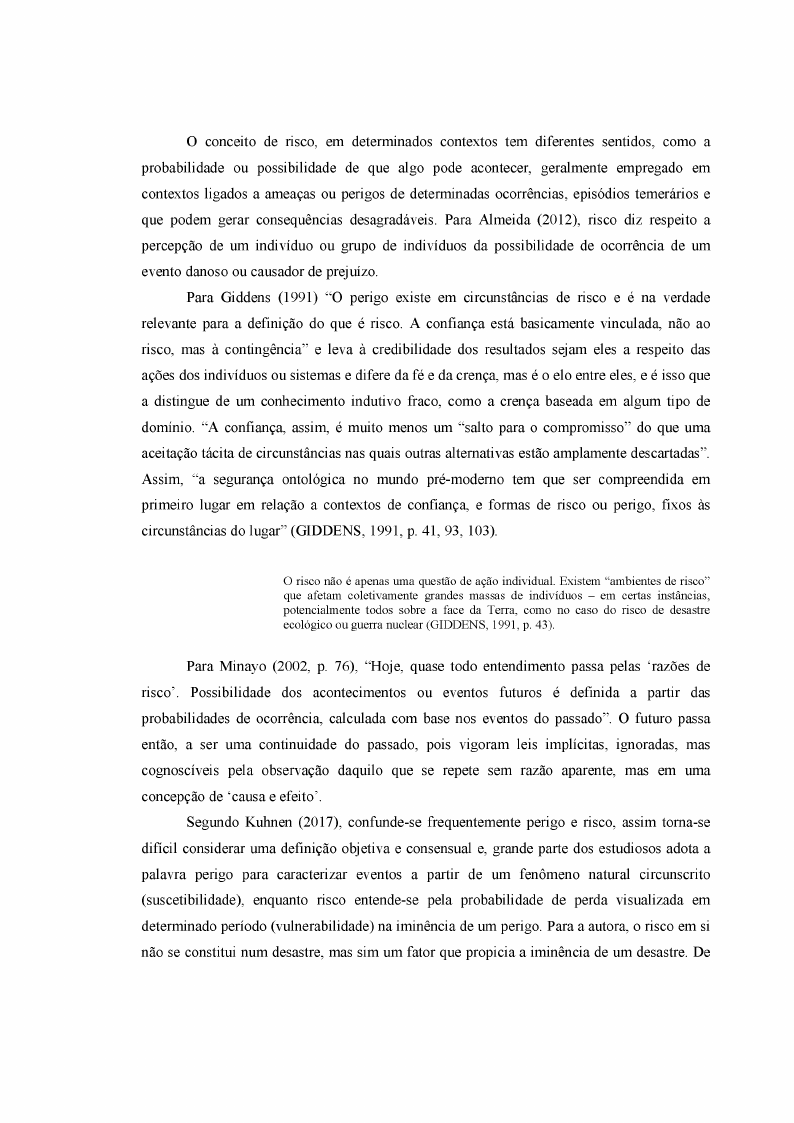
O conceito de risco, em determinados contextos tem diferentes sentidos, como a
probabilidade ou possibilidade de que algo pode acontecer, geralmente empregado em
contextos ligados a ameaças ou perigos de determinadas ocorrências, episódios temerários e
que podem gerar consequências desagradáveis. Para Almeida (2012), risco diz respeito a
percepção de um indivíduo ou grupo de indivíduos da possibilidade de ocorrência de um
evento danoso ou causador de prejuízo.
Para Giddens (1991) “O perigo existe em circunstâncias de risco e é na verdade
relevante para a definição do que é risco. A confiança está basicamente vinculada, não ao
risco, mas à contingência” e leva à credibilidade dos resultados sejam eles a respeito das
ações dos indivíduos ou sistemas e difere da fé e da crença, mas é o elo entre eles, e é isso que
a distingue de um conhecimento indutivo fraco, como a crença baseada em algum tipo de
domínio. “A confiança, assim, é muito menos um “salto para o compromisso” do que uma
aceitação tácita de circunstâncias nas quais outras alternativas estão amplamente descartadas”.
Assim, “a segurança ontológica no mundo pré-moderno tem que ser compreendida em
primeiro lugar em relação a contextos de confiança, e formas de risco ou perigo, fixos às
circunstâncias do lugar” (GIDDENS, 1991, p. 41, 93, 103).
O risco não é apenas uma questão de ação individual. Existem “ambientes de risco”
que afetam coletivamente grandes massas de indivíduos - em certas instâncias,
potencialmente todos sobre a face da Terra, como no caso do risco de desastre
ecológico ou guerra nuclear (GIDDENS, 1991, p. 43).
Para Minayo (2002, p. 76), “Hoje, quase todo entendimento passa pelas ‘razões de
risco’. Possibilidade dos acontecimentos ou eventos futuros é definida a partir das
probabilidades de ocorrência, calculada com base nos eventos do passado”. O futuro passa
então, a ser uma continuidade do passado, pois vigoram leis implícitas, ignoradas, mas
cognoscíveis pela observação daquilo que se repete sem razão aparente, mas em uma
concepção de ‘causa e efeito’.
Segundo Kuhnen (2017), confunde-se frequentemente perigo e risco, assim torna-se
difícil considerar uma definição objetiva e consensual e, grande parte dos estudiosos adota a
palavra perigo para caracterizar eventos a partir de um fenômeno natural circunscrito
(suscetibilidade), enquanto risco entende-se pela probabilidade de perda visualizada em
determinado período (vulnerabilidade) na iminência de um perigo. Para a autora, o risco em si
não se constitui num desastre, mas sim um fator que propicia a iminência de um desastre. De
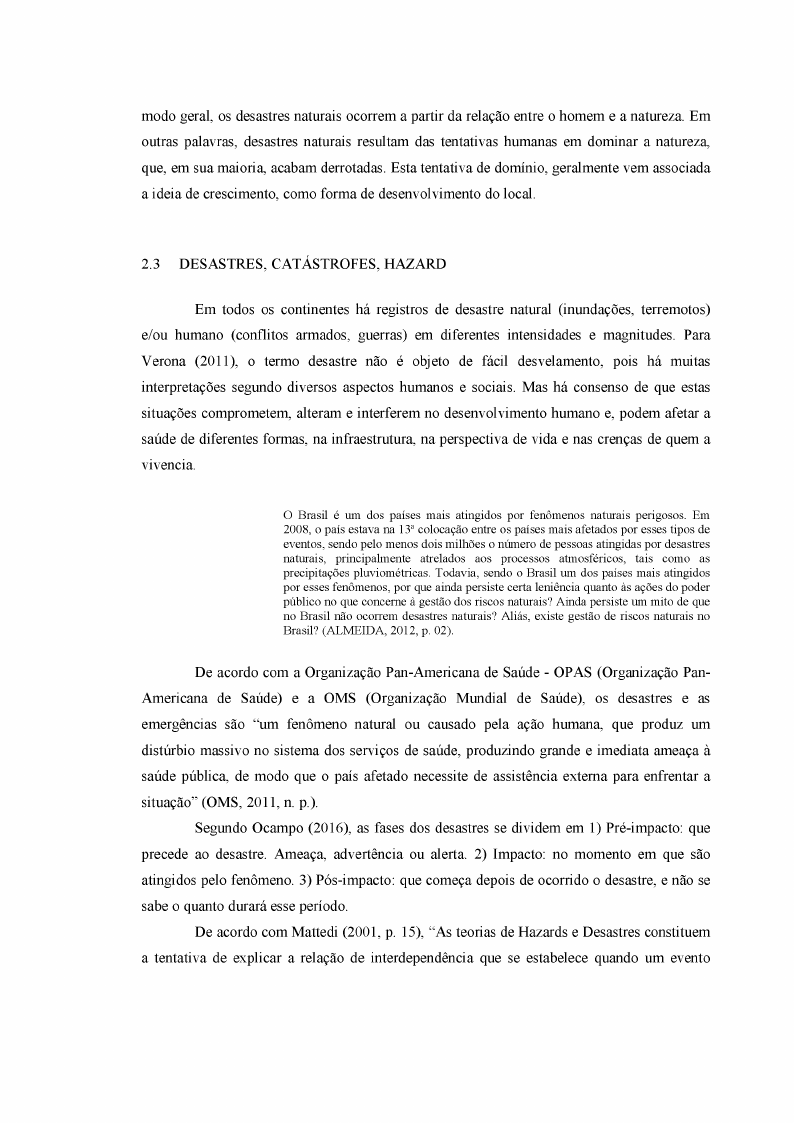
modo geral, os desastres naturais ocorrem a partir da relação entre o homem e a natureza. Em
outras palavras, desastres naturais resultam das tentativas humanas em dominar a natureza,
que, em sua maioria, acabam derrotadas. Esta tentativa de domínio, geralmente vem associada
a ideia de crescimento, como forma de desenvolvimento do local.
2.3 DESASTRES, CATÁSTROFES, HAZARD
Em todos os continentes há registros de desastre natural (inundações, terremotos)
e/ou humano (conflitos armados, guerras) em diferentes intensidades e magnitudes. Para
Verona (2011), o termo desastre não é objeto de fácil desvelamento, pois há muitas
interpretações segundo diversos aspectos humanos e sociais. Mas há consenso de que estas
situações comprometem, alteram e interferem no desenvolvimento humano e, podem afetar a
saúde de diferentes formas, na infraestrutura, na perspectiva de vida e nas crenças de quem a
vivencia.
O Brasil é um dos países mais atingidos por fenômenos naturais perigosos. Em
2008, o país estava na 13a colocação entre os países mais afetados por esses tipos de
eventos, sendo pelo menos dois milhões o número de pessoas atingidas por desastres
naturais, principalmente atrelados aos processos atmosféricos, tais como as
precipitações pluviométricas. Todavia, sendo o Brasil um dos países mais atingidos
por esses fenômenos, por que ainda persiste certa leniência quanto às ações do poder
público no que concerne à gestão dos riscos naturais? Ainda persiste um mito de que
no Brasil não ocorrem desastres naturais? Aliás, existe gestão de riscos naturais no
Brasil? (ALMEIDA, 2012, p. 02).
De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS (Organização Pan-
Americana de Saúde) e a OMS (Organização Mundial de Saúde), os desastres e as
emergências são “um fenômeno natural ou causado pela ação humana, que produz um
distúrbio massivo no sistema dos serviços de saúde, produzindo grande e imediata ameaça à
saúde pública, de modo que o país afetado necessite de assistência externa para enfrentar a
situação” (OMS, 2011, n. p.).
Segundo Ocampo (2016), as fases dos desastres se dividem em 1) Pré-impacto: que
precede ao desastre. Ameaça, advertência ou alerta. 2) Impacto: no momento em que são
atingidos pelo fenômeno. 3) Pós-impacto: que começa depois de ocorrido o desastre, e não se
sabe o quanto durará esse período.
De acordo com Mattedi (2001, p. 15), “As teorias de Hazards e Desastres constituem
a tentativa de explicar a relação de interdependência que se estabelece quando um evento
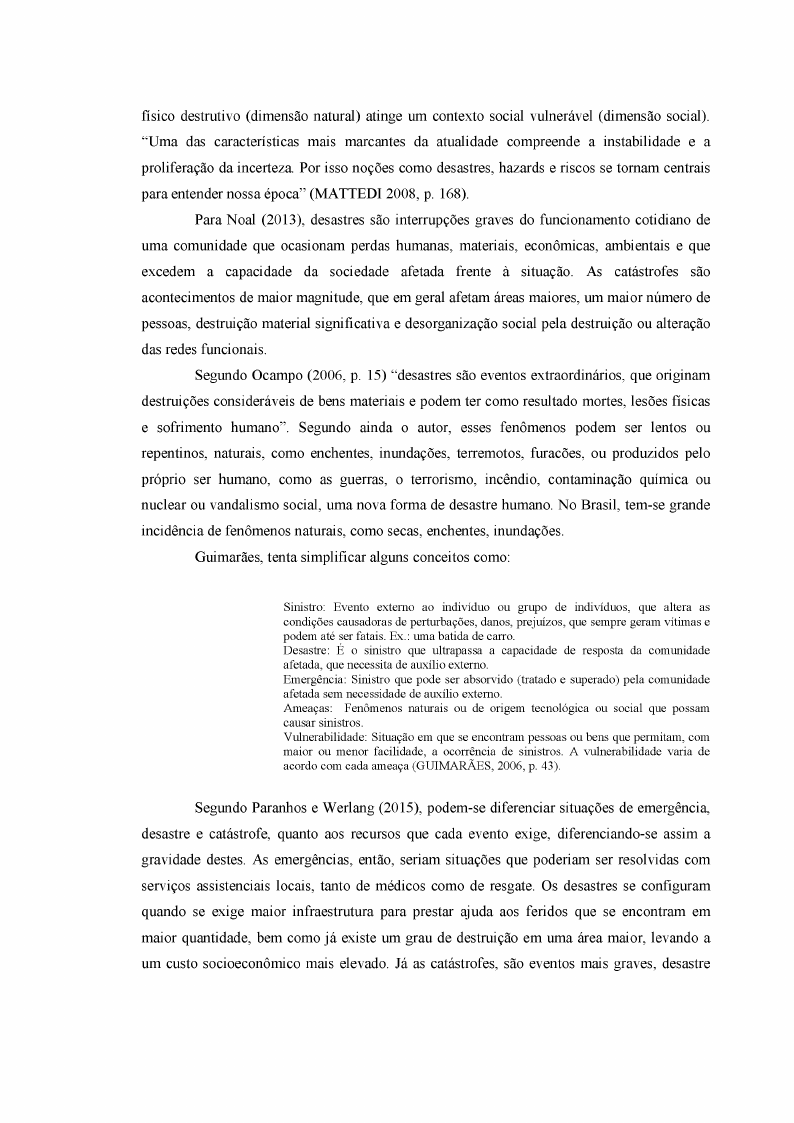
físico destrutivo (dimensão natural) atinge um contexto social vulnerável (dimensão social).
“Uma das características mais marcantes da atualidade compreende a instabilidade e a
proliferação da incerteza. Por isso noções como desastres, hazards e riscos se tornam centrais
para entender nossa época” (MATTEDI 2008, p. 168).
Para Noal (2013), desastres são interrupções graves do funcionamento cotidiano de
uma comunidade que ocasionam perdas humanas, materiais, econômicas, ambientais e que
excedem a capacidade da sociedade afetada frente à situação. As catástrofes são
acontecimentos de maior magnitude, que em geral afetam áreas maiores, um maior número de
pessoas, destruição material significativa e desorganização social pela destruição ou alteração
das redes funcionais.
Segundo Ocampo (2006, p. 15) “desastres são eventos extraordinários, que originam
destruições consideráveis de bens materiais e podem ter como resultado mortes, lesões físicas
e sofrimento humano”. Segundo ainda o autor, esses fenômenos podem ser lentos ou
repentinos, naturais, como enchentes, inundações, terremotos, furacões, ou produzidos pelo
próprio ser humano, como as guerras, o terrorismo, incêndio, contaminação química ou
nuclear ou vandalismo social, uma nova forma de desastre humano. No Brasil, tem-se grande
incidência de fenômenos naturais, como secas, enchentes, inundações.
Guimarães, tenta simplificar alguns conceitos como:
Sinistro: Evento externo ao indivíduo ou grupo de indivíduos, que altera as
condições causadoras de perturbações, danos, prejuízos, que sempre geram vítimas e
podem até ser fatais. E x.: uma batida de carro.
Desastre: É o sinistro que ultrapassa a capacidade de resposta da comunidade
afetada, que necessita de auxílio externo.
Emergência: Sinistro que pode ser absorvido (tratado e superado) pela comunidade
afetada sem necessidade de auxílio externo.
Ameaças: Fenômenos naturais ou de origem tecnológica ou social que possam
causar sinistros.
Vulnerabilidade: Situação em que se encontram pessoas ou bens que permitam, com
maior ou menor facilidade, a ocorrência de sinistros. A vulnerabilidade varia de
acordo com cada ameaça (GUIMARÃES, 2006, p. 43).
Segundo Paranhos e Werlang (2015), podem-se diferenciar situações de emergência,
desastre e catástrofe, quanto aos recursos que cada evento exige, diferenciando-se assim a
gravidade destes. As emergências, então, seriam situações que poderiam ser resolvidas com
serviços assistenciais locais, tanto de médicos como de resgate. Os desastres se configuram
quando se exige maior infraestrutura para prestar ajuda aos feridos que se encontram em
maior quantidade, bem como já existe um grau de destruição em uma área maior, levando a
um custo socioeconômico mais elevado. Já as catástrofes, são eventos mais graves, desastre
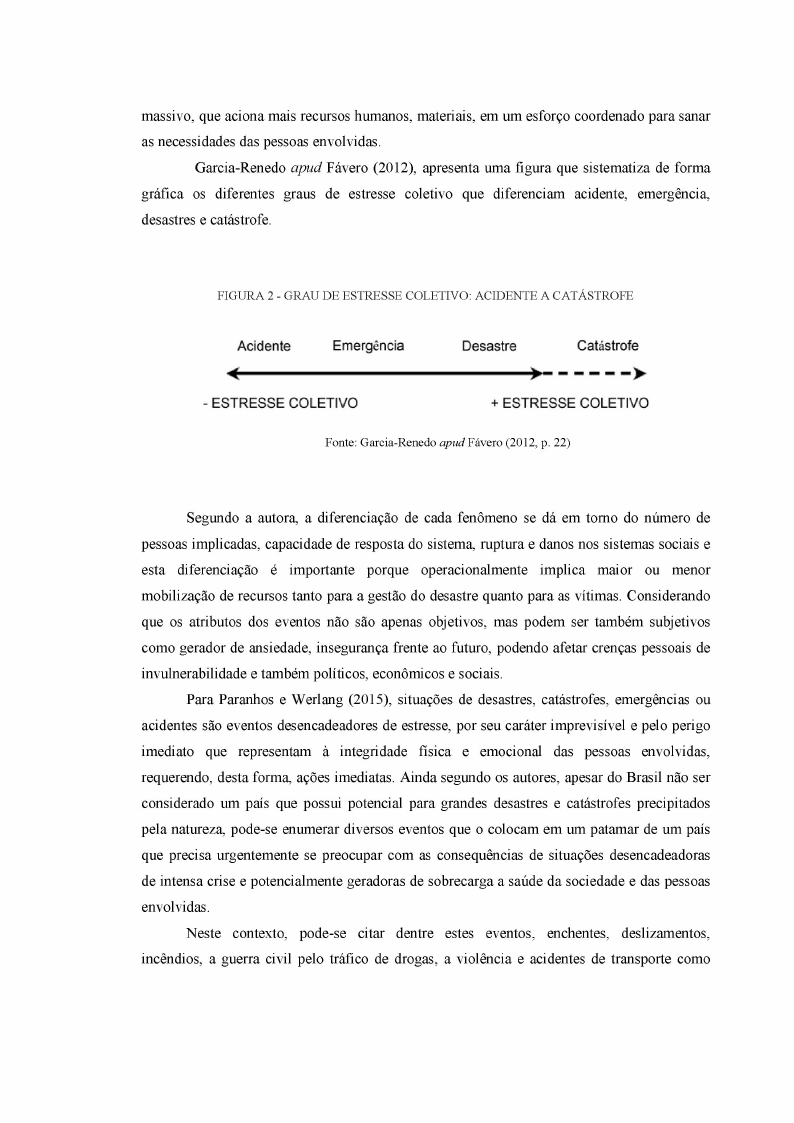
massivo, que aciona mais recursos humanos, materiais, em um esforço coordenado para sanar
as necessidades das pessoas envolvidas.
Garcia-Renedo apud Fávero (2012), apresenta uma figura que sistematiza de forma
gráfica os diferentes graus de estresse coletivo que diferenciam acidente, emergência,
desastres e catástrofe.
FIGURA 2 - GRAU DE ESTRESSE COLETIVO: ACIDENTE A CATASTROFE
Fonte: Garcia-Renedo apud Fávero (2012, p. 22)
Segundo a autora, a diferenciação de cada fenômeno se dá em torno do número de
pessoas implicadas, capacidade de resposta do sistema, ruptura e danos nos sistemas sociais e
esta diferenciação é importante porque operacionalmente implica maior ou menor
mobilização de recursos tanto para a gestão do desastre quanto para as vítimas. Considerando
que os atributos dos eventos não são apenas objetivos, mas podem ser também subjetivos
como gerador de ansiedade, insegurança frente ao futuro, podendo afetar crenças pessoais de
invulnerabilidade e também políticos, econômicos e sociais.
Para Paranhos e Werlang (2015), situações de desastres, catástrofes, emergências ou
acidentes são eventos desencadeadores de estresse, por seu caráter imprevisível e pelo perigo
imediato que representam à integridade física e emocional das pessoas envolvidas,
requerendo, desta forma, ações imediatas. Ainda segundo os autores, apesar do Brasil não ser
considerado um país que possui potencial para grandes desastres e catástrofes precipitados
pela natureza, pode-se enumerar diversos eventos que o colocam em um patamar de um país
que precisa urgentemente se preocupar com as consequências de situações desencadeadoras
de intensa crise e potencialmente geradoras de sobrecarga a saúde da sociedade e das pessoas
envolvidas.
Neste contexto, pode-se citar dentre estes eventos, enchentes, deslizamentos,
incêndios, a guerra civil pelo tráfico de drogas, a violência e acidentes de transporte como
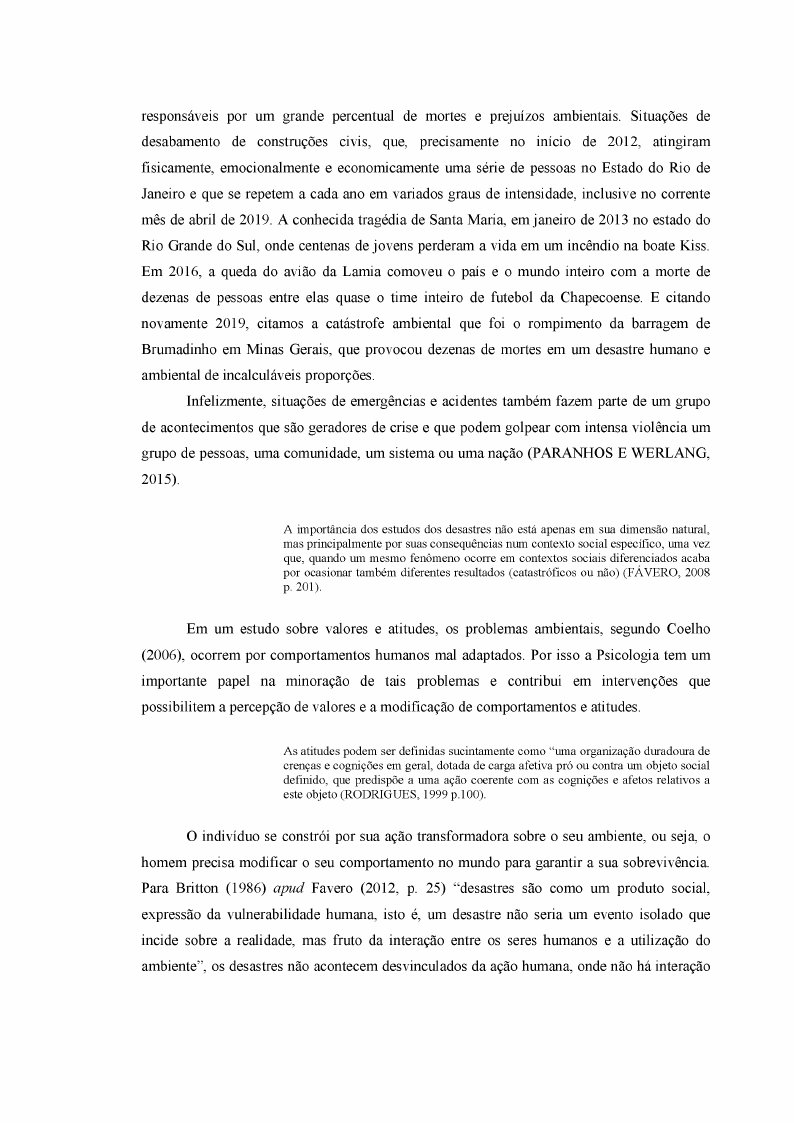
responsáveis por um grande percentual de mortes e prejuízos ambientais. Situações de
desabamento de construções civis, que, precisamente no início de 2012, atingiram
fisicamente, emocionalmente e economicamente uma série de pessoas no Estado do Rio de
Janeiro e que se repetem a cada ano em variados graus de intensidade, inclusive no corrente
mês de abril de 2019. A conhecida tragédia de Santa Maria, em janeiro de 2013 no estado do
Rio Grande do Sul, onde centenas de jovens perderam a vida em um incêndio na boate Kiss.
Em 2016, a queda do avião da Lamia comoveu o país e o mundo inteiro com a morte de
dezenas de pessoas entre elas quase o time inteiro de futebol da Chapecoense. E citando
novamente 2019, citamos a catástrofe ambiental que foi o rompimento da barragem de
Brumadinho em Minas Gerais, que provocou dezenas de mortes em um desastre humano e
ambiental de incalculáveis proporções.
Infelizmente, situações de emergências e acidentes também fazem parte de um grupo
de acontecimentos que são geradores de crise e que podem golpear com intensa violência um
grupo de pessoas, uma comunidade, um sistema ou uma nação (PARANHOS E WERLANG,
2015).
A importância dos estudos dos desastres não está apenas em sua dimensão natural,
mas principalmente por suas consequências num contexto social específico, uma vez
que, quando um mesmo fenômeno ocorre em contextos sociais diferenciados acaba
por ocasionar também diferentes resultados (catastróficos ou não) (FÁVERO, 2008
p. 201).
Em um estudo sobre valores e atitudes, os problemas ambientais, segundo Coelho
(2006), ocorrem por comportamentos humanos mal adaptados. Por isso a Psicologia tem um
importante papel na minoração de tais problemas e contribui em intervenções que
possibilitem a percepção de valores e a modificação de comportamentos e atitudes.
As atitudes podem ser definidas sucintamente como “uma organização duradoura de
crenças e cognições em geral, dotada de carga afetiva pró ou contra um objeto social
definido, que predispõe a uma ação coerente com as cognições e afetos relativos a
este objeto (RODRIGUES, 1999 p.100).
O indivíduo se constrói por sua ação transformadora sobre o seu ambiente, ou seja, o
homem precisa modificar o seu comportamento no mundo para garantir a sua sobrevivência.
Para Britton (1986) apud Favero (2012, p. 25) “desastres são como um produto social,
expressão da vulnerabilidade humana, isto é, um desastre não seria um evento isolado que
incide sobre a realidade, mas fruto da interação entre os seres humanos e a utilização do
ambiente”, os desastres não acontecem desvinculados da ação humana, onde não há interação
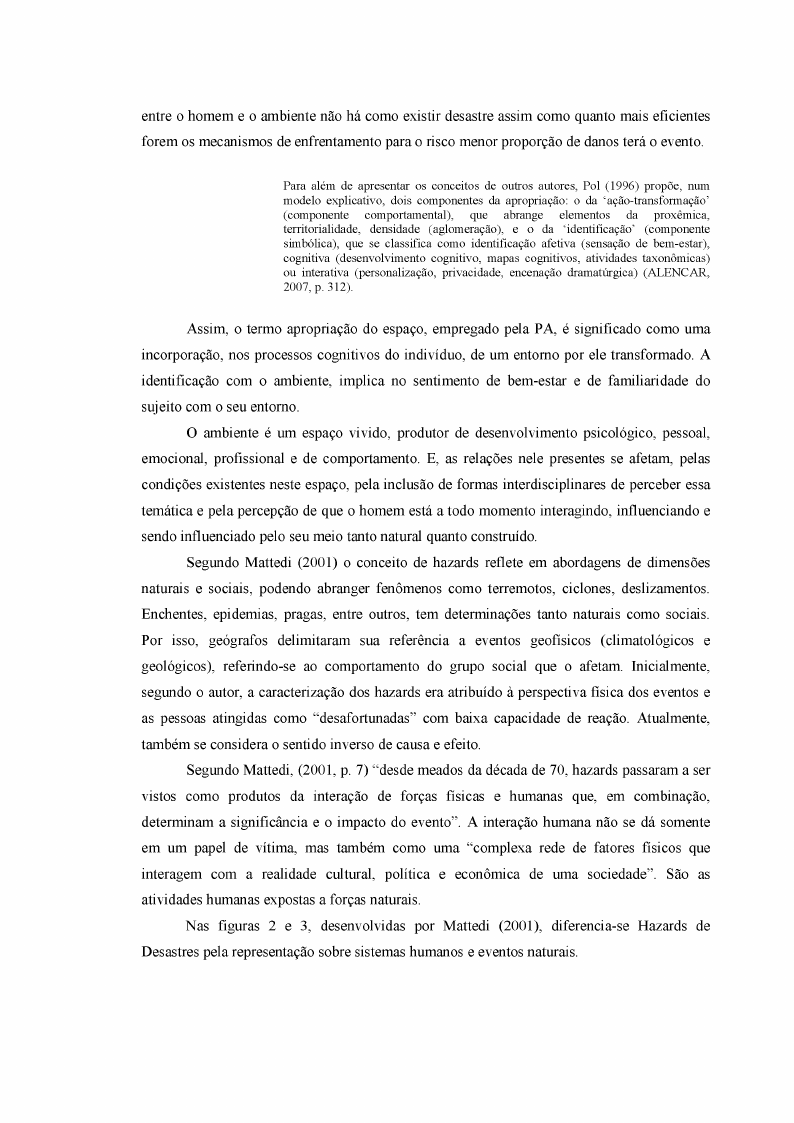
entre o homem e o ambiente não há como existir desastre assim como quanto mais eficientes
forem os mecanismos de enfrentamento para o risco menor proporção de danos terá o evento.
Para além de apresentar os conceitos de outros autores, Pol (1996) propõe, num
modelo explicativo, dois componentes da apropriação: o da ‘ação-transformação’
(componente comportamental), que abrange elementos da proxêmica,
territorialidade, densidade (aglomeração), e o da ‘identificação’ (componente
simbólica), que se classifica como identificação afetiva (sensação de bem-estar),
cognitiva (desenvolvimento cognitivo, mapas cognitivos, atividades taxonômicas)
ou interativa (personalização, privacidade, encenação dramatúrgica) (ALENCAR,
2007, p. 312).
Assim, o termo apropriação do espaço, empregado pela PA, é significado como uma
incorporação, nos processos cognitivos do indivíduo, de um entorno por ele transformado. A
identificação com o ambiente, implica no sentimento de bem-estar e de familiaridade do
sujeito com o seu entorno.
O ambiente é um espaço vivido, produtor de desenvolvimento psicológico, pessoal,
emocional, profissional e de comportamento. E, as relações nele presentes se afetam, pelas
condições existentes neste espaço, pela inclusão de formas interdisciplinares de perceber essa
temática e pela percepção de que o homem está a todo momento interagindo, influenciando e
sendo influenciado pelo seu meio tanto natural quanto construído.
Segundo Mattedi (2001) o conceito de hazards reflete em abordagens de dimensões
naturais e sociais, podendo abranger fenômenos como terremotos, ciclones, deslizamentos.
Enchentes, epidemias, pragas, entre outros, tem determinações tanto naturais como sociais.
Por isso, geógrafos delimitaram sua referência a eventos geofísicos (climatológicos e
geológicos), referindo-se ao comportamento do grupo social que o afetam. Inicialmente,
segundo o autor, a caracterização dos hazards era atribuído à perspectiva física dos eventos e
as pessoas atingidas como “desafortunadas” com baixa capacidade de reação. Atualmente,
também se considera o sentido inverso de causa e efeito.
Segundo Mattedi, (2001, p. 7) “desde meados da década de 70, hazards passaram a ser
vistos como produtos da interação de forças físicas e humanas que, em combinação,
determinam a significância e o impacto do evento”. A interação humana não se dá somente
em um papel de vítima, mas também como uma “complexa rede de fatores físicos que
interagem com a realidade cultural, política e econômica de uma sociedade”. São as
atividades humanas expostas a forças naturais.
Nas figuras 2 e 3, desenvolvidas por Mattedi (2001), diferencia-se Hazards de
Desastres pela representação sobre sistemas humanos e eventos naturais.
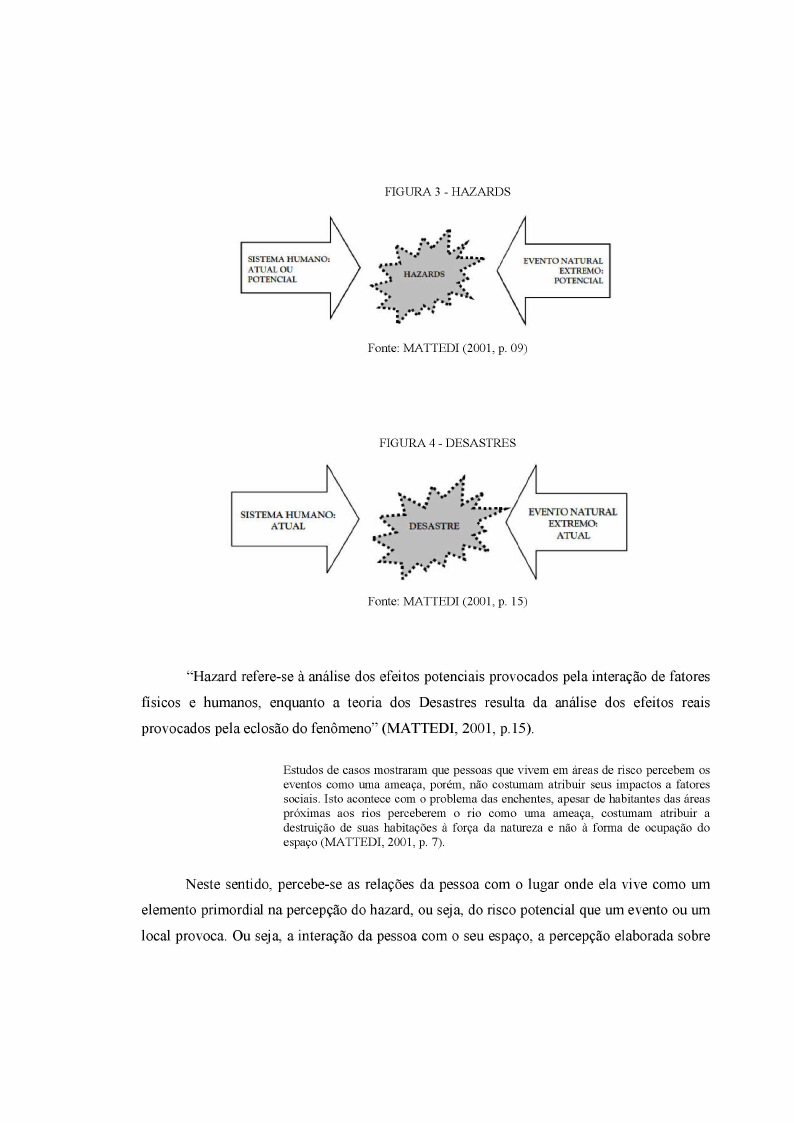
FIGURA 3 - HAZARDS
Fonte: MATTEDI (2001, p. 09)
FIGURA 4 - DESASTRES
Fonte: MATTEDI (2001, p. 15)
“Hazard refere-se à análise dos efeitos potenciais provocados pela interação de fatores
físicos e humanos, enquanto a teoria dos Desastres resulta da análise dos efeitos reais
provocados pela eclosão do fenômeno” (MATTEDI, 2001, p.15).
Estudos de casos mostraram que pessoas que vivem em áreas de risco percebem os
eventos como uma ameaça, porém, não costumam atribuir seus impactos a fatores
sociais. Isto acontece com o problema das enchentes, apesar de habitantes das áreas
próximas aos rios perceberem o rio como uma ameaça, costumam atribuir a
destruição de suas habitações à força da natureza e não à forma de ocupação do
espaço (MATTEDI, 2001, p. 7).
Neste sentido, percebe-se as relações da pessoa com o lugar onde ela vive como um
elemento primordial na percepção do hazard, ou seja, do risco potencial que um evento ou um
local provoca. Ou seja, a interação da pessoa com o seu espaço, a percepção elaborada sobre
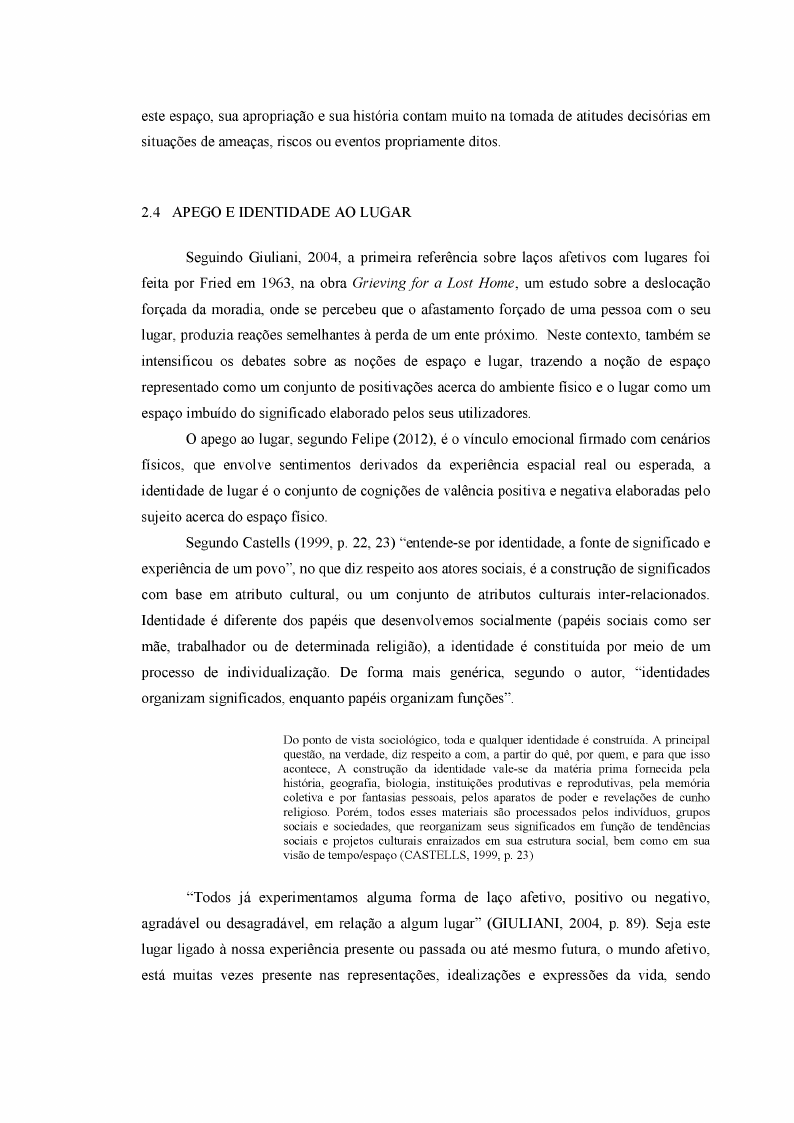
este espaço, sua apropriação e sua história contam muito na tomada de atitudes decisórias em
situações de ameaças, riscos ou eventos propriamente ditos.
2.4 APEGO E IDENTIDADE AO LUGAR
Seguindo Giuliani, 2004, a primeira referência sobre laços afetivos com lugares foi
feita por Fried em 1963, na obra Grieving fo r a Lost Home, um estudo sobre a deslocação
forçada da moradia, onde se percebeu que o afastamento forçado de uma pessoa com o seu
lugar, produzia reações semelhantes à perda de um ente próximo. Neste contexto, também se
intensificou os debates sobre as noções de espaço e lugar, trazendo a noção de espaço
representado como um conjunto de positivações acerca do ambiente físico e o lugar como um
espaço imbuído do significado elaborado pelos seus utilizadores.
O apego ao lugar, segundo Felipe (2012), é o vínculo emocional firmado com cenários
físicos, que envolve sentimentos derivados da experiência espacial real ou esperada, a
identidade de lugar é o conjunto de cognições de valência positiva e negativa elaboradas pelo
sujeito acerca do espaço físico.
Segundo Castells (1999, p. 22, 23) “entende-se por identidade, a fonte de significado e
experiência de um povo”, no que diz respeito aos atores sociais, é a construção de significados
com base em atributo cultural, ou um conjunto de atributos culturais inter-relacionados.
Identidade é diferente dos papéis que desenvolvemos socialmente (papéis sociais como ser
mãe, trabalhador ou de determinada religião), a identidade é constituída por meio de um
processo deindividualização. De forma mais genérica, segundo o autor, “identidades
organizam significados, enquanto papéis organizam funções”.
Do ponto de vista sociológico, toda e qualquer identidade é construída. A principal
questão, na verdade, diz respeito a com, a partir do quê, por quem, e para que isso
acontece, A construção da identidade vale-se da matéria prima fornecida pela
história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória
coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho
religioso. Porém, todos esses materiais são processados pelos indivíduos, grupos
sociais e sociedades, que reorganizam seus significados em função de tendências
sociais e projetos culturais enraizados em sua estrutura social, bem como em sua
visão de tempo/espaço (CASTELLS, 1999, p. 23)
“Todos já experimentamos alguma forma de laço afetivo, positivo ou negativo,
agradável ou desagradável, em relação a algum lugar” (GIULIANI, 2004, p. 89). Seja este
lugar ligado à nossa experiência presente ou passada ou até mesmo futura, o mundo afetivo,
está muitas vezes presente nas representações, idealizações e expressões da vida, sendo
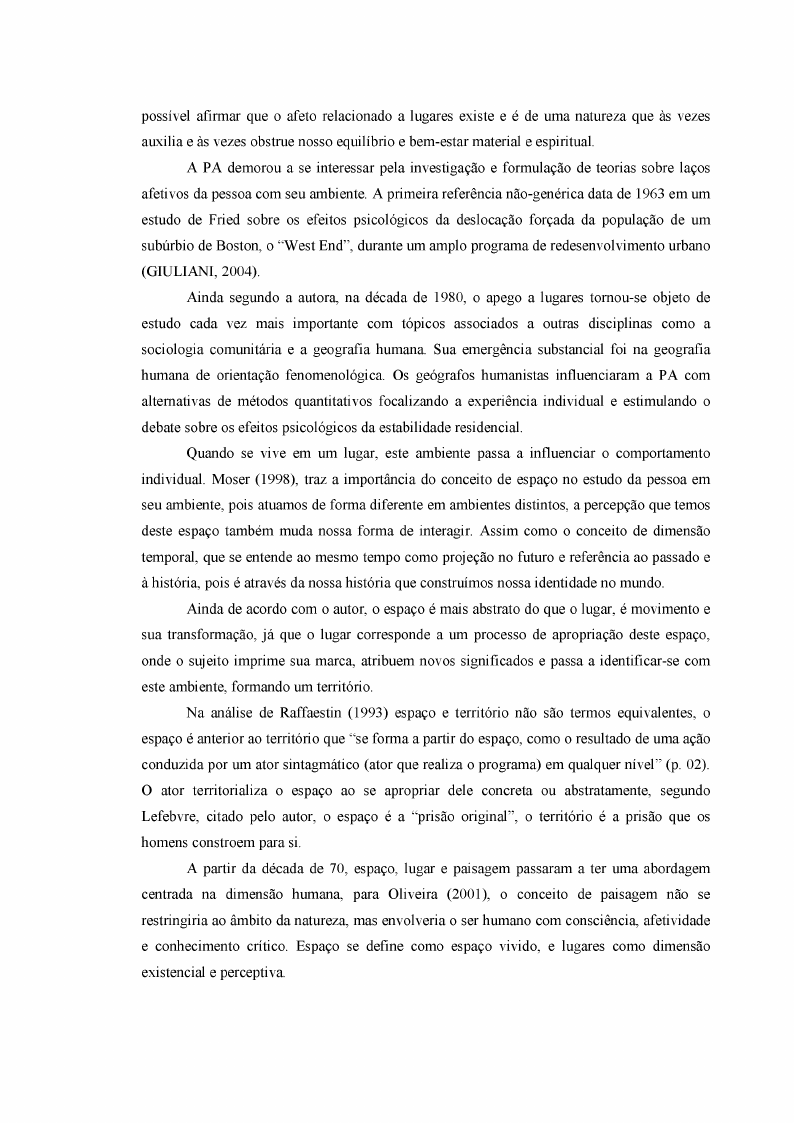
possível afirmar que o afeto relacionado a lugares existe e é de uma natureza que às vezes
auxilia e às vezes obstrue nosso equilíbrio e bem-estar material e espiritual.
A PA demorou a se interessar pela investigação e formulação de teorias sobre laços
afetivos da pessoa com seu ambiente. A primeira referência não-genérica data de 1963 em um
estudo de Fried sobre os efeitos psicológicos da deslocação forçada da população de um
subúrbio de Boston, o “West End”, durante um amplo programa de redesenvolvimento urbano
(GIULIANI, 2004).
Ainda segundo a autora, na década de 1980, o apego a lugares tornou-se objeto de
estudo cada vez mais importante com tópicos associados a outras disciplinas como a
sociologia comunitária e a geografia humana. Sua emergência substancial foi na geografia
humana de orientação fenomenológica. Os geógrafos humanistas influenciaram a PA com
alternativas de métodos quantitativos focalizando a experiência individual e estimulando o
debate sobre os efeitos psicológicos da estabilidade residencial.
Quando se vive em um lugar, este ambiente passa a influenciar o comportamento
individual. Moser (1998), traz a importância do conceito de espaço no estudo da pessoa em
seu ambiente, pois atuamos de forma diferente em ambientes distintos, a percepção que temos
deste espaço também muda nossa forma de interagir. Assim como o conceito de dimensão
temporal, que se entende ao mesmo tempo como projeção no futuro e referência ao passado e
à história, pois é através da nossa história que construímos nossa identidade no mundo.
Ainda de acordo com o autor, o espaço é mais abstrato do que o lugar, é movimento e
sua transformação, já que o lugar corresponde a um processo de apropriação deste espaço,
onde o sujeito imprime sua marca, atribuem novos significados e passa a identificar-se com
este ambiente, formando um território.
Na análise de Raffaestin (1993) espaço e território não são termos equivalentes, o
espaço é anterior ao território que “se forma a partir do espaço, como o resultado de uma ação
conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza o programa) em qualquer nível” (p. 02).
O ator territorializa o espaço ao se apropriar dele concreta ou abstratamente, segundo
Lefebvre, citado pelo autor, o espaço é a “prisão original”, o território é a prisão que os
homens constroem para si.
A partir da década de 70, espaço, lugar e paisagem passaram a ter uma abordagem
centrada na dimensão humana, para Oliveira (2001), o conceito de paisagem não se
restringiria ao âmbito da natureza, mas envolveria o ser humano com consciência, afetividade
e conhecimento crítico. Espaço se define como espaço vivido, e lugares como dimensão
existencial e perceptiva.
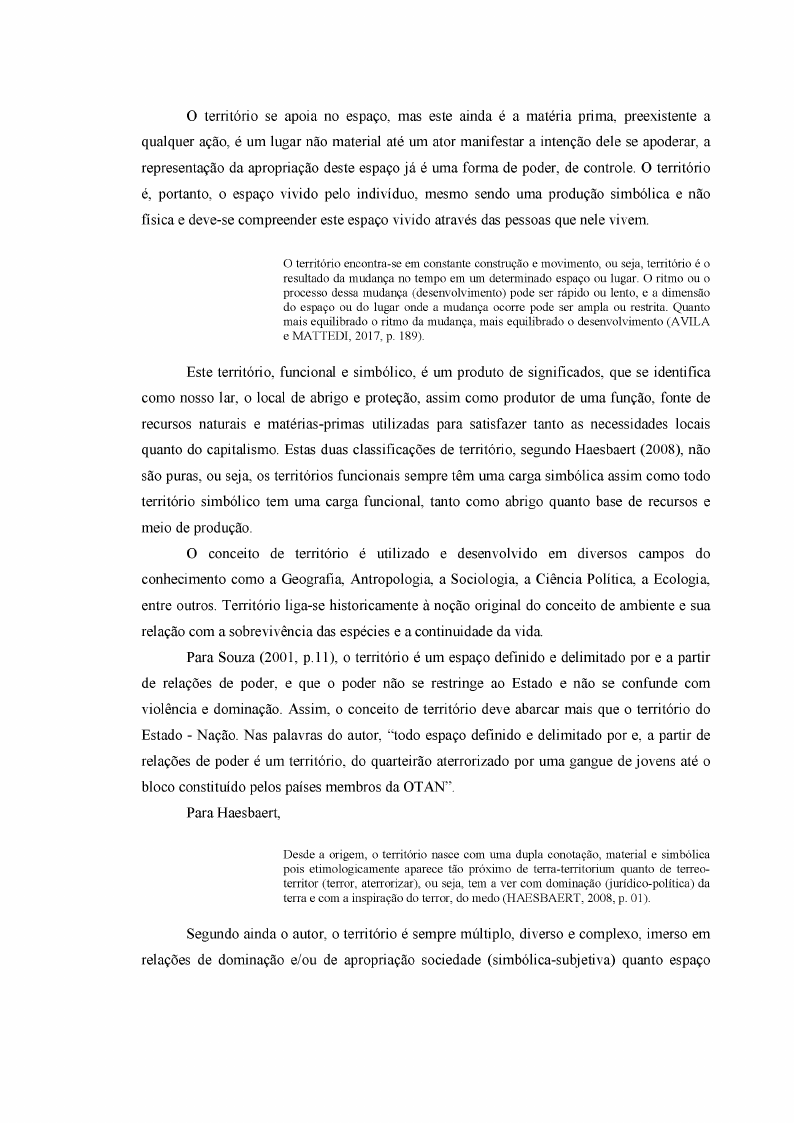
O território se apoia no espaço, mas este ainda é a matéria prima, preexistente a
qualquer ação, é um lugar não material até um ator manifestar a intenção dele se apoderar, a
representação da apropriação deste espaço já é uma forma de poder, de controle. O território
é, portanto, o espaço vivido pelo indivíduo, mesmo sendo uma produção simbólica e não
física e deve-se compreender este espaço vivido através das pessoas que nele vivem.
O território encontra-se em constante construção e movimento, ou seja, território é o
resultado da mudança no tempo em um determinado espaço ou lugar. O ritmo ou o
processo dessa mudança (desenvolvimento) pode ser rápido ou lento, e a dimensão
do espaço ou do lugar onde a mudança ocorre pode ser ampla ou restrita. Quanto
mais equilibrado o ritmo da mudança, mais equilibrado o desenvolvimento (AVILA
e MATTEDI, 2017, p. 189).
Este território, funcional e simbólico, é um produto de significados, que se identifica
como nosso lar, o local de abrigo e proteção, assim como produtor de uma função, fonte de
recursos naturais e matérias-primas utilizadas para satisfazer tanto as necessidades locais
quanto do capitalismo. Estas duas classificações de território, segundo Haesbaert (2008), não
são puras, ou seja, os territórios funcionais sempre têm uma carga simbólica assim como todo
território simbólico tem uma carga funcional, tanto como abrigo quanto base de recursos e
meio de produção.
O conceito de território é utilizado e desenvolvido em diversos campos do
conhecimento como a Geografia, Antropologia, a Sociologia, a Ciência Política, a Ecologia,
entre outros. Território liga-se historicamente à noção original do conceito de ambiente e sua
relação com a sobrevivência das espécies e a continuidade da vida.
Para Souza (2001, p.11), o território é um espaço definido e delimitado por e a partir
de relações de poder, e que o poder não se restringe ao Estado e não se confunde com
violência e dominação. Assim, o conceito de território deve abarcar mais que o território do
Estado - Nação. Nas palavras do autor, “todo espaço definido e delimitado por e, a partir de
relações de poder é um território, do quarteirão aterrorizado por uma gangue de jovens até o
bloco constituído pelos países membros da OTAN”.
Para Haesbaert,
Desde a origem, o território nasce com uma dupla conotação, material e simbólica
pois etimologicamente aparece tão próximo de terra-territorium quanto de terreo-
territor (terror, aterrorizar), ou seja, tem a ver com dominação (jurídico-política) da
terra e com a inspiração do terror, do medo (HAESBAERT, 2008, p. 01).
Segundo ainda o autor, o território é sempre múltiplo, diverso e complexo, imerso em
relações de dominação e/ou de apropriação sociedade (simbólica-subjetiva) quanto espaço
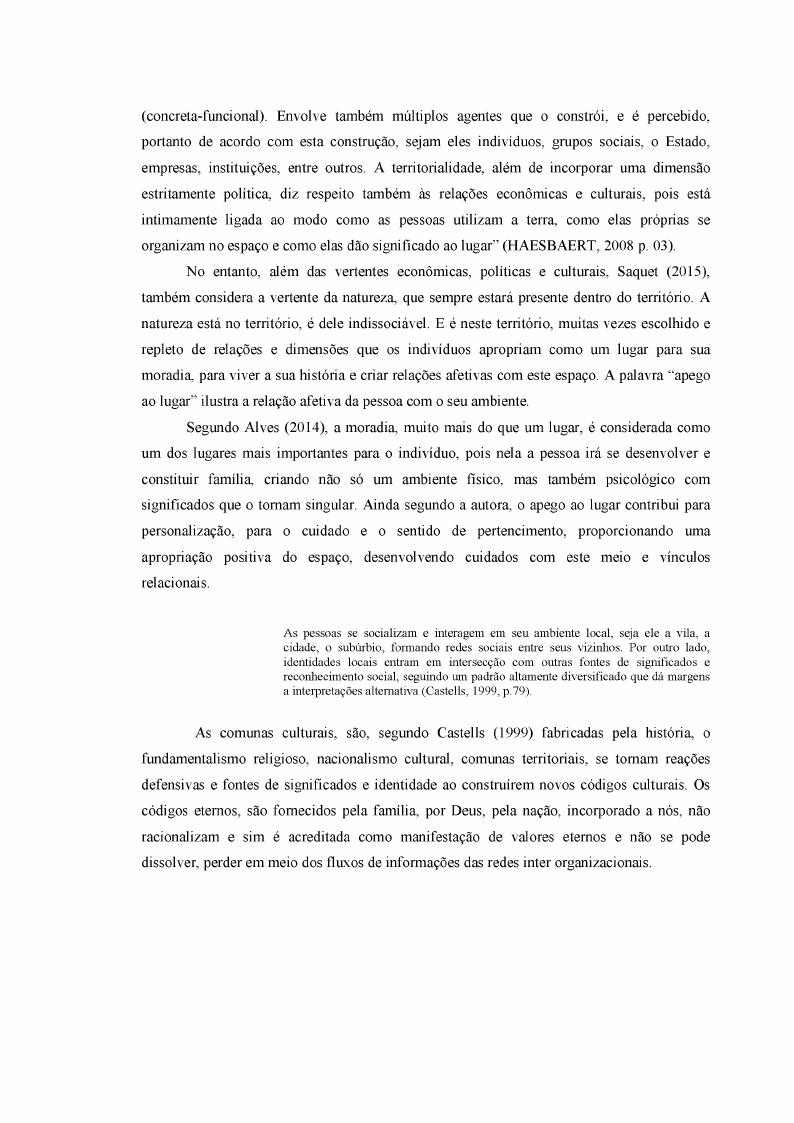
(concreta-funcional). Envolve também múltiplos agentes que o constrói, e é percebido,
portanto de acordo com esta construção, sejam eles indivíduos, grupos sociais, o Estado,
empresas, instituições, entre outros. A territorialidade, além de incorporar uma dimensão
estritamente política, diz respeito também às relações econômicas e culturais, pois está
intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se
organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar” (HAESBAERT, 2008 p. 03).
No entanto, além das vertentes econômicas, políticas e culturais, Saquet (2015),
também considera a vertente da natureza, que sempre estará presente dentro do território. A
natureza está no território, é dele indissociável. E é neste território, muitas vezes escolhido e
repleto de relações e dimensões que os indivíduos apropriam como um lugar para sua
moradia, para viver a sua história e criar relações afetivas com este espaço. A palavra “apego
ao lugar” ilustra a relação afetiva da pessoa com o seu ambiente.
Segundo Alves (2014), a moradia, muito mais do que um lugar, é considerada como
um dos lugares mais importantes para o indivíduo, pois nela a pessoa irá se desenvolver e
constituir família, criando não só um ambiente físico, mas também psicológico com
significados que o tornam singular. Ainda segundo a autora, o apego ao lugar contribui para
personalização, para o cuidado e o sentido de pertencimento, proporcionando uma
apropriação positiva do espaço, desenvolvendo cuidados com este meio e vínculos
relacionais.
As pessoas se socializam e interagem em seu ambiente local, seja ele a vila, a
cidade, o subúrbio, formando redes sociais entre seus vizinhos. Por outro lado,
identidades locais entram em intersecção com outras fontes de significados e
reconhecimento social, seguindo um padrão altamente diversificado que dá margens
a interpretações alternativa (Castells, 1999, p.79).
As comunas culturais, são, segundo Castells (1999) fabricadas pela história, o
fundamentalismo religioso, nacionalismo cultural, comunas territoriais, se tornam reações
defensivas e fontes de significados e identidade ao construírem novos códigos culturais. Os
códigos eternos, são fornecidos pela família, por Deus, pela nação, incorporado a nós, não
racionalizam e sim é acreditada como manifestação de valores eternos e não se pode
dissolver, perder em meio dos fluxos de informações das redes inter organizacionais.
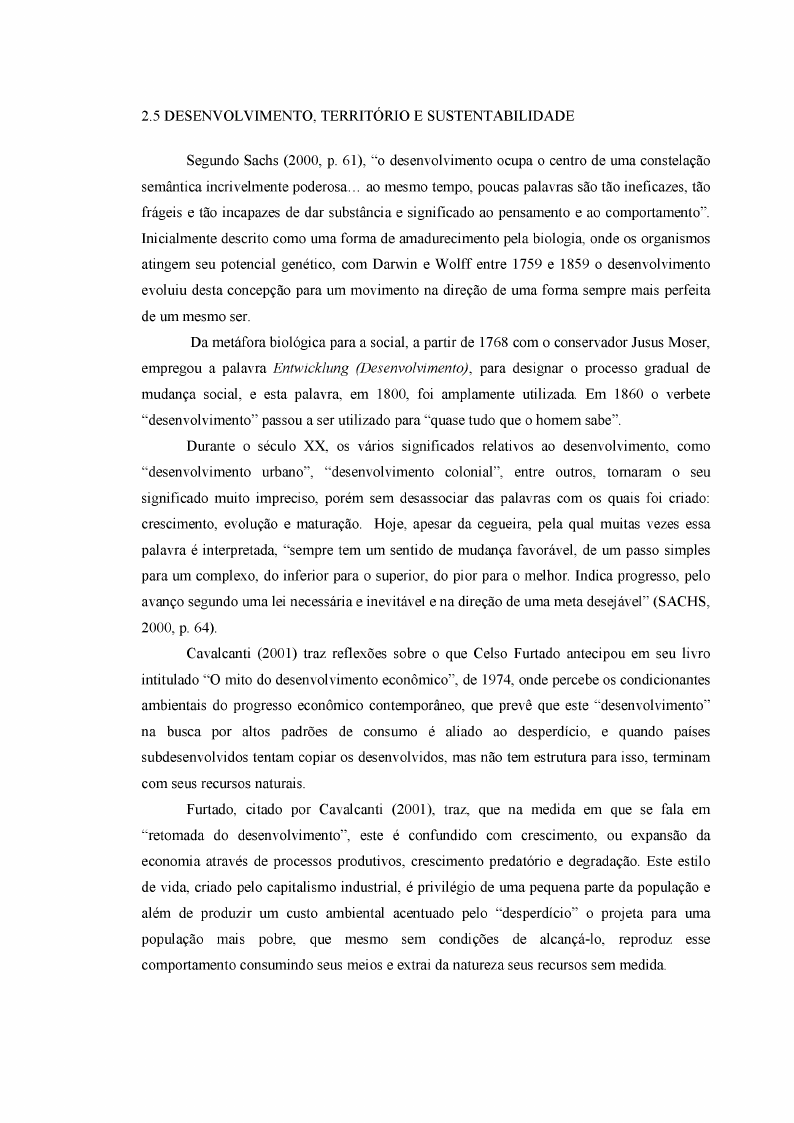
2.5 DESENVOLVIMENTO, TERRITÓRIO E SUSTENTABILIDADE
Segundo Sachs (2000, p. 61), “o desenvolvimento ocupa o centro de uma constelação
semântica incrivelmente poderosa... ao mesmo tempo, poucas palavras são tão ineficazes, tão
frágeis e tão incapazes de dar substância e significado ao pensamento e ao comportamento”.
Inicialmente descrito como uma forma de amadurecimento pela biologia, onde os organismos
atingem seu potencial genético, com Darwin e W olff entre 1759 e 1859 o desenvolvimento
evoluiu desta concepção para um movimento na direção de uma forma sempre mais perfeita
de um mesmo ser.
Da metáfora biológica para a social, a partir de 1768 com o conservador Jusus Moser,
empregou a palavra Entwicklung (Desenvolvimento) , para designar o processo gradual de
mudança social, e esta palavra, em 1800, foi amplamente utilizada. Em 1860 o verbete
“desenvolvimento” passou a ser utilizado para “quase tudo que o homem sabe”.
Durante o século XX, os vários significados relativos ao desenvolvimento, como
“desenvolvimento urbano”, “desenvolvimento colonial”, entre outros, tornaram o seu
significado muito impreciso, porém sem desassociar das palavras com os quais foi criado:
crescimento, evolução e maturação. Hoje, apesar da cegueira, pela qual muitas vezes essa
palavra é interpretada, “sempre tem um sentido de mudança favorável, de um passo simples
para um complexo, do inferior para o superior, do pior para o melhor. Indica progresso, pelo
avanço segundo uma lei necessária e inevitável e na direção de uma meta desejável” (SACHS,
2000, p. 64).
Cavalcanti (2001) traz reflexões sobre o que Celso Furtado antecipou em seu livro
intitulado “O mito do desenvolvimento econômico”, de 1974, onde percebe os condicionantes
ambientais do progresso econômico contemporâneo, que prevê que este “desenvolvimento”
na busca por altos padrões de consumo é aliado ao desperdício, e quando países
subdesenvolvidos tentam copiar os desenvolvidos, mas não tem estrutura para isso, terminam
com seus recursos naturais.
Furtado, citado por Cavalcanti (2001), traz, que na medida em que se fala em
“retomada do desenvolvimento”, este é confundido com crescimento, ou expansão da
economia através de processos produtivos, crescimento predatório e degradação. Este estilo
de vida, criado pelo capitalismo industrial, é privilégio de uma pequena parte da população e
além de produzir um custo ambiental acentuado pelo “desperdício” o projeta para uma
população mais pobre, que mesmo sem condições de alcançá-lo, reproduz esse
comportamento consumindo seus meios e extrai da natureza seus recursos sem medida.
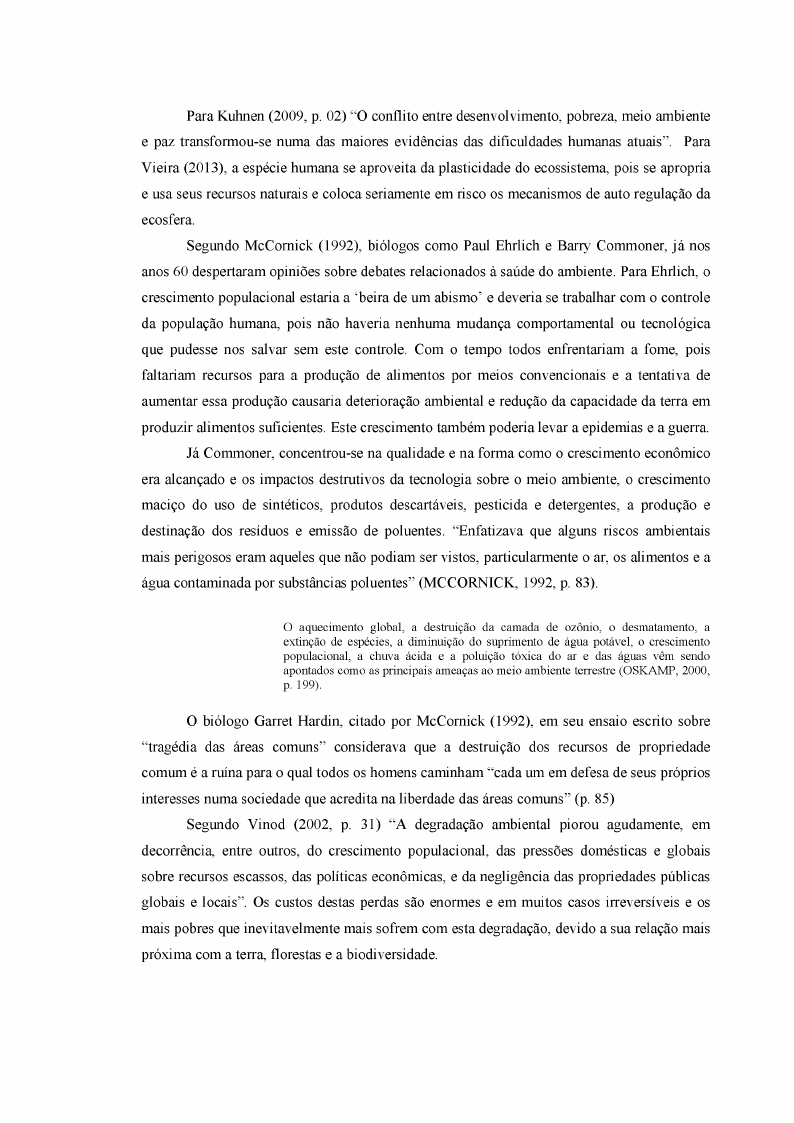
Para Kuhnen (2009, p. 02) “O conflito entre desenvolvimento, pobreza, meio ambiente
e paz transformou-se numa das maiores evidências das dificuldades humanas atuais”. Para
Vieira (2013), a espécie humana se aproveita da plasticidade do ecossistema, pois se apropria
e usa seus recursos naturais e coloca seriamente em risco os mecanismos de auto regulação da
ecosfera.
Segundo McCornick (1992), biólogos como Paul Ehrlich e Barry Commoner, já nos
anos 60 despertaram opiniões sobre debates relacionados à saúde do ambiente. Para Ehrlich, o
crescimento populacional estaria a ‘beira de um abismo’ e deveria se trabalhar com o controle
da população humana, pois não haveria nenhuma mudança comportamental ou tecnológica
que pudesse nos salvar sem este controle. Com o tempo todos enfrentariam a fome, pois
faltariam recursos para a produção de alimentos por meios convencionais e a tentativa de
aumentar essa produção causaria deterioração ambiental e redução da capacidade da terra em
produzir alimentos suficientes. Este crescimento também poderia levar a epidemias e a guerra.
Já Commoner, concentrou-se na qualidade e na forma como o crescimento econômico
era alcançado e os impactos destrutivos da tecnologia sobre o meio ambiente, o crescimento
maciço do uso de sintéticos, produtos descartáveis, pesticida e detergentes, a produção e
destinação dos resíduos e emissão de poluentes. “Enfatizava que alguns riscos ambientais
mais perigosos eram aqueles que não podiam ser vistos, particularmente o ar, os alimentos e a
água contaminada por substâncias poluentes” (MCCORNICK, 1992, p. 83).
O aquecimento global, a destruição da camada de ozônio, o desmatamento, a
extinção de espécies, a diminuição do suprimento de água potável, o crescimento
populacional, a chuva ácida e a poluição tóxica do ar e das águas vêm sendo
apontados como as principais ameaças ao meio ambiente terrestre (OSKAMP, 2000,
p. 199).
O biólogo Garret Hardin, citado por McCornick (1992), em seu ensaio escrito sobre
“tragédia das áreas comuns” considerava que a destruição dos recursos de propriedade
comum é a ruína para o qual todos os homens caminham “cada um em defesa de seus próprios
interesses numa sociedade que acredita na liberdade das áreas comuns” (p. 85)
Segundo Vinod (2002, p. 31) “A degradação ambiental piorou agudamente, em
decorrência, entre outros, do crescimento populacional, das pressões domésticas e globais
sobre recursos escassos, das políticas econômicas, e da negligência das propriedades públicas
globais e locais”. Os custos destas perdas são enormes e em muitos casos irreversíveis e os
mais pobres que inevitavelmente mais sofrem com esta degradação, devido a sua relação mais
próxima com a terra, florestas e a biodiversidade.
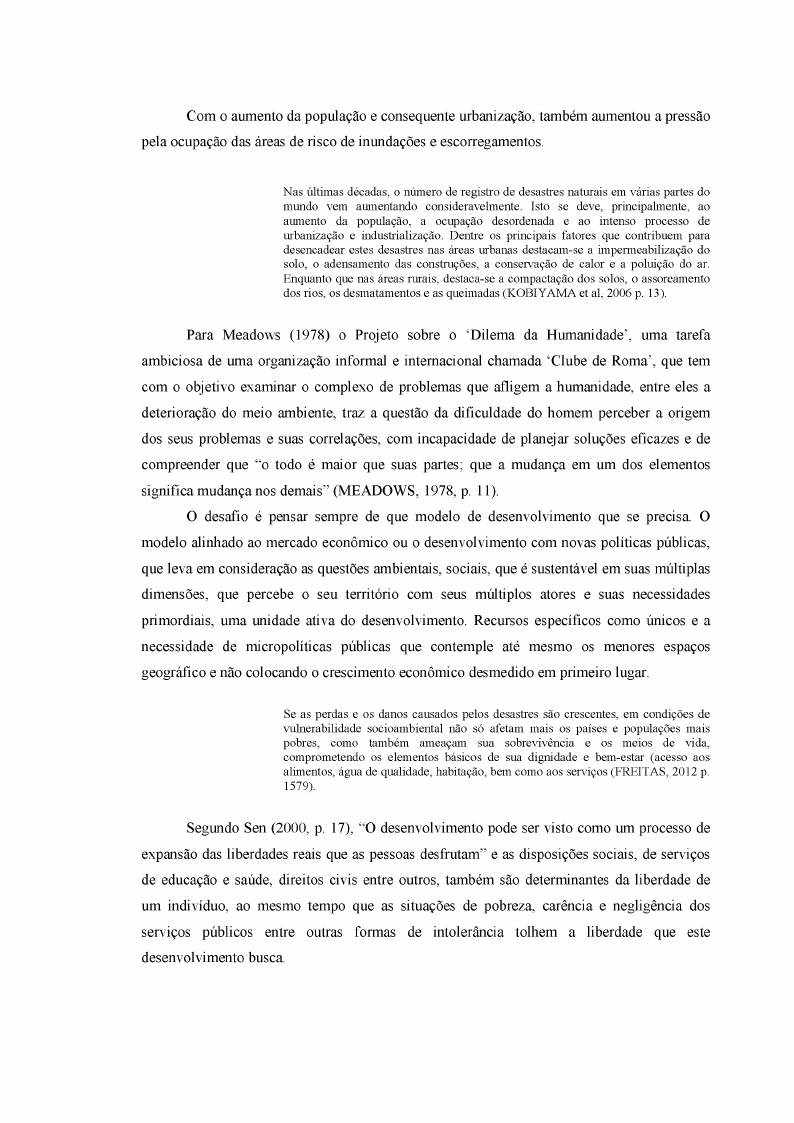
Com o aumento da população e consequente urbanização, também aumentou a pressão
pela ocupação das áreas de risco de inundações e escorregamentos.
Nas últimas décadas, o número de registro de desastres naturais em várias partes do
mundo vem aumentando consideravelmente. Isto se deve, principalmente, ao
aumento da população, a ocupação desordenada e ao intenso processo de
urbanização e industrialização. Dentre os principais fatores que contribuem para
desencadear estes desastres nas áreas urbanas destacam-se a impermeabilização do
solo, o adensamento das construções, a conservação de calor e a poluição do ar.
Enquanto que nas áreas rurais, destaca-se a compactação dos solos, o assoreamento
dos rios, os desmatamentos e as queimadas (KOBIYAMA et al, 2006 p. 13).
Para Meadows (1978) o Projeto sobre o ‘Dilema da Humanidade’, uma tarefa
ambiciosa de uma organização informal e internacional chamada ‘Clube de Roma’, que tem
com o objetivo examinar o complexo de problemas que afligem a humanidade, entre eles a
deterioração do meio ambiente, traz a questão da dificuldade do homem perceber a origem
dos seusproblemase suas correlações, com incapacidade de planejar soluções eficazes e de
compreender que “o todo é maior que suas partes; que a mudança em um dos elementos
significa mudança nos demais” (MEADOWS, 1978, p. 11).
O desafio é pensar sempre de que modelo de desenvolvimento que se precisa. O
modelo alinhado ao mercado econômico ou o desenvolvimento com novas políticas públicas,
que leva em consideração as questões ambientais, sociais, que é sustentável em suas múltiplas
dimensões, que percebe o seu território com seus múltiplos atores e suas necessidades
primordiais, uma unidade ativa do desenvolvimento. Recursos específicos como únicos e a
necessidade de micropolíticas públicas que contemple até mesmo os menores espaços
geográfico e não colocando o crescimento econômico desmedido em primeiro lugar.
Se as perdas e os danos causados pelos desastres são crescentes, em condições de
vulnerabilidade socioambiental não só afetam mais os países e populações mais
pobres, como também ameaçam sua sobrevivência e os meios de vida,
comprometendo os elementos básicos de sua dignidade e bem-estar (acesso aos
alimentos, água de qualidade, habitação, bem como aos serviços (FREITAS, 2012 p.
1579).
Segundo Sen (2000, p. 17), “O desenvolvimento pode ser visto como um processo de
expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam” e as disposições sociais, de serviços
de educação e saúde, direitos civis entre outros, também são determinantes da liberdade de
um indivíduo, ao mesmo tempo que as situações de pobreza, carência e negligência dos
serviços públicos entre outras formas de intolerância tolhem a liberdade que este
desenvolvimento busca.
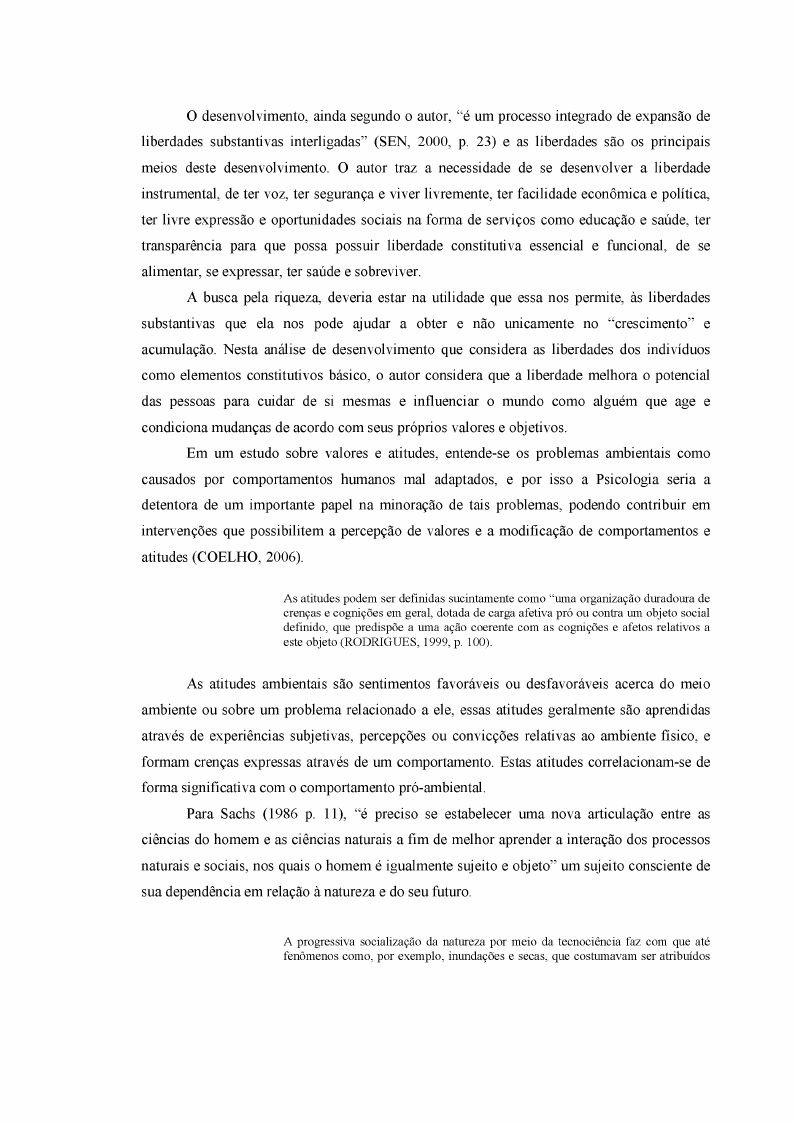
O desenvolvimento, ainda segundo o autor, “é um processo integrado de expansão de
liberdades substantivas interligadas” (SEN, 2000, p. 23) e as liberdades são os principais
meios deste desenvolvimento. O autor traz a necessidade de se desenvolver a liberdade
instrumental, de ter voz, ter segurança e viver livremente, ter facilidade econômica e política,
ter livre expressão e oportunidades sociais na forma de serviços como educação e saúde, ter
transparência para que possa possuir liberdade constitutiva essencial e funcional, de se
alimentar, se expressar, ter saúde e sobreviver.
A busca pela riqueza, deveria estar na utilidade que essa nos permite, às liberdades
substantivas que ela nos pode ajudar a obter e não unicamente no “crescimento” e
acumulação. Nesta análise de desenvolvimento que considera as liberdades dos indivíduos
como elementos constitutivos básico, o autor considera que a liberdade melhora o potencial
das pessoas para cuidar de si mesmas e influenciar o mundo como alguém que age e
condiciona mudanças de acordo com seus próprios valores e objetivos.
Em um estudo sobre valores e atitudes, entende-se os problemas ambientais como
causados por comportamentos humanos mal adaptados, e por isso a Psicologia seria a
detentora de um importante papel na minoração de tais problemas, podendo contribuir em
intervenções que possibilitem a percepção de valores e a modificação de comportamentos e
atitudes (COELHO, 2006).
As atitudes podem ser definidas sucintamente como “uma organização duradoura de
crenças e cognições em geral, dotada de carga afetiva pró ou contra um objeto social
definido, que predispõe a uma ação coerente com as cognições e afetos relativos a
este objeto (RODRIGUES, 1999, p. 100).
As atitudes ambientais são sentimentos favoráveis ou desfavoráveis acerca do meio
ambiente ou sobre um problema relacionado a ele, essas atitudes geralmente são aprendidas
através de experiências subjetivas, percepções ou convicções relativas ao ambiente físico, e
formam crenças expressas através de um comportamento. Estas atitudes correlacionam-se de
forma significativa com o comportamento pró-ambiental.
Para Sachs (1986 p. 11), “é preciso se estabelecer uma nova articulação entre as
ciências do homem e as ciências naturais a fim de melhor aprender a interação dos processos
naturais e sociais, nos quais o homem é igualmente sujeito e objeto” um sujeito consciente de
sua dependência em relação à natureza e do seu futuro.
A progressiva socialização da natureza por meio da tecnociência faz com que até
fenômenos como, por exemplo, inundações e secas, que costumavam ser atribuídos
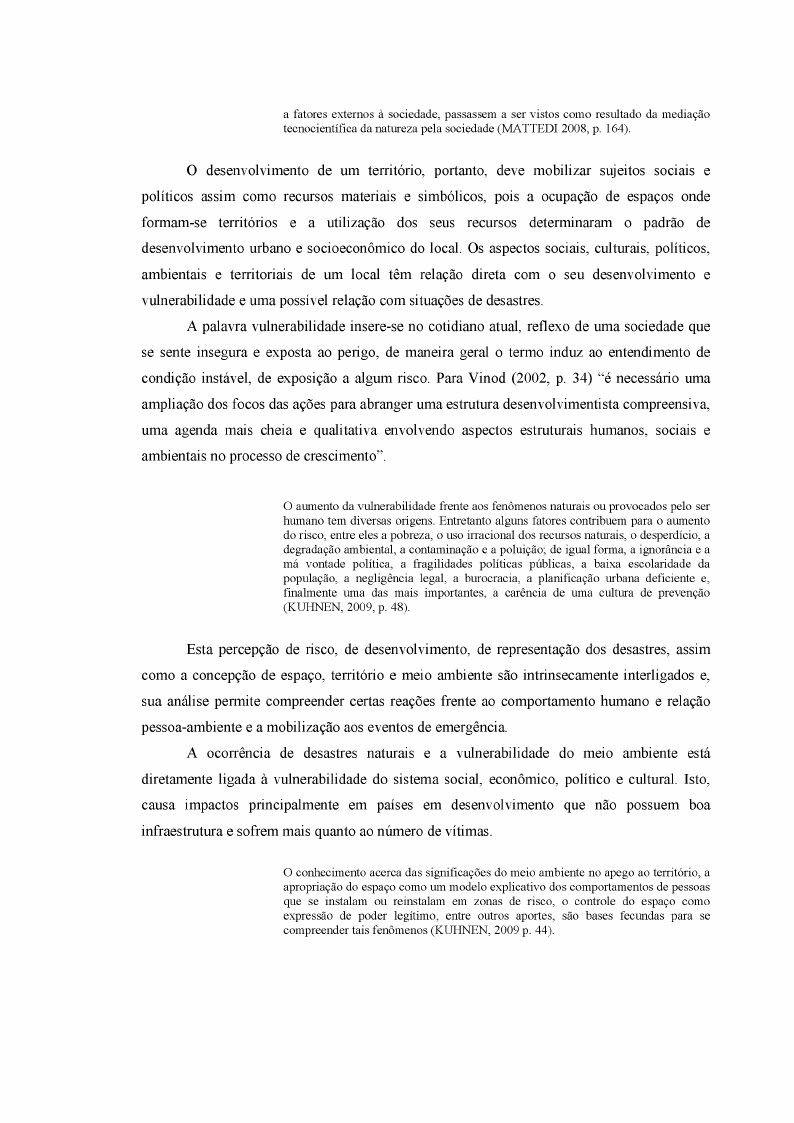
a fatores externos à sociedade, passassem a ser vistos como resultado da mediação
tecnocientífica da natureza pela sociedade (MATTEDI 2008, p. 164).
O desenvolvimento de um território, portanto, deve mobilizar sujeitos sociais e
políticos assim como recursos materiais e simbólicos, pois a ocupação de espaços onde
formam-se territórios e a utilização dos seus recursos determinaram o padrão de
desenvolvimento urbano e socioeconômico do local. Os aspectos sociais, culturais, políticos,
ambientais eterritoriais de um local têm relação direta com o seu desenvolvimento e
vulnerabilidade e uma possível relação com situações de desastres.
A palavra vulnerabilidade insere-se no cotidiano atual, reflexo de uma sociedade que
se sente insegura e exposta ao perigo, de maneira geral o termo induz ao entendimento de
condição instável, de exposição a algum risco. Para Vinod (2002, p. 34) “é necessário uma
ampliação dos focos das ações para abranger uma estrutura desenvolvimentista compreensiva,
uma agenda mais cheia e qualitativa envolvendo aspectos estruturais humanos, sociais e
ambientais no processo de crescimento”.
O aumento da vulnerabilidade frente aos fenômenos naturais ou provocados pelo ser
humano tem diversas origens. Entretanto alguns fatores contribuem para o aumento
do risco, entre eles a pobreza, o uso irracional dos recursos naturais, o desperdício, a
degradação ambiental, a contaminação e a poluição; de igual forma, a ignorância e a
má vontade política, a fragilidades políticas públicas, a baixa escolaridade da
população, a negligência legal, a burocracia, a planificação urbana deficiente e,
finalmente uma das mais importantes, a carência de uma cultura de prevenção
(KUHNEN, 2009, p. 48).
Esta percepção de risco, de desenvolvimento, de representação dos desastres, assim
como a concepção de espaço, território e meio ambiente são intrinsecamente interligados e,
sua análise permite compreender certas reações frente ao comportamento humano e relação
pessoa-ambiente e a mobilização aos eventos de emergência.
A ocorrência de desastres naturais e a vulnerabilidade do meio ambiente está
diretamenteligada à vulnerabilidade do sistema social, econômico,político e cultural. Isto,
causa impactosprincipalmente em países em desenvolvimento que não possuem boa
infraestrutura e sofrem mais quanto ao número de vítimas.
O conhecimento acerca das significações do meio ambiente no apego ao território, a
apropriação do espaço como um modelo explicativo dos comportamentos de pessoas
que se instalam ou reinstalam em zonas de risco, o controle do espaço como
expressão de poder legítimo, entre outros aportes, são bases fecundas para se
compreender tais fenômenos (KUHNEN, 2009 p. 44).
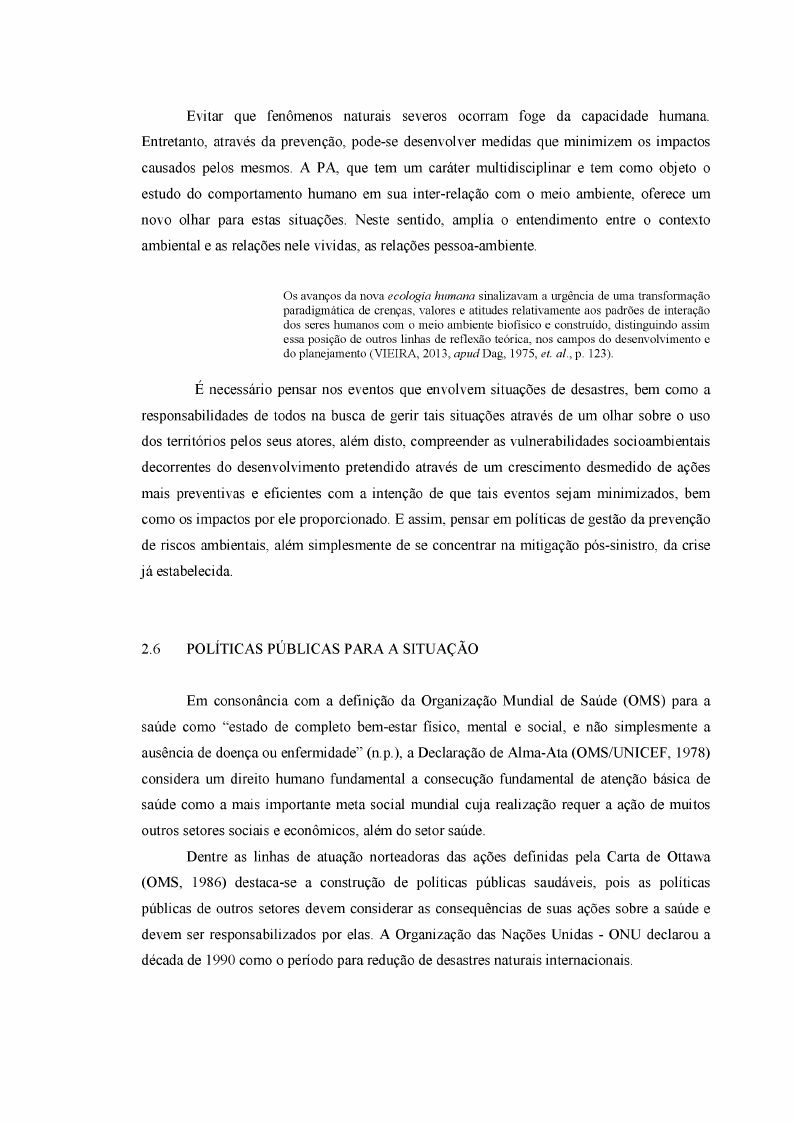
Evitar que fenômenos naturais severos ocorram foge da capacidade humana.
Entretanto, através da prevenção, pode-se desenvolver medidas que minimizem os impactos
causados pelos mesmos. A PA, que tem um caráter multidisciplinar e tem como objeto o
estudo do comportamento humano em sua inter-relação com o meio ambiente, oferece um
novo olhar para estas situações. Neste sentido, amplia o entendimento entre o contexto
ambiental e as relações nele vividas, as relações pessoa-ambiente.
Os avanços da nova ecologia humana sinalizavam a urgência de uma transformação
paradigmática de crenças, valores e atitudes relativamente aos padrões de interação
dos seres humanos com o meio ambiente biofísico e construído, distinguindo assim
essa posição de outros linhas de reflexão teórica, nos campos do desenvolvimento e
do planejamento (VIEIRA, 2013, a p u d Dag, 1975, et. al., p. 123).
É necessário pensar nos eventos que envolvem situações de desastres, bem como a
responsabilidades de todos na busca de gerir tais situações através de um olhar sobre o uso
dos territórios pelos seus atores, além disto, compreender as vulnerabilidades socioambientais
decorrentes do desenvolvimento pretendido através de um crescimento desmedido de ações
mais preventivas e
eficientes com a intenção de que tais eventos sejam minimizados, bem
como osimpactos por ele proporcionado. E assim, pensar em políticas de gestão da prevenção
de riscos ambientais, além simplesmente de se concentrar na mitigação pós-sinistro, da crise
já estabelecida.
2.6 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A SITUAÇÃO
Em consonância com a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a
saúde como “estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a
ausência de doença ou enfermidade” (n.p.), a Declaração de Alma-Ata (OMS/UNICEF, 1978)
considera um direito humano fundamental a consecução fundamental de atenção básica de
saúde como a mais importante meta social mundial cuja realização requer a ação de muitos
outros setores sociais e econômicos, além do setor saúde.
Dentre as linhas de atuação norteadoras das ações definidas pela Carta de Ottawa
(OMS, 1986) destaca-se a construção de políticas públicas saudáveis, pois as políticas
públicas de outros setores devem considerar as consequências de suas ações sobre a saúde e
devem ser responsabilizados por elas. A Organização das Nações Unidas - ONU declarou a
década de 1990 como o período para redução de desastres naturais internacionais.
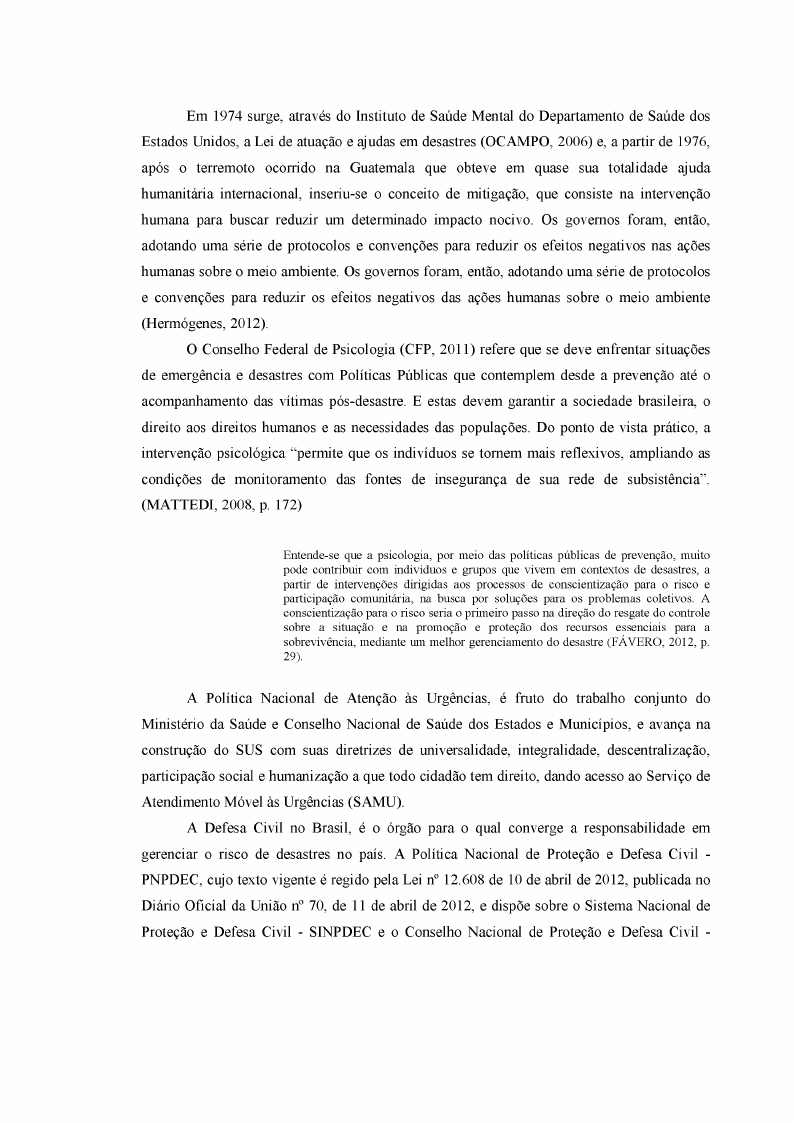
Em 1974 surge, através do Instituto de Saúde Mental do Departamento de Saúde dos
Estados Unidos, a Lei de atuação e ajudas em desastres (OCAMPO, 2006) e, a partir de 1976,
após o terremoto ocorrido na Guatemala que obteve em quase sua totalidade ajuda
humanitária internacional, inseriu-se o conceito de mitigação, que consiste na intervenção
humana para buscar reduzir um determinado impacto nocivo. Os governos foram, então,
adotando uma série de protocolos e convenções para reduzir os efeitos negativos nas ações
humanas sobreo meio ambiente. Os governos foram, então, adotando uma série de protocolos
e convençõesparareduzir os efeitos negativos das ações humanas sobre o meio ambiente
(Hermógenes, 2012).
O Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2011) refere que se deve enfrentar situações
de emergência e desastres com Políticas Públicas que contemplem desde a prevenção até o
acompanhamento das vítimas pós-desastre. E estas devem garantir a sociedade brasileira, o
direito aos direitos humanos e as necessidades das populações. Do ponto de vista prático, a
intervenção psicológica “permite que os indivíduos se tornem mais reflexivos, ampliando as
condições de monitoramento das fontes de insegurança de sua rede de subsistência”.
(MATTEDI, 2008, p. 172)
Entende-se que a psicologia, por meio das políticas públicas de prevenção, muito
pode contribuir com indivíduos e grupos que vivem em contextos de desastres, a
partir de intervenções dirigidas aos processos de conscientização para o risco e
participação comunitária, na busca por soluções para os problemas coletivos. A
conscientização para o risco seria o primeiro passo na direção do resgate do controle
sobre a situação e na promoção e proteção dos recursos essenciais para a
sobrevivência, mediante um melhor gerenciamento do desastre (FÁVERO, 2012, p.
29).
A PolíticaNacional de Atenção às Urgências, é fruto do trabalho conjunto do
Ministério daSaúde e Conselho Nacional de Saúde dos Estados e Municípios, e avança na
construção do SUS com suas diretrizes de universalidade, integralidade, descentralização,
participação social e humanização a que todo cidadão tem direito, dando acesso ao Serviço de
Atendimento Móvel às Urgências (SAMU).
A Defesa Civil no Brasil, é o órgão para o qual converge a responsabilidade em
gerenciar o risco de desastres no país. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil -
PNPDEC, cujo texto vigente é regido pela Lei n° 12.608 de 10 de abril de 2012, publicada no
Diário Oficial da União n° 70, de 11 de abril de 2012, e dispõe sobre o Sistema Nacional de
Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil -
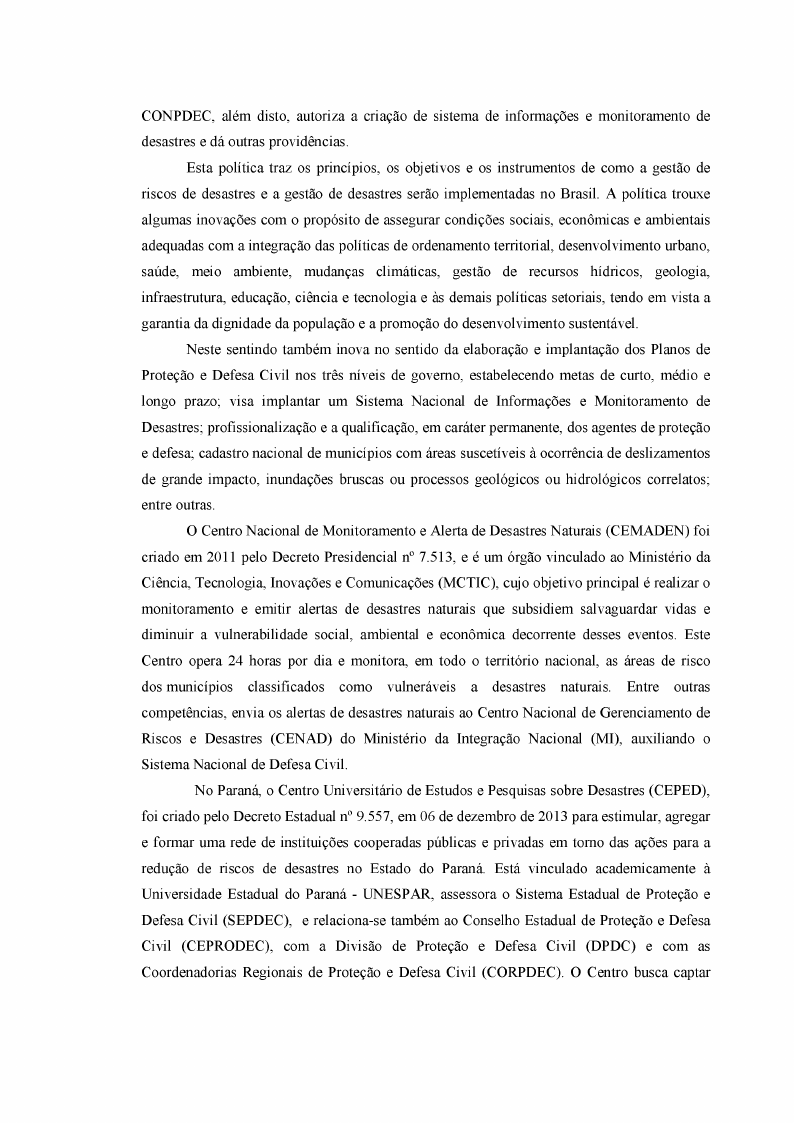
CONPDEC, além disto, autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de
desastres e dá outras providências.
Esta política traz os princípios, os objetivos e os instrumentos de como a gestão de
riscos de desastres e a gestão de desastres serão implementadas no Brasil. A política trouxe
algumas inovações com o propósito de assegurar condições sociais, econômicas e ambientais
adequadas com a integração das políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano,
saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia,
infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a
garantia da dignidade da população e a promoção do desenvolvimento sustentável.
Neste sentindo também inova no sentido da elaboração e implantação dos Planos de
Proteção e Defesa Civil nos três níveis de governo, estabelecendo metas de curto, médio e
longo prazo; visa implantar um Sistema Nacional de Informações e Monitoramento de
Desastres; profissionalização e a qualificação, em caráter permanente, dos agentes de proteção
e defesa; cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos
de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos;
entre outras.
O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN) foi
criado em 2011 pelo Decreto Presidencial n° 7.513, e é um órgão vinculado ao Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), cujo objetivo principal é realizar o
monitoramento e emitir alertas de desastres naturais que subsidiem salvaguardar vidas e
diminuir a vulnerabilidade social, ambiental e econômica decorrente desses eventos. Este
Centro opera 24 horas por dia e monitora, em todo o território nacional, as áreas de risco
dos municípios classificados como vulneráveis a desastres naturais. Entre outras
competências, envia os alertas de desastres naturais ao Centro Nacional de Gerenciamento de
Riscos e Desastres (CENAD) do Ministério da Integração Nacional (MI), auxiliando o
Sistema Nacional de Defesa Civil.
No Paraná, o Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres (CEPED),
foi criado pelo Decreto Estadual n° 9.557, em 06 de dezembro de 2013 para estimular, agregar
e formar uma rede de instituições cooperadas públicas e privadas em torno das ações para a
redução de riscos de desastres no Estado do Paraná. Está vinculado academicamente à
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR, assessora o Sistema Estadual de Proteção e
Defesa Civil (SEPDEC), e relaciona-se também ao Conselho Estadual de Proteção e Defesa
Civil (CEPRODEC), com a Divisão de Proteção e Defesa Civil (DPDC) e com as
Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil (CORPDEC). O Centro busca captar
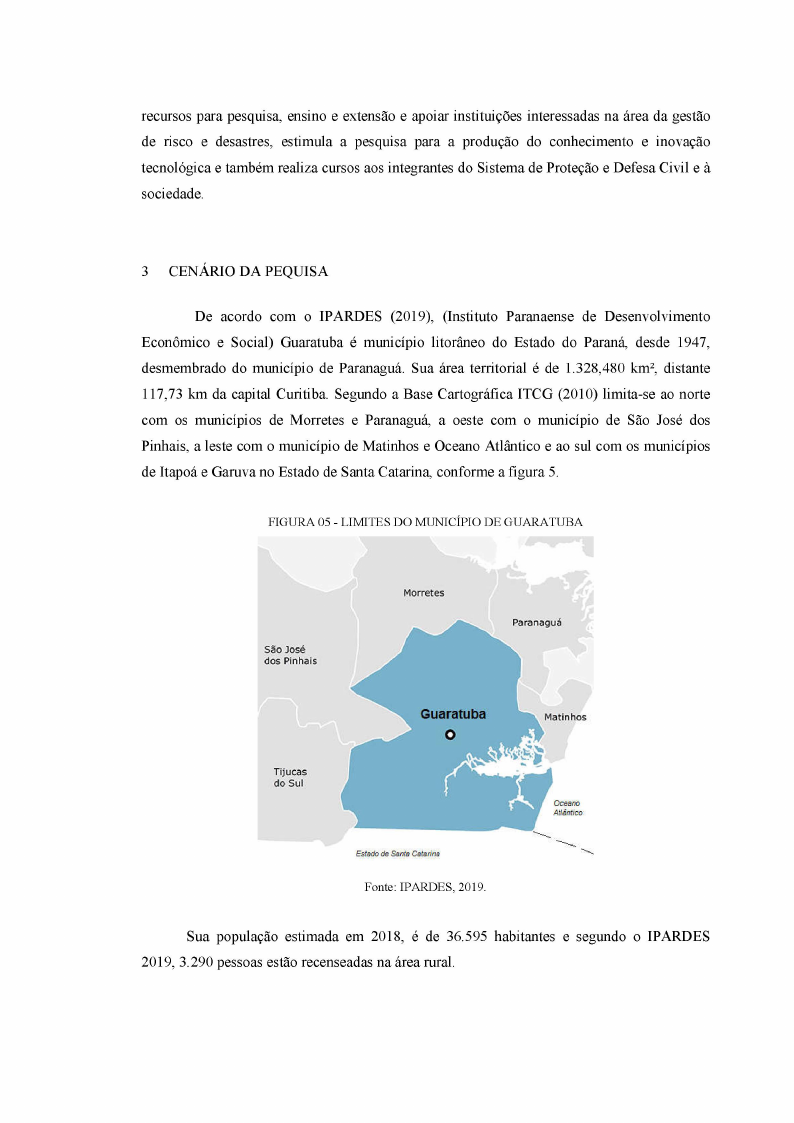
recursos para pesquisa, ensino e extensão e apoiar instituições interessadas na área da gestão
de risco e desastres, estimula a pesquisa para a produção do conhecimento e inovação
tecnológica e também realiza cursos aos integrantes do Sistema de Proteção e Defesa Civil e à
sociedade.
3 CENÁRIO DA PEQUISA
De acordo com o IPARDES (2019), (Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Econômico e Social) Guaratuba é município litorâneo do Estado do Paraná, desde 1947,
desmembrado do município de Paranaguá. Sua área territorial é de 1.328,480 km2, distante
117,73 km da capital Curitiba. Segundo a Base Cartográfica ITCG (2010) limita-se ao norte
com os municípios de Morretes e Paranaguá, a oeste com o município de São José dos
Pinhais, a leste com o município de Matinhos e Oceano Atlântico e ao sul com os municípios
de Itapoá e Garuva no Estado de Santa Catarina, conforme a figura 5.
FIGURA 05 - LIMITES DO MUNICÍPIO DE GUARATUBA
São José
dos Pinhais
Morretes
Tijucas
do Sul
Sua população estimada em 2018, é de 36.595 habitantes e segundo o IPARDES
2019, 3.290 pessoas estão recenseadas na área rural.

A bacia hidrográfica de Guaratuba possui rios que nascem nas serras dos
Castelhanos, da Prata, da Igreja, Araraquara (rio Cubatão com seus afluentes
Cubatãozinho, Arraial, São João, Guaratubinha e Castelhanos) e na planície (rios de
menor magnitude como o do Pontal, Taquaraçu, do Meio, Vitória e Claro). As serras
da Igreja, Canavieiras e da Prata constituem um divisor de águas com drenagem para
as baias de Paranaguá e Guaratuba, originando a maioria dos afluentes do rio
Cubatãozinho (Canavieiras, Furta Maré, Rasgado, Henrique, Guarajuran, Alegre das
Onças). Vindos do sul e desaguando na Baia de Guaratuba, são importantes ainda os
rios Descoberto e Boguaçu (PDDI, 2010).
Segundo Pinheiro e Pedroso (2016), o Paraná possui, na sua história, inúmeros
desastres. Alguns deles de repercussão internacional, como o incêndio florestal de 1963 e a
Geada Negra de 1975, ou ainda, o vazamento de 4 milhões de litros de óleo nos rios Barigui e
Iguaçu, na Região Metropolitana de Curitiba em 2001, além da explosão do Navio Tanque
Vicuna, em Paranaguá no ano de 2004. Mais recentemente, em 11 de março de 2011, as
chuvas intensas na região serrana do litoral paranaense, resultaram em deslizamentos e
inundações afetando quatro dos sete municípios que compõe a região litorânea do Paraná.
Em Guaratuba, as chuvas atingiram a área rural de forma intensa, comprometeram a
infraestrutura do local destruindo pontes e redes de abastecimento de energia, água e esgoto,
isolando áreas nas localidades de Guaratuba como Cubatão, Rasgado, Rasgadinho e Limeira.
Durante o mês de março de 2011, ocorreram chuvas atípicas no Estado do Paraná,
afetando, principalmente os municípios de Antonina, Morretes, Paranaguá e
Guaratuba, atingindo maior intensidade no volume de chuvas durante os dias 11, 12
e 13 do mesmo mês. Essas chuvas afetaram todo o litoral paranaense uma semana
após o carnaval, que se constitui num atrativo turístico regional muito importante,
evitando maiores consequências devido aos transtornos que poderiam gerar aos
visitantes do litoral, devido à interrupção das vias de acesso terrestre, especialmente
a queda de pontes nas rotas principais (PINHEIRO E PEDRORO, 2016 p. 38).
A Tabela 01 demonstra a Precipitação diária em milímetros (mm) no litoral do PR.
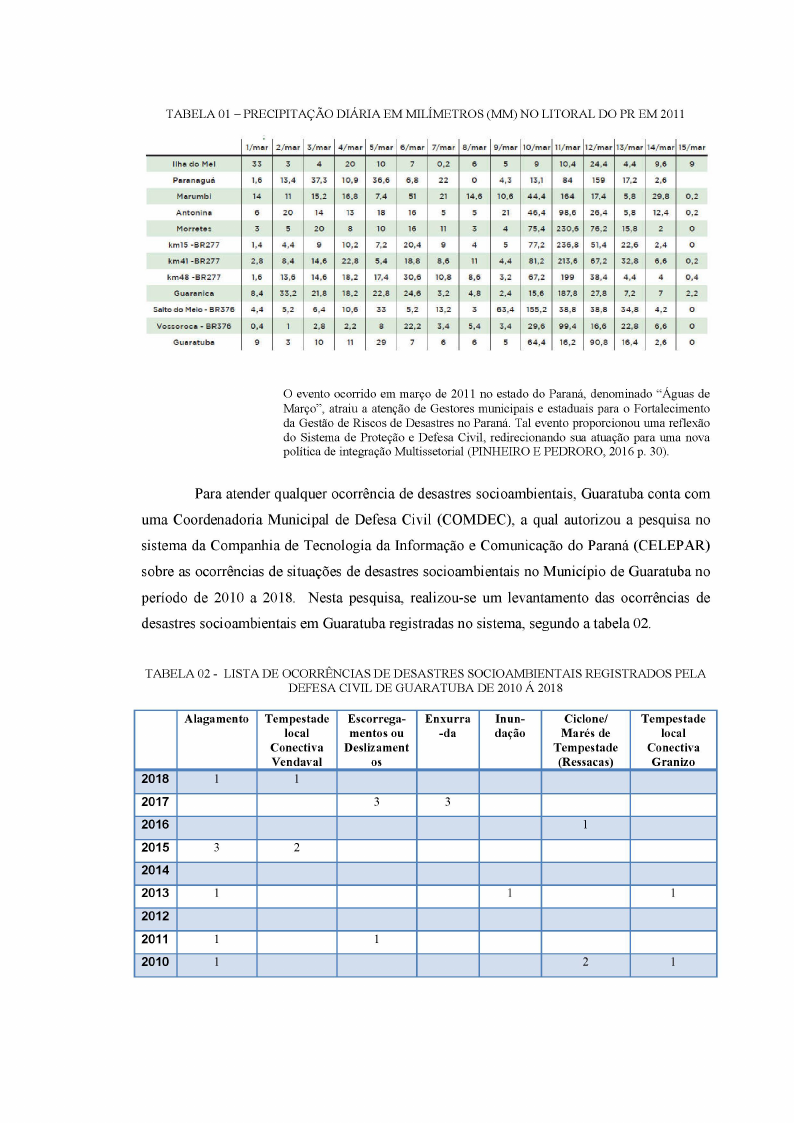
TABELA 01 - PRECIPITAÇÃO DIÁRIA EM MILÍMETROS (MM) NO LITORAL DO PR EM 2011
Ilha do Mal
P a ra n a g u á
M arumbi
A n to n in a
M orrates
km 15-B R 277
km 41 -BR277
km 48 -BR277
G uaraniea
Salto do Meio - BR376
Vossoroca - BR376
G uaratuba
1/m ar 2 /m a r 3 /m a r 4 /m a r 5/m a r 6 /m a r 7 /m a r 8 /m a r 9 /m a r 10 /m a r 11/mar 12/m ar 1 3/m ar 14 /m a r 15/m ar
33
3
4
20
10
7
0,2
6
5
9
10,4 24,4 4.4
9,6
9
1,6 13,4 37,3 10,9 36,6 6,8
22
0
4,3
13,1
84
159 17,2 2,6
14
11
15,2 16,8 7,4
51
21
14.6 10,6 44,4 164 17,4
5,8 29,8 0,2
6
20
14
13
18
16
5
5
21 4 6 ,4 98,6 26 ,4 5,8 12,4 0 ,2
3
5
20
8
10
16
11
3
4
75,4 230 .6 76,2 15,8
2
0
1.4
4.4
9
10,2 7,2 2 0 ,4
9
4
5
77,2 236.3 51,4 22,6 2,4
0
2,8
8,4 14,6 22,8 5,4 18,8 8,6
11
4,4
81,2 213,6 67,2 32,8 6,6
0,2
1,6 13,6 14,6 18,2 17,4 30,6 10,8 8,5
3,2 67,2 199 38,4 4 ,4
4
0,4
8 ,4 33,2 21,8 18,2 22,8 24,6 3,2
4,8
2 ,4 15,6 187,8 27,8 7,2
7
2,2
4,4
5,2
6.4 10,6
33
5,2 13,2
3
63,4 155,2 38,8 38.8 34,3 4,2
O
0,4
1
2,8
2,2
8
22,2 3,4
5,4
3,4 29,6 99,4 16,6 22,8 6,6
0
9
3
10
11
29
7
6
6
5
64,4 16,2 9 0 ,8 16.4 2,6
0
O evento ocorrido em março de 2011 no estado do Paraná, denominado “Águas de
Março”, atraiu a atenção de Gestores municipais e estaduais para o Fortalecimento
da Gestão de Riscos de Desastres no Paraná. Tal evento proporcionou uma reflexão
do Sistema de Proteção e Defesa Civil, redirecionando sua atuação para uma nova
política de integração Multissetorial (PINHEIRO E PEDRORO, 2016 p. 30).
Para atender qualquer ocorrência de desastres socioambientais, Guaratuba conta com
uma Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), a qual autorizou a pesquisa no
sistema da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (CELEPAR)
sobre as ocorrências de situações de desastres socioambientais no Município de Guaratuba no
período de 2010 a 2018. Nesta pesquisa, realizou-se um levantamento das ocorrências de
desastres socioambientais em Guaratuba registradas no sistema, segundo a tabela 02.
TABELA 02 - LISTA DE OCORRÊNCIAS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS REGISTRADOS PELA
DEFESA CIVIL DE GUARATUBA DE 2010 Á 2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
A lagam ento
1
3
1
1
1
T em pestade
local
Conectiva
Vendaval
1
2
Escorrega
mentos ou
D eslizam ent
os
3
1
Enxurra
-da
3
Inun
dação
1
Ciclone/
M arés de
T em pestade
(Ressacas)
T em pestade
local
Conectiva
G ranizo
1
1
2
1
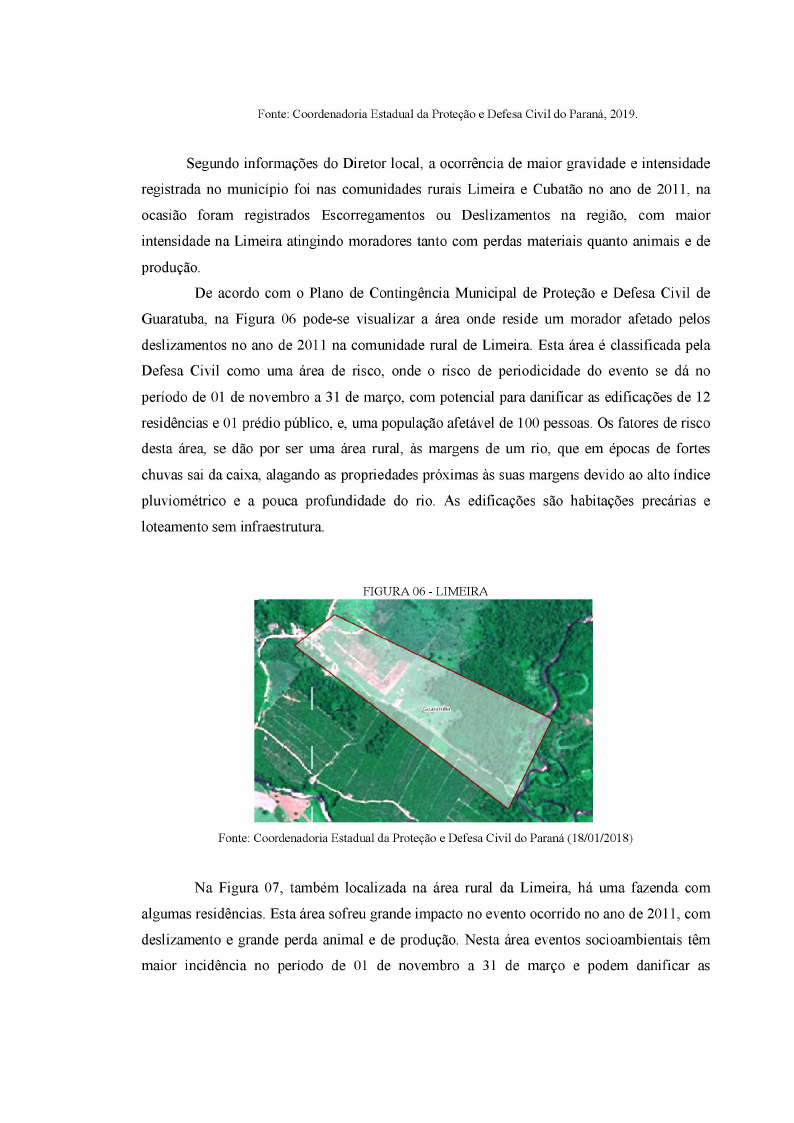
Fonte: Coordenadoria Estadual da Proteção e Defesa Civil do Paraná, 2019.
Segundo informações do Diretor local, a ocorrência de maior gravidade e intensidade
registrada no município foi nas comunidades rurais Limeira e Cubatão no ano de 2011, na
ocasião foram registrados Escorregamentos ou Deslizamentos na região, com maior
intensidade na Limeira atingindo moradores tanto com perdas materiais quanto animais e de
produção.
De acordo com o Plano de Contingência Municipal de Proteção e Defesa Civil de
Guaratuba, na Figura 06 pode-se visualizar a área onde reside um morador afetado pelos
deslizamentos no ano de 2011 na comunidade rural de Limeira. Esta área é classificada pela
Defesa Civil como uma área de risco, onde o risco de periodicidade do evento se dá no
período de 01 de novembro a 31 de março, com potencial para danificar as edificações de 12
residências e 01 prédio público, e, uma população afetável de 100 pessoas. Os fatores de risco
desta área, se dão por ser uma área rural, às margens de um rio, que em épocas de fortes
chuvas sai da caixa, alagando as propriedades próximas às suas margens devido ao alto índice
pluviométrico e a pouca profundidade do rio. As edificações são habitações precárias e
loteamento sem infraestrutura.
FIGURA 06 - LIMEIRA
Fonte: Coordenadoria Estadual da Proteção e Defesa Civil do Paraná (18/01/2018)
Na Figura 07, também localizada na área rural da Limeira, há uma fazenda com
algumas residências. Esta área sofreu grande impacto no evento ocorrido no ano de 2011, com
deslizamento e grande perda animal e de produção. Nesta área eventos socioambientais têm
maior incidência no período de 01 de novembro a 31 de março e podem danificar as
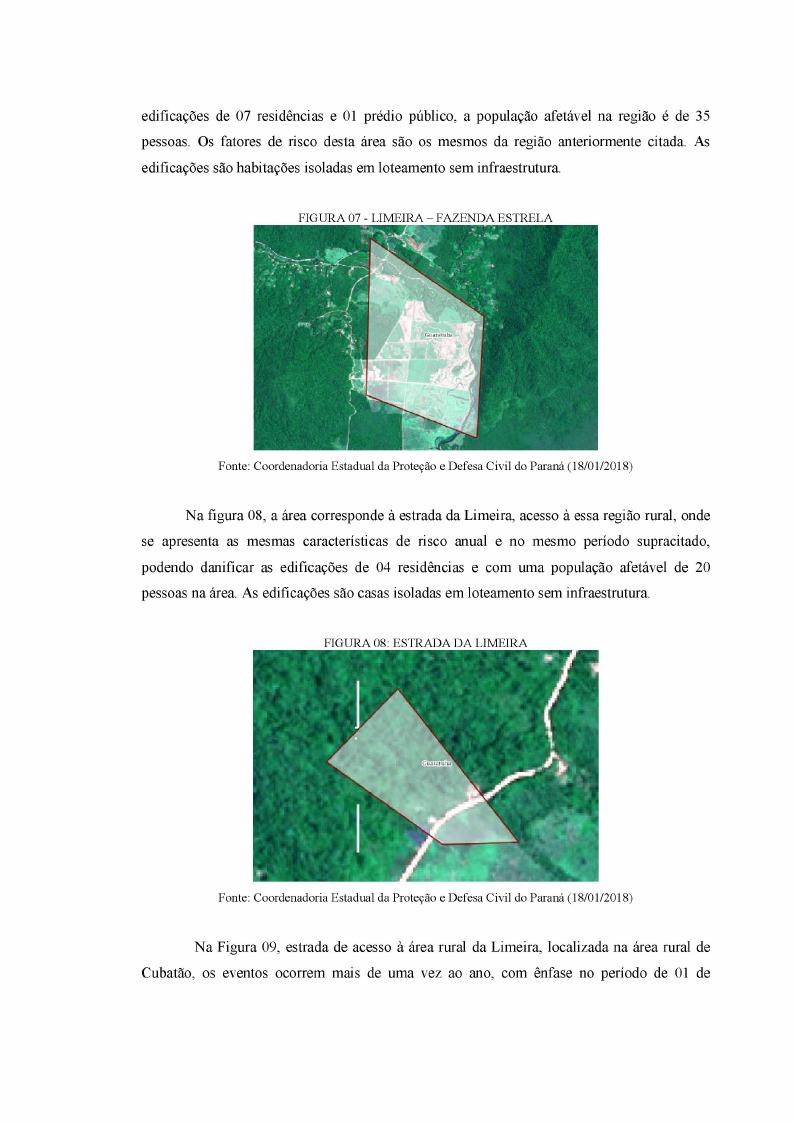
edificações de 07 residências e 01 prédio público, a população afetável na região é de 35
pessoas. Os fatores de risco desta área são os mesmos da região anteriormente citada. As
edificações são habitações isoladas em loteamento sem infraestrutura.
FIGURA 07 - LIMEIRA - FAZENDA ESTRELA
Fonte: Coordenadoria Estadual da Proteção e Defesa Civil do Paraná (18/01/2018)
N a figura 08, a área corresponde à estrada da Limeira, acesso à essa região rural, onde
se apresenta as mesmas características de risco anual e no mesmo período supracitado,
podendo danificar as edificações de 04 residências e com uma população afetável de 20
pessoas na área. As edificações são casas isoladas em loteamento sem infraestrutura.
FIGURA 08: ESTRADA D A LIMEIRA
Fonte: Coordenadoria Estadual da Proteção e Defesa Civil do Paraná (18/01/2018)
Na Figura 09, estrada de acesso à área rural da Limeira, localizada na área rural de
Cubatão, os eventos ocorrem mais de uma vez ao ano, com ênfase no período de 01 de
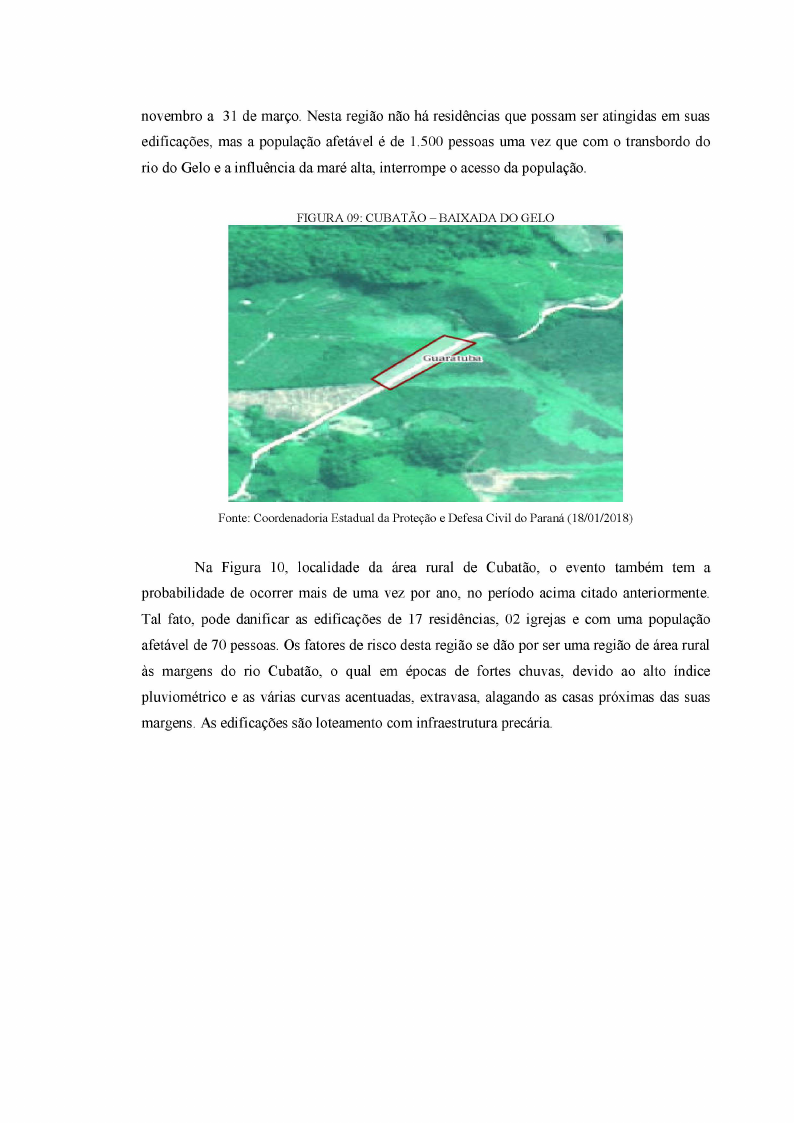
novembro a 31 de março. Nesta região não há residências que possam ser atingidas em suas
edificações, mas a população afetável é de 1.500 pessoas uma vez que com o transbordo do
rio do Gelo e a influência da maré alta, interrompe o acesso da população.
FIGURA 09: CUBATÃO - BAIXADA DO GELO
Fonte: Coordenadoria Estadual da Proteção e Defesa Civil do Paraná (18/01/2018)
Na Figura 10, localidade da área rural de Cubatão, o evento também tem a
probabilidade de ocorrer mais de uma vez por ano, no período acima citado anteriormente.
Tal fato, pode danificar as edificações de 17 residências, 02 igrejas e com uma população
afetável de 70 pessoas. Os fatores de risco desta região se dão por ser uma região de área rural
às margens do rio Cubatão, o qual em épocas de fortes chuvas, devido ao alto índice
pluviométrico e as várias curvas acentuadas, extravasa, alagando as casas próximas das suas
margens. As edificações são loteamento com infraestrutura precária.
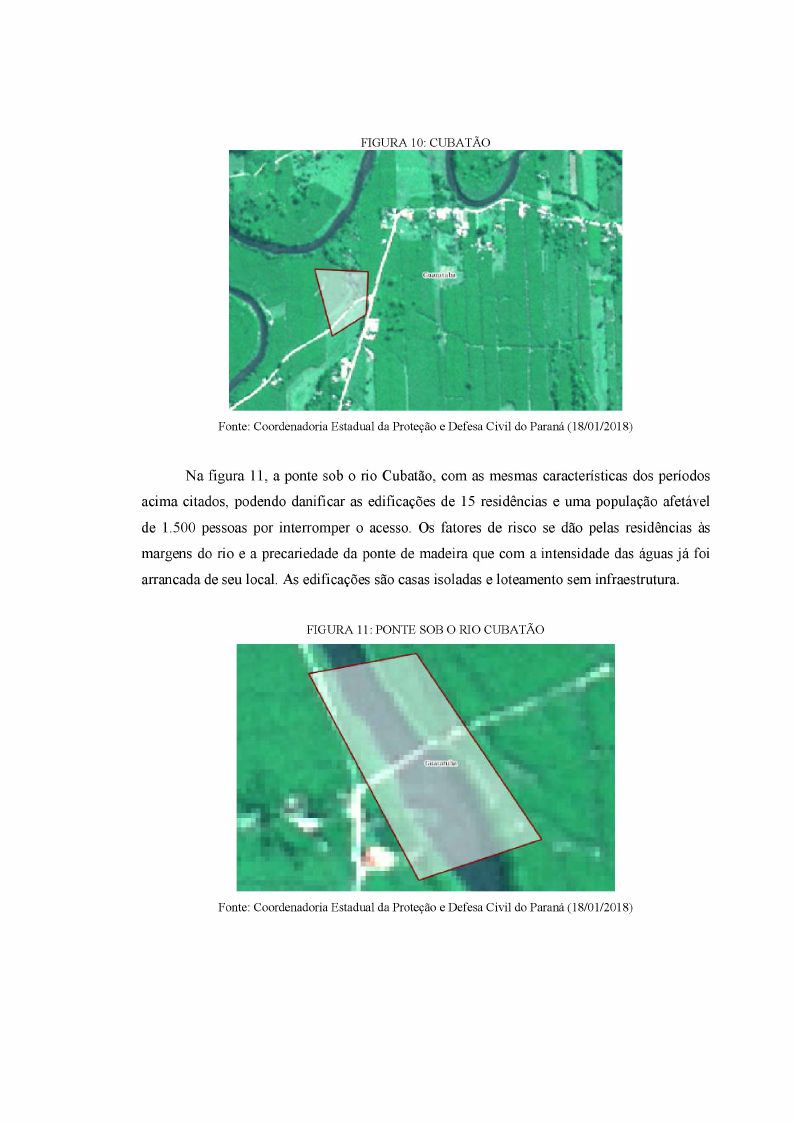
FIGURA 10: CUBATÃO
Fonte: Coordenadoria Estadual da Proteção e Defesa Civil do Paraná (18/01/2018)
N a figura 11, a ponte sob o rio Cubatão, com as mesmas características dos períodos
acima citados, podendo danificar as edificações de 15 residências e uma população afetável
de 1.500 pessoas por interromper o acesso. Os fatores de risco se dão pelas residências às
margens do rio e a precariedade da ponte de madeira que com a intensidade das águas já foi
arrancada de seu local. As edificações são casas isoladas e loteamento sem infraestrutura.
FIGURA 11 : PONTE SOB O RIO CUBATÃO
Fonte: Coordenadoria Estadual da Proteção e Defesa Civil do Paraná (18/01/2018)
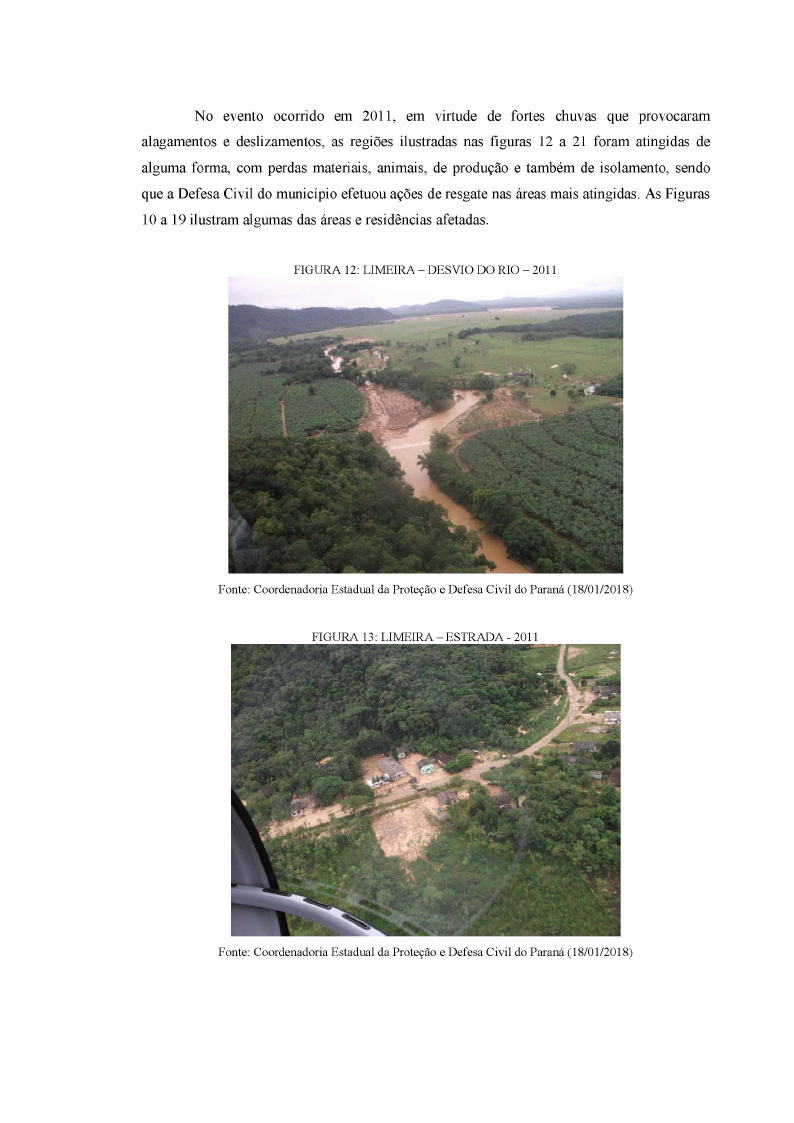
No evento ocorrido em 2011, em virtude de fortes chuvas que provocaram
alagamentos e deslizamentos, as regiões ilustradas nas figuras 12 a 21 foram atingidas de
alguma forma, com perdas materiais, animais, de produção e também de isolamento, sendo
que a Defesa Civil do município efetuou ações de resgate nas áreas mais atingidas. As Figuras
10 a 19 ilustram algumas das áreas e residências afetadas.
FIGURA 12: LIMEIRA - DESVIO DO RIO - 2011
Fonte: Coordenadoria Estadual da Proteção e Defesa Civil do Paraná (18/01/2018)
FIGURA 13: LIM EIRA - ESTRADA - 2011
Fonte: Coordenadoria Estadual da Proteção e Defesa Civil do Paraná (18/01/2018)
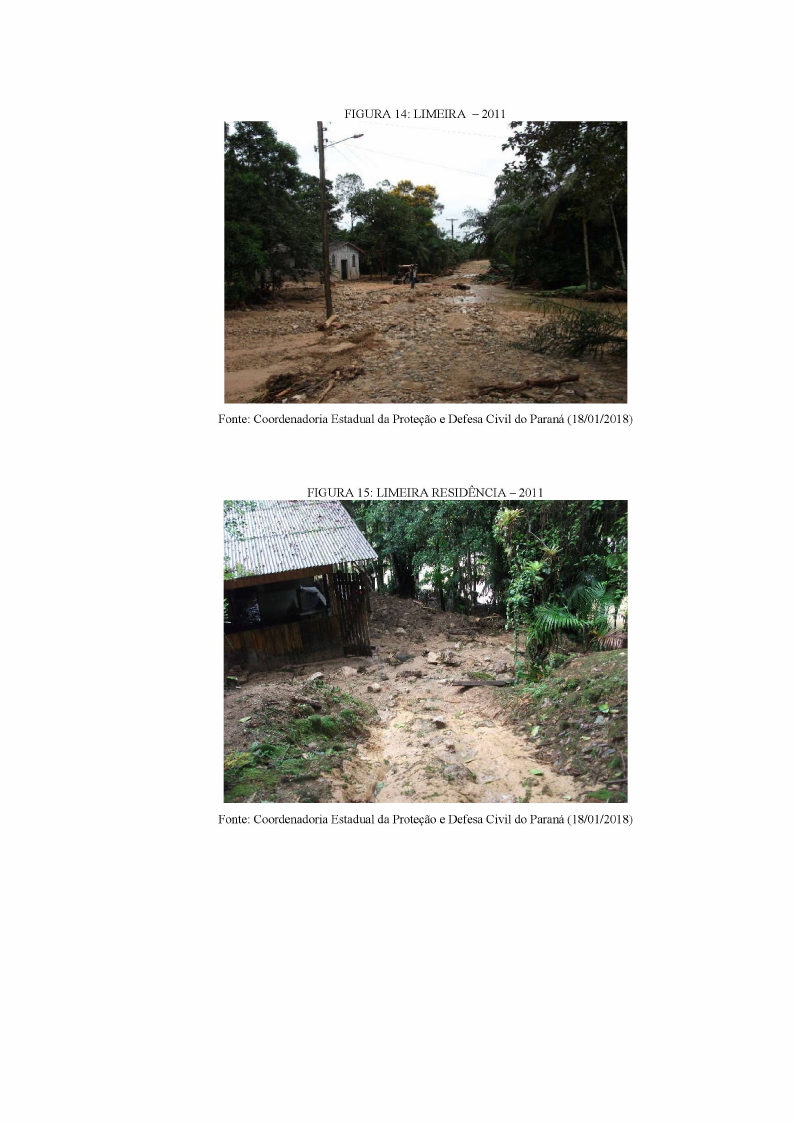
FIGURA 14: LIMEIRA - 2011
Fonte: Coordenadoria Estadual da Proteção e Defesa Civil do Paraná (18/01/2018)
FIGURA 15: LIM EIRA RESIDÊNCIA - 2011
Fonte: Coordenadoria Estadual da Proteção e Defesa Civil do Paraná (18/01/2018)
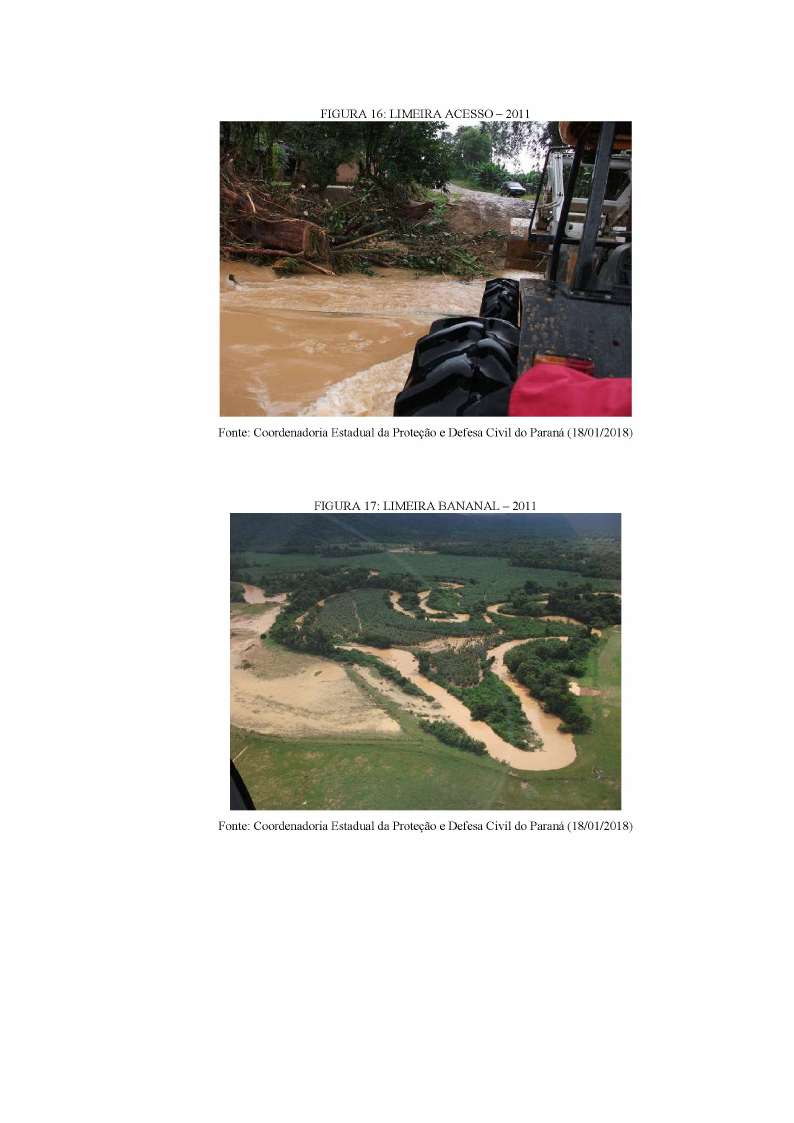
FIGURA 16: LIMEIRA ACESSO - 2011
Fonte: Coordenadoria Estadual da Proteção e Defesa Civil do Paraná (18/01/2018)
FIGURA 17: LIM EIRA BANANAL - 2011
Fonte: Coordenadoria Estadual da Proteção e Defesa Civil do Paraná (18/01/2018)
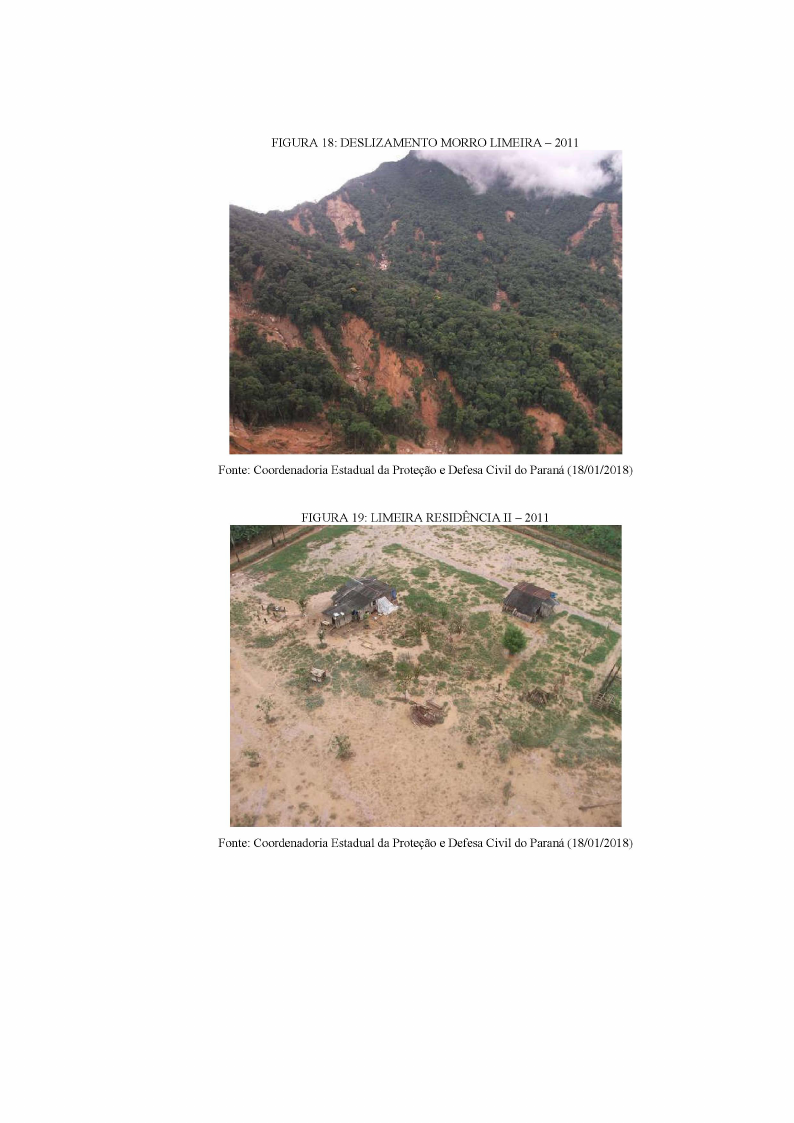
FIGURA 18: DESLIZAMENTO MORRO LIMEIRA - 2011
Fonte: Coordenadoria Estadual da Proteção e Defesa Civil do Paraná (18/01/2018)
FIGURA 19: LIM EIRA RESIDÊNCIA II - 2011
Fonte: Coordenadoria Estadual da Proteção e Defesa Civil do Paraná (18/01/2018)
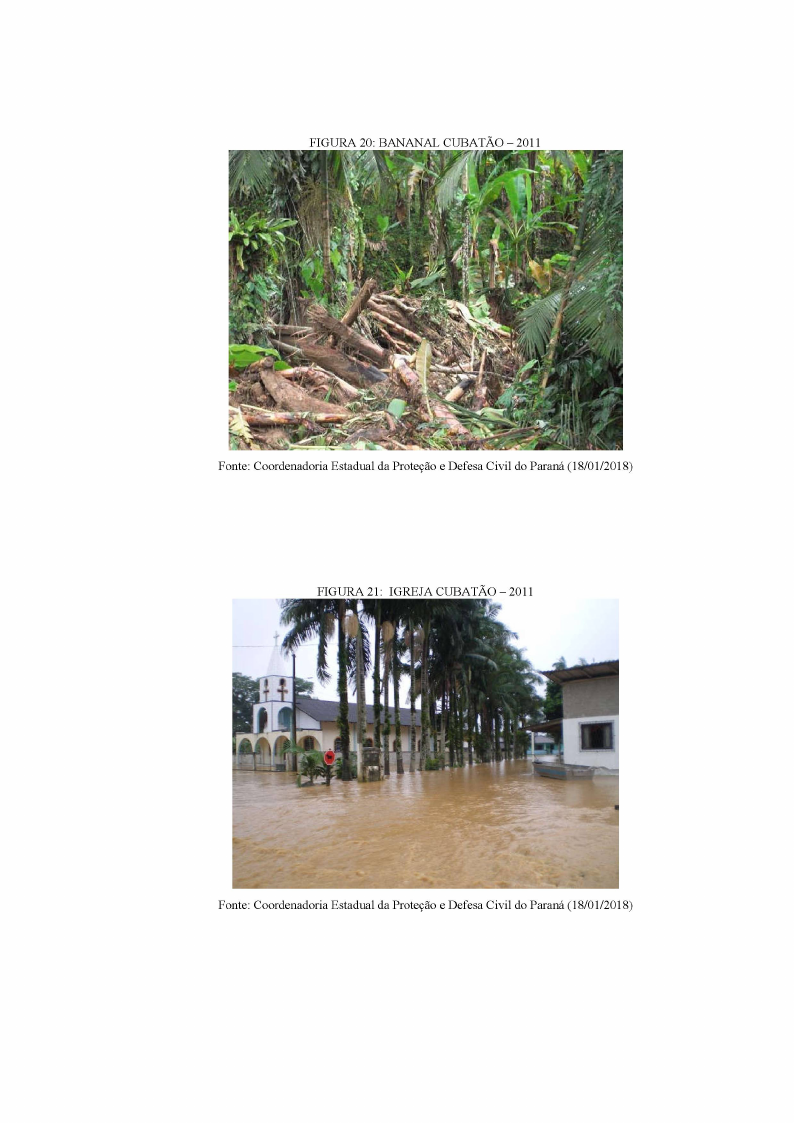
FIGURA 20: BANANAL CUBATÃO - 2011
Fonte: Coordenadoria Estadual da Proteção e Defesa Civil do Paraná (18/01/2018)
FIGURA 21: IGREJA CUBATÃO - 2011
Fonte: Coordenadoria Estadual da Proteção e Defesa Civil do Paraná (18/01/2018)
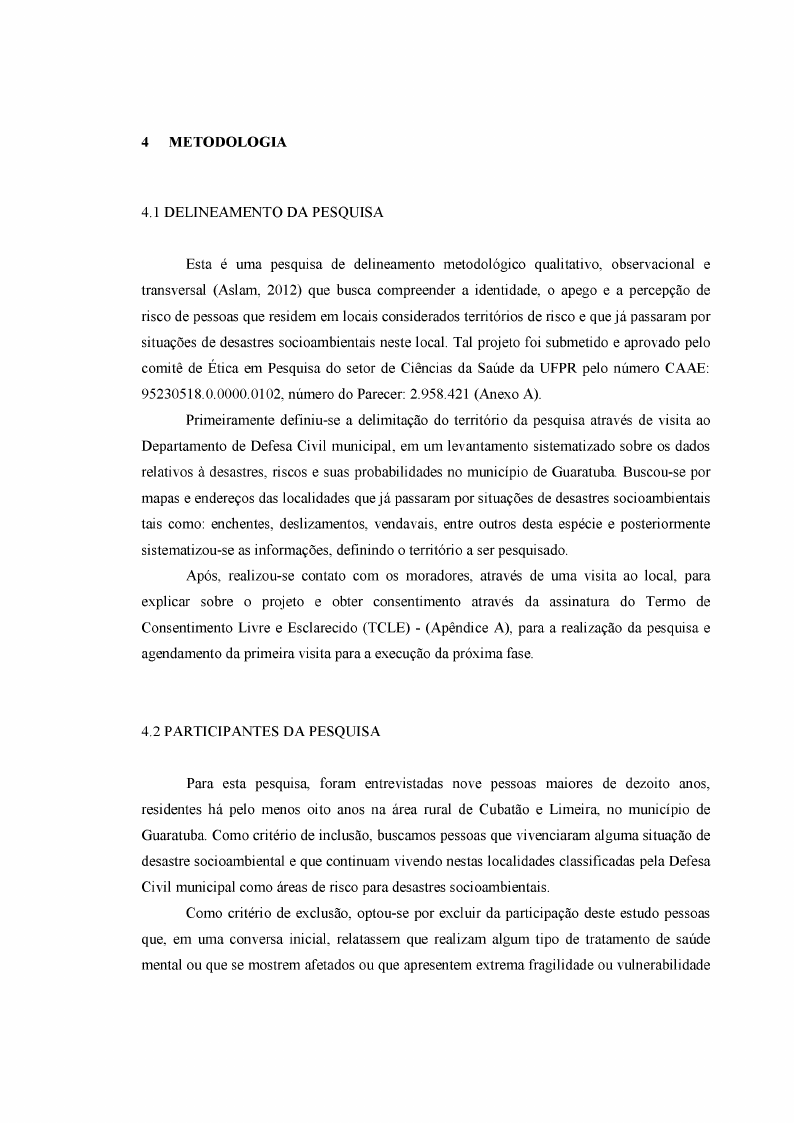
4 METODOLOGIA
4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA
Esta é uma pesquisa de delineamento metodológico qualitativo, observacional e
transversal (Aslam, 2012) que busca compreender a identidade, o apego e a percepção de
risco de pessoas que residem em locais considerados territórios de risco e que já passaram por
situações de desastres socioambientais neste local. Tal projeto foi submetido e aprovado pelo
comitê de Ética em Pesquisa do setor de Ciências da Saúde da UFPR pelo número CAAE:
95230518.0.0000.0102, número do Parecer: 2.958.421 (Anexo A).
Primeiramente definiu-se a delimitação do território da pesquisa através de visita ao
Departamento de Defesa Civil municipal, em um levantamento sistematizado sobre os dados
relativos à desastres, riscos e suas probabilidades no município de Guaratuba. Buscou-se por
mapas e endereços das localidades que já passaram por situações de desastres socioambientais
tais como: enchentes, deslizamentos, vendavais, entre outros desta espécie e posteriormente
sistematizou-se as informações, definindo o território a ser pesquisado.
Após, realizou-se contato com os moradores, através de uma visita ao local, para
explicar sobre o projeto e obter consentimento através da assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - (Apêndice A), para a realização da pesquisa e
agendamento da primeira visita para a execução da próxima fase.
4.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA
Para esta pesquisa, foram entrevistadas nove pessoas maiores de dezoito anos,
residentes há pelo menos oito anos na área rural de Cubatão e Limeira, no município de
Guaratuba. Como critério de inclusão, buscamos pessoas que vivenciaram alguma situação de
desastre socioambiental e que continuam vivendo nestas localidades classificadas pela Defesa
Civil municipal como áreas de risco para desastres socioambientais.
Como critério de exclusão, optou-se por excluir da participação deste estudo pessoas
que, em uma conversa inicial, relatassem que realizam algum tipo de tratamento de saúde
mental ou que se mostrem afetados ou que apresentem extrema fragilidade ou vulnerabilidade
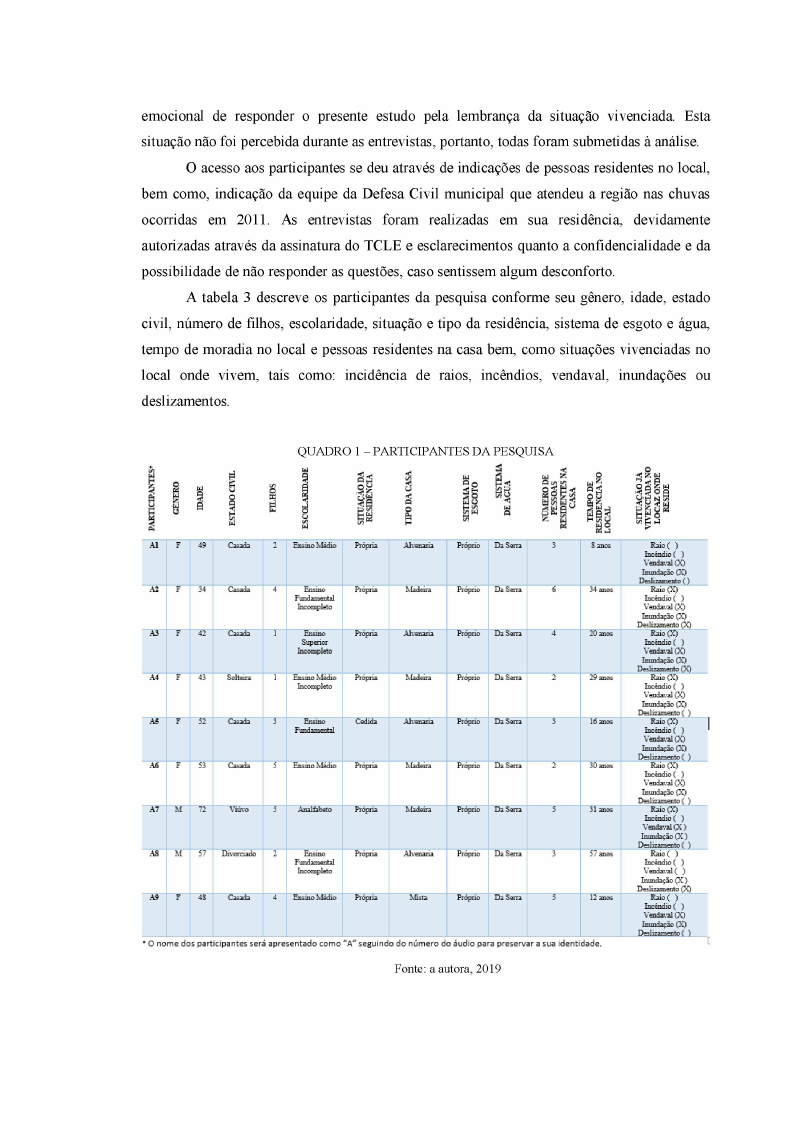
emocional de responder o presente estudo pela lembrança da situação vivenciada. Esta
situação não foi percebida durante as entrevistas, portanto, todas foram submetidas à análise.
O acesso aos participantes se deu através de indicações de pessoas residentes no local,
bem como, indicação da equipe da Defesa Civil municipal que atendeu a região nas chuvas
ocorridas em 2011. As entrevistas foram realizadas em sua residência, devidamente
autorizadas através da assinatura do TCLE e esclarecimentos quanto a confidencialidade e da
possibilidade de não responder as questões, caso sentissem algum desconforto.
A tabela 3 descreve os participantes da pesquisa conforme seu gênero, idade, estado
civil, número de filhos, escolaridade, situação e tipo da residência, sistema de esgoto e água,
tempo de moradia no local e pessoas residentes na casa bem, como situações vivenciadas no
local onde vivem, tais como: incidência de raios, incêndios, vendaval, inundações ou
deslizamentos.
A l F 49
Casada
2 Fnsmo Médio Própria
Alvenaria
Próprio Da Sena
3
3 anos
A3 F 34
Casada
4
Fmim
Própria
Madeira
Próprio Da Sena
€
Fimdamemtal
Incompleto
A3 F 42
Casada
1
F.rmrift
Própria
Alvenana
Próprio Da Sena
4
Superior
Incompleto
A4 F 43
Solteira
1 Ensino Médio Própria
Madeira
Próprio Da Sena
2
Incompleto
AS F 52
Casada
3
F.rmrift
Cedida
Alvenana
Próprio Da Sena
3
FrmdamAntal
A6 F 53
Casada
5 Ensino Médio Própria
Madeira
Próprio Da Sena
2
34 anoa
20 anos
29 anos
16 anos
30 anos
A7 M 72
Vim-o
5
Analiabeto
Própria
Madeira
Próprio Da Sena
5
31 anos
AS M 57 Divorciado 2
Fmim
Própria
Alvenana
Próprio Da Sena
3
Fimdamemtal
Incompleto
A9 F 43
Casada
4 F.mmn NlédlO Própria
Mista
Próprio Da Sena
5
57 anos
12 anos
*■ O nome dos participantes será apresentado como "A " seguindo do número do áudio para preservar a sua identidade.
Fonte: a autora, 2019
Raio ( )
Incêndio ( )
Vendaval (JQ
Inundação 0 0
Deslizamento ( )
Raio (X)
Incêndio ( )
Vendaval (X)
Inundação 0 0
Deslizamento (3Q
Raio (X)
Incêndio ( )
Vendaval (JQ
Inundação 0 0
Deslizamento 0 0
Raio 0 0
Incêndio ( )
Vendaval (X)
Inundação 0 0
Deslizamento ( )
Raio 0 0
Incêndio ( )
Vendaval (JQ
Inundação 0 0
Deslizamento ( )
Raio 0 0
Incêndio ( )
Vendaval (X)
Inundação 0 0
Deslizamento ( )
Raio 0 0
Incêndio ( )
Vendaval (X )
Inundação (X)
Deslizamento ( )
Raio ( )
Incêndio ( )
Vendaval ( )
Inundação (X)
Deslizamento (3Q
Raio ( )
Incêndio ( )
Vendaval (JQ
Inundação 0 0
Deslizamento { )
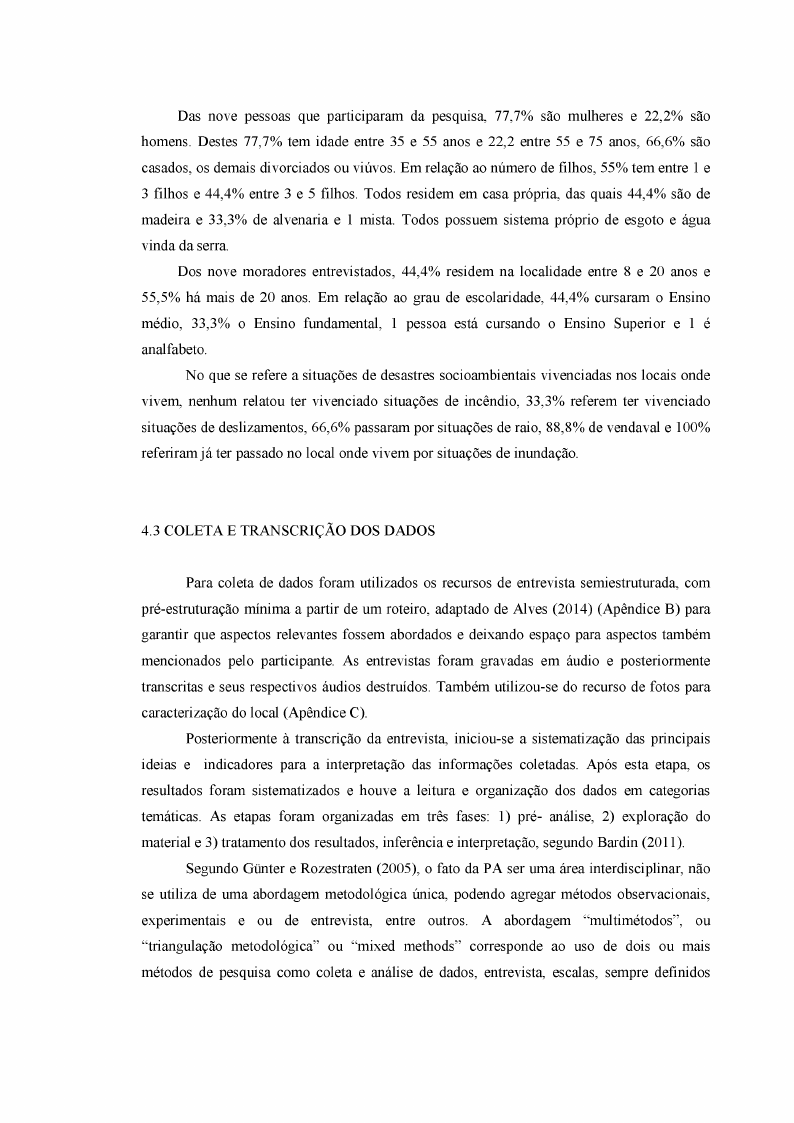
Das nove pessoas que participaram da pesquisa, 77,7% são mulheres e 22,2% são
homens. Destes 77,7% tem idade entre 35 e 55 anos e 22,2 entre 55 e 75 anos, 66,6% são
casados, os demais divorciados ou viúvos. Em relação ao número de filhos, 55% tem entre 1 e
3 filhos e 44,4% entre 3 e 5 filhos. Todos residem em casa própria, das quais 44,4% são de
madeira e 33,3% de alvenaria e 1 mista. Todos possuem sistema próprio de esgoto e água
vinda da serra.
Dos nove moradores entrevistados, 44,4% residem na localidade entre 8 e 20 anos e
55,5% há mais de 20 anos. Em relação ao grau de escolaridade, 44,4% cursaram o Ensino
médio, 33,3% o Ensino fundamental, 1 pessoa está cursando o Ensino Superior e 1 é
analfabeto.
No que se refere a situações de desastres socioambientais vivenciadas nos locais onde
vivem, nenhum relatou ter vivenciado situações de incêndio, 33,3% referem ter vivenciado
situações de deslizamentos, 66,6% passaram por situações de raio, 88,8% de vendaval e 100%
referiram já ter passado no local onde vivem por situações de inundação.
4.3 COLETA E TRANSCRIÇÃO DOS DADOS
Para coleta de dados foram utilizados os recursos de entrevista semiestruturada, com
pré-estruturação mínima a partir de um roteiro, adaptado de Alves (2014) (Apêndice B) para
garantir que aspectos relevantes fossem abordados e deixando espaço para aspectos também
mencionados pelo participante. As entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente
transcritas e seus respectivos áudios destruídos. Também utilizou-se do recurso de fotos para
caracterização do local (Apêndice C).
Posteriormente à transcrição da entrevista, iniciou-se a sistematização das principais
ideias e indicadores para a interpretação das informações coletadas. Após esta etapa, os
resultados foram sistematizados e houve a leitura e organização dos dados em categorias
temáticas. As etapas foram organizadas em três fases: 1) pré- análise, 2) exploração do
material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação, segundo Bardin (2011).
Segundo Günter e Rozestraten (2005), o fato da PA ser uma área interdisciplinar, não
se utiliza de uma abordagem metodológica única, podendo agregar métodos observacionais,
experimentais e ou de entrevista, entre outros. A abordagem “multimétodos”, ou
“triangulação metodológica” ou “mixed methods” corresponde ao uso de dois ou mais
métodos de pesquisa como coleta e análise de dados, entrevista, escalas, sempre definidos
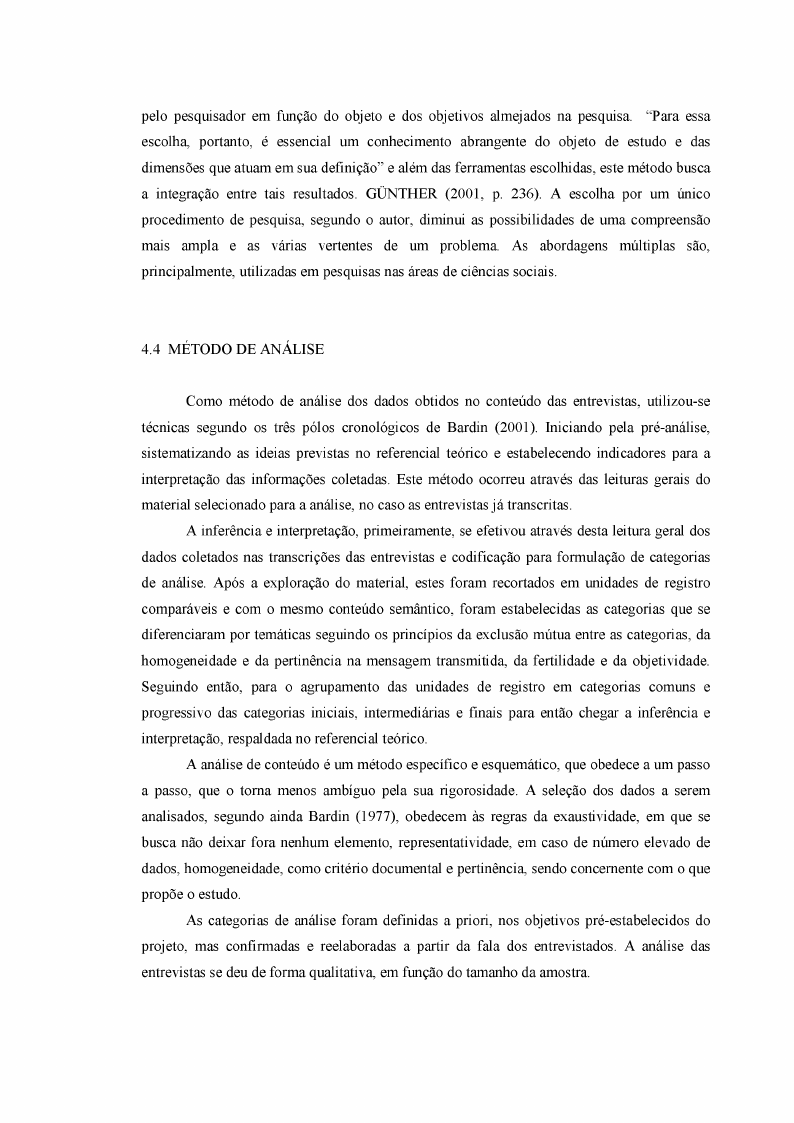
pelo pesquisador em função do objeto e dos objetivos almejados na pesquisa. “Para essa
escolha, portanto, é essencial um conhecimento abrangente do objeto de estudo e das
dimensões que atuam em sua definição” e além das ferramentas escolhidas, este método busca
a integração entre tais resultados. GÜNTHER (2001, p. 236). A escolha por um único
procedimento de pesquisa, segundo o autor, diminui as possibilidades de uma compreensão
mais ampla e as várias vertentes de um problema. As abordagens múltiplas são,
principalmente, utilizadas em pesquisas nas áreas de ciências sociais.
4.4 MÉTODO DE ANÁLISE
Como método de análise dos dados obtidos no conteúdo das entrevistas, utilizou-se
técnicas segundo os três pólos cronológicos de Bardin (2001). Iniciando pela pré-análise,
sistematizando as ideias previstas no referencial teórico e estabelecendo indicadores para a
interpretação das informações coletadas. Este método ocorreu através das leituras gerais do
material selecionado para a análise, no caso as entrevistas já transcritas.
A inferência e interpretação, primeiramente, se efetivou através desta leitura geral dos
dados coletados nas transcrições das entrevistas e codificação para formulação de categorias
de análise. Após a exploração do material, estes foram recortados em unidades de registro
comparáveis e com o mesmo conteúdo semântico, foram estabelecidas as categorias que se
diferenciaram por temáticas seguindo os princípios da exclusão mútua entre as categorias, da
homogeneidade e da pertinência na mensagem transmitida, da fertilidade e da objetividade.
Seguindo então, para o agrupamento das unidades de registro em categorias comuns e
progressivo das categorias iniciais, intermediárias e finais para então chegar a inferência e
interpretação, respaldada no referencial teórico.
A análise de conteúdo é um método específico e esquemático, que obedece a um passo
a passo, que o torna menos ambíguo pela sua rigorosidade. A seleção dos dados a serem
analisados, segundo ainda Bardin (1977), obedecem às regras da exaustividade, em que se
busca não deixar fora nenhum elemento, representatividade, em caso de número elevado de
dados, homogeneidade, como critério documental e pertinência, sendo concernente com o que
propõe o estudo.
As categorias de análise foram definidas a priori, nos objetivos pré-estabelecidos do
projeto, mas confirmadas e reelaboradas a partir da fala dos entrevistados. A análise das
entrevistas se deu de forma qualitativa, em função do tamanho da amostra.
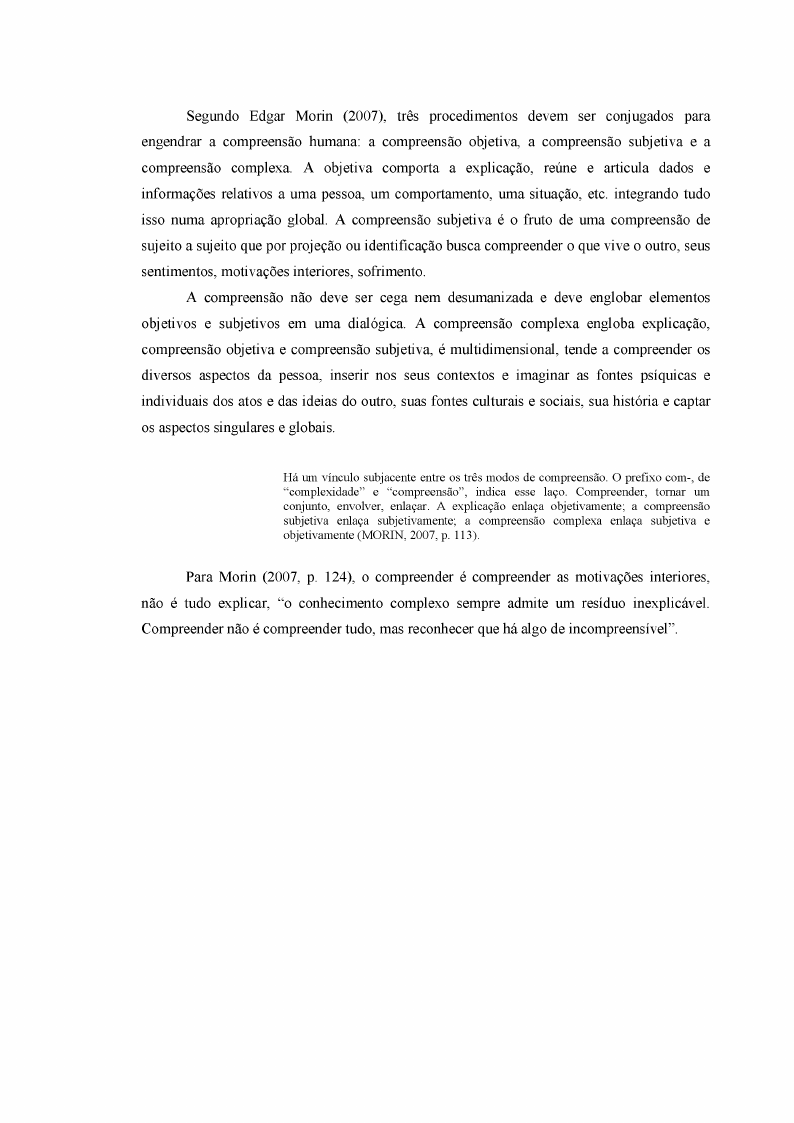
Segundo Edgar Morin (2007), três procedimentos devem ser conjugados para
engendrar a compreensão humana: a compreensão objetiva, a compreensão subjetiva e a
compreensão complexa. A objetiva comporta a explicação, reúne e articula dados e
informações relativos a uma pessoa, um comportamento, uma situação, etc. integrando tudo
isso numa apropriação global. A compreensão subjetiva é o fruto de uma compreensão de
sujeito a sujeito que por projeção ou identificação busca compreender o que vive o outro, seus
sentimentos, motivações interiores, sofrimento.
A compreensão não deve ser cega nem desumanizada e deve englobar elementos
objetivos e subjetivos em uma dialógica. A compreensão complexa engloba explicação,
compreensão objetiva e compreensão subjetiva, é multidimensional, tende a compreender os
diversos aspectos da pessoa, inserir nos seus contextos e imaginar as fontes psíquicas e
individuais dos atos e das ideias do outro, suas fontes culturais e sociais, sua história e captar
os aspectos singulares e globais.
Há um vínculo subjacente entre os três modos de compreensão. O prefixo com-, de
“complexidade” e “compreensão”, indica esse laço. Compreender, tornar um
conjunto, envolver, enlaçar. A explicação enlaça objetivamente; a compreensão
subjetiva enlaça subjetivamente; a compreensão complexa enlaça subjetiva e
objetivamente (MORIN, 2007, p. 113).
Para Morin (2007, p. 124), o compreender é compreender as motivações interiores,
não é tudo explicar, “o conhecimento complexo sempre admite um resíduo inexplicável.
Compreender não é compreender tudo, mas reconhecer que há algo de incompreensível”.
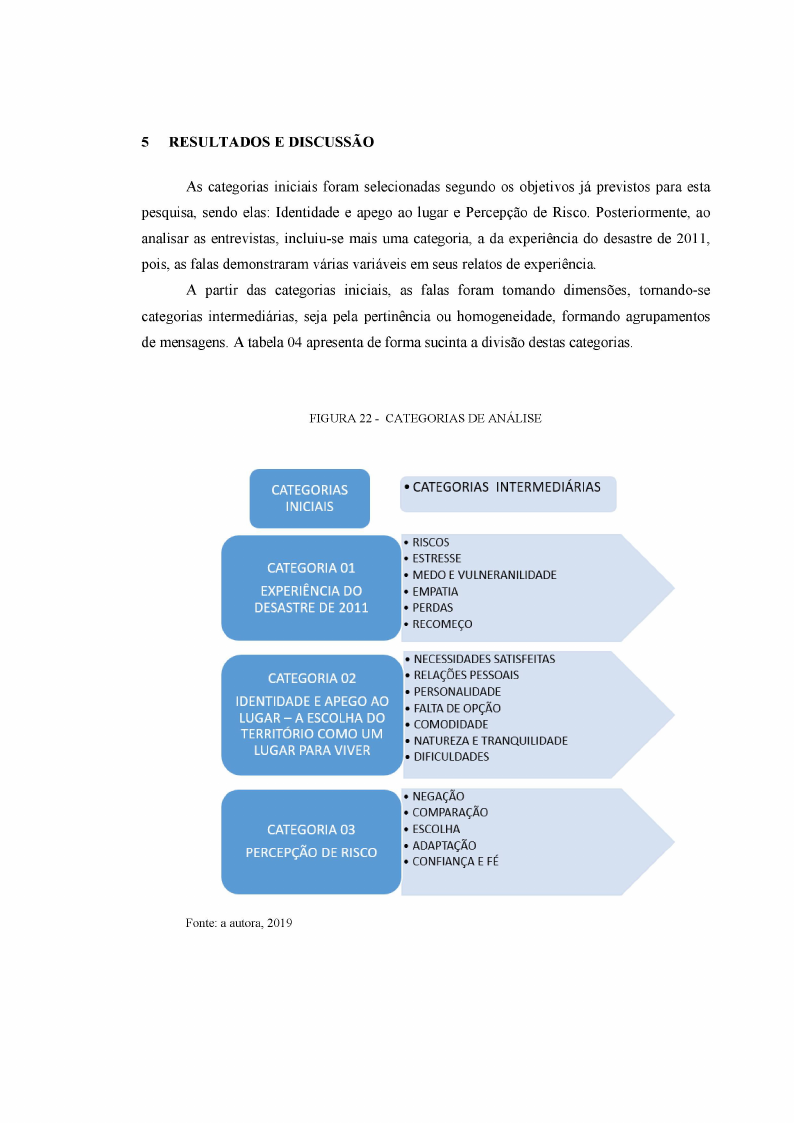
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As categorias iniciais foram selecionadas segundo os objetivos já previstos para esta
pesquisa, sendo elas: Identidade e apego ao lugar e Percepção de Risco. Posteriormente, ao
analisar as entrevistas, incluiu-se mais uma categoria, a da experiência do desastre de 2011,
pois, as falas demonstraram várias variáveis em seus relatos de experiência.
A partir das categorias iniciais, as falas foram tomando dimensões, tornando-se
categorias intermediárias, seja pela pertinência ou homogeneidade, formando agrupamentos
de mensagens. A tabela 04 apresenta de forma sucinta a divisão destas categorias.
FIGURA 22 - CATEGORIAS DE ANÁLISE
•C ATEG O R IAS INTERM EDIÁRIAS
CATEGORIA 01
EXPERIÊNCIA DO
DESASTRE DE 2 0 1 1
• RISCOS
• ESTRESSE
• M EDO E VULNERANILIDADE
• EMPATIA
• PERDAS
• RECOMEÇO
CATEGORIA 0 2
IDENTIDADE E APEGO AO
L U G A R -A ESCOLHA DO
TERRITÓRIO C O M O U M
LUGAR PARA VIVER
• NECESSIDADES SATISFEITAS
• RELAÇÕES PESSOAIS
• PERSONALIDADE
• FALTA DE OPÇÃO
• COMODIDADE
• NATUREZA E TRANQUILIDADE
• DIFICULDADES
CATEGORIA 03
PERCEPÇÃO DE RISCO
• NEGAÇÃO
• COMPARAÇÃO
• ESCOLHA
• ADAPTAÇÃO
• CONFIANÇA E FÉ
Fonte: a autora, 2019
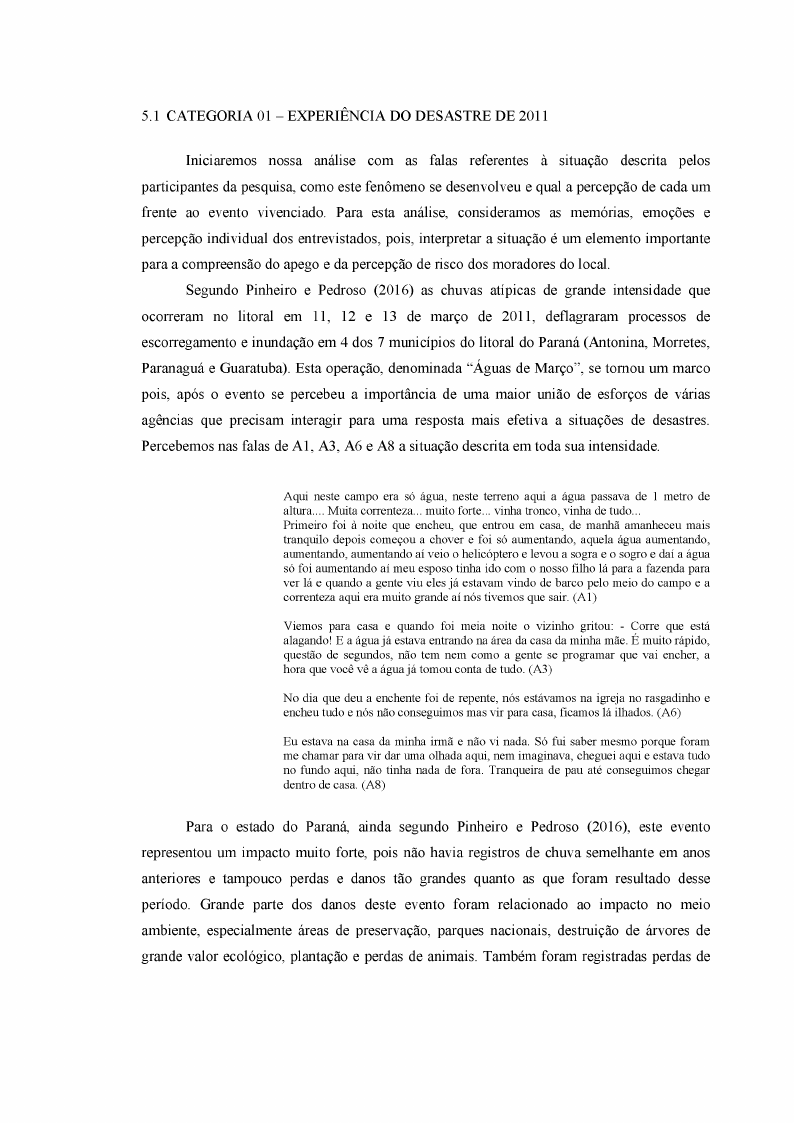
5.1 CATEGORIA 01 - EXPERIÊNCIA DO DESASTRE DE 2011
Iniciaremos nossa análise com as falas referentes à situação descrita pelos
participantes da pesquisa, como este fenômeno se desenvolveu e qual a percepção de cada um
frente ao evento vivenciado. Para esta análise, consideramos as memórias, emoções e
percepção individual dos entrevistados, pois, interpretar a situação é um elemento importante
para a compreensão do apego e da percepção de risco dos moradores do local.
Segundo Pinheiro e Pedroso (2016) as chuvas atípicas de grande intensidade que
ocorreram no litoral em 11, 12 e 13 de março de 2011, deflagraram processos de
escorregamento e inundação em 4 dos 7 municípios do litoral do Paraná (Antonina, Morretes,
Paranaguá e Guaratuba). Esta operação, denominada “Águas de Março”, se tornou um marco
pois, após o evento se percebeu a importância de uma maior união de esforços de várias
agências que precisam interagir para uma resposta mais efetiva a situações de desastres.
Percebemos nas falas de A1, A3, A6 e A8 a situação descrita em toda sua intensidade.
Aqui neste campo era só água, neste terreno aqui a água passava de 1 metro de
altura.... M uita correnteza... muito forte... vinha tronco, vinha de tudo...
Primeiro foi à noite que encheu, que entrou em casa, de manhã amanheceu mais
tranquilo depois começou a chover e foi só aumentando, aquela água aumentando,
aumentando, aumentando aí veio o helicóptero e levou a sogra e o sogro e daí a água
só foi aumentando aí meu esposo tinha ido com o nosso filho lá para a fazenda para
ver lá e quando a gente viu eles já estavam vindo de barco pelo meio do campo e a
correnteza aqui era muito grande aí nós tivemos que sair. (A1)
Viemos para casa e quando foi meia noite o vizinho gritou: - Corre que está
alagando! E a água já estava entrando na área da casa da minha mãe. É muito rápido,
questão de segundos, não tem nem como a gente se programar que vai encher, a
hora que você vê a água já tomou conta de tudo. (A3)
No dia que deu a enchente foi de repente, nós estávamos na igreja no rasgadinho e
encheu tudo e nós não conseguimos mas vir para casa, ficamos lá ilhados. (A6)
Eu estava na casa da minha irmã e não vi nada. Só fui saber mesmo porque foram
me chamar para vir dar uma olhada aqui, nem imaginava, cheguei aqui e estava tudo
no fundo aqui, não tinha nada de fora. Tranqueira de pau até conseguimos chegar
dentro de casa. (A8)
Para o estado do Paraná, ainda segundo Pinheiro e Pedroso (2016), este evento
representou um impacto muito forte, pois não havia registros de chuva semelhante em anos
anteriores e tampouco perdas e danos tão grandes quanto as que foram resultado desse
período. Grande parte dos danos deste evento foram relacionado ao impacto no meio
ambiente, especialmente áreas de preservação, parques nacionais, destruição de árvores de
grande valor ecológico, plantação e perdas de animais. Também foram registradas perdas de
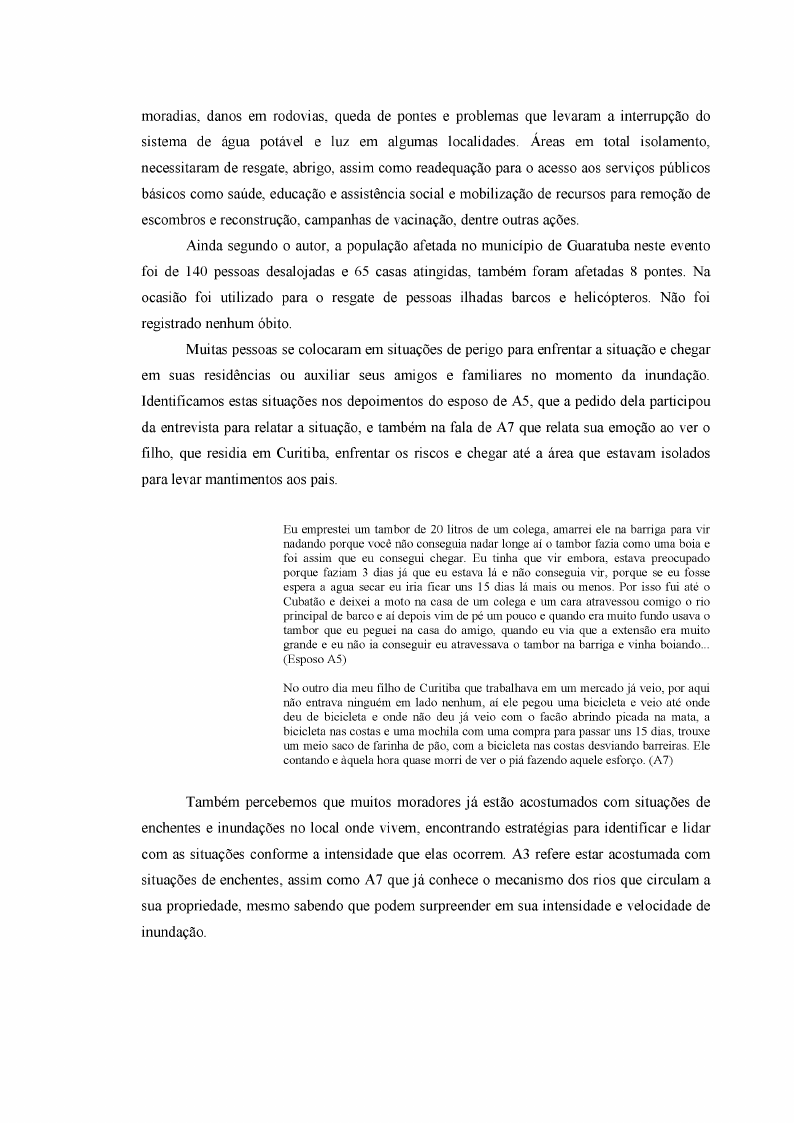
moradias, danos em rodovias, queda de pontes e problemas que levaram a interrupção do
sistema de água potável e luz em algumas localidades. Áreas em total isolamento,
necessitaram de resgate, abrigo, assim como readequação para o acesso aos serviços públicos
básicos como saúde, educação e assistência social e mobilização de recursos para remoção de
escombros e reconstrução, campanhas de vacinação, dentre outras ações.
Ainda segundo o autor, a população afetada no município de Guaratuba neste evento
foi de 140 pessoas desalojadas e 65 casas atingidas, também foram afetadas 8 pontes. Na
ocasião foi utilizado para o resgate de pessoas ilhadas barcos e helicópteros. Não foi
registrado nenhum óbito.
Muitas pessoas se colocaram em situações de perigo para enfrentar a situação e chegar
em suas residências ou auxiliar seus amigos e familiares no momento da inundação.
Identificamos estas situações nos depoimentos do esposo de A5, que a pedido dela participou
da entrevista para relatar a situação, e também na fala de A7 que relata sua emoção ao ver o
filho, que residia em Curitiba, enfrentar os riscos e chegar até a área que estavam isolados
para levar mantimentos aos pais.
Eu emprestei um tambor de 20 litros de um colega, amarrei ele na barriga para vir
nadando porque você não conseguia nadar longe aí o tambor fazia como uma boia e
foi assim que eu consegui chegar. Eu tinha que vir embora, estava preocupado
porque faziam 3 dias já que eu estava lá e não conseguia vir, porque se eu fosse
espera a agua secar eu iria ficar uns 15 dias lá mais ou menos. Por isso fui até o
Cubatão e deixei a moto na casa de um colega e um cara atravessou comigo o rio
principal de barco e aí depois vim de pé um pouco e quando era muito fundo usava o
tambor que eu peguei na casa do amigo, quando eu via que a extensão era muito
grande e eu não ia conseguir eu atravessava o tambor na barriga e vinha boiando...
(Esposo A5)
No outro dia meu filho de Curitiba que trabalhava em um mercado já veio, por aqui
não entrava ninguém em lado nenhum, aí ele pegou uma bicicleta e veio até onde
deu de bicicleta e onde não deu já veio com o facão abrindo picada na mata, a
bicicleta nas costas e uma mochila com uma compra para passar uns 15 dias, trouxe
um meio saco de farinha de pão, com a bicicleta nas costas desviando barreiras. Ele
contando e àquela hora quase morri de ver o piá fazendo aquele esforço. (A7)
Também percebemos que muitos moradores já estão acostumados com situações de
enchentes e inundações no local onde vivem, encontrando estratégias para identificar e lidar
com as situações conforme a intensidade que elas ocorrem. A3 refere estar acostumada com
situações de enchentes, assim como A7 que já conhece o mecanismo dos rios que circulam a
sua propriedade, mesmo sabendo que podem surpreender em sua intensidade e velocidade de
inundação.
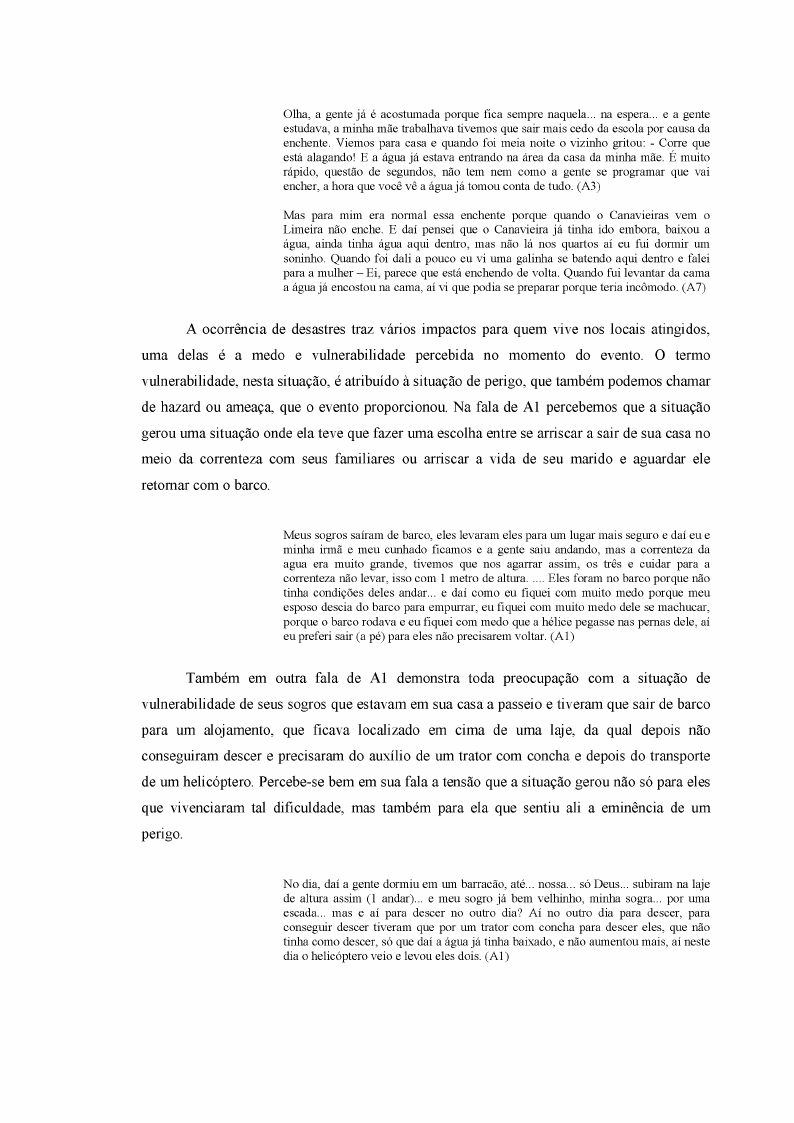
Olha, a gente já é acostumada porque fica sempre naquela... na espera... e a gente
estudava, a minha mãe trabalhava tivemos que sair mais cedo da escola por causa da
enchente. Viemos para casa e quando foi meia noite o vizinho gritou: - Corre que
está alagando! E a água já estava entrando na área da casa da minha mãe. É muito
rápido, questão de segundos, não tem nem como a gente se programar que vai
encher, a hora que você vê a água já tomou conta de tudo. (A3)
Mas para mim era normal essa enchente porque quando o Canavieiras vem o
Limeira não enche. E daí pensei que o Canavieira já tinha ido embora, baixou a
água, ainda tinha água aqui dentro, mas não lá nos quartos aí eu fui dormir um
soninho. Quando foi dali a pouco eu vi uma galinha se batendo aqui dentro e falei
para a mulher - Ei, parece que está enchendo de volta. Quando fui levantar da cama
a água já encostou na cama, aí vi que podia se preparar porque teria incômodo. (A7)
A ocorrência de desastres traz vários impactos para quem vive nos locais atingidos,
uma delas é a medo e vulnerabilidade percebida no momento do evento. O termo
vulnerabilidade, nesta situação, é atribuído à situação de perigo, que também podemos chamar
de hazard ouameaça, que o evento proporcionou. Na fala de A1 percebemos que a situação
gerou uma situaçãoonde ela teve que fazer uma escolha entre se arriscar a sair de sua casa no
meio da correnteza com seus familiares ou arriscar a vida de seu marido e aguardar ele
retornar com o barco.
Meus sogros saíram de barco, eles levaram eles para um lugar mais seguro e daí eu e
minha irmã e meu cunhado ficamos e a gente saiu andando, mas a correnteza da
agua era muito grande, tivemos que nos agarrar assim, os três e cuidar para a
correnteza não levar, isso com 1 metro de altura Eles foram no barco porque não
tinha condições deles andar... e daí como eu fiquei com muito medo porque meu
esposo descia do barco para empurrar, eu fiquei com muito medo dele se machucar,
porque o barco rodava e eu fiquei com medo que a hélice pegasse nas pernas dele, aí
eu preferi sair (a pé) para eles não precisarem voltar. (A1)
Também em outra fala de A1 demonstra toda preocupação com a situação de
vulnerabilidade de seus sogros que estavam em sua casa a passeio e tiveram que sair de barco
para um alojamento, que ficava localizado em cima de uma laje, da qual depois não
conseguiram descer e precisaram do auxílio de um trator com concha e depois do transporte
de um helicóptero. Percebe-se bem em sua fala a tensão que a situação gerou não só para eles
que vivenciaram tal dificuldade, mas também para ela que sentiu ali a eminência de um
perigo.
N o dia, daí a gente dormiu em um barracão, até... nossa... só Deus... subiram na laje
de altura assim (1 andar)... e meu sogro já bem velhinho, minha sogra... por uma
escada... mas e aí para descer no outro dia? Aí no outro dia para descer, para
conseguir descer tiveram que por um trator com concha para descer eles, que não
tinha como descer, só que daí a água já tinha baixado, e não aumentou mais, aí neste
dia o helicóptero veio e levou eles dois. (A1)
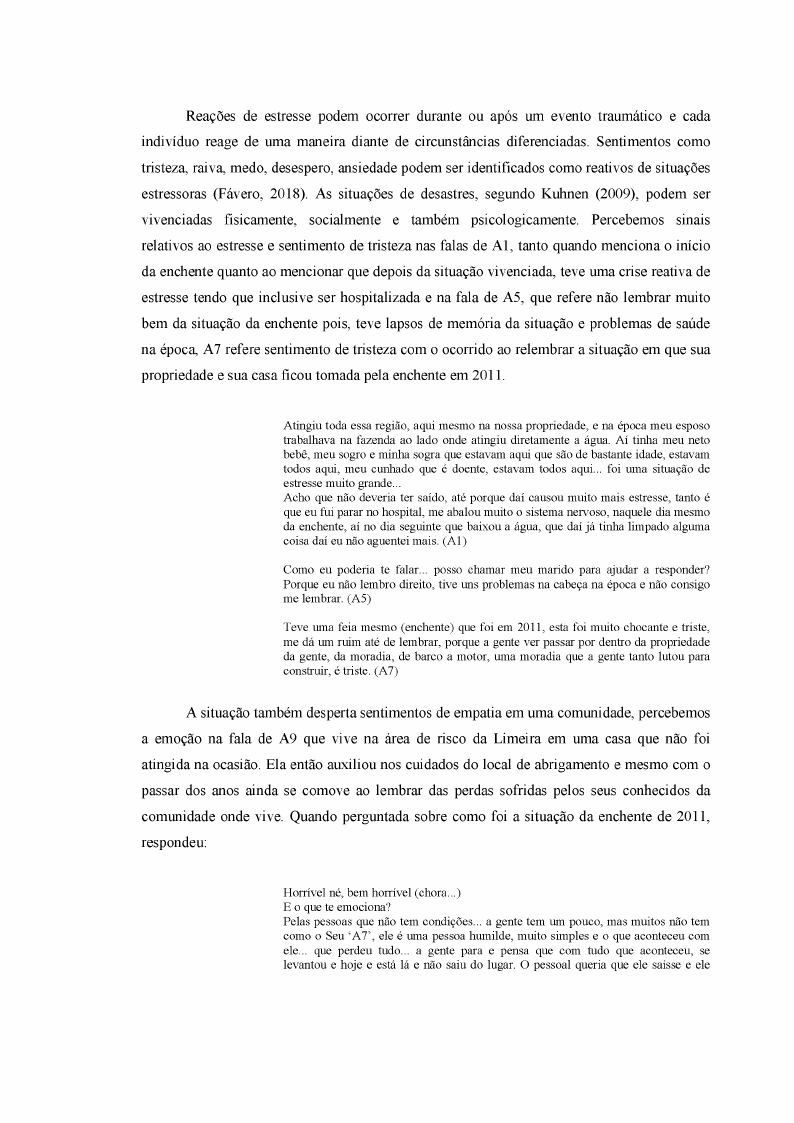
Reações de estresse podem ocorrer durante ou após um evento traumático e cada
indivíduo reage de uma maneira diante de circunstâncias diferenciadas. Sentimentos como
tristeza, raiva, medo, desespero, ansiedade podem ser identificados como reativos de situações
estressoras (Fávero, 2018). As situações de desastres, segundo Kuhnen (2009), podem ser
vivenciadas fisicamente, socialmente e também psicologicamente. Percebemos sinais
relativos ao estresse e sentimento de tristeza nas falas de A1, tanto quando menciona o início
da enchente quanto ao mencionar que depois da situação vivenciada, teve uma crise reativa de
estresse tendo que inclusive ser hospitalizada e na fala de A5, que refere não lembrar muito
bem da situação da enchente pois, teve lapsos de memória da situação e problemas de saúde
na época, A7 refere sentimento de tristeza com o ocorrido ao relembrar a situação em que sua
propriedade e sua casa ficou tomada pela enchente em 2011.
Atingiu toda essa região, aqui mesmo na nossa propriedade, e na época meu esposo
trabalhava na fazenda ao lado onde atingiu diretamente a água. Aí tinha meu neto
bebê, meu sogro e minha sogra que estavam aqui que são de bastante idade, estavam
todos aqui, meu cunhado que é doente, estavam todos aqui... foi uma situação de
estresse muito grande...
Acho que não deveria ter saído, até porque daí causou muito mais estresse, tanto é
que eu fui parar no hospital, me abalou muito o sistema nervoso, naquele dia mesmo
da enchente, aí no dia seguinte que baixou a água, que daí já tinha limpado alguma
coisa daí eu não aguentei mais. (A1)
Como eu poderia te falar... posso chamar meu marido para ajudar a responder?
Porque eu não lembro direito, tive uns problemas na cabeça na época e não consigo
me lembrar. (A5)
Teve uma feia mesmo (enchente) que foi em 2011, esta foi muito chocante e triste,
me dá um ruim até de lembrar, porque a gente ver passar por dentro da propriedade
da gente, da moradia, de barco a motor, uma moradia que a gente tanto lutou para
construir, é triste. (A7)
A situação também desperta sentimentos de empatia em uma comunidade, percebemos
a emoção na fala de A9 que vive na área de risco da Limeira em uma casa que não foi
atingida na ocasião. Ela então auxiliou nos cuidados do local de abrigamento e mesmo com o
passar dos anos ainda se comove ao lembrar das perdas sofridas pelos seus conhecidos da
comunidade onde vive. Quando perguntada sobre como foi a situação da enchente de 2011,
respondeu:
Horrível né, bem horrível (chora... )
E o que te emociona?
Pelas pessoas que não tem condições... a gente tem um pouco, mas muitos não tem
como o Seu ‘A 7’, ele é uma pessoa humilde, muito simples e o que aconteceu com
ele... que perdeu tudo... a gente para e pensa que com tudo que aconteceu, se
levantou e hoje e está lá e não saiu do lugar. O pessoal queria que ele saísse e ele
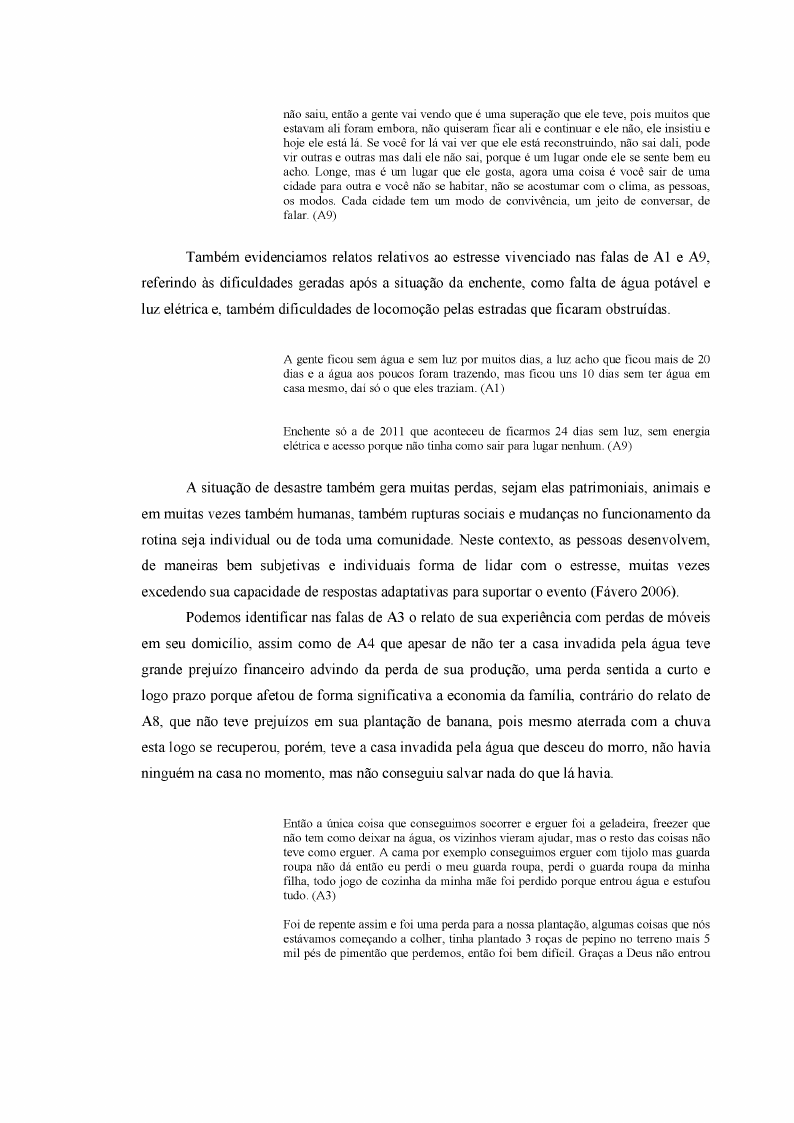
não saiu, então a gente vai vendo que é uma superação que ele teve, pois muitos que
estavam ali foram embora, não quiseram ficar ali e continuar e ele não, ele insistiu e
hoje ele está lá. Se você for lá vai ver que ele está reconstruindo, não sai dali, pode
vir outras e outras mas dali ele não sai, porque é um lugar onde ele se sente bem eu
acho. Longe, mas é um lugar que ele gosta, agora uma coisa é você sair de uma
cidade para outra e você não se habitar, não se acostumar com o clima, as pessoas,
os modos. Cada cidade tem um modo de convivência, um jeito de conversar, de
falar. (A9)
Também evidenciamos relatos relativos ao estresse vivenciado nas falas de A1 e A9,
referindo às dificuldades geradas após a situação da enchente, como falta de água potável e
luz elétrica e, também dificuldades de locomoção pelas estradas que ficaram obstruídas.
A gente ficou sem água e sem luz por muitos dias, a luz acho que ficou mais de 20
dias e a água aos poucos foram trazendo, mas ficou uns 10 dias sem ter água em
casa mesmo, daí só o que eles traziam. (A1)
Enchente só a de 2011 que aconteceu de ficarmos 24 dias sem luz, sem energia
elétrica e acesso porque não tinha como sair para lugar nenhum. (A9)
A situação de desastre também gera muitas perdas, sejam elas patrimoniais, animais e
em muitas vezes também humanas, também rupturas sociais e mudanças no funcionamento da
rotina sejaindividualou de toda uma comunidade. Neste contexto, as pessoas desenvolvem,
de maneiras bemsubjetivas e individuais forma de lidar com o estresse, muitas vezes
excedendo sua capacidade de respostas adaptativas para suportar o evento (Fávero 2006).
Podemos identificar nas falas de A3 o relato de sua experiência com perdas de móveis
em seu domicílio, assim como de A4 que apesar de não ter a casa invadida pela água teve
grande prejuízo financeiro advindo da perda de sua produção, uma perda sentida a curto e
logo prazo porque afetou de forma significativa a economia da família, contrário do relato de
A8, que não teve prejuízos em sua plantação de banana, pois mesmo aterrada com a chuva
esta logo se recuperou, porém, teve a casa invadida pela água que desceu do morro, não havia
ninguém na casa no momento, mas não conseguiu salvar nada do que lá havia.
Então a única coisa que conseguimos socorrer e erguer foi a geladeira, freezer que
não tem como deixar na água, os vizinhos vieram ajudar, mas o resto das coisas não
teve como erguer. A cama por exemplo conseguimos erguer com tijolo mas guarda
roupa não dá então eu perdi o meu guarda roupa, perdi o guarda roupa da minha
filha, todo jogo de cozinha da minha mãe foi perdido porque entrou água e estufou
tudo. (A3)
Foi de repente assim e foi uma perda para a nossa plantação, algumas coisas que nós
estávamos começando a colher, tinha plantado 3 roças de pepino no terreno mais 5
mil pés de pimentão que perdemos, então foi bem difícil. Graças a Deus não entrou
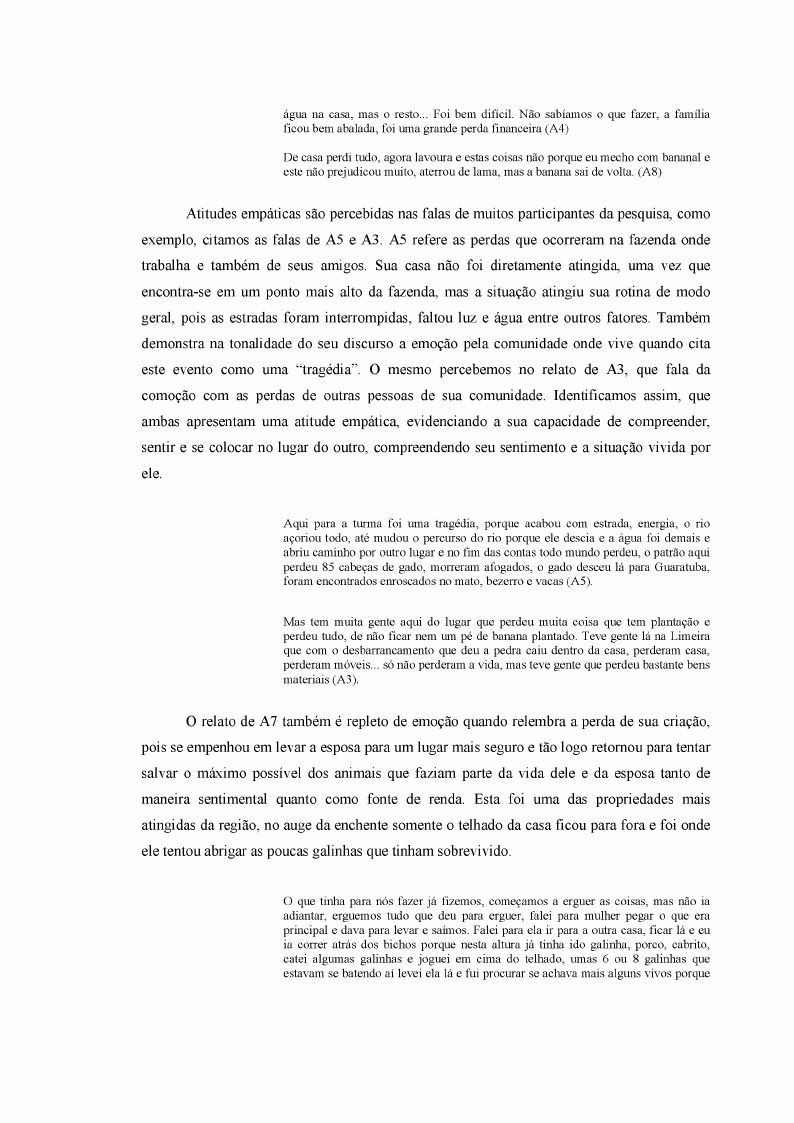
água na casa, mas o resto... Foi bem difícil. Não sabíamos o que fazer, a família
ficou bem abalada, foi uma grande perda financeira (A4)
De casa perdi tudo, agora lavoura e estas coisas não porque eu mecho com bananal e
este não prejudicou muito, aterrou de lama, mas a banana sai de volta. (A8)
Atitudes empáticas são percebidas nas falas de muitos participantes da pesquisa, como
exemplo, citamos as falas de A5 e A3. A5 refere as perdas que ocorreram na fazenda onde
trabalha e também de seus amigos. Sua casa não foi diretamente atingida, uma vez que
encontra-se em um ponto mais alto da fazenda, mas a situação atingiu sua rotina de modo
geral, pois as estradas foram interrompidas, faltou luz e água entre outros fatores. Também
demonstra na tonalidade do seu discurso a emoção pela comunidade onde vive quando cita
este evento como uma “tragédia”. O mesmo percebemos no relato de A3, que fala da
comoção com as perdas de outras pessoas de sua comunidade. Identificamos assim, que
ambas apresentam uma atitude empática, evidenciando a sua capacidade de compreender,
sentir e se colocar no lugar do outro, compreendendo seu sentimento e a situação vivida por
ele.
Aqui para a turma foi uma tragédia, porque acabou com estrada, energia, o rio
açoriou todo, até mudou o percurso do rio porque ele descia e a água foi demais e
abriu caminho por outro lugar e no fim das contas todo mundo perdeu, o patrão aqui
perdeu 85 cabeças de gado, morreram afogados, o gado desceu lá para Guaratuba,
foram encontrados enroscados no mato, bezerro e vacas (A5).
Mas tem muita gente aqui do lugar que perdeu muita coisa que tem plantação e
perdeu tudo, de não ficar nem um pé de banana plantado. Teve gente lá na Limeira
que com o desbarrancamento que deu a pedra caiu dentro da casa, perderam casa,
perderam móveis... só não perderam a vida, mas teve gente que perdeu bastante bens
materiais (A3).
O relato de A7 também é repleto de emoção quando relembra a perda de sua criação,
pois seempenhou em levar a esposa para um lugar mais seguro e tão logo retornou para tentar
salvar omáximo possível dos animais que faziam parte da vida dele e da esposa tanto de
maneira sentimentalquanto como fonte de renda. Esta foi uma das propriedades mais
atingidas daregião, no auge da enchente somente o telhado da casa ficou para fora e foi onde
ele tentou abrigar as poucas galinhas que tinham sobrevivido.
O que tinha para nós fazer já fizemos, começamos a erguer as coisas, mas não ia
adiantar, erguemos tudo que deu para erguer, falei para mulher pegar o que era
principal e dava para levar e saímos. Falei para ela ir para a outra casa, ficar lá e eu
ia correr atrás dos bichos porque nesta altura já tinha ido galinha, porco, cabrito,
catei algumas galinhas e joguei em cima do telhado, umas 6 ou 8 galinhas que
estavam se batendo aí levei ela lá e fui procurar se achava mais alguns vivos porque
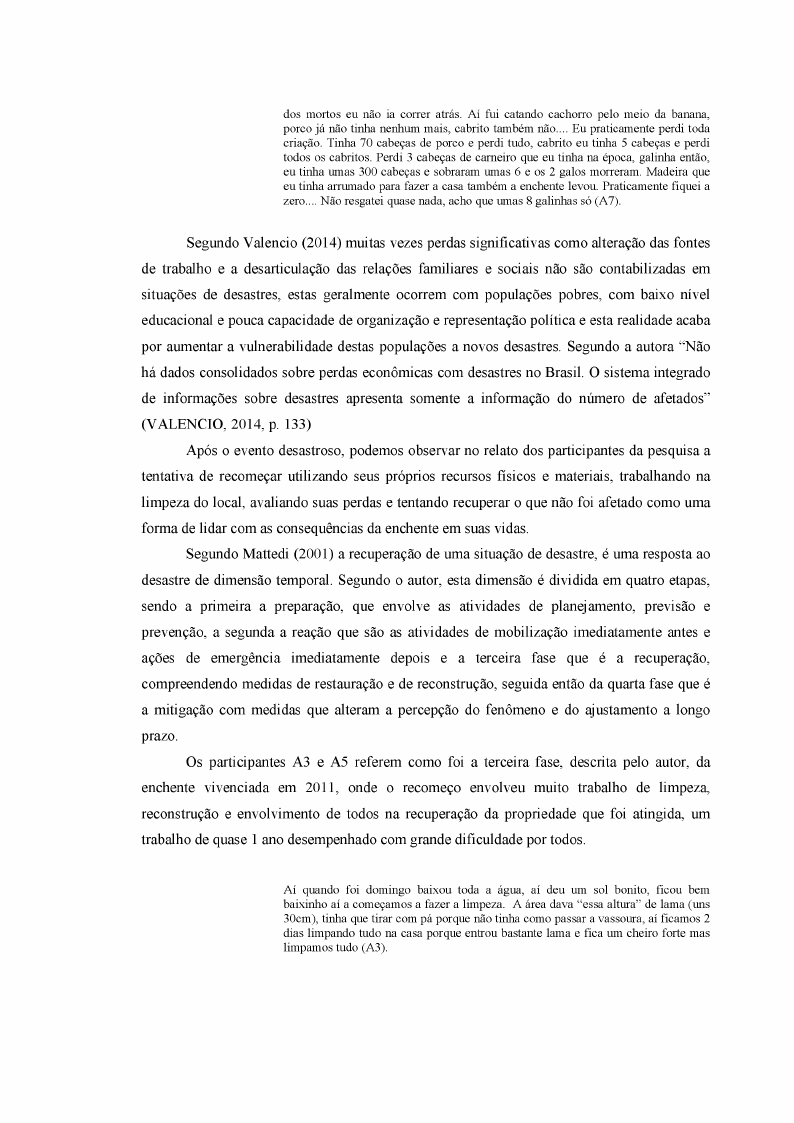
dos mortos eu não ia correr atrás. Aí fui catando cachorro pelo meio da banana,
porco já não tinha nenhum mais, cabrito também não.... Eu praticamente perdi toda
criação. Tinha 70 cabeças de porco e perdi tudo, cabrito eu tinha 5 cabeças e perdi
todos os cabritos. Perdi 3 cabeças de carneiro que eu tinha na época, galinha então,
eu tinha umas 300 cabeças e sobraram umas 6 e os 2 galos morreram. Madeira que
eu tinha arrumado para fazer a casa também a enchente levou. Praticamente fiquei a
zero.... Não resgatei quase nada, acho que umas 8 galinhas só (A7).
Segundo Valencio (2014) muitas vezes perdas significativas como alteração das fontes
de trabalho e a desarticulação das relações familiares e sociais não são contabilizadas em
situações de desastres, estas geralmente ocorrem com populações pobres, com baixo nível
educacional e pouca capacidade de organização e representação política e esta realidade acaba
por aumentar a vulnerabilidade destas populações a novos desastres. Segundo a autora “Não
há dados consolidados sobre perdas econômicas com desastres no Brasil. O sistema integrado
de informações sobre desastres apresenta somente a informação do número de afetados”
(VALENCIO, 2014, p. 133)
Após o evento desastroso, podemos observar no relato dos participantes da pesquisa a
tentativa de recomeçar utilizando seus próprios recursos físicos e materiais, trabalhando na
limpeza do local, avaliando suas perdas e tentando recuperar o que não foi afetado como uma
forma de lidar com as consequências da enchente em suas vidas.
Segundo Mattedi (2001) a recuperação de uma situação de desastre, é uma resposta ao
desastre de dimensão temporal. Segundo o autor, esta dimensão é dividida em quatro etapas,
sendo a primeira a preparação, que envolve as atividades de planejamento, previsão e
prevenção, a segunda a reação que são as atividades de mobilização imediatamente antes e
ações de emergência imediatamente depois e a terceira fase que é a recuperação,
compreendendo medidas de restauração e de reconstrução, seguida então da quarta fase que é
a mitigação com medidas que alteram a percepção do fenômeno e do ajustamento a longo
prazo.
Os participantes A3 e A5 referem como foi a terceira fase, descrita pelo autor, da
enchentevivenciada em 2011, onde o recomeço envolveu muito trabalho de limpeza,
reconstrução eenvolvimento de todos na recuperação da propriedade que foi atingida, um
trabalho de quase 1 ano desempenhado com grande dificuldade por todos.
Aí quando foi domingo baixou toda a água, aí deu um sol bonito, ficou bem
baixinho aí a começamos a fazer a limpeza. A área dava “essa altura” de lama (uns
30cm), tinha que tirar com pá porque não tinha como passar a vassoura, aí ficamos 2
dias limpando tudo na casa porque entrou bastante lama e fica um cheiro forte mas
limpamos tudo (A3).
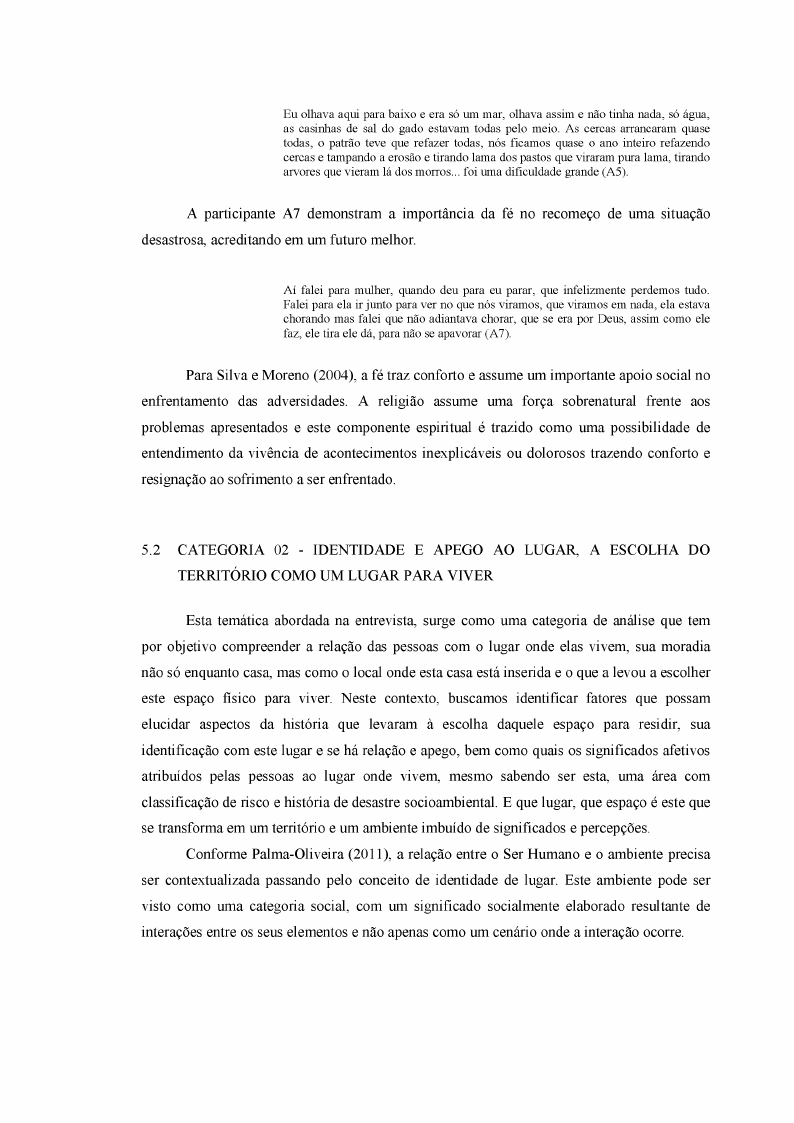
Eu olhava aqui para baixo e era só um mar, olhava assim e não tinha nada, só água,
as casinhas de sal do gado estavam todas pelo meio. As cercas arrancaram quase
todas, o patrão teve que refazer todas, nós ficamos quase o ano inteiro refazendo
cercas e tampando a erosão e tirando lama dos pastos que viraram pura lama, tirando
arvores que vieram lá dos morros... foi uma dificuldade grande (A5).
A participante A7 demonstram a importância da fé no recomeço de uma situação
desastrosa, acreditando em um futuro melhor.
Aí falei para mulher, quando deu para eu parar, que infelizmente perdemos tudo.
Falei para ela ir junto para ver no que nós viramos, que viramos em nada, ela estava
chorando mas falei que não adiantava chorar, que se era por Deus, assim como ele
faz, ele tira ele dá, para não se apavorar (A7).
Para Silva e Moreno (2004), a fé traz conforto e assume um importante apoio social no
enfrentamento das adversidades. A religião assume uma força sobrenatural frente aos
problemas apresentados e este componente espiritual é trazido como uma possibilidade de
entendimento da vivência de acontecimentos inexplicáveis ou dolorosos trazendo conforto e
resignação ao sofrimento a ser enfrentado.
5.2 CATEGORIA 02 - IDENTIDADE E APEGO AO LUGAR, A ESCOLHA DO
TERRITÓRIO COMO UM LUGAR PARA VIVER
Esta temática abordada na entrevista, surge como uma categoria de análise que tem
por objetivo compreender a relação das pessoas com o lugar onde elas vivem, sua moradia
não só enquanto casa, mas como o local onde esta casa está inserida e o que a levou a escolher
este espaço físico para viver. Neste contexto, buscamos identificar fatores que possam
elucidar aspectos da história que levaram à escolha daquele espaço para residir, sua
identificação com este lugar e se há relação e apego, bem como quais os significados afetivos
atribuídos pelas pessoas ao lugar onde vivem, mesmo sabendo ser esta, uma área com
classificação de risco e história de desastre socioambiental. E que lugar, que espaço é este que
se transforma em um território e um ambiente imbuído de significados e percepções.
Conforme Palma-Oliveira (2011), a relação entre o Ser Humano e o ambiente precisa
ser contextualizada passando pelo conceito de identidade de lugar. Este ambiente pode ser
visto como uma categoria social, com um significado socialmente elaborado resultante de
interações entre os seus elementos e não apenas como um cenário onde a interação ocorre.
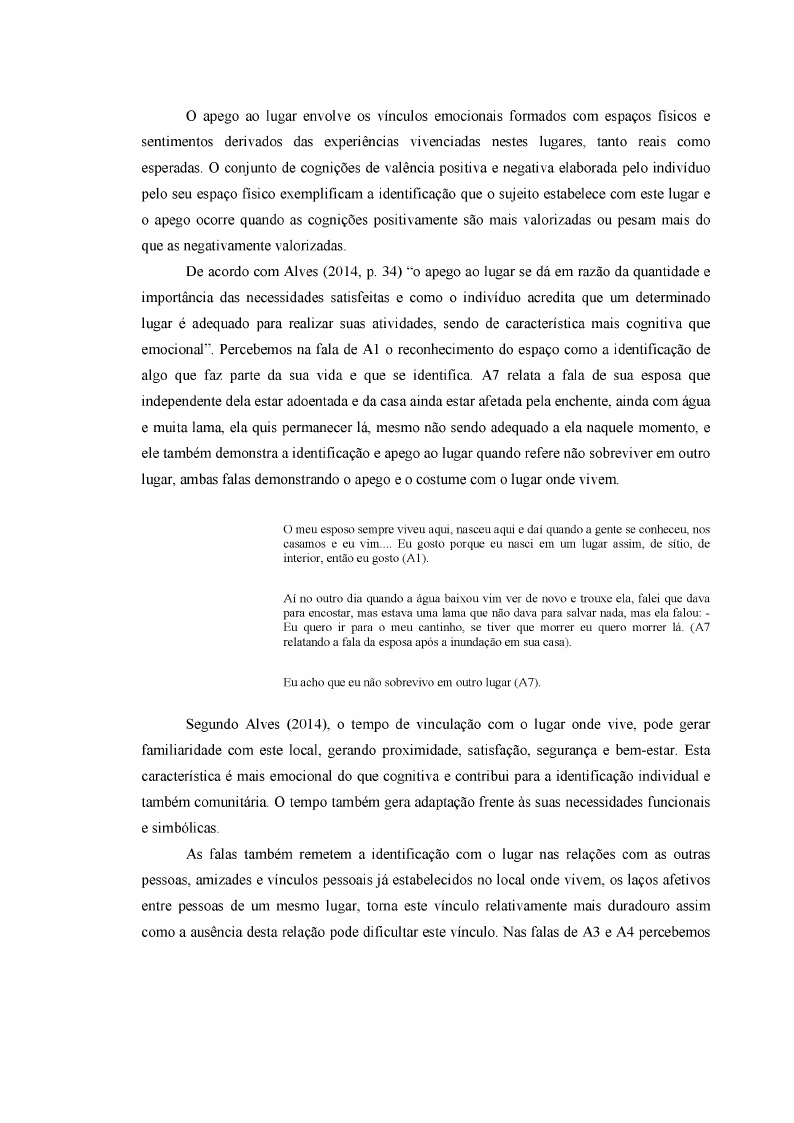
O apego ao lugar envolve os vínculos emocionais formados com espaços físicos e
sentimentos derivados das experiências vivenciadas nestes lugares, tanto reais como
esperadas. O conjunto de cognições de valência positiva e negativa elaborada pelo indivíduo
pelo seu espaço físico exemplificam a identificação que o sujeito estabelece com este lugar e
o apego ocorre quando as cognições positivamente são mais valorizadas ou pesam mais do
que as negativamente valorizadas.
De acordo com Alves (2014, p. 34) “o apego ao lugar se dá em razão da quantidade e
importância das necessidades satisfeitas e como o indivíduo acredita que um determinado
lugar é adequado para realizar suas atividades, sendo de característica mais cognitiva que
emocional”. Percebemos na fala de A1 o reconhecimento do espaço como a identificação de
algo que faz parte da sua vida e que se identifica. A7 relata a fala de sua esposa que
independente dela estar adoentada e da casa ainda estar afetada pela enchente, ainda com água
e muita lama, ela quis permanecer lá, mesmo não sendo adequado a ela naquele momento, e
ele também demonstra a identificação e apego ao lugar quando refere não sobreviver em outro
lugar, ambas falas demonstrando o apego e o costume com o lugar onde vivem.
O meu esposo sempre viveu aqui, nasceu aqui e daí quando a gente se conheceu, nos
casamos e eu vim Eu gosto porque eu nasci em um lugar assim, de sítio, de
interior, então eu gosto (A1).
Aí no outro dia quando a água baixou vim ver de novo e trouxe ela, falei que dava
para encostar, mas estava uma lama que não dava para salvar nada, mas ela falou: -
Eu quero ir para o meu cantinho, se tiver que morrer eu quero morrer lá. (A7
relatando a fala da esposa após a inundação em sua casa).
Eu acho que eu não sobrevivo em outro lugar (A7).
Segundo Alves (2014), o tempo de vinculação com o lugar onde vive, pode gerar
familiaridade com este local, gerando proximidade, satisfação, segurança e bem-estar. Esta
característica é mais emocional do que cognitiva e contribui para a identificação individual e
também comunitária. O tempo também gera adaptação frente às suas necessidades funcionais
e simbólicas.
As falas também remetem a identificação com o lugar nas relações com as outras
pessoas, amizades e vínculos pessoais já estabelecidos no local onde vivem, os laços afetivos
entre pessoas de um mesmo lugar, torna este vínculo relativamente mais duradouro assim
como a ausência desta relação pode dificultar este vínculo. Nas falas de A3 e A4 percebemos
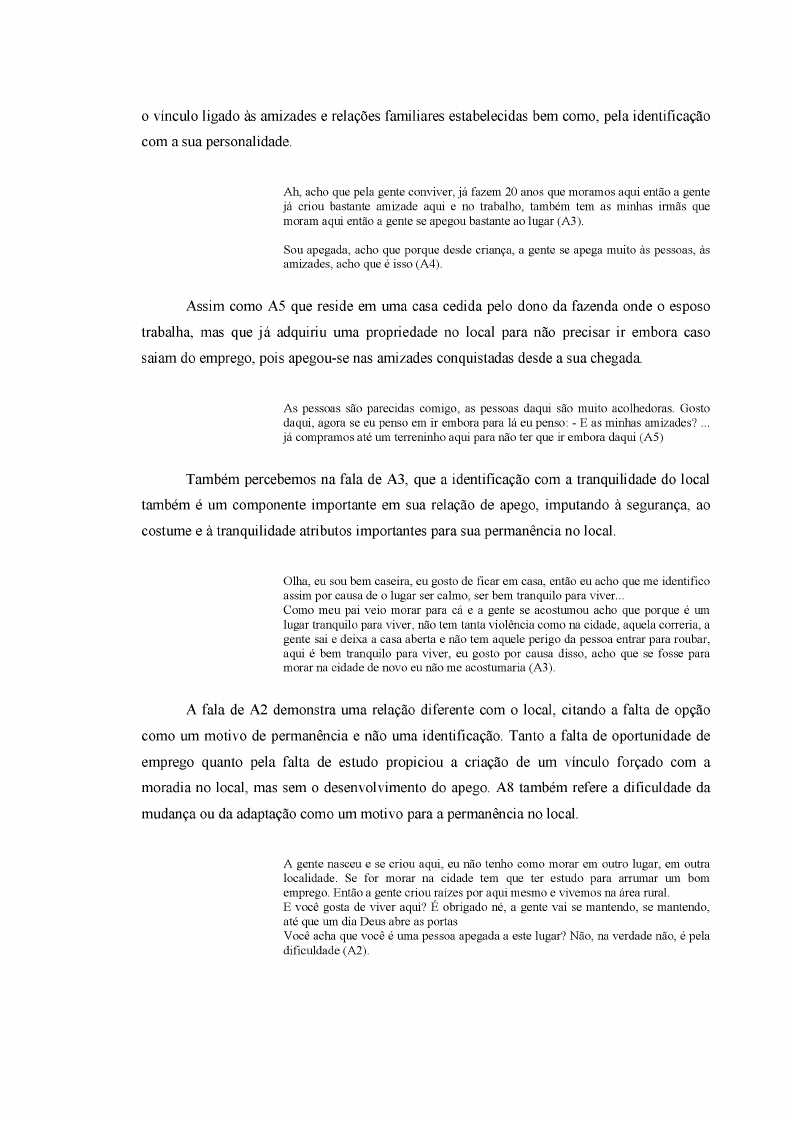
o vínculo ligado às amizades e relações familiares estabelecidas bem como, pela identificação
com a sua personalidade.
Ah, acho que pela gente conviver, já fazem 20 anos que moramos aqui então a gente
já criou bastante amizade aqui e no trabalho, também tem as minhas irmãs que
moram aqui então a gente se apegou bastante ao lugar (A3).
Sou apegada, acho que porque desde criança, a gente se apega muito às pessoas, às
amizades, acho que é isso (A4).
Assim como A5 que reside em uma casa cedida pelo dono da fazenda onde o esposo
trabalha, mas que já adquiriu uma propriedade no local para não precisar ir embora caso
saiam do emprego, pois apegou-se nas amizades conquistadas desde a sua chegada.
As pessoas são parecidas comigo, as pessoas daqui são muito acolhedoras. Gosto
daqui, agora se eu penso em ir embora para lá eu penso: - E as minhas amizades? ...
já compramos até um terreninho aqui para não ter que ir embora daqui (A5)
Também percebemos na fala de A3, que a identificação com a tranquilidade do local
também é um componente importante em sua relação de apego, imputando à segurança, ao
costume e à tranquilidade atributos importantes para sua permanência no local.
Olha, eu sou bem caseira, eu gosto de ficar em casa, então eu acho que me identifico
assim por causa de o lugar ser calmo, ser bem tranquilo para viver...
Como meu pai veio morar para cá e a gente se acostumou acho que porque é um
lugar tranquilo para viver, não tem tanta violência como na cidade, aquela correria, a
gente sai e deixa a casa aberta e não tem aquele perigo da pessoa entrar para roubar,
aqui é bem tranquilo para viver, eu gosto por causa disso, acho que se fosse para
morar na cidade de novo eu não me acostumaria (A3).
A fala de A2 demonstra uma relação diferente com o local, citando a falta de opção
como um motivo de permanência e não uma identificação. Tanto a falta de oportunidade de
emprego quanto pela falta de estudo propiciou a criação de um vínculo forçado com a
moradia no local, mas sem o desenvolvimento do apego. A8 também refere a dificuldade da
mudança ou da adaptação como um motivo para a permanência no local.
A gente nasceu e se criou aqui, eu não tenho como morar em outro lugar, em outra
localidade. Se for morar na cidade tem que ter estudo para arrumar um bom
emprego. Então a gente criou raízes por aqui mesmo e vivemos na área rural.
E você gosta de viver aqui? É obrigado né, a gente vai se mantendo, se mantendo,
até que um dia Deus abre as portas
Você acha que você é uma pessoa apegada a este lugar? Não, na verdade não, é pela
dificuldade (A2).
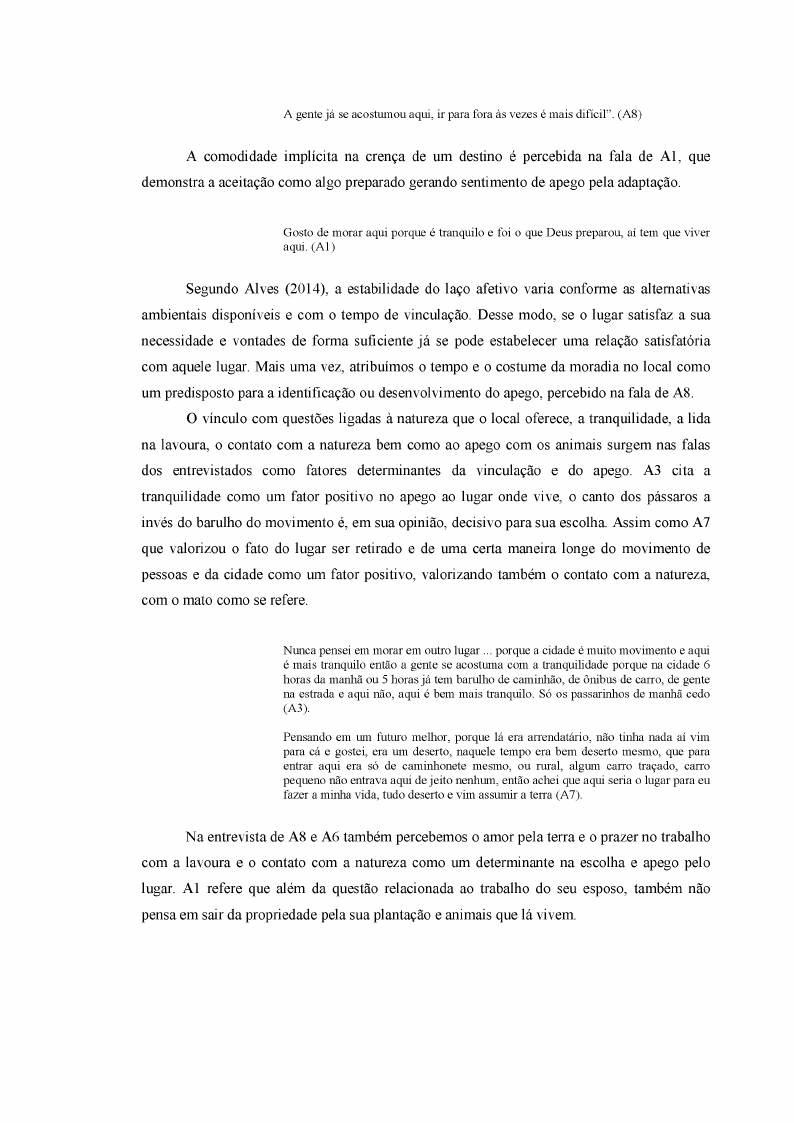
A gente já se acostumou aqui, ir para fora às vezes é mais difícil”. (A8)
A comodidade implícita na crença de um destino é percebida na fala de A1, que
demonstra a aceitação como algo preparado gerando sentimento de apego pela adaptação.
Gosto de morar aqui porque é tranquilo e foi o que Deus preparou, aí tem que viver
aqui. (A1)
Segundo Alves (2014), a estabilidade do laço afetivo varia conforme as alternativas
ambientais disponíveis e com o tempo de vinculação. Desse modo, se o lugar satisfaz a sua
necessidade e vontades de forma suficiente já se pode estabelecer uma relação satisfatória
com aquele lugar. Mais uma vez, atribuímos o tempo e o costume da moradia no local como
um predisposto para a identificação ou desenvolvimento do apego, percebido na fala de A8.
O vínculo com questões ligadas à natureza que o local oferece, a tranquilidade, a lida
na lavoura, o contato com a natureza bem como ao apego com os animais surgem nas falas
dos entrevistados como fatores determinantes da vinculação e do apego. A3 cita a
tranquilidade como um fator positivo no apego ao lugar onde vive, o canto dos pássaros a
invés do barulho do movimento é, em sua opinião, decisivo para sua escolha. Assim como A7
que valorizou o fato do lugar ser retirado e de uma certa maneira longe do movimento de
pessoas e da cidade como um fator positivo, valorizando também o contato com a natureza,
com o mato como se refere.
N unca pensei em morar em outro lugar ... porque a cidade é muito movimento e aqui
é mais tranquilo então a gente se acostuma com a tranquilidade porque na cidade 6
horas da manhã ou 5 horas já tem barulho de caminhão, de ônibus de carro, de gente
na estrada e aqui não, aqui é bem mais tranquilo. Só os passarinhos de manhã cedo
(A3).
Pensando em um futuro melhor, porque lá era arrendatário, não tinha nada aí vim
para cá e gostei, era um deserto, naquele tempo era bem deserto mesmo, que para
entrar aqui era só de caminhonete mesmo, ou rural, algum carro traçado, carro
pequeno não entrava aqui de jeito nenhum, então achei que aqui seria o lugar para eu
fazer a minha vida, tudo deserto e vim assumir a terra (A7).
N a entrevista de A8 e A6 também percebemos o amor pela terra e o prazer no trabalho
com a lavoura e o contato com a natureza como um determinante na escolha e apego pelo
lugar. A1 refere que além da questão relacionada ao trabalho do seu esposo, também não
pensa em sair da propriedade pela sua plantação e animais que lá vivem.
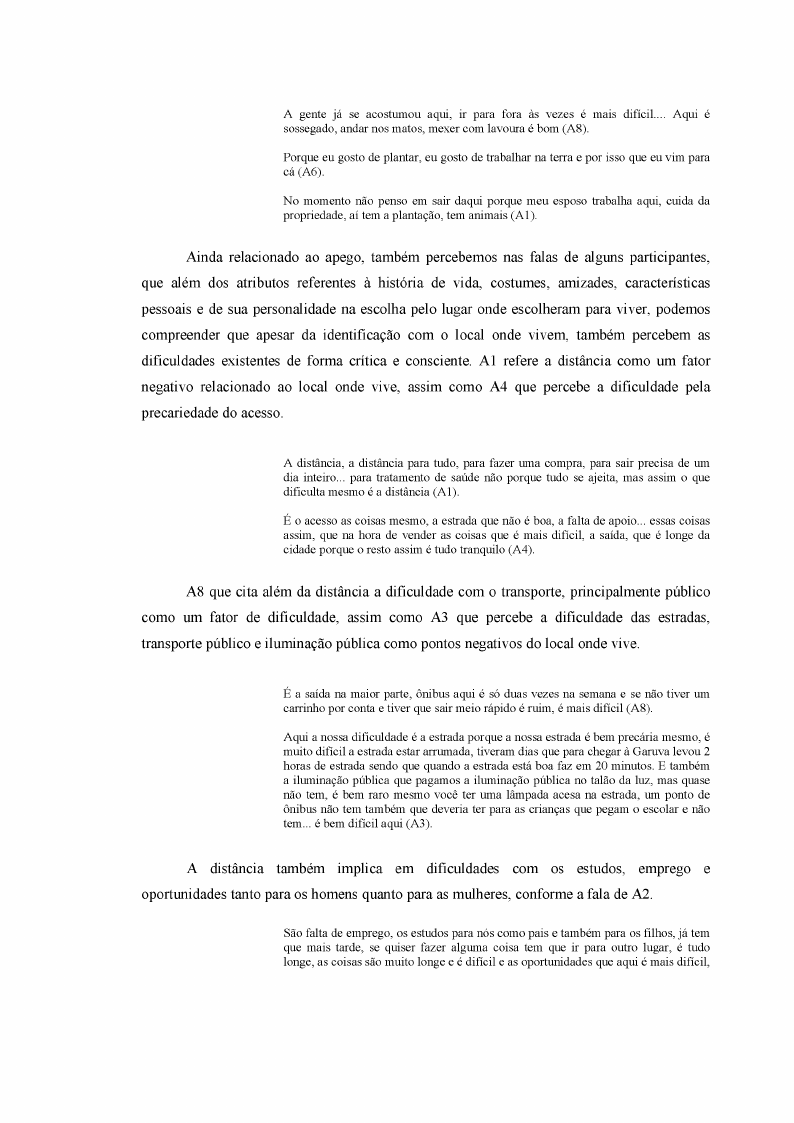
A gente já se acostumou aqui, ir para fora às vezes é mais difícil.... Aqui é
sossegado, andar nos matos, mexer com lavoura é bom (A8).
Porque eu gosto de plantar, eu gosto de trabalhar na terra e por isso que eu vim para
cá (A6).
No momento não penso em sair daqui porque meu esposo trabalha aqui, cuida da
propriedade, aí tem a plantação, tem animais (A1).
Ainda relacionado ao apego, também percebemos nas falas de alguns participantes,
que além dos atributos referentes à história de vida, costumes, amizades, características
pessoais e de sua personalidade na escolha pelo lugar onde escolheram para viver, podemos
compreender que apesar da identificação com o local onde vivem, também percebem as
dificuldades existentes de forma crítica e consciente. A1 refere a distância como um fator
negativo relacionado ao local onde vive, assim como A4 que percebe a dificuldade pela
precariedade do acesso.
A distância, a distância para tudo, para fazer uma compra, para sair precisa de um
dia inteiro... para tratamento de saúde não porque tudo se ajeita, mas assim o que
dificulta mesmo é a distância (A1).
É o acesso as coisas mesmo, a estrada que não é boa, a falta de apoio... essas coisas
assim, que na hora de vender as coisas que é mais difícil, a saída, que é longe da
cidade porque o resto assim é tudo tranquilo (A4).
A8 que cita além da distância a dificuldade com o transporte, principalmente público
como um fator de dificuldade, assim como A3 que percebe a dificuldade das estradas,
transporte público e iluminação pública como pontos negativos do local onde vive.
É a saída na maior parte, ônibus aqui é só duas vezes na semana e se não tiver um
carrinho por conta e tiver que sair meio rápido é ruim, é mais difícil (A8).
Aqui a nossa dificuldade é a estrada porque a nossa estrada é bem precária mesmo, é
muito difícil a estrada estar arrumada, tiveram dias que para chegar à Garuva levou 2
horas de estrada sendo que quando a estrada está boa faz em 20 minutos. E também
a iluminação pública que pagamos a iluminação pública no talão da luz, mas quase
não tem, é bem raro mesmo você ter uma lâmpada acesa na estrada, um ponto de
ônibus não tem também que deveria ter para as crianças que pegam o escolar e não
tem... é bem difícil aqui (A3).
A distância também implica em dificuldades com os estudos, emprego e
oportunidades tanto para os homens quanto para as mulheres, conforme a fala de A2.
São falta de emprego, os estudos para nós como pais e também para os filhos, já tem
que mais tarde, se quiser fazer alguma coisa tem que ir para outro lugar, é tudo
longe, as coisas são muito longe e é difícil e as oportunidades que aqui é mais difícil,
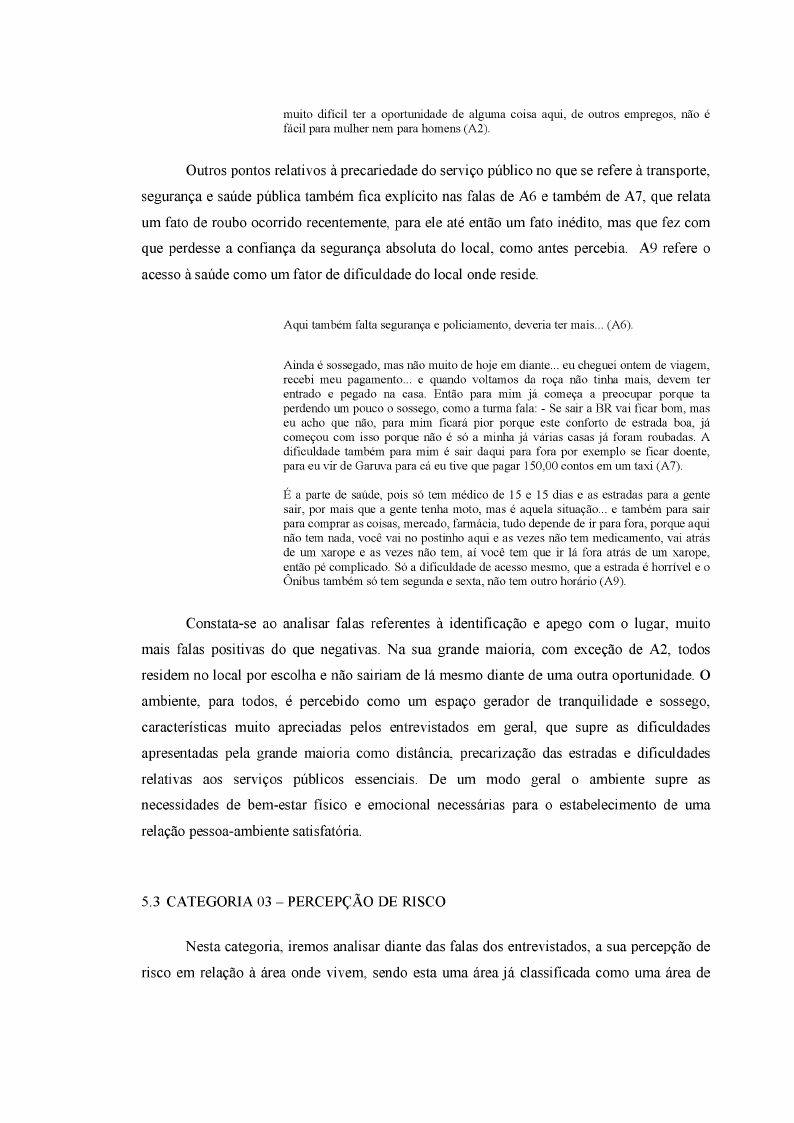
muito difícil ter a oportunidade de alguma coisa aqui, de outros empregos, não é
fácil para mulher nem para homens (A2).
Outros pontos relativos à precariedade do serviço público no que se refere à transporte,
segurança e saúde pública também fica explícito nas falas de A6 e também de A7, que relata
um fato de roubo ocorrido recentemente, para ele até então um fato inédito, mas que fez com
que perdesse a confiança da segurança absoluta do local, como antes percebia. A9 refere o
acesso à saúde como um fator de dificuldade do local onde reside.
Aqui também falta segurança e policiamento, deveria ter mais... (A6).
Ainda é sossegado, mas não muito de hoje em diante... eu cheguei ontem de viagem,
recebi meu pagamento... e quando voltamos da roça não tinha mais, devem ter
entrado e pegado na casa. Então para mim já começa a preocupar porque ta
perdendo um pouco o sossego, como a turm a fala: - Se sair a B R vai ficar bom, mas
eu acho que não, para mim ficará pior porque este conforto de estrada boa, já
começou com isso porque não é só a minha já várias casas já foram roubadas. A
dificuldade também para mim é sair daqui para fora por exemplo se ficar doente,
para eu vir de Garuva para cá eu tive que pagar 150,00 contos em um taxi (A7).
É a parte de saúde, pois só tem médico de 15 e 15 dias e as estradas para a gente
sair, por mais que a gente tenha moto, mas é aquela situação... e também para sair
para comprar as coisas, mercado, farmácia, tudo depende de ir para fora, porque aqui
não tem nada, você vai no postinho aqui e as vezes não tem medicamento, vai atrás
de um xarope e as vezes não tem, aí você tem que ir lá fora atrás de um xarope,
então pé complicado. Só a dificuldade de acesso mesmo, que a estrada é horrível e o
Ônibus também só tem segunda e sexta, não tem outro horário (A9).
Constata-se ao analisar falas referentes à identificação e apego com o lugar, muito
mais falas positivas do que negativas. Na sua grande maioria, com exceção de A2, todos
residem no local por escolha e não sairiam de lá mesmo diante de uma outra oportunidade. O
ambiente, para todos, é percebido como um espaço gerador de tranquilidade e sossego,
características muito apreciadas pelos entrevistados em geral, que supre as dificuldades
apresentadas pela grande maioria como distância, precarização das estradas e dificuldades
relativasaos serviços públicos essenciais. De um modo geral o ambiente supre as
necessidades de bem-estar físico e emocional necessárias para o estabelecimento de uma
relação pessoa-ambiente satisfatória.
5.3 CATEGORIA 03 - PERCEPÇÃO DE RISCO
Nesta categoria, iremos analisar diante das falas dos entrevistados, a sua percepção de
risco em relação à área onde vivem, sendo esta uma área já classificada como uma área de
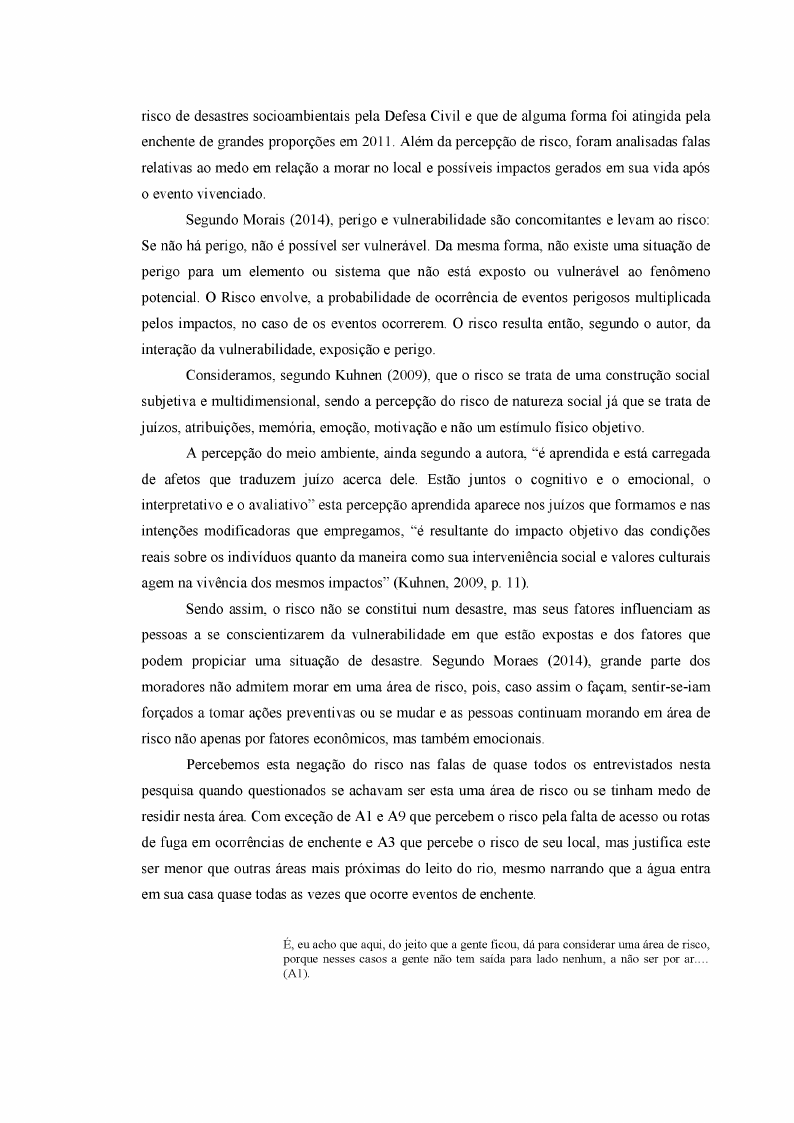
risco de desastres socioambientais pela Defesa Civil e que de alguma forma foi atingida pela
enchente de grandes proporções em 2011. Além da percepção de risco, foram analisadas falas
relativas ao medo em relação a morar no local e possíveis impactos gerados em sua vida após
o evento vivenciado.
Segundo Morais (2014), perigo e vulnerabilidade são concomitantes e levam ao risco:
Se não há perigo, não é possível ser vulnerável. Da mesma forma, não existe uma situação de
perigo para um elemento ou sistema que não está exposto ou vulnerável ao fenômeno
potencial. O Risco envolve, a probabilidade de ocorrência de eventos perigosos multiplicada
pelos impactos, no caso de os eventos ocorrerem. O risco resulta então, segundo o autor, da
interação da vulnerabilidade, exposição e perigo.
Consideramos, segundo Kuhnen (2009), que o risco se trata de uma construção social
subjetiva e multidimensional, sendo a percepção do risco de natureza social já que se trata de
juízos, atribuições, memória, emoção, motivação e não um estímulo físico objetivo.
A percepção do meio ambiente, ainda segundo a autora, “é aprendida e está carregada
de afetos que traduzem juízo acerca dele. Estão juntos o cognitivo e o emocional, o
interpretativo e o avaliativo” esta percepção aprendida aparece nos juízos que formamos e nas
intenções modificadoras que empregamos, “é resultante do impacto objetivo das condições
reais sobre os indivíduos quanto da maneira como sua interveniência social e valores culturais
agem na vivência dos mesmos impactos” (Kuhnen, 2009, p. 11).
Sendo assim, o risco não se constitui num desastre, mas seus fatores influenciam as
pessoas a se conscientizarem da vulnerabilidade em que estão expostas e dos fatores que
podem propiciar uma situação de desastre. Segundo Moraes (2014), grande parte dos
moradores não admitem morar em uma área de risco, pois, caso assim o façam, sentir-se-iam
forçados a tomar ações preventivas ou se mudar e as pessoas continuam morando em área de
risco não apenas por fatores econômicos, mas também emocionais.
Percebemos esta negação do risco nas falas de quase todos os entrevistados nesta
pesquisa quando questionados se achavam ser esta uma área de risco ou se tinham medo de
residir nesta área. Com exceção de A1 e A9 que percebem o risco pela falta de acesso ou rotas
de fuga em ocorrências de enchente e A3 que percebe o risco de seu local, mas justifica este
ser menor que outras áreas mais próximas do leito do rio, mesmo narrando que a água entra
em sua casa quase todas as vezes que ocorre eventos de enchente.
É, eu acho que aqui, do jeito que a gente ficou, dá para considerar uma área de risco,
porque nesses casos a gente não tem saída para lado nenhum, a não ser por a r....
(A1).
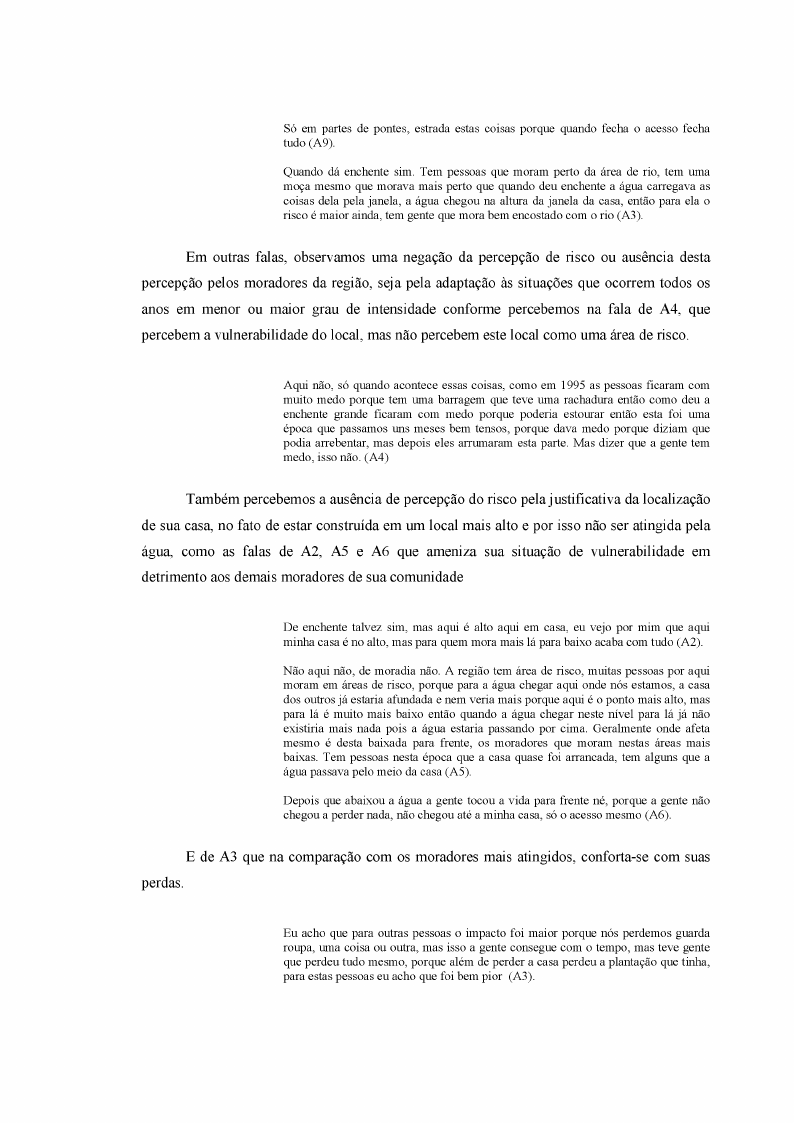
Só em partes de pontes, estrada estas coisas porque quando fecha o acesso fecha
tudo (A9).
Quando dá enchente sim. Tem pessoas que moram perto da área de rio, tem uma
moça mesmo que morava mais perto que quando deu enchente a água carregava as
coisas dela pela janela, a água chegou na altura da janela da casa, então para ela o
risco é maior ainda, tem gente que mora bem encostado com o rio (A3).
Em outras falas, observamos uma negação da percepção de risco ou ausência desta
percepção pelos moradores da região, seja pela adaptação às situações que ocorrem todos os
anos em menor ou maior grau de intensidade conforme percebemos na fala de A4, que
percebem a vulnerabilidade do local, mas não percebem este local como uma área de risco.
Aqui não, só quando acontece essas coisas, como em 1995 as pessoas ficaram com
muito medo porque tem uma barragem que teve uma rachadura então como deu a
enchente grande ficaram com medo porque poderia estourar então esta foi uma
época que passamos uns meses bem tensos, porque dava medo porque diziam que
podia arrebentar, mas depois eles arrumaram esta parte. Mas dizer que a gente tem
medo, isso não. (A4)
Também percebemos a ausência de percepção do risco pela justificativa da localização
de sua casa, no fato de estar construída em um local mais alto e por isso não ser atingida pela
água, como as falas de A2, A5 e A6 que ameniza sua situação de vulnerabilidade em
detrimento aos demais moradores de sua comunidade
De enchente talvez sim, mas aqui é alto aqui em casa, eu vejo por mim que aqui
minha casa é no alto, mas para quem mora mais lá para baixo acaba com tudo (A2).
Não aqui não, de moradia não. A região tem área de risco, muitas pessoas por aqui
moram em áreas de risco, porque para a água chegar aqui onde nós estamos, a casa
dos outros já estaria afundada e nem veria mais porque aqui é o ponto mais alto, mas
para lá é muito mais baixo então quando a água chegar neste nível para lá já não
existiria mais nada pois a água estaria passando por cima. Geralmente onde afeta
mesmo é desta baixada para frente, os moradores que moram nestas áreas mais
baixas. Tem pessoas nesta época que a casa quase foi arrancada, tem alguns que a
água passava pelo meio da casa (A5).
Depois que abaixou a água a gente tocou a vida para frente né, porque a gente não
chegou a perder nada, não chegou até a minha casa, só o acesso mesmo (A6).
E de A3 que na comparação com os moradores mais atingidos, conforta-se com suas
perdas.
Eu acho que para outras pessoas o impacto foi maior porque nós perdemos guarda
roupa, uma coisa ou outra, mas isso a gente consegue com o tempo, mas teve gente
que perdeu tudo mesmo, porque além de perder a casa perdeu a plantação que tinha,
para estas pessoas eu acho que foi bem pior (A3).
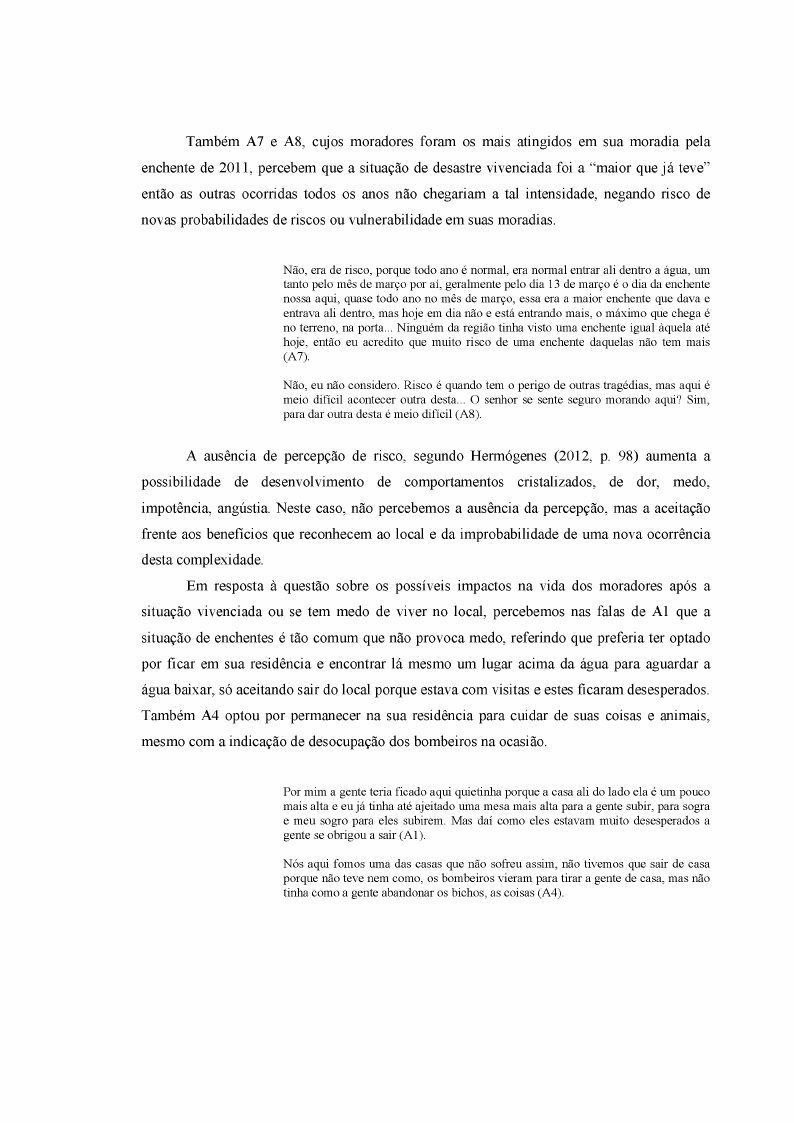
Também A7 e A8, cujos moradores foram os mais atingidos em sua moradia pela
enchente de 2011, percebem que a situação de desastre vivenciada foi a “maior que já teve”
então as outras ocorridas todos os anos não chegariam a tal intensidade, negando risco de
novas probabilidades de riscos ou vulnerabilidade em suas moradias.
Não, era de risco, porque todo ano é normal, era normal entrar ali dentro a água, um
tanto pelo mês de março por aí, geralmente pelo dia 13 de março é o dia da enchente
nossa aqui, quase todo ano no mês de março, essa era a maior enchente que dava e
entrava ali dentro, mas hoje em dia não e está entrando mais, o máximo que chega é
no terreno, na porta... Ninguém da região tinha visto uma enchente igual àquela até
hoje, então eu acredito que muito risco de uma enchente daquelas não tem mais
(A7).
Não, eu não considero. Risco é quando tem o perigo de outras tragédias, mas aqui é
meio difícil acontecer outra desta... O senhor se sente seguro morando aqui? Sim,
para dar outra desta é meio difícil (A8).
A ausência de percepção de risco, segundo Hermógenes (2012, p. 98) aumenta a
possibilidade de desenvolvimento de comportamentos cristalizados, de dor, medo,
impotência, angústia. Neste caso, não percebemos a ausência da percepção, mas a aceitação
frente aos benefícios que reconhecem ao local e da improbabilidade de uma nova ocorrência
desta complexidade.
Em resposta à questão sobre os possíveis impactos na vida dos moradores após a
situação vivenciada ou se tem medo de viver no local, percebemos nas falas de A1 que a
situação de enchentes é tão comum que não provoca medo, referindo que preferia ter optado
por ficar em sua residência e encontrar lá mesmo um lugar acima da água para aguardar a
água baixar, só aceitando sair do local porque estava com visitas e estes ficaram desesperados.
Também A4 optou por permanecer na sua residência para cuidar de suas coisas e animais,
mesmo com a indicação de desocupação dos bombeiros na ocasião.
Por mim a gente teria ficado aqui quietinha porque a casa ali do lado ela é um pouco
mais alta e eu já tinha até ajeitado uma mesa mais alta para a gente subir, para sogra
e meu sogro para eles subirem. Mas daí como eles estavam muito desesperados a
gente se obrigou a sair (A1).
Nós aqui fomos uma das casas que não sofreu assim, não tivemos que sair de casa
porque não teve nem como, os bombeiros vieram para tirar a gente de casa, mas não
tinha como a gente abandonar os bichos, as coisas (A4).
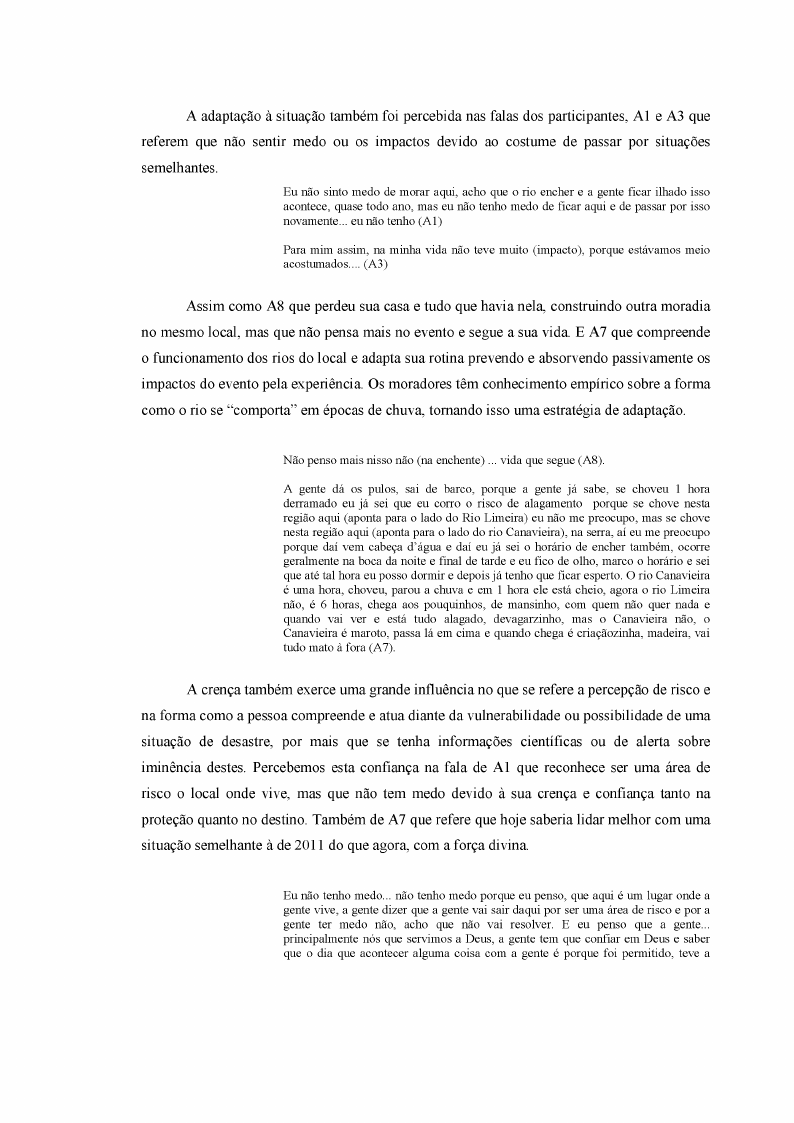
A adaptação à situação também foi percebida nas falas dos participantes, A1 e A3 que
referem que não sentir medo ou os impactos devido ao costume de passar por situações
semelhantes.
Eu não sinto medo de morar aqui, acho que o rio encher e a gente ficar ilhado isso
acontece, quase todo ano, mas eu não tenho medo de ficar aqui e de passar por isso
novamente... eu não tenho (A1)
Para mim assim, na minha vida não teve muito (impacto), porque estávamos meio
acostumados.... (A3)
Assim como A8 que perdeu sua casa e tudo que havia nela, construindo outra moradia
no mesmo local, mas que não pensa mais no evento e segue a sua vida. E A7 que compreende
o funcionamento dos rios do local e adapta sua rotina prevendo e absorvendo passivamente os
impactos do evento pela experiência. Os moradores têm conhecimento empírico sobre a forma
como o rio se “comporta” em épocas de chuva, tornando isso uma estratégia de adaptação.
Não penso mais nisso não (na enchente) ... vida que segue (A8).
A gente dá os pulos, sai de barco, porque a gente já sabe, se choveu 1 hora
derramado eu já sei que eu corro o risco de alagamento porque se chove nesta
região aqui (aponta para o lado do Rio Limeira) eu não me preocupo, mas se chove
nesta região aqui (aponta para o lado do rio Canavieira), na serra, aí eu me preocupo
porque daí vem cabeça d’água e daí eu já sei o horário de encher também, ocorre
geralmente na boca da noite e final de tarde e eu fico de olho, marco o horário e sei
que até tal hora eu posso dormir e depois já tenho que ficar esperto. O rio Canavieira
é uma hora, choveu, parou a chuva e em 1 hora ele está cheio, agora o rio Limeira
não, é 6 horas, chega aos pouquinhos, de mansinho, com quem não quer nada e
quando vai ver e está tudo alagado, devagarzinho, mas o Canavieira não, o
Canavieira é maroto, passa lá em cima e quando chega é criaçãozinha, madeira, vai
tudo mato à fora (A7).
A crença também exerce uma grande influência no que se refere a percepção de risco e
na forma como a pessoa compreende e atua diante da vulnerabilidade ou possibilidade de uma
situação dedesastre, por mais que se tenha informações científicas ou de alerta sobre
iminênciadestes.Percebemos esta confiança na fala de A1 que reconhece ser uma área de
risco o localonde vive, mas que não tem medo devido à sua crença e confiança tanto na
proteção quanto no destino. Também de A7 que refere que hoje saberia lidar melhor com uma
situação semelhante à de 2011 do que agora, com a força divina.
Eu não tenho medo... não tenho medo porque eu penso, que aqui é um lugar onde a
gente vive, a gente dizer que a gente vai sair daqui por ser uma área de risco e por a
gente ter medo não, acho que não vai resolver. E eu penso que a gente...
principalmente nós que servimos a Deus, a gente tem que confiar em Deus e saber
que o dia que acontecer alguma coisa com a gente é porque foi permitido, teve a
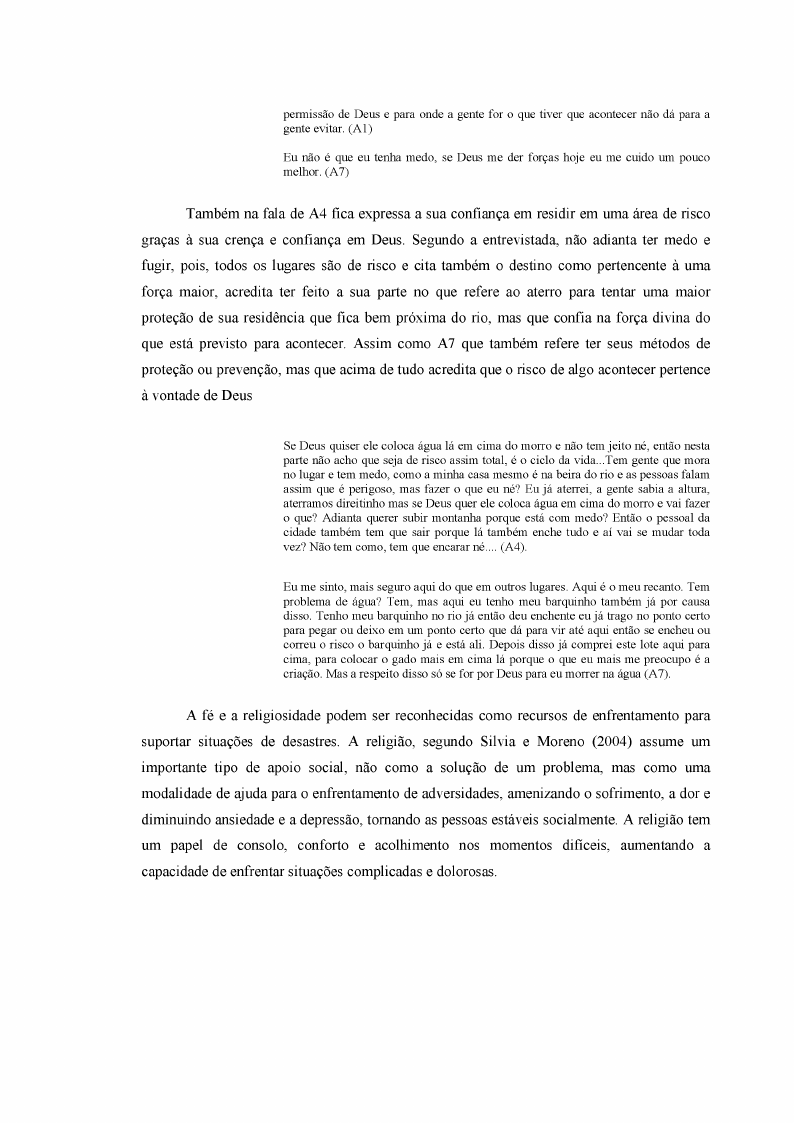
permissão de Deus e para onde a gente for o que tiver que acontecer não dá para a
gente evitar. (A1)
Eu não é que eu tenha medo, se Deus me der forças hoje eu me cuido um pouco
melhor. (A7)
Também na fala de A4 fica expressa a sua confiança em residir em uma área de risco
graças à sua crença e confiança em Deus. Segundo a entrevistada, não adianta ter medo e
fugir, pois, todos os lugares são de risco e cita também o destino como pertencente à uma
força maior, acredita ter feito a sua parte no que refere ao aterro para tentar uma maior
proteção de sua residência que fica bem próxima do rio, mas que confia na força divina do
que está previsto para acontecer. Assim como A7 que também refere ter seus métodos de
proteção ou prevenção, mas que acima de tudo acredita que o risco de algo acontecer pertence
à vontade de Deus
Se Deus quiser ele coloca água lá em cima do morro e não tem jeito né, então nesta
parte não acho que seja de risco assim total, é o ciclo da vida...Tem gente que mora
no lugar e tem medo, como a minha casa mesmo é na beira do rio e as pessoas falam
assim que é perigoso, mas fazer o que eu né? Eu já aterrei, a gente sabia a altura,
aterramos direitinho mas se Deus quer ele coloca água em cima do morro e vai fazer
o que? Adianta querer subir montanha porque está com medo? Então o pessoal da
cidade também tem que sair porque lá também enche tudo e aí vai se mudar toda
vez? Não tem como, tem que encarar né.... (A4).
Eu me sinto, mais seguro aqui do que em outros lugares. Aqui é o meu recanto. Tem
problema de água? Tem, mas aqui eu tenho meu barquinho também já por causa
disso. Tenho meu barquinho no rio já então deu enchente eu já trago no ponto certo
para pegar ou deixo em um ponto certo que dá para vir até aqui então se encheu ou
correu o risco o barquinho já e está ali. Depois disso já comprei este lote aqui para
cima, para colocar o gado mais em cima lá porque o que eu mais me preocupo é a
criação. Mas a respeito disso só se for por Deus para eu morrer na água (A7).
A fé e a religiosidade podem ser reconhecidas como recursos de enfrentamento para
suportar situações de desastres. A religião, segundo Silvia e Moreno (2004) assume um
importante tipo de apoio social, não como a solução de um problema, mas como uma
modalidade de ajuda para o enfrentamento de adversidades, amenizando o sofrimento, a dor e
diminuindo ansiedade e a depressão, tornando as pessoas estáveis socialmente. A religião tem
um papel de consolo, conforto e acolhimento nos momentos difíceis, aumentando a
capacidade de enfrentar situações complicadas e dolorosas.
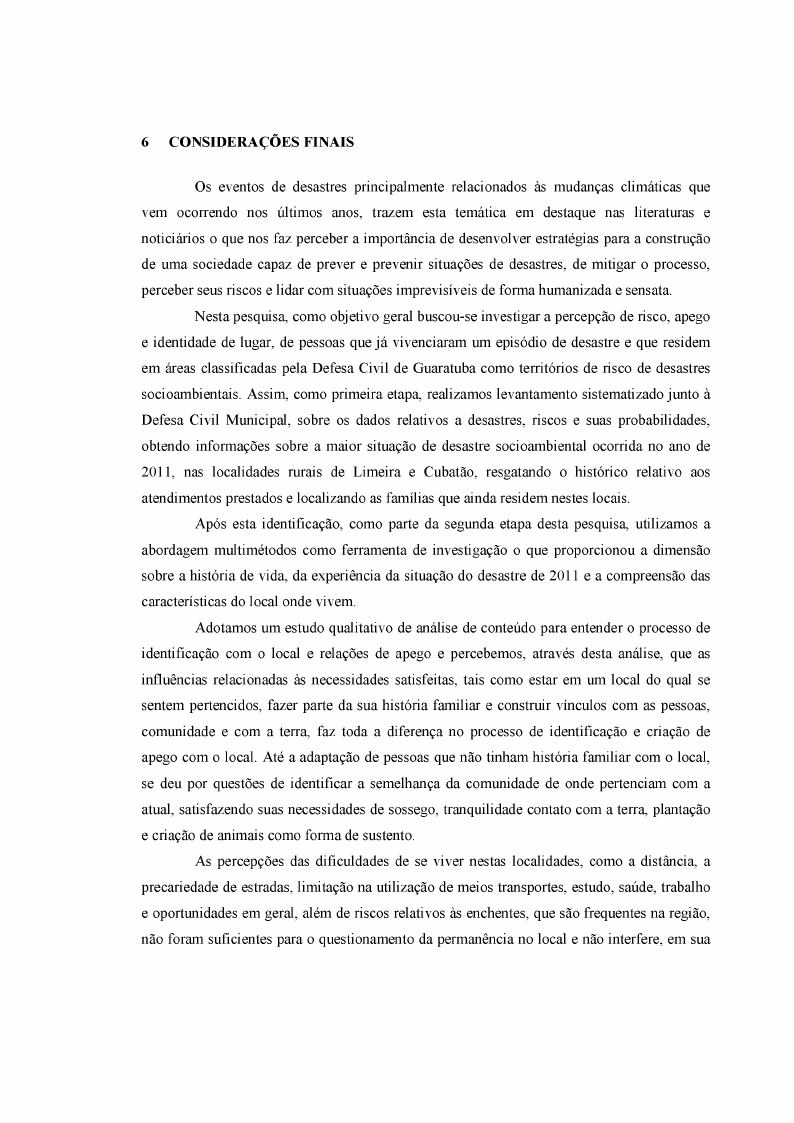
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os eventos de desastres principalmente relacionados às mudanças climáticas que
vem ocorrendo nos últimos anos, trazem esta temática em destaque nas literaturas e
noticiários o que nos faz perceber a importância de desenvolver estratégias para a construção
de uma sociedade capaz de prever e prevenir situações de desastres, de mitigar o processo,
perceber seus riscos e lidar com situações imprevisíveis de forma humanizada e sensata.
Nesta pesquisa, como objetivo geral buscou-se investigar a percepção de risco, apego
e identidade de lugar, de pessoas que já vivenciaram um episódio de desastre e que residem
em áreas classificadas pela Defesa Civil de Guaratuba como territórios de risco de desastres
socioambientais. Assim, como primeira etapa, realizamos levantamento sistematizado junto à
Defesa Civil Municipal, sobre os dados relativos a desastres, riscos e suas probabilidades,
obtendo informações sobre a maior situação de desastre socioambiental ocorrida no ano de
2011, nas localidades rurais de Limeira e Cubatão, resgatando o histórico relativo aos
atendimentos prestados e localizando as famílias que ainda residem nestes locais.
Após esta identificação, como parte da segunda etapa desta pesquisa, utilizamos a
abordagem multimétodos como ferramenta de investigação o que proporcionou a dimensão
sobre a história de vida, da experiência da situação do desastre de 2011 e a compreensão das
características do local onde vivem.
Adotamos um estudo qualitativo de análise de conteúdo para entender o processo de
identificação com o local e relações de apego e percebemos, através desta análise, que as
influências relacionadas às necessidades satisfeitas, tais como estar em um local do qual se
sentem pertencidos, fazer parte da sua história familiar e construir vínculos com as pessoas,
comunidade e com a terra, faz toda a diferença no processo de identificação e criação de
apego com o local. Até a adaptação de pessoas que não tinham história familiar com o local,
se deu por questões de identificar a semelhança da comunidade de onde pertenciam com a
atual, satisfazendo suas necessidades de sossego, tranquilidade contato com a terra, plantação
e criação de animais como forma de sustento.
As percepções das dificuldades de se viver nestas localidades, como a distância, a
precariedade de estradas, limitação na utilização de meios transportes, estudo, saúde, trabalho
e oportunidades em geral, além de riscos relativos às enchentes, que são frequentes na região,
não foram suficientes para o questionamento da permanência no local e não interfere, em sua
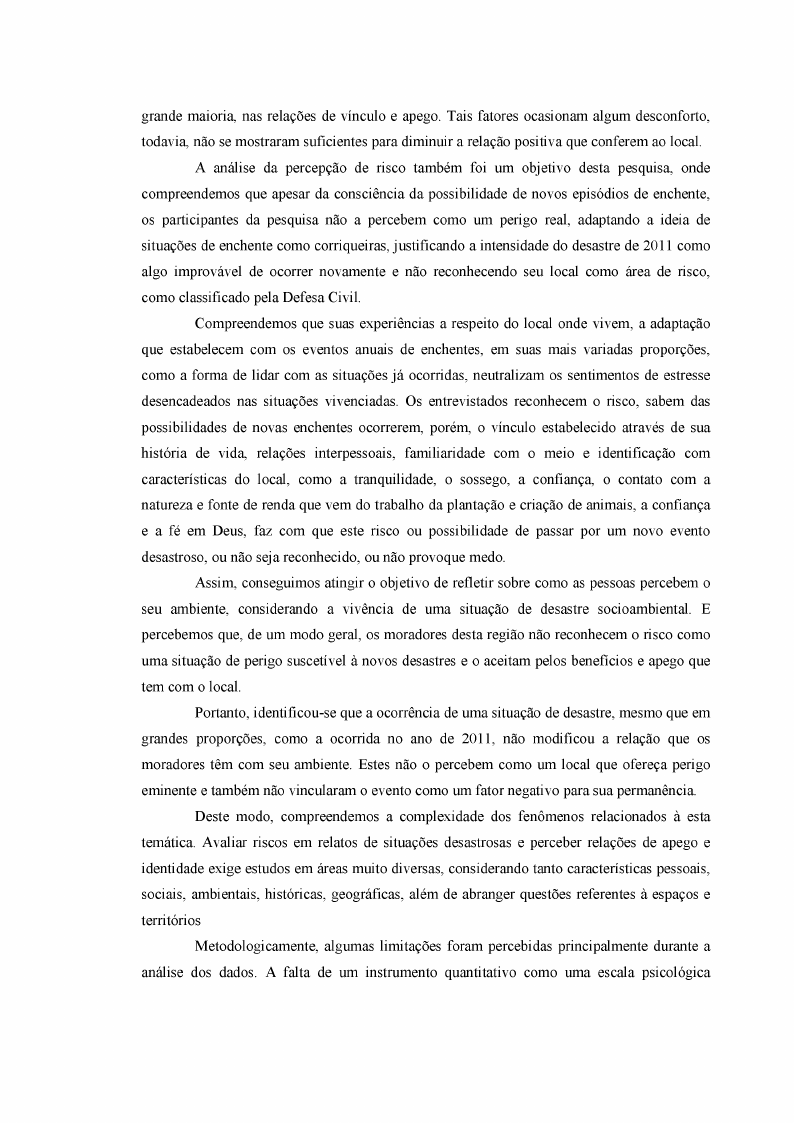
grande maioria, nas relações de vínculo e apego. Tais fatores ocasionam algum desconforto,
todavia, não se mostraram suficientes para diminuir a relação positiva que conferem ao local.
A análise da percepção de risco também foi um objetivo desta pesquisa, onde
compreendemos que apesar da consciência da possibilidade de novos episódios de enchente,
os participantes da pesquisa não a percebem como um perigo real, adaptando a ideia de
situações de enchente como corriqueiras, justificando a intensidade do desastre de 2011 como
algo improvável de ocorrer novamente e não reconhecendo seu local como área de risco,
como classificado pela Defesa Civil.
Compreendemos que suas experiências a respeito do local onde vivem, a adaptação
que estabelecem com os eventos anuais de enchentes, em suas mais variadas proporções,
como a forma de lidar com as situações já ocorridas, neutralizam os sentimentos de estresse
desencadeados nas situações vivenciadas. Os entrevistados reconhecem o risco, sabem das
possibilidades de novas enchentes ocorrerem, porém, o vínculo estabelecido através de sua
história de vida, relações interpessoais, familiaridade com o meio e identificação com
características do local, como a tranquilidade, o sossego, a confiança, o contato com a
natureza e fonte de renda que vem do trabalho da plantação e criação de animais, a confiança
e a fé em Deus, faz com que este risco ou possibilidade de passar por um novo evento
desastroso, ou não seja reconhecido, ou não provoque medo.
Assim, conseguimos atingir o objetivo de refletir sobre como as pessoas percebem o
seu ambiente, considerando a vivência de uma situação de desastre socioambiental. E
percebemos que, de um modo geral, os moradores desta região não reconhecem o risco como
uma situação de perigo suscetível à novos desastres e o aceitam pelos benefícios e apego que
tem com o local.
Portanto, identificou-se que a ocorrência de uma situação de desastre, mesmo que em
grandes proporções, como a ocorrida no ano de 2011, não modificou a relação que os
moradores têm com seu ambiente. Estes não o percebem como um local que ofereça perigo
eminente e também não vincularam o evento como um fator negativo para sua permanência.
Deste modo, compreendemos a complexidade dos fenômenos relacionados à esta
temática. Avaliar riscos em relatos de situações desastrosas e perceber relações de apego e
identidade exige estudos em áreas muito diversas, considerando tanto características pessoais,
sociais, ambientais, históricas, geográficas, além de abranger questões referentes à espaços e
territórios
Metodologicamente, algumas limitações foram percebidas principalmente durante a
análise dos dados. A falta de um instrumento quantitativo como uma escala psicológica
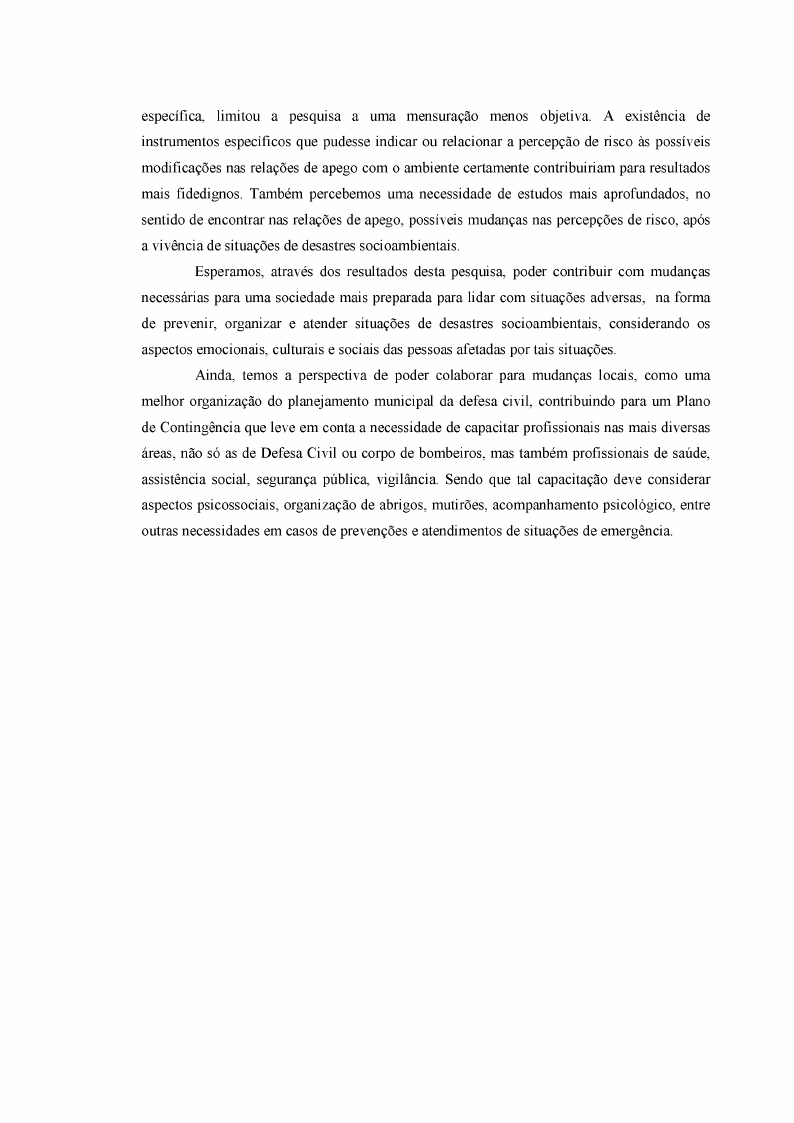
específica, limitou a pesquisa a uma mensuração menos objetiva. A existência de
instrumentos específicos que pudesse indicar ou relacionar a percepção de risco às possíveis
modificações nas relações de apego com o ambiente certamente contribuiriam para resultados
mais fidedignos. Também percebemos uma necessidade de estudos mais aprofundados, no
sentido de encontrar nas relações de apego, possíveis mudanças nas percepções de risco, após
a vivência de situações de desastres socioambientais.
Esperamos, através dos resultados desta pesquisa, poder contribuir com mudanças
necessárias para uma sociedade mais preparada para lidar com situações adversas, na forma
de prevenir, organizar e atender situações de desastres socioambientais, considerando os
aspectos emocionais, culturais e sociais das pessoas afetadas por tais situações.
Ainda, temos a perspectiva de poder colaborar para mudanças locais, como uma
melhor organização do planejamento municipal da defesa civil, contribuindo para um Plano
de Contingência que leve em conta a necessidade de capacitar profissionais nas mais diversas
áreas, não só as de Defesa Civil ou corpo de bombeiros, mas também profissionais de saúde,
assistência social, segurança pública, vigilância. Sendo que tal capacitação deve considerar
aspectos psicossociais, organização de abrigos, mutirões, acompanhamento psicológico, entre
outras necessidades em casos de prevenções e atendimentos de situações de emergência.
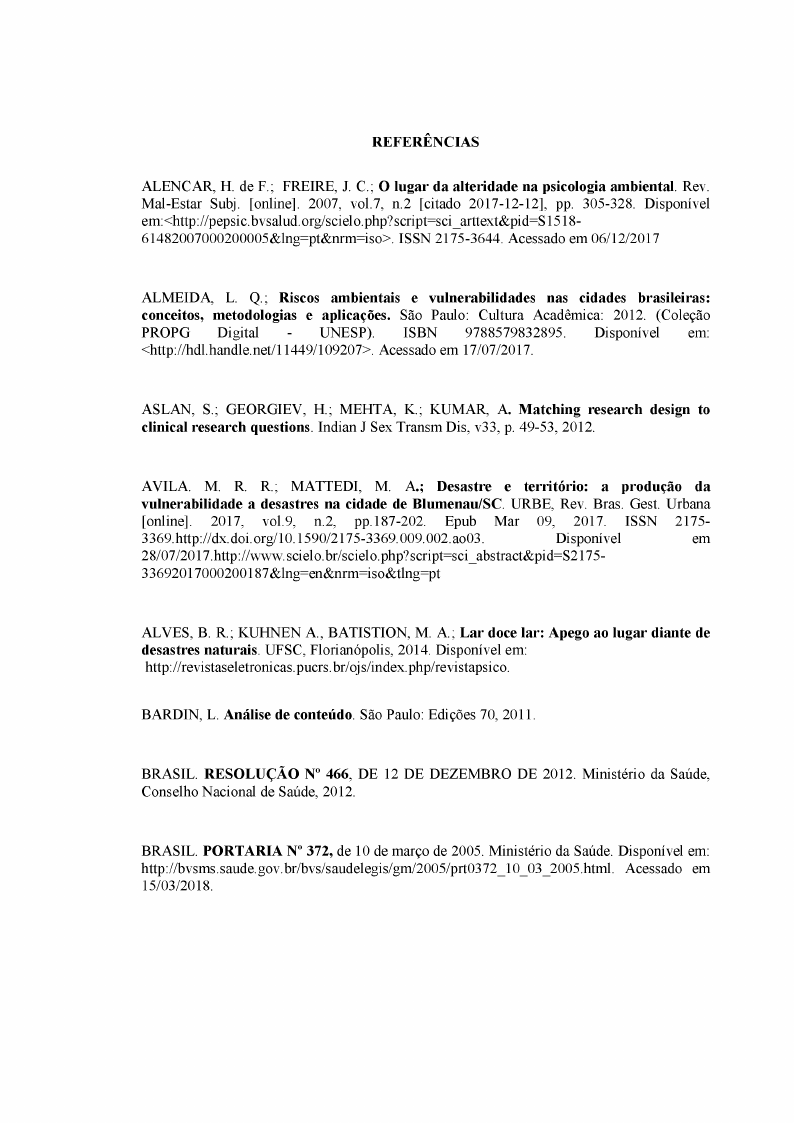
REFERÊNCIAS
ALENCAR, H. de F.; FREIRE, J. C.; O lugar da alteridade na psicologia ambiental. Rev.
Mal-Estar Subj. [online]. 2007, vol.7, n.2 [citado 2017-12-12], pp. 305-328. Disponível
em:<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-
61482007000200005&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 2175-3644. Acessado em 06/12/2017
ALMEIDA, L. Q.; Riscos am bientais e vulnerabilidades nas cidades brasileiras:
conceitos, metodologias e aplicações. São Paulo: Cultura Acadêmica: 2012. (Coleção
PROPG Digital - UNESP). ISBN 9788579832895. Disponível em:
<http://hdl.handle.net/11449/109207>. Acessado em 17/07/2017.
ASLAN, S.; GEORGIEV, H.; MEHTA, K.; KUMAR, A. M atching research design to
clinical research questions. Indian J Sex Transm Dis, v33, p. 49-53, 2012.
AVILA. M. R. R.; MATTEDI, M. A.; Desastre e território: a produção da
vulnerabilidade a desastres na cidade de Blumenau/SC. URBE, Rev. Bras. Gest. Urbana
[online]. 2017, vol.9, n.2, pp.187-202. Epub Mar 09, 2017. ISSN 2175-
3369.http://dx.doi.org/10.1590/2175-3369.009.002.ao03.
Disponível
em
28/07/2017.http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2175-
33692017000200187&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
ALVES, B. R.; KUHNEN A., BATISTION, M. A.; L a r doce lar: Apego ao lugar diante de
desastres naturais. UFSC, Florianópolis, 2014. Disponível em:
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.
BRASIL. RESOLUÇÃO N° 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012. Ministério da Saúde,
Conselho Nacional de Saúde, 2012.
BRASIL. PORTARIA N° 372, de 10 de março de 2005. Ministério da Saúde. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt0372_10_03_2005.html. Acessado em
15/03/2018.
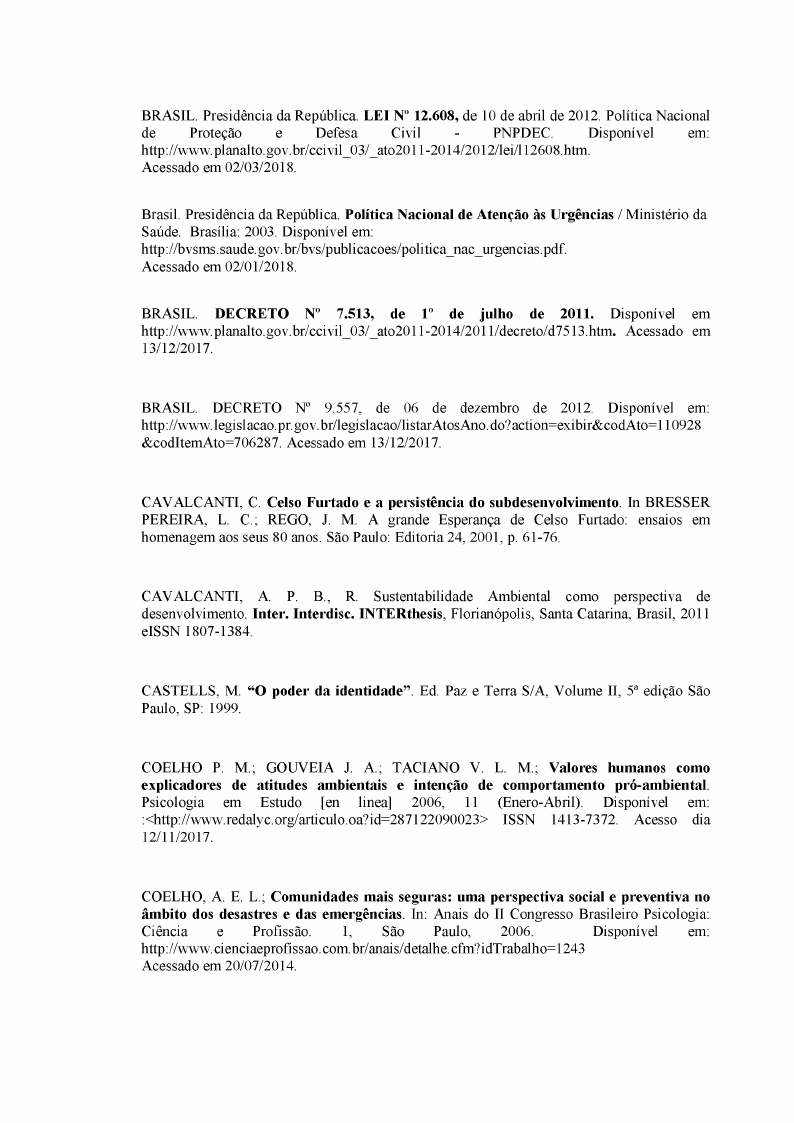
BRASIL. Presidência da República. L E I N° 12.608, de 10 de abril de 2012. Política Nacional
de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12608.htm.
Acessado em 02/03/2018.
Brasil. Presidência da República. Política Nacional de Atenção às Urgências / Ministério da
Saúde. Brasília: 2003. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_urgencias.pdf.
Acessado em 02/01/2018.
BRASIL. D ECRETO N° 7.513, de 1° de julho de 2011. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7513.htm. Acessado em
13/12/2017.
BRASIL. DECRETO N° 9.557, de 06 de dezembro de 2012. Disponível em:
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/hstarAtosAno.do?action=exibir&codAto=n0928
&codItemAto=706287. Acessado em 13/12/2017.
CAVALCANTI, C. Celso F urtado e a persistência do subdesenvolvimento. In BRESSER
PEREIRA, L. C.; REGO, J. M. A grande Esperança de Celso Furtado: ensaios em
homenagem aos seus 80 anos. São Paulo: Editoria 24, 2001, p. 61-76.
CAVALCANTI, A. P. B., R. Sustentabilidade Ambiental como perspectiva de
desenvolvimento. In ter. Interdisc. INTERthesis, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, 2011
eISSN 1807-1384.
CASTELLS, M. “O poder da identidade” . Ed. Paz e Terra S/A, Volume II, 5a edição São
Paulo, SP: 1999.
COELHO P. M.; GOUVEIA J. A.; TACIANO V. L. M.; Valores hum anos como
explicadores de atitudes ambientais e intenção de comportamento pró-ambiental.
Psicologia em Estudo [en linea] 2006, 11 (Enero-Abril). Disponível em:
:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=287122090023> ISSN 1413-7372. Acesso dia
12/11/2017.
COELHO, A. E. L.; Com unidades mais seguras: um a perspectiva social e preventiva no
âm bito dos desastres e das emergências. In: Anais do II Congresso Brasileiro Psicologia:
Ciência e Profissão. 1, São Paulo, 2006.
Disponível em:
http://www.cienciaeprofissao.com.br/anais/detalhe.cfm?idTrabalho=1243
Acessado em 20/07/2014.
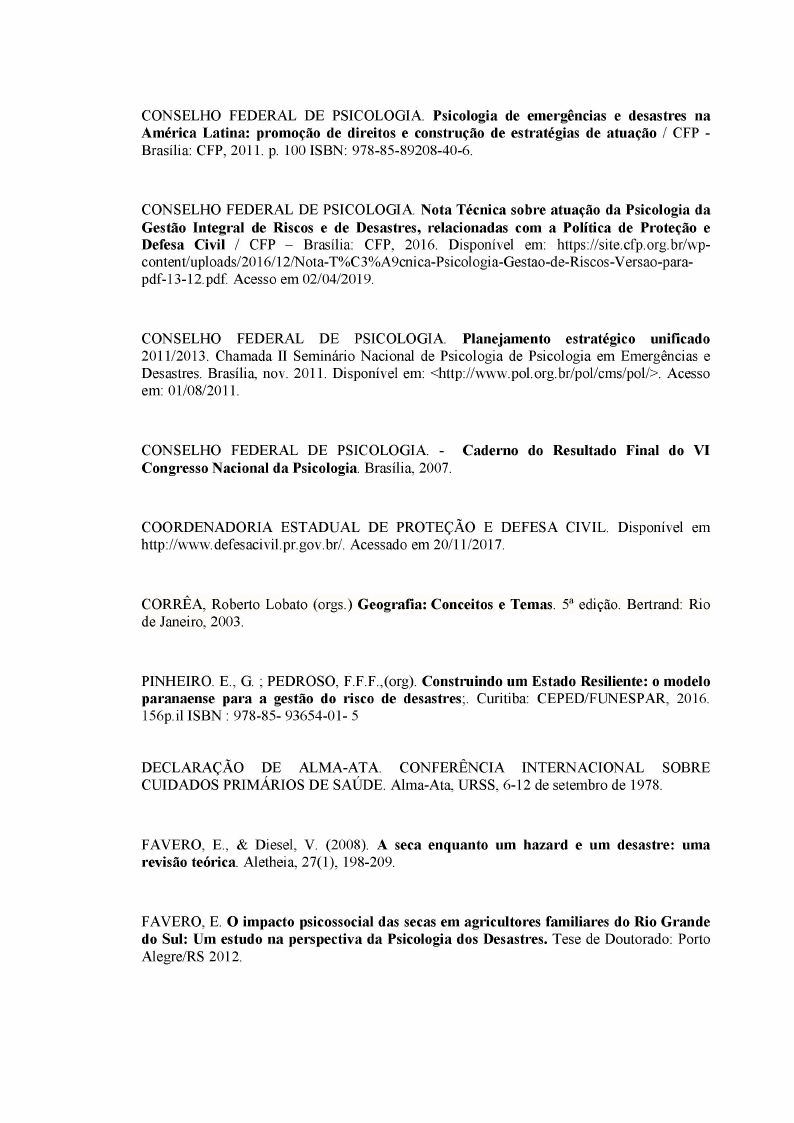
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Psicologia de emergências e desastres na
A m érica Latina: promoção de direitos e construção de estratégias de atuação / CFP -
Brasília: CFP, 2011. p. 100 ISBN: 978-85-89208-40-6.
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Nota Técnica sobre atuação da Psicologia da
Gestão Integral de Riscos e de Desastres, relacionadas com a Política de Proteção e
Defesa Civil / CFP - Brasília: CFP, 2016. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-
content/uploads/2016/12/Nota-T%C3%A9cnica-Psicologia-Gestao-de-Riscos-Versao-para-
pdf-13-12.pdf. Acesso em 02/04/2019.
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Planejamento estratégico unificado
2011/2013. Chamada II Seminário Nacional de Psicologia de Psicologia em Emergências e
Desastres. Brasília, nov. 2011. Disponível em: <http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/>. Acesso
em: 01/08/2011.
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. - Caderno do Resultado Final do VI
Congresso Nacional da Psicologia. Brasília, 2007.
COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. Disponível em
http://www.defesacivil.pr.gov.br/. Acessado em 20/11/2017.
CORRÊA, Roberto Lobato (orgs.) G eografia: Conceitos e Temas. 5a edição. Bertrand: Rio
de Janeiro, 2003.
PINHEIRO. E., G. ; PEDROSO, F.F.F.,(org). C onstruindo um Estado Resiliente: o modelo
paranaense p a ra a gestão do risco de desastres;. Curitiba: CEPED/FUNESPAR, 2016.
156p.il ISBN : 978-85- 93654-01- 5
DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA. CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE
CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE. Alma-Ata, URSS, 6-12 de setembro de 1978.
FAVERO, E., & Diesel, V. (2008). A seca enquanto um hazard e um desastre: um a
revisão teórica. Aletheia, 27(1), 198-209.
FAVERO, E. O im pacto psicossocial das secas em agricultores fam iliares do Rio G rande
do Sul: Um estudo n a perspectiva da Psicologia dos Desastres. Tese de Doutorado: Porto
Alegre/RS 2012.
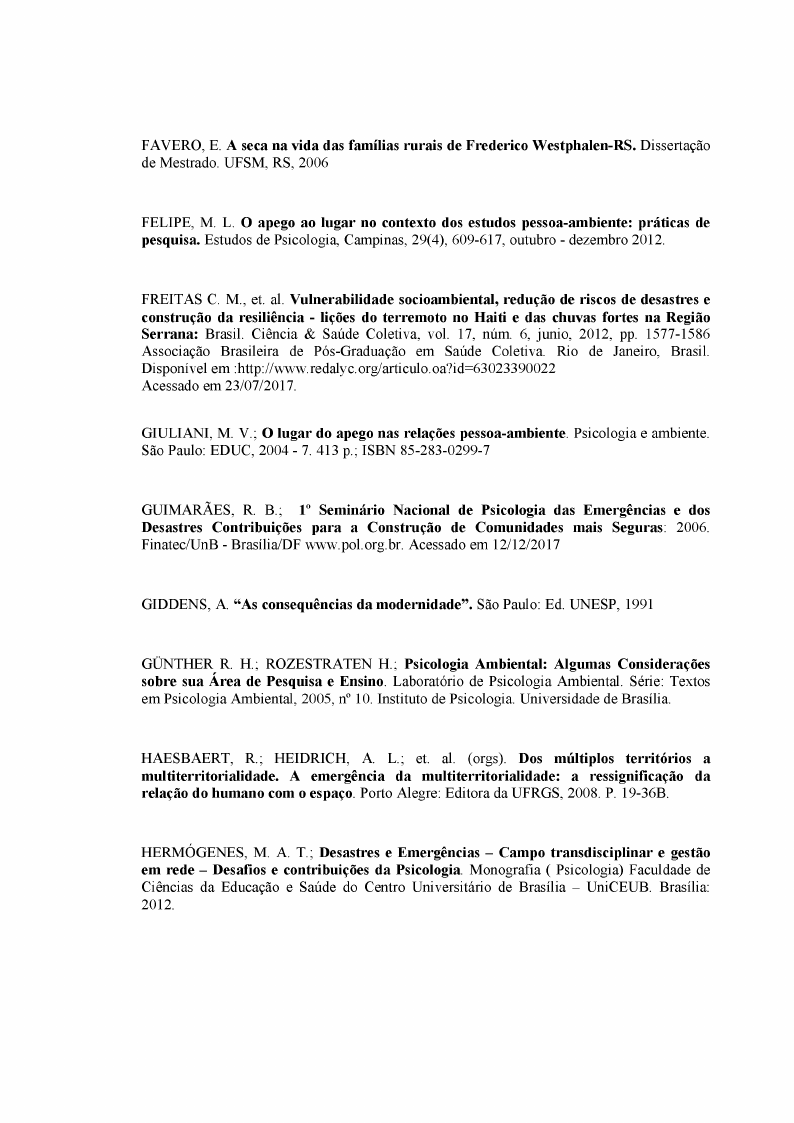
FAVERO, E. A seca na vida das famílias ru rais de Frederico W estphalen-RS. Dissertação
de Mestrado. UFSM, RS, 2006
FELIPE, M. L. O apego ao lugar no contexto dos estudos pessoa-ambiente: práticas de
pesquisa. Estudos de Psicologia, Campinas, 29(4), 609-617, outubro - dezembro 2012.
FREITAS C. M., et. al. V ulnerabilidade socioambiental, redução de riscos de desastres e
construção da resiliência - lições do terrem oto no H aiti e das chuvas fortes na Região
S erran a: Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, vol. 17, núm. 6, junio, 2012, pp. 1577-1586
Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, Brasil.
Disponível em :http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63023390022
Acessado em 23/07/2017.
GIULIANI, M. V.; O lugar do apego nas relações pessoa-ambiente. Psicologia e ambiente.
São Paulo: EDUC, 2004 - 7. 413 p.; ISBN 85-283-0299-7
GUIMARÃES, R. B.; 1° Seminário Nacional de Psicologia das Em ergências e dos
Desastres Contribuições p a ra a C onstrução de Com unidades mais Seguras: 2006.
Finatec/UnB - Brasília/DF www.pol.org.br. Acessado em 12/12/2017
GIDDENS, A. “As consequências da m odern id ad e” . São Paulo: Ed. UNESP, 1991
GÜNTHER R. H.; ROZESTRATEN H.; Psicologia A m biental: Algumas Considerações
sobre sua Á rea de Pesquisa e Ensino. Laboratório de Psicologia Ambiental. Série: Textos
em Psicologia Ambiental, 2005, n° 10. Instituto de Psicologia. Universidade de Brasília.
HAESBAERT, R.; HEIDRICH, A. L.; et. al. (orgs). Dos múltiplos territórios a
m ultiterritorialidade. A emergência da m ultiterritorialidade: a ressignificação da
relação do hum ano com o espaço. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008. P. 19-36B.
HERMÓGENES, M. A. T.; Desastres e Em ergências - Cam po transdisciplinar e gestão
em rede - Desafios e contribuições da Psicologia. Monografia ( Psicologia) Faculdade de
Ciências da Educação e Saúde do Centro Universitário de Brasília - UniCEUB. Brasília:
2012.
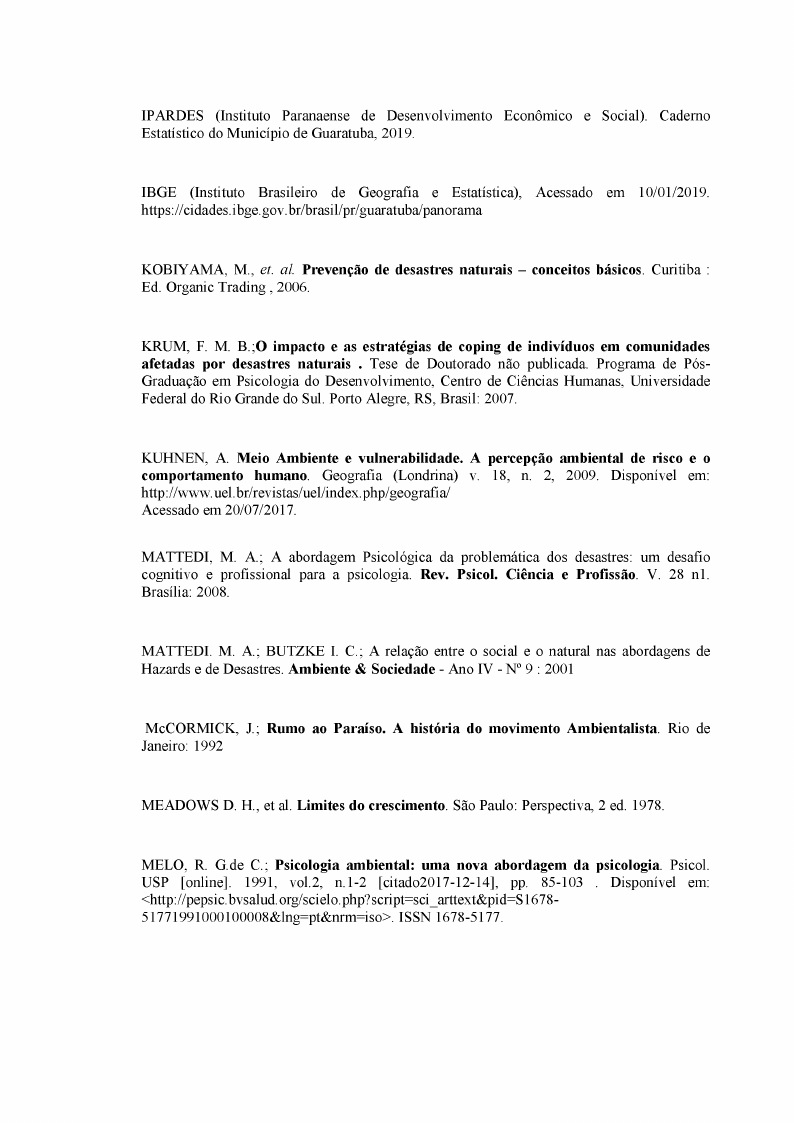
IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social). Caderno
Estatístico do Município de Guaratuba, 2019.
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Acessado em 10/01/2019.
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/guaratuba/panorama
KOBIYAMA, M., et. al. Prevenção de desastres naturais - conceitos básicos. Curitiba :
Ed. Organic Trading , 2006.
KRUM, F. M. B.;O im pacto e as estratégias de coping de indivíduos em comunidades
afetadas por desastres naturais . Tese de Doutorado não publicada. Programa de Pós-
Graduação em Psicologia do Desenvolvimento, Centro de Ciências Humanas, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS, Brasil: 2007.
KUHNEN, A. Meio Ambiente e vulnerabilidade. A percepção am biental de risco e o
com portam ento humano. Geografia (Londrina) v. 18, n. 2, 2009. Disponível em:
http://www.uel.br/revistas/uel/index. php/geografia/
Acessado em 20/07/2017.
MATTEDI, M. A.; A abordagem Psicológica da problemática dos desastres: um desafio
cognitivo e profissional para a psicologia. Rev. Psicol. Ciência e Profissão. V. 28 n1.
Brasília: 2008.
MATTEDI. M. A.; BUTZKE I. C.; A relação entre o social e o natural nas abordagens de
Hazards e de Desastres. Ambiente & Sociedade - Ano IV - N° 9 : 2001
McCORMICK, J.; Rumo ao Paraíso. A história do movimento Ambientalista. Rio de
Janeiro: 1992
MEADOWS D. H., et al. Limites do crescimento. São Paulo: Perspectiva, 2 ed. 1978.
MELO, R. G.de C.; Psicologia am biental: um a nova abordagem da psicologia. Psicol.
USP [online]. 1991, vol.2, n.1-2 [citado2017-12-14], pp. 85-103 . Disponível em:
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-
51771991000100008&lng=pt&nrm=iso> ISSN 1678-5177.
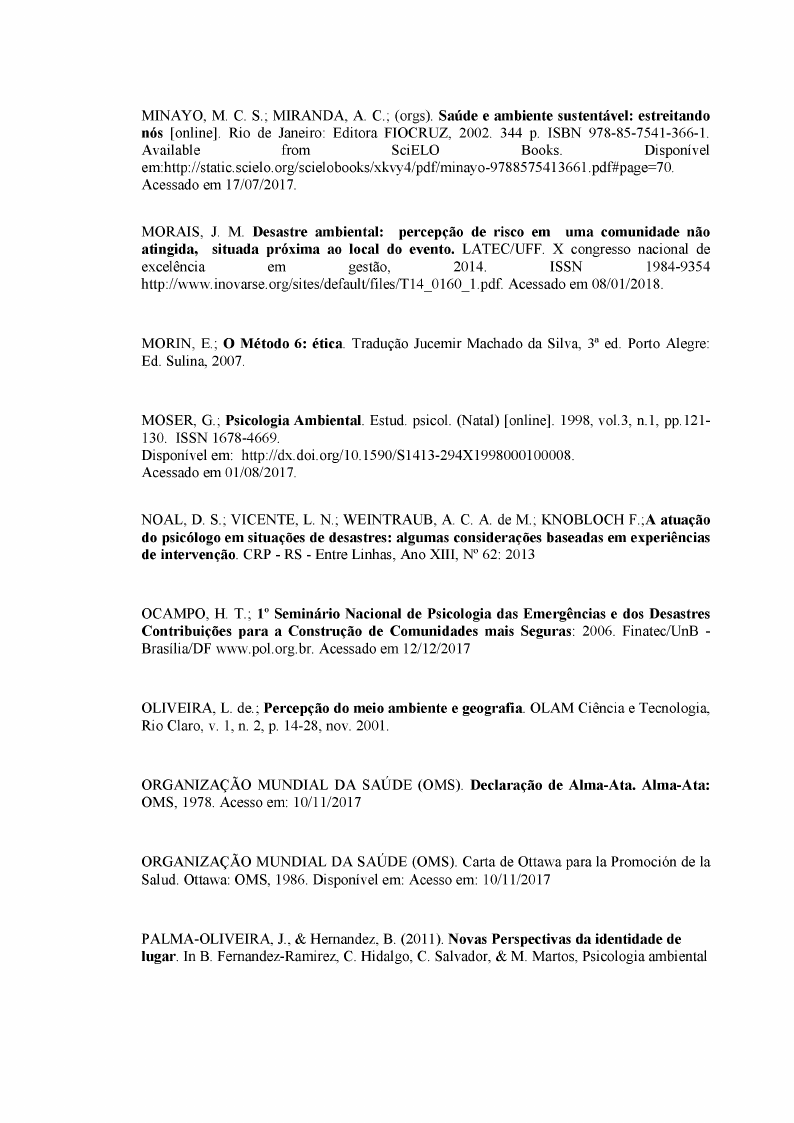
MINAYO, M. C. S.; MIRANDA, A. C.; (orgs). Saúde e am biente sustentável: estreitando
nós [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2002. 344 p. ISBN 978-85-7541-366-1.
Available
from
SciELO
Books.
Disponível
em:http://static.scielo.org/scielobooks/xkvy4/pdf/minayo-9788575413661.pdf#page=70.
Acessado em 17/07/2017.
MORAIS, J. M. Desastre am biental: percepção de risco em um a com unidade não
atingida, situada próxim a ao local do evento. LATEC/UFF. X congresso nacional de
excelência
em
gestão,
2014.
ISSN
1984-9354
http://www.inovarse.org/sites/default/files/T14_0160_1.pdf. Acessado em 08/01/2018.
MORIN, E.; O M étodo 6: ética. Tradução Jucemir Machado da Silva, 3a ed. Porto Alegre:
Ed. Sulina, 2007.
MOSER, G.; Psicologia Ambiental. Estud. psicol. (Natal) [online]. 1998, vol.3, n.1, pp.121-
130. ISSN 1678-4669.
Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1413-294X1998000100008.
Acessado em 01/08/2017.
NOAL, D. S.; VICENTE, L. N.; WEINTRAUB, A. C. A. de M.; KNOBLOCH F.;A atuação
do psicólogo em situações de desastres: algumas considerações baseadas em experiências
de intervenção. CRP - RS - Entre Linhas, Ano XIII, N° 62: 2013
OCAMPO, H. T.; 1° Seminário Nacional de Psicologia das Em ergências e dos Desastres
Contribuições p ara a Construção de Comunidades mais Seguras: 2006. Finatec/UnB -
Brasília/DF www.pol.org.br. Acessado em 12/12/2017
OLIVEIRA, L. de.; Percepção do meio am biente e geografia. OLAM Ciência e Tecnologia,
Rio Claro, v. 1, n. 2, p. 14-28, nov. 2001.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Declaração de Alma-Ata. Alma-Ata:
OMS, 1978. Acesso em: 10/11/2017
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Carta de Ottawa para la Promoción de la
Salud. Ottawa: OMS, 1986. Disponível em: Acesso em: 10/11/2017
PALMA-OLIVEIRA, J., & Hernandez, B. (2011). Novas Perspectivas da identidade de
lugar. In B. Fernandez-Ramirez, C. Hidalgo, C. Salvador, & M. Martos, Psicologia ambiental
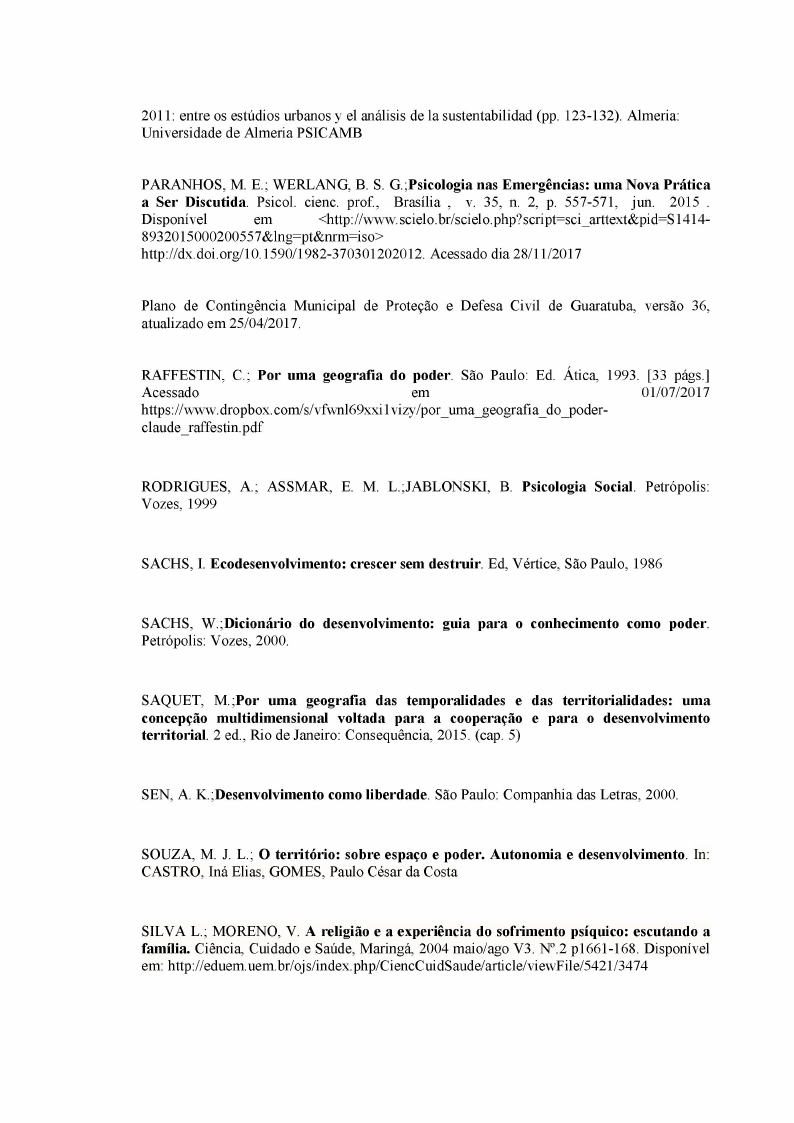
2011: entre os estúdios urbanos y el análisis de la sustentabilidad (pp. 123-132). Almeria:
Universidade de Almeria PSICAMB
PARANHOS, M. E.; WERLANG, B. S. G.;Psicologia nas Em ergências: um a Nova P rática
a Ser Discutida. Psicol. cienc. prof., Brasília , v. 35, n. 2, p. 557-571, jun. 2015 .
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
8932015000200557&lng=pt&nrm=iso>
http://dx.doi.org/10.1590/1982-370301202012. Acessado dia 28/11/2017
Plano de Contingência Municipal de Proteção e Defesa Civil de Guaratuba, versão 36,
atualizado em 25/04/2017.
RAFFESTIN, C.; P o r um a geografia do poder. São Paulo: Ed. Ática, 1993. [33 págs.]
Acessado
em
01/07/2017
https://www.dropbox. com/s/vfwnl69xxi1vizy/por_uma_geografia_do_poder-
claude_raffestin.pdf
RODRIGUES, A.; ASSMAR, E. M. L.JABLONSKI, B. Psicologia Social. Petrópolis:
Vozes, 1999
SACHS, I. Ecodesenvolvimento: crescer sem destruir. Ed, Vértice, São Paulo, 1986
SACHS, W.;Dicionário do desenvolvimento: guia p ara o conhecimento como poder.
Petrópolis: Vozes, 2000.
SAQUET, M .;Por um a geografia das temporalidades e das territorialidades: um a
concepção multidimensional voltada p ara a cooperação e p ara o desenvolvimento
territorial. 2 ed., Rio de Janeiro: Consequência, 2015. (cap. 5)
SEN, A. K.;Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
SOUZA, M. J. L.; O território: sobre espaço e poder. A utonom ia e desenvolvimento. In:
CASTRO, Iná Elias, GOMES, Paulo César da Costa
SILVA L.; MORENO, V. A religião e a experiência do sofrimento psíquico: escutando a
família. Ciência, Cuidado e Saúde, Maringá, 2004 maio/ago V3. N°.2 p1661-168. Disponível
em: http://eduem.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/viewFile/5421/3474
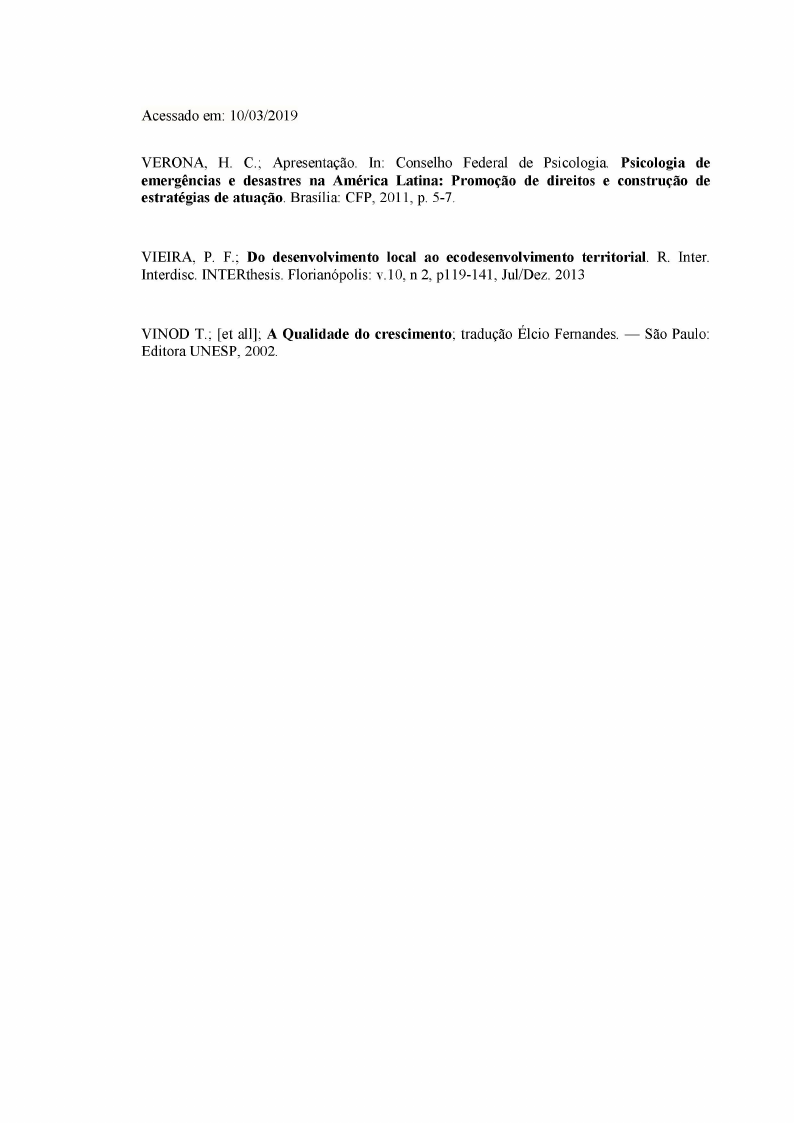
Acessado em: 10/03/2019
VERONA, H. C.; Apresentação. In: Conselho Federal de Psicologia. Psicologia de
emergências e desastres na América Latina: Promoção de direitos e construção de
estratégias de atuação. Brasília: CFP, 2011, p. 5-7.
VIEIRA, P. F.; Do desenvolvimento local ao ecodesenvolvimento territorial. R. Inter.
Interdisc. INTERthesis. Florianópolis: v.10, n 2, p119-141, Jul/Dez. 2013
VINOD T.; [et all]; A Q ualidade do crescimento; tradução Élcio Fernandes. — São Paulo:
Editora UNESP, 2002.
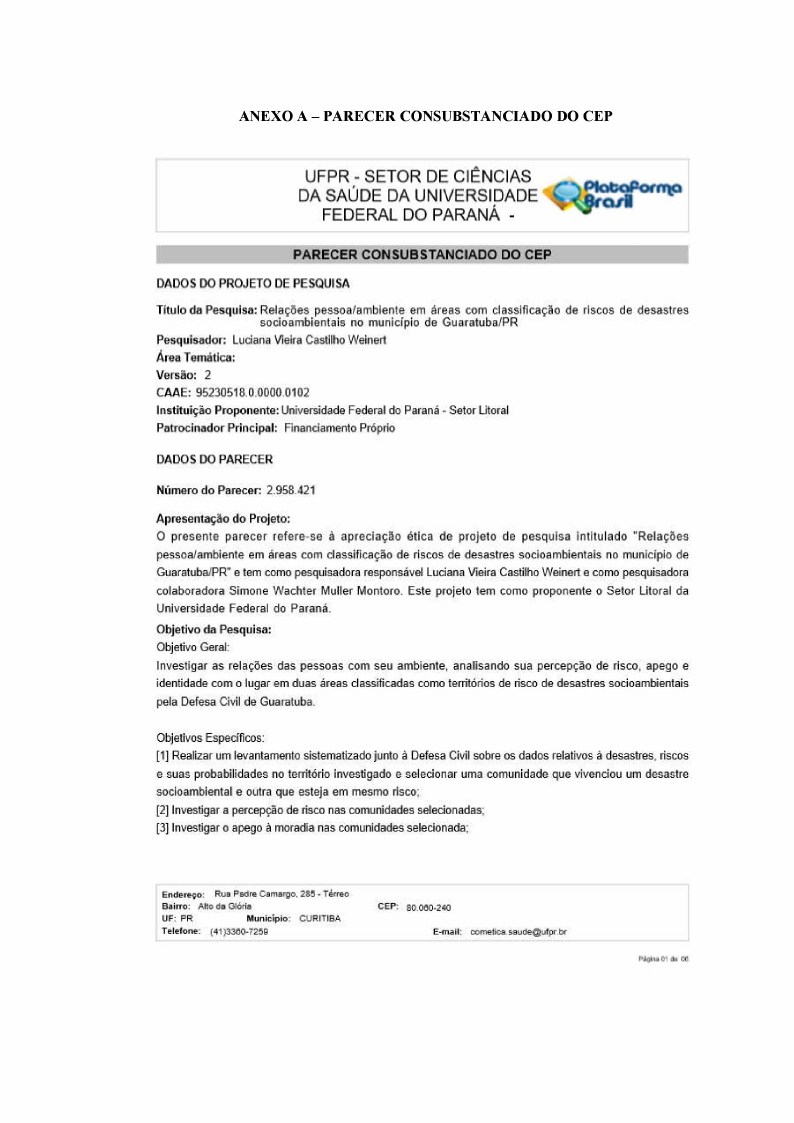
ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
UFPR - SETOR DE CIÊNCIAS
.
DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE C 2
FEDERAL DO PARANÁ -
v^
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
T itulo da Pesquisa: Relações pessoa/am biente em áreas com classificação de riscos de desastres
socioam bientais no m unicípio de G uaratuba/PR
P esquisador: Ludana Vieira Castilho Weinert
Área Temática:
Versáo: 2
CAAE: 95230518 0 0000 0102
In stitu içã o P roponente: Universidade Federal do Paraná - Setor Litoral
P a tro cina dor P rin cipa l: Finandam ento Próprio
DADOS DO PARECER
N úm ero do Parecer: 2 958 421
Apresentação do Projeto:
O presente parecer refere-se à apreciação ética de projeto de pesquisa intitulado "R elações
pessoa/ambiente em áreas com dassificação de riscos de desastres socioambientais no município de
Guaratuba/PR" e tem como pesquisadora responsável Ludana Vieira Castilho Weinert e como pesquisadora
colaboradora Simone W achter M uller Montoro. Este projeto tem como proponente o Setor Litoral da
Universidade Federal do Paraná.
O bjetivo da Pesquisa:
Objetivo Geral:
Investigar as relações das pessoas com seu ambiente, analisando sua percepção de risco, apego e
identidade com o lugar em duas áreas dassificadas como territórios de risco de desastres socioambientais
pela Defesa Civil de Guaratuba.
Objetivos Espedficos:
[1] Realizar um levantamento sistematizado junto à Defesa Civil sobre os dados relativos à desastres, riscos
e suas probabilidades no território investigado e seledonar uma comunidade que vivenciou um desastre
socioambiental e outra que esteja em mesmo risco:
[2] Investigar a percepção de risco nas comunidades selecionadas:
[3] Investigar o apego à moradia nas comunidades seledonada;
E ndereço: Rub Paore Camargo, 285 - Térreo
B a irro : Alto da Glória
UF: PR
M unicípio: CURITIBA
Telefone: (41)3360-7250
CEP: 80.000-240
E-mail ccmelica saude@ufpr br
RAoin» 01 d a OB
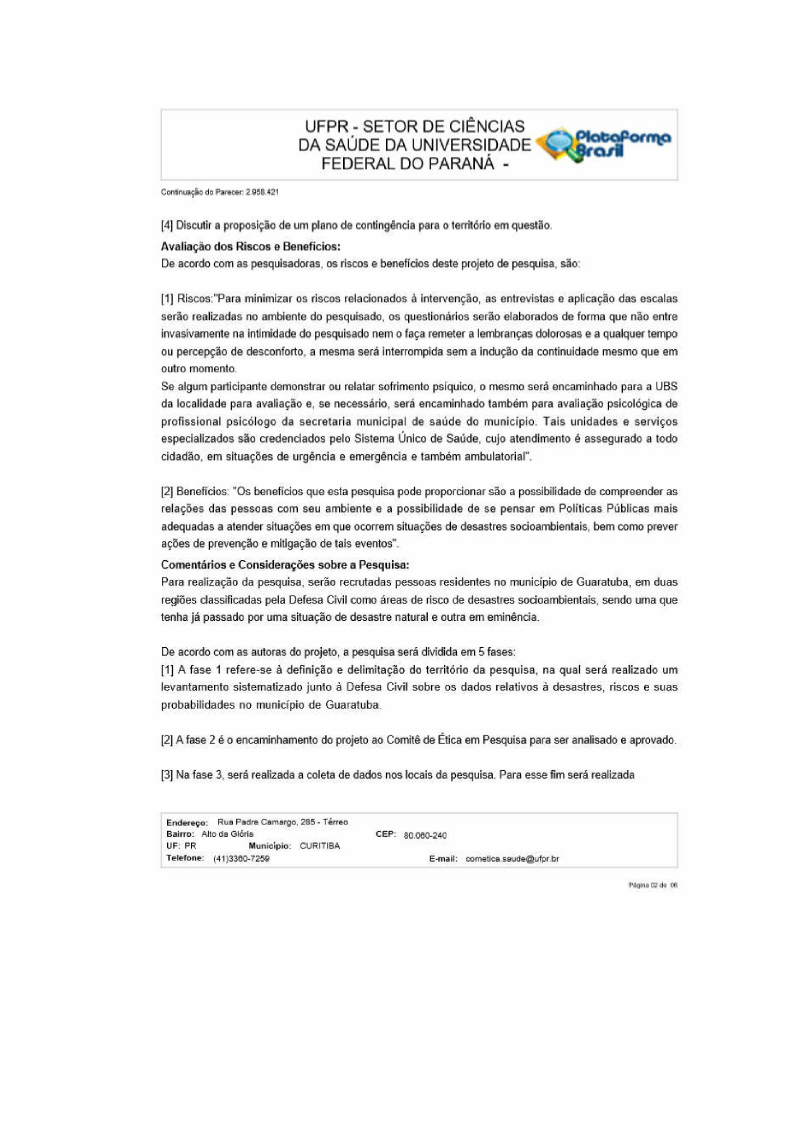
UFPR - SETOR DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARANÁ -
Continu»ç&o do P»r»c«r 2 958,421
[4] Discutir a proposição de um piano de contingência para o território em questão
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
De acordo com as pesquisadoras os riscos e benefícios deste projeto de pesquisa, são
[1] Riscos "Para minimizar os riscos relacionados à intervenção, as entrevistas e aplicação das escalas
serão realizadas no ambiente do pesquisado, os questionários serão elaborados de forma que não entre
invasivamente na intimidade do pesquisado nem o faça remeter a lembranças dolorosas e a qualquer tempo
ou percepção de desconforto, a mesma será interrompida sem a indução da continuidade mesmo que em
outro momento
Se algum participante demonstrar ou relatar sofrimento psíquico, o mesmo será encaminhado para a UBS
da localidade para avaliação e. se necessário, será encaminhado também para avaliação psicológica de
profissional psicólogo da secretaria m unicipal de saúde do m unicípio. Tais unidades e serviços
especializados são credenciados pelo Sistema Único de Saúde, cujo atendimento é assegurado a todo
cidadão, em situações de urgência e emergência e também ambulatorial”.
[2] Benefícios: "Os benefícios que esta pesquisa pode proporcionar são a possibilidade de compreender as
relações das pessoas com seu ambiente e a possibilidade de se pensar em Políticas Públicas mais
adequadas a atender situações em que ocorrem situações de desastres socioambientais, bem como prever
ações de prevenção e mitigação de tais eventos".
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Para realização da pesquisa, serão recrutadas pessoas residentes no município de Guaratuba, em duas
regiões classificadas pela Defesa Civil como áreas de risco de desastres socioambientais, sendo uma que
tenha já passado por uma situação de desastre natural e outra em eminência.
De acordo com as autoras do projeto, a pesquisa será dividida em 5 fases:
[1] A fase 1 refere-se à definição e delim itação do território da pesquisa, na qual será realizado um
levantamento sistem atizado junto à Defesa Civil sobre os dados relativos à desastres, riscos e suas
probabilidades no município de Guaratuba.
[2J A fase 2 é o encaminhamento do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa para ser analisado e aprovado
[3j Na fase 3, será realizada a coleta de dados nos locais da pesquisa. Para esse fim será realizada
Endereço: Rua Padre Camargo, 285 - Térreo
B airro: Alto dB Glória
UF: PR
M unicípio: CURITIBA
Telefone (41)3360-7250
CEP: 80.080-240
E-mail: cometicasaude@ ufprbr
Pàglna 03 4a o*
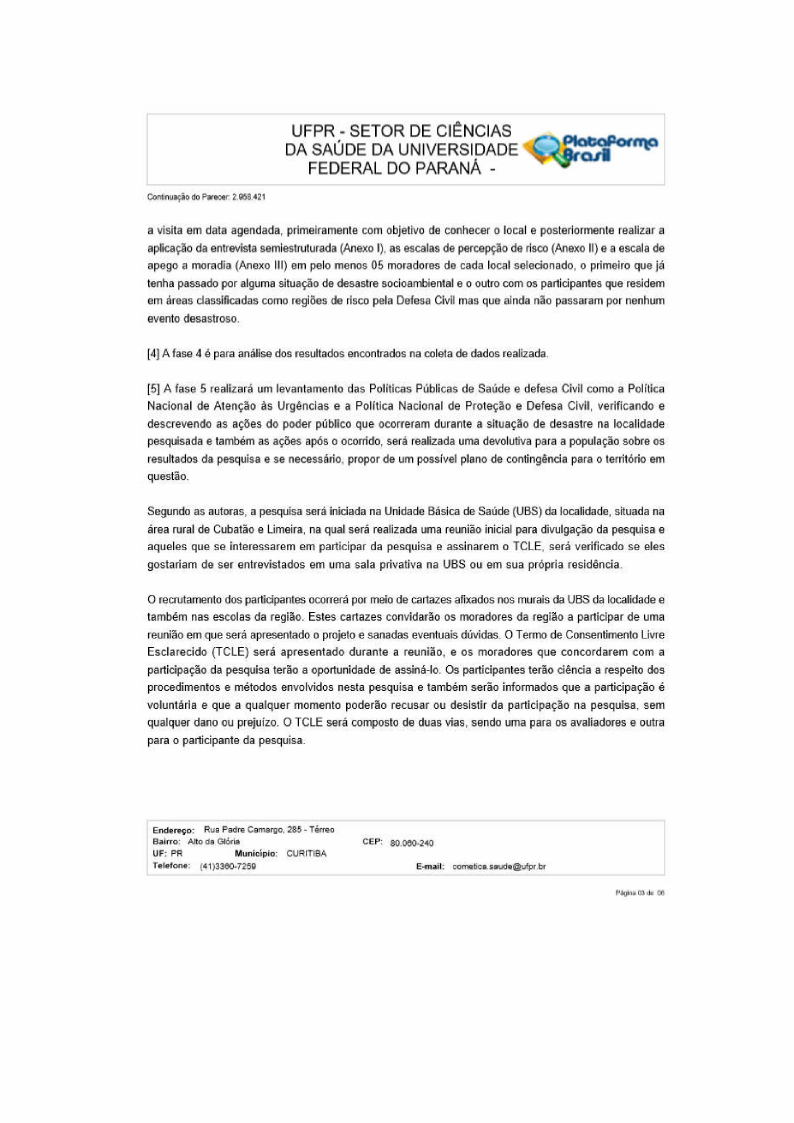
UFPR - SETOR DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARANÁ -
Continu»ç»o do Ptnoêr, 2 SS6 421
a visita em data agendada, primeiramente com objetivo de conhecer o local e posteriormente realizar a
aplicação da entrevista semiestruturada (Anexo I), as escalas de percepção de risco (Anexo II) e a escala de
apego a moradia (Anexo III) em peio menos 05 moradores de cada local selecionado, o primeiro que já
tenha passado por alguma situação de desastre socioambiental e o outro com os participantes que residem
em áreas classificadas como regiões de risco pela Defesa Civil mas que ainda não passaram por nenhum
evento desastroso
[4] A fase 4 é para análise dos resultados encontrados na coleta de dados realizada
[5] A fase 5 realizará um levantamento das Políticas Públicas de Saúde e defesa Civil como a Política
Nacional de Atenção ás Urgências e a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, verificando e
descrevendo as ações do poder público que ocorreram durante a situação de desastre na localidade
pesquisada e também as ações após o ocorrido, será realizada uma devolutiva para a população sobre os
resultados da pesquisa e se necessário, propor de um possível plano de contingência para o território em
questão.
Segundo as autoras a pesquisa será inidada na Unidade Básica de Saúde (UBS) da localidade, situada na
área rural de Cubatão e Limeira, na qual será realizada uma reunião inicial para divulgação da pesquisa e
aqueles que se interessarem em participar da pesquisa e assinarem o TCLE, será verificado se eles
gostariam de ser entrevistados em uma sala privativa na UBS ou em sua própria residência.
O recrutamento dos partidpantes ocorrerá por meio de cartazes afixados nos murais da UBS da localidade e
também nas escolas da região. Estes cartazes convidarão os moradores da região a participar de uma
reunião em que será apresentado o projeto e sanadas eventuais dúvidas. O Termo de Consentimento Livre
Esclarecido (TCLE) será apresentado durante a reunião, e os moradores que concordarem com a
participação da pesquisa terão a oportunidade de assiná-lo. Os participantes terão dência a respeito dos
procedimentos e métodos envolvidos nesta pesquisa e também serão informados que a participação é
voluntária e que a qualquer momento poderão recusar ou desistir da participação na pesquisa, sem
qualquer dano ou prejuízo. O TCLE será composto de duas vias, sendo uma para os avaliadores e outra
para o participante da pesquisa.
Endereço: Rua Padre CBmargo, 285 - Terreo
B airro: Alto da Glória
UF: PR
M unicípio: CURITIBA
Telefone (41)3360-7250
CEP: 80 060-240
E-m aíl: cometica saude@ ufpr br
P.Vj»na r a vkt OF
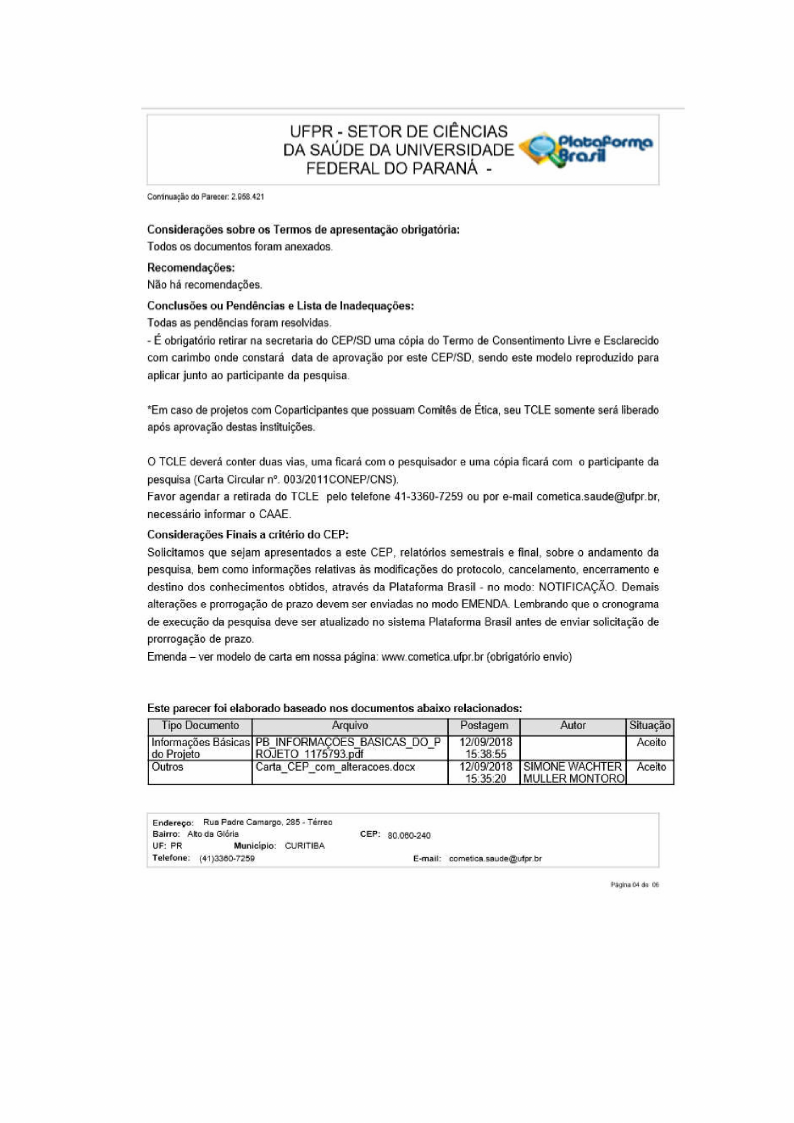
UFPR - SETOR DE CIÊNCIAS
.
DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE C
FEDERAL DO PARANÁ -
v^
C o n ti n u j j i o do P l i t c e r : 2 0 6 8 <21
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Todos os documentos foram anexados
Recomendações:
Não há recomendações.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Todas as pendências foram resolvidas
- É obrigatório retirar na secretaria do CEP/SD uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
com carimbo onde constará data de aprovação por este CEP/SD, sendo este modelo reproduzido para
aplicar junto ao participante da pesquisa
'Em caso de projetos com Coparticipantes que possuam Comitês de Ética, seu TCLE somente será liberado
após aprovação destas instituições.
O TCLE deverá conter duas vias, uma ficará com o pesquisador e uma cópia ficará com o participante da
pesquisa (Carta Circular n°. 003/2011CONEP/CNS).
Favor agendar a retirada do TCLE pelo telefone 41-3360-7259 ou por e-mail cometica.saude@ ufpr.br,
necessário informar o CAAE.
Considerações Finais a critério do CEP:
Solicitamos que sejam apresentados a este CEP, relatórios semestrais e final, sobre o andamento da
pesquisa, bem como informações relativas às modificações do protocolo, cancelamento, encerramento e
destino dos conhecimentos obtidos, através da Plataforma Brasil - no modo: NOTIFICAÇÃO Demais
alterações e prorrogação de prazo devem ser enviadas no modo EMENDA. Lembrando que o cronograma
de execução da pesquisa deve ser atualizado no sistema Plataforma Brasil antes de enviar solicitação de
prorrogação de prazo.
Emenda - ver modelo de carta em nossa página: www.cometicaufpr.br (obrigatório envio)
Este parecer foi elaborado baseado nos docum entos abaixo relacionados
Tipo Documento
Arquivo
Postagem
Autor
Situação
Informações Básicas PB INFORMAÇÕES BASICAS DO P
do Proieto
ROJETO 1175793.pdf
Outros
Carta_CEP_com_alteracoes.docx
12/09/2018
15 38:55
12/09/2018
1535:20
SIMONE WÄCHTER
MULLER MONTORO
Aceito
Aceito
Endereço: Rub Padre CamBrgo. 285 - Térreo
Bairro: Alto dB Glória
UF: PR
M unicípio: CURITIBA
Telefone (41)3360-7259
CEP: 80.060-240
E-mail cometica 5 B u d e @ u fp r br
Pdglrta 04 áa 06
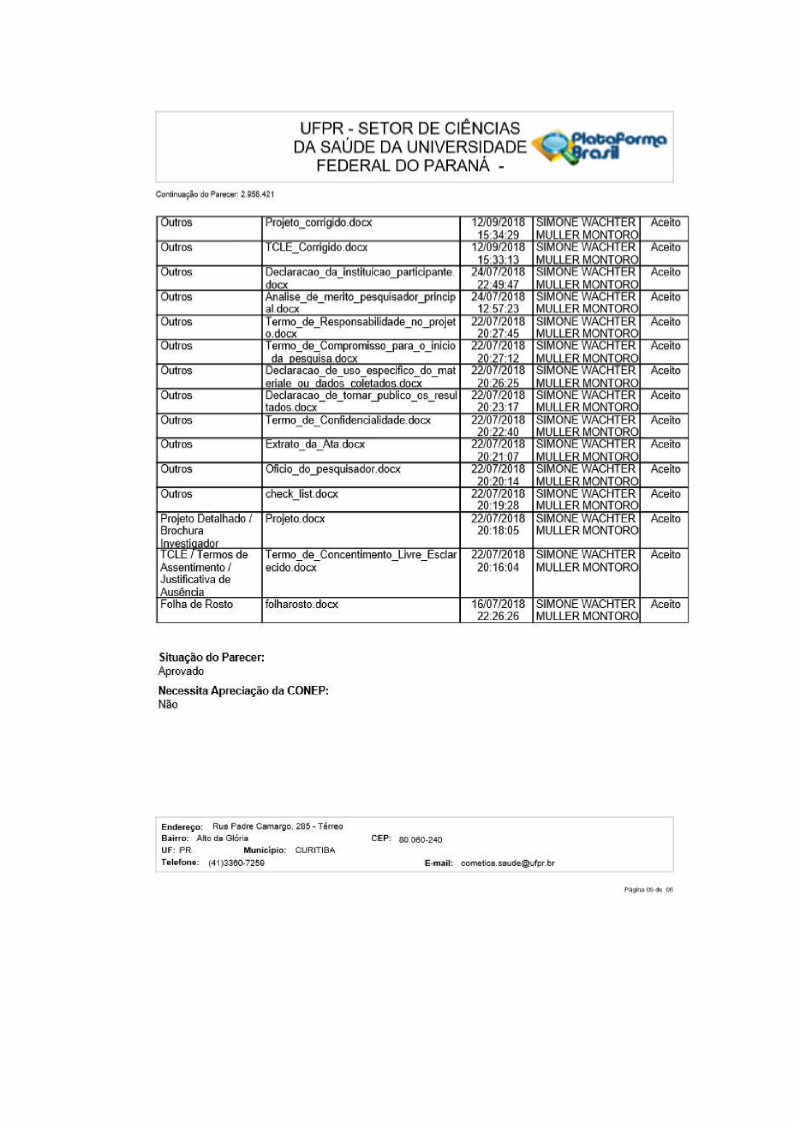
UFPR - SETOR DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE .^ ■ \\P k > b a P o rrn a
FEDERAL DO PARANÁ -
Contlnuȍio do Parecer 2.098.421
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador
TCLE /Term os de
Assentimento /
Justificativa de
Ausênda
Folha de Rosto
Projeto_corrigldo docx
TCLE_Corrigido docx
Dedaracao_da_insti1ulcao_partidpante
docx
Analise_de_merito_pesquisador_princip
aldocx
Termo de Responsabilidade no projet
o.docx
termo_de_Compromisso_para_o_inicio
da Desquisa docx
Ô edaracaodeusoespecificodom at
eriale ou dados coletados docx
Dedaracao_de_tomar_publico_os_resul
tados docx
Termo de Confidendalidade docx
Extrato da Ata docx
Ofido_do_pesquisador.docx
checkjist.docx
Projeto.docx
Termo_de_Concentimento_Livre_Esdar
eddo.docx
folharosto docx
m-.-i.
15 34 29
12/09/2018
15 33 13
24/07'2018
22 49 47
24/07/2018
12:57:23
22/07/2018
20:27:45
22/07/2018
20 27:12
22/07/2018
20 26:25
22/07/2018
20 23:17
22/07/2018
20:22:40
22/07/2018
20 21:07
22/07/2018
20.20:14
22/07/2018
20:19:28
22/07/2018
20:18:05
5IM ÜN" WÄCHTER
MÜLLER MONTORO
SIMONE WÄCHTER
MÜLLER MONTORO
SIMONE WÄCHTER
MÜLLER MONTORO
s im o n e w A c h t ER
MÜLLER MONTORO
SIMONE WÄCHTER
MÜLLER MONTORO
SIMONE WÄCHTER
MÜLLER MONTORO
s im o n E WAc HYe r
MÜLLER MONTORO
SIMONE WÄCHTER
MÜLLER MONTORO
SIMONE WÄCHTER
MÜLLER MONTORO
SIMONE WÄCHTER
MÜLLER MONTORO
SIMONE WÄCHTER
MÜLLER MONTORO
SIMONE WÄCHTER
MÜLLER MONTORO
SIMONE WÄCHTER
MÜLLER MONTORO
22/07/2018 SIMONE WÄCHTER
20:16:04 MÜLLER MONTORO
16/07/2018 SIMONE WÄCHTER
22:26:26 MÜLLER MONTORO
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Acerto
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
Endereço: Rue Paore Camargo. 285 - Térreo
Bairro: Alto da Glória
UF: PR
M unicipio CURITIBA
Telefone. (41)3360-7250
CEP: 80.060-240
E-mail: cometica. seude@ufpr br
P4gtnaOE. Ofi
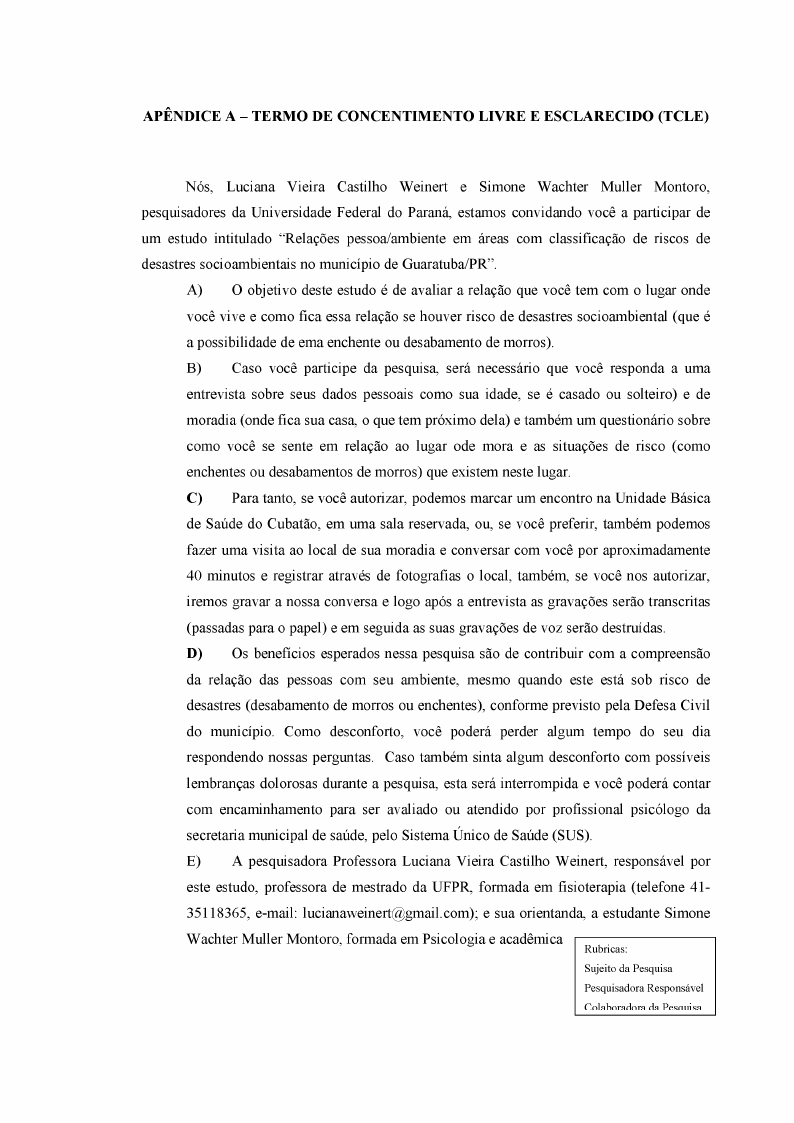
APÊNDICE A - TERMO DE CONCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
Nós, Luciana Vieira Castilho Weinert e Simone Wachter Muller Montoro,
pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, estamos convidando você a participar de
um estudo intitulado “Relações pessoa/ambiente em áreas com classificação de riscos de
desastres socioambientais no município de Guaratuba/PR”
A) O objetivo deste estudo é de avaliar a relação que você tem com o lugar onde
você vive e como fica essa relação se houver risco de desastres socioambiental (que é
a possibilidade de ema enchente ou desabamento de morros).
B) Caso você participe da pesquisa, será necessário que você responda a uma
entrevista sobre seus dados pessoais como sua idade, se é casado ou solteiro) e de
moradia (onde fica sua casa, o que tem próximo dela) e também um questionário sobre
como você se sente em relação ao lugar ode mora e as situações de risco (como
enchentes ou desabamentos de morros) que existem neste lugar.
C) Para tanto, se você autorizar, podemos marcar um encontro na Unidade Básica
de Saúde do Cubatão, em uma sala reservada, ou, se você preferir, também podemos
fazer uma visita ao local de sua moradia e conversar com você por aproximadamente
40 minutos e registrar através de fotografias o local, também, se você nos autorizar,
iremos gravar a nossa conversa e logo após a entrevista as gravações serão transcritas
(passadas para o papel) e em seguida as suas gravações de voz serão destruídas.
D) Os benefícios esperados nessa pesquisa são de contribuir com a compreensão
da relação das pessoas com seu ambiente, mesmo quando este está sob risco de
desastres (desabamento de morros ou enchentes), conforme previsto pela Defesa Civil
do município. Como desconforto, você poderá perder algum tempo do seu dia
respondendo nossas perguntas. Caso também sinta algum desconforto com possíveis
lembranças dolorosas durante a pesquisa, esta será interrompida e você poderá contar
com encaminhamento para ser avaliado ou atendido por profissional psicólogo da
secretaria municipal de saúde, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
E) A pesquisadora Professora Luciana Vieira Castilho Weinert, responsável por
este estudo, professora de mestrado da UFPR, formada em fisioterapia (telefone 41
35118365, e-mail: lucianaweinert@gmail.com); e sua orientanda, a estudante Simone
Wachter Muller Montoro, formada em Psicologia e acadêmica
Rubricas:
Sujeito da Pesquisa
Pesquisadora Responsável
Colaboradora da Pesquisa
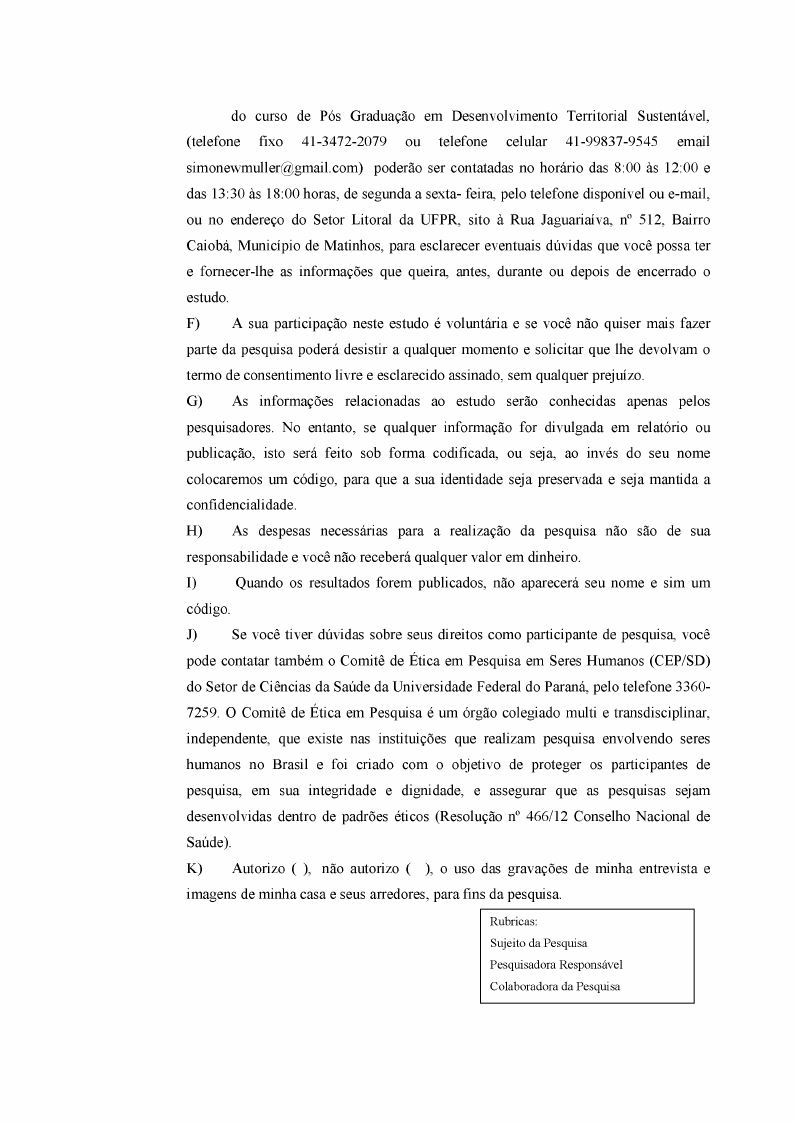
do curso de Pós Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável,
(telefone fixo 41-3472-2079 ou telefone celular 41-99837-9545 email
simonewmuller@gmail.com) poderão ser contatadas no horário das 8:00 às 12:00 e
das 13:30 às 18:00 horas, de segunda a sexta- feira, pelo telefone disponível ou e-mail,
ou no endereço do Setor Litoral da UFPR, sito à Rua Jaguariaíva, n° 512, Bairro
Caiobá, Município de Matinhos, para esclarecer eventuais dúvidas que você possa ter
e fornecer-lhe as informações que queira, antes, durante ou depois de encerrado o
estudo.
F) A sua participação neste estudo é voluntária e se você não quiser mais fazer
parte da pesquisa poderá desistir a qualquer momento e solicitar que lhe devolvam o
termo de consentimento livre e esclarecido assinado, sem qualquer prejuízo.
G) As informações relacionadas ao estudo serão conhecidas apenas pelos
pesquisadores. No entanto, se qualquer informação for divulgada em relatório ou
publicação, isto será feito sob forma codificada, ou seja, ao invés do seu nome
colocaremos um código, para que a sua identidade seja preservada e seja mantida a
confidencialidade.
H) As despesas necessárias para a realização da pesquisa não são de sua
responsabilidade e você não receberá qualquer valor em dinheiro.
I)
Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome e sim um
código.
J) Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como participante de pesquisa, você
pode contatar também o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP/SD)
do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná, pelo telefone 3360
7259. O Comitê de Ética em Pesquisa é um órgão colegiado multi e transdisciplinar,
independente, que existe nas instituições que realizam pesquisa envolvendo seres
humanos no Brasil e foi criado com o objetivo de proteger os participantes de
pesquisa, em sua integridade e dignidade, e assegurar que as pesquisas sejam
desenvolvidas dentro de padrões éticos (Resolução n° 466/12 Conselho Nacional de
Saúde).
K) Autorizo ( ), não autorizo ( ), o uso das gravações de minha entrevista e
imagens de minha casa e seus arredores, para fins da pesquisa.
Rubricas:
Sujeito da Pesquisa
Pesquisadora Responsável
Colaboradora da Pesquisa
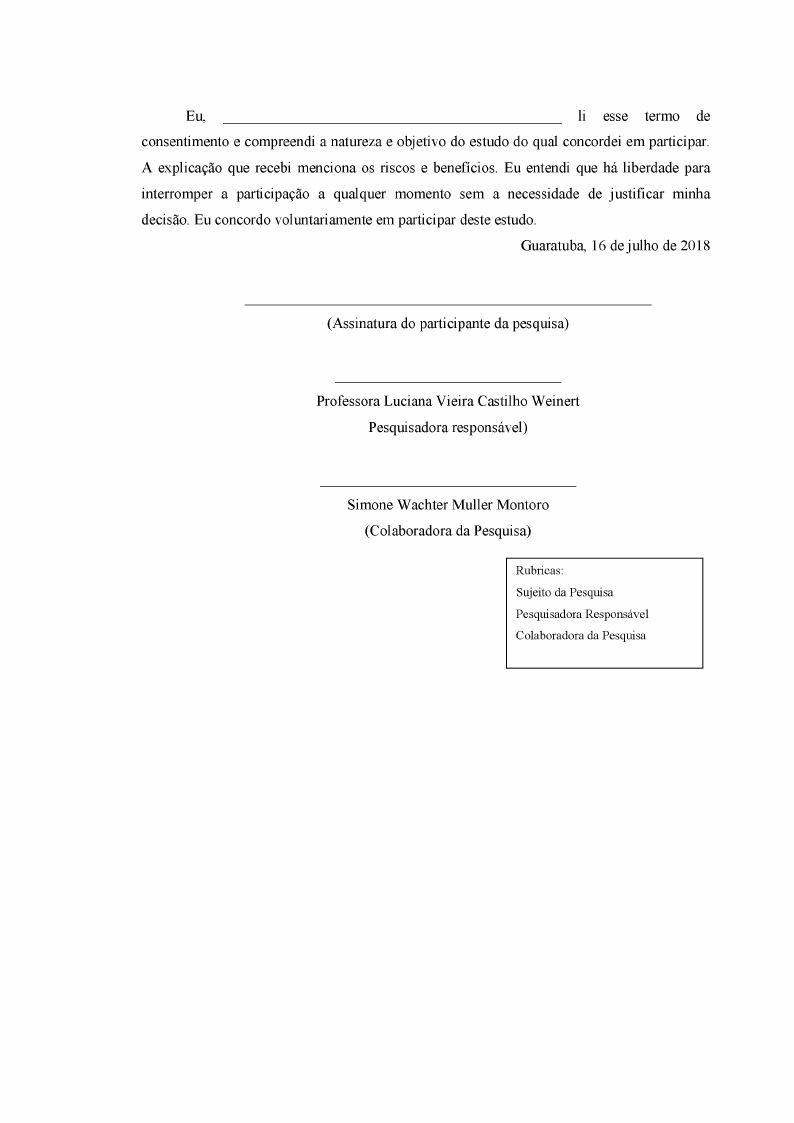
Eu, _________________________________________________ li esse termo de
consentimento e compreendi a natureza e objetivo do estudo do qual concordei em participar.
A explicação que recebi menciona os riscos e benefícios. Eu entendi que há liberdade para
interromper a participação a qualquer momento sem a necessidade de justificar minha
decisão. Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo.
Guaratuba, 16 de julho de 2018
(Assinatura do participante da pesquisa)
Professora Luciana Vieira Castilho Weinert
Pesquisadora responsável)
Simone Wachter Muller Montoro
(Colaboradora da Pesquisa)
Rubricas:
Sujeito da Pesquisa
Pesquisadora Responsável
Colaboradora da Pesquisa
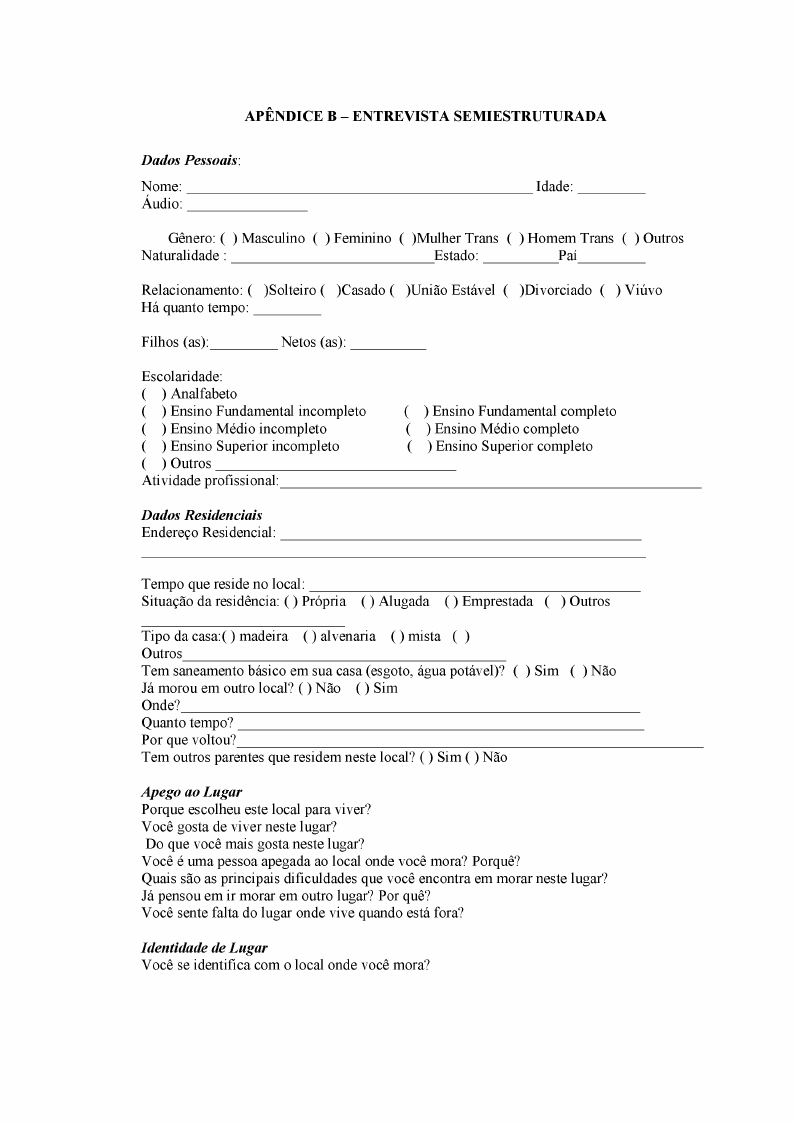
APÊNDICE B - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
Dados Pessoais :
N om e:_________________________________________________Idade:__________
Á udio:_________________
Gênero: ( ) Masculino ( ) Feminino ( )Mulher Trans ( ) Homem Trans ( ) Outros
Naturalidade : ____________________________ Estado:___________ Paí_________
Relacionamento: ( )Solteiro ( )Casado ( )União Estável ( )Divorciado ( ) Viúvo
Há quanto tem po:_________
Filhos (as):__________Netos (as):___________
Escolaridade:
( ) Analfabeto
( ) Ensino Fundamental incompleto
( ) Ensino Fundamental completo
( ) Ensino Médio incompleto
( ) Ensino Médio completo
( ) Ensino Superior incompleto
( ) Ensino Superior completo
( ) O utros__________________________________
Atividade profissional:_________________________________________________________
Dados Residenciais
Endereço Residencial:___________________________________________________
Tempo que reside no lo cal:___________________________________________
Situação da residência: ( ) Própria ( ) Alugada ( ) Emprestada ( ) Outros
Tipo da casa:( ) madeira ( ) alvenaria ( ) mista ( )
Outros______________________________________________
Tem saneamento básico em sua casa (esgoto, água potável)? ( ) Sim ( ) Não
Já morou em outro local? ( ) Não ( ) Sim
Onde?______________________________________________________________
Quanto tem po?______________________________________________________
Por que voltou?______________________________________________________
Tem outros parentes que residem neste local? ( ) Sim ( ) Não
Apego ao Lugar
Porque escolheu este local para viver?
Você gosta de viver neste lugar?
Do que você mais gosta neste lugar?
Você é uma pessoa apegada ao local onde você mora? Porquê?
Quais são as principais dificuldades que você encontra em morar neste lugar?
Já pensou em ir morar em outro lugar? Por quê?
Você sente falta do lugar onde vive quando está fora?
Identidade de Lugar
Você se identifica com o local onde você mora?
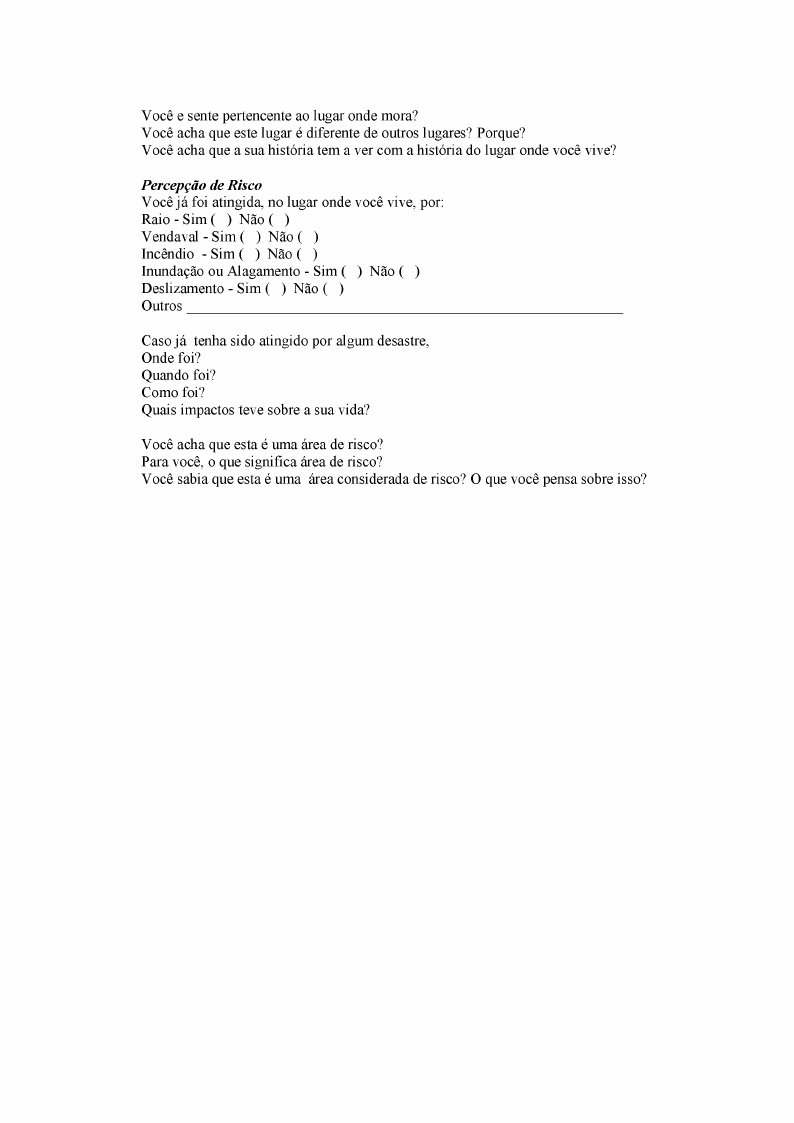
Você e sente pertencente ao lugar onde mora?
Você acha que este lugar é diferente de outros lugares? Porque?
Você acha que a sua história tem a ver com a história do lugar onde você vive?
Percepção de Risco
Você já foi atingida, no lugar onde você vive, por:
Raio - Sim ( ) Não ( )
Vendaval - Sim ( ) Não ( )
Incêndio - Sim ( ) Não ( )
Inundação ou Alagamento - Sim ( ) Não ( )
Deslizamento - Sim ( ) Não ( )
O utros______________________________________________________________
Caso já tenha sido atingido por algum desastre,
Onde foi?
Quando foi?
Como foi?
Quais impactos teve sobre a sua vida?
Você acha que esta é uma área de risco?
Para você, o que significa área de risco?
Você sabia que esta é uma área considerada de risco? O que você pensa sobre isso?
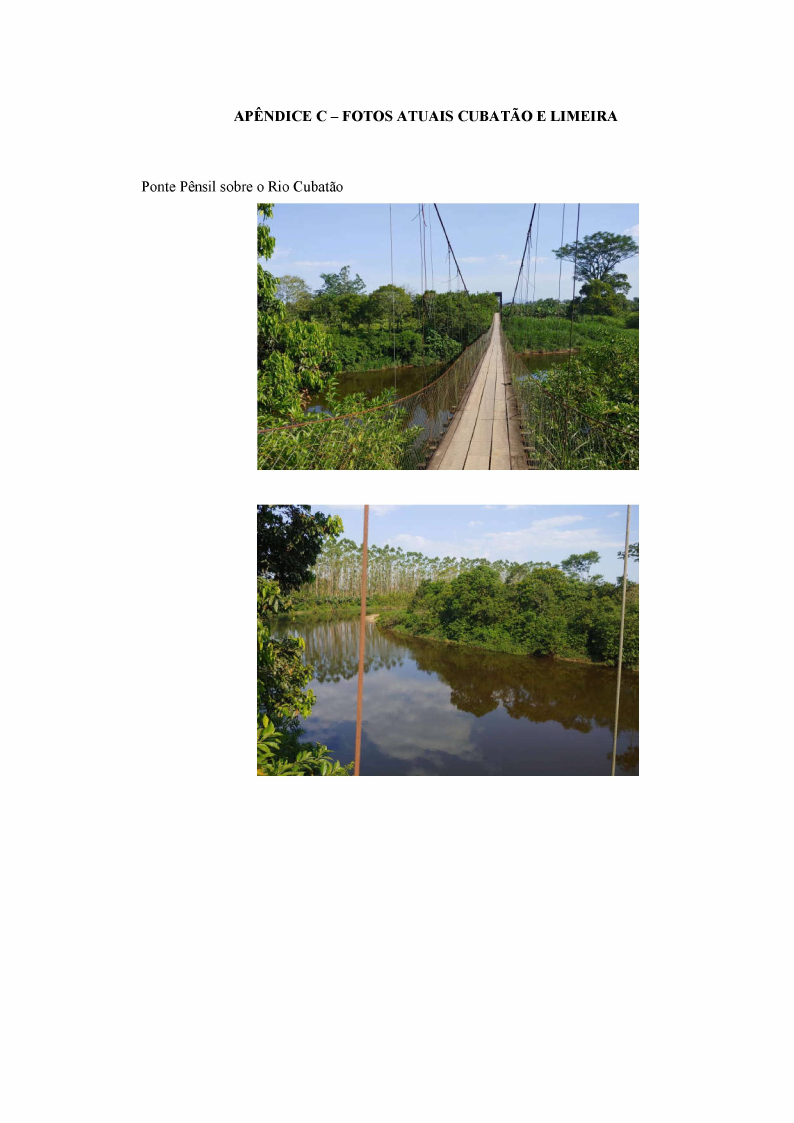
APÊNDICE C - FOTOS ATUAIS CUBATÃO E LIMEIRA
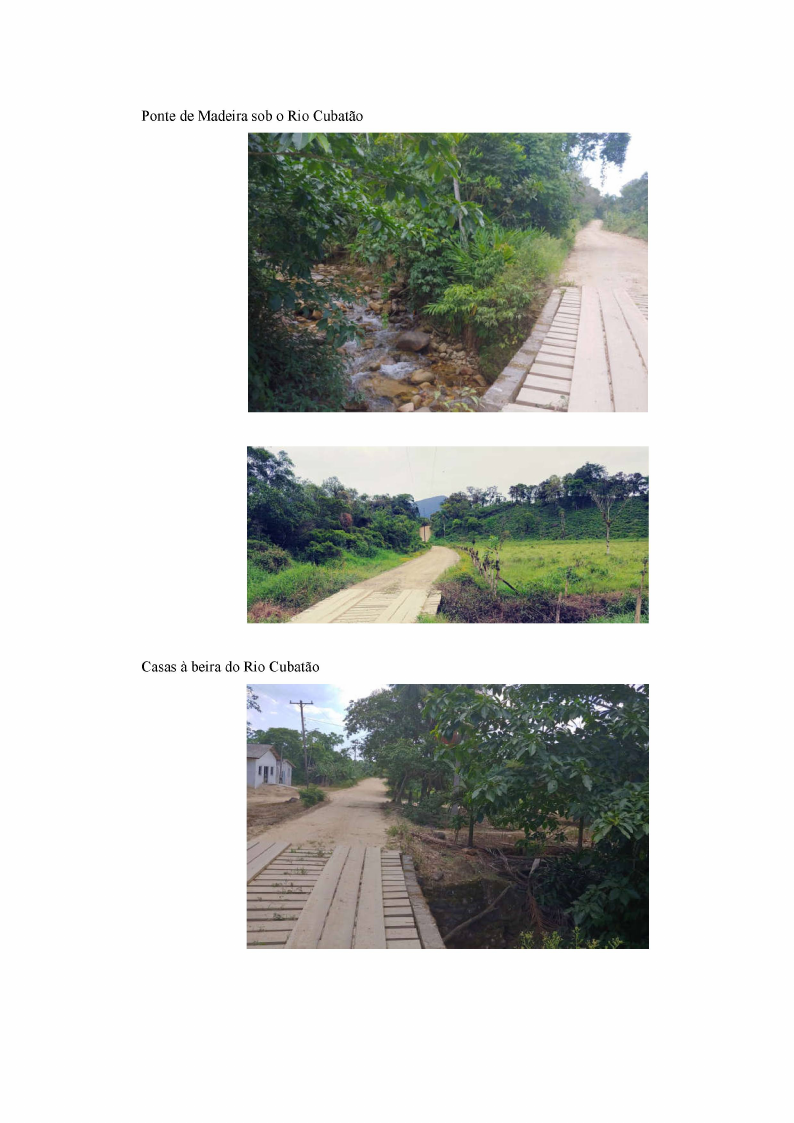
Ponte de Madeira sob o Rio Cubatao

Ponte sob o Rio Cubatão, principal acesso à Limeira. Ao lado ponte nova em construção
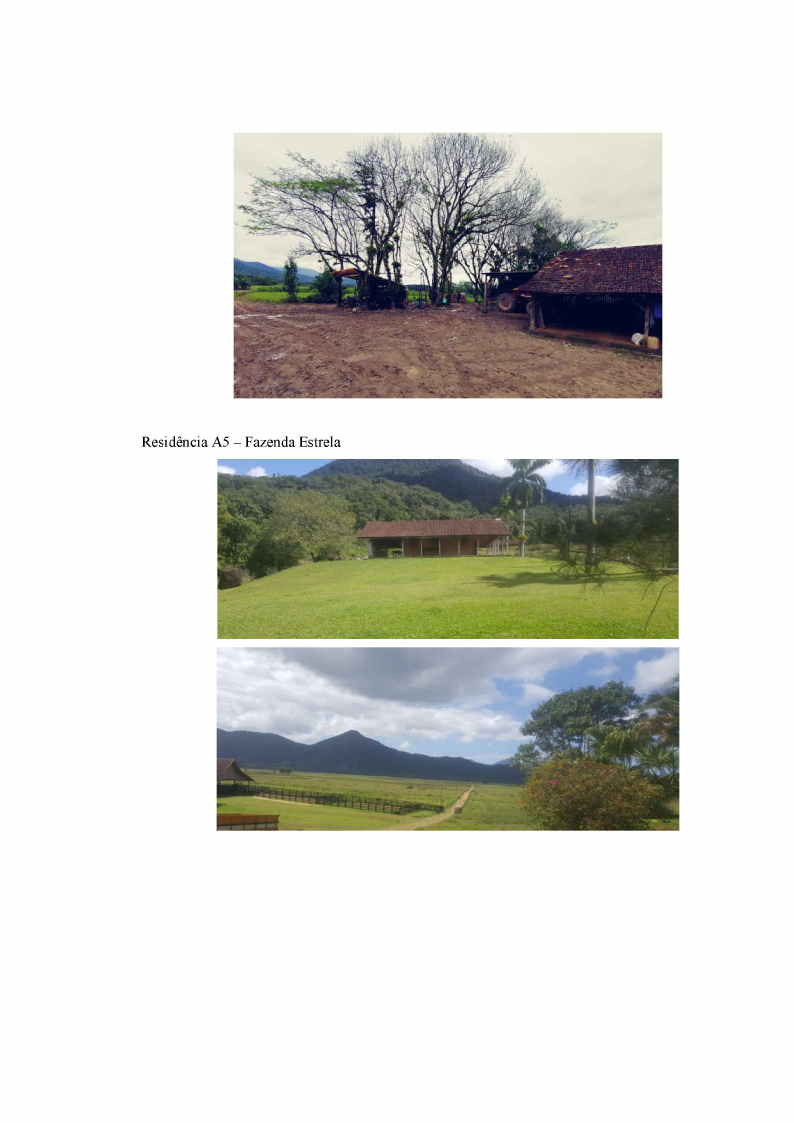
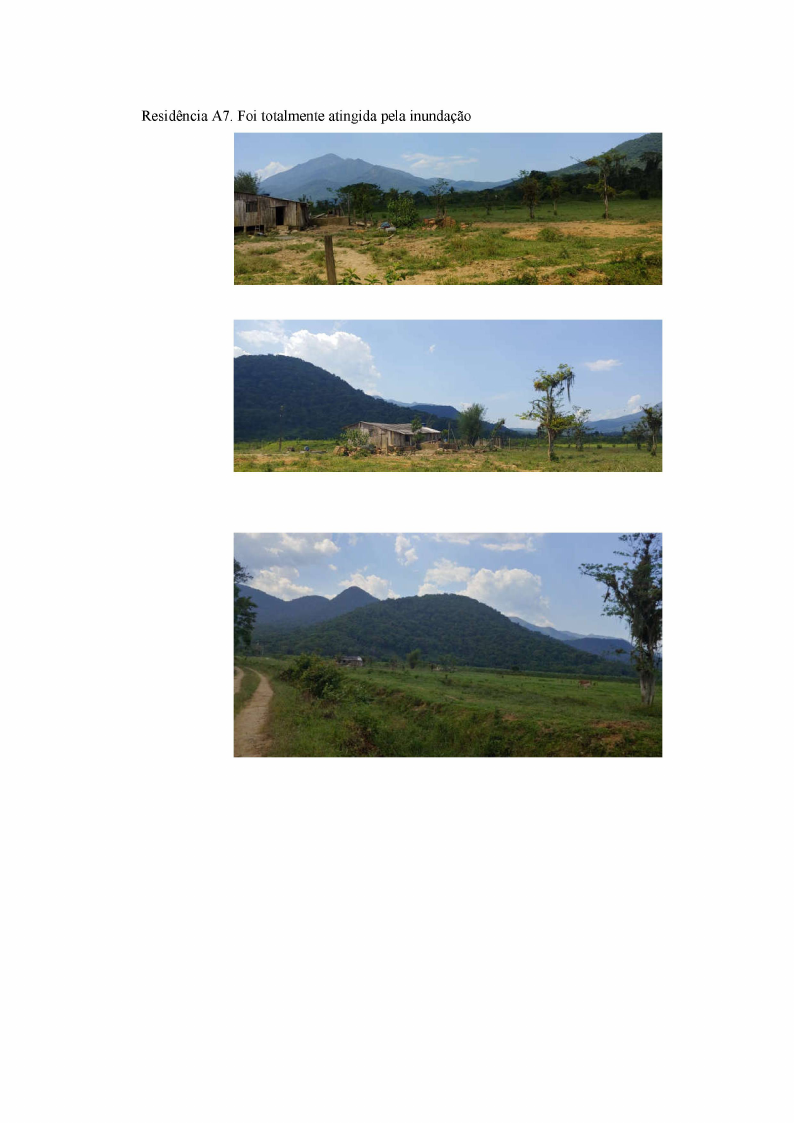
Residência A7. Foi totalmente atingida pela inundação
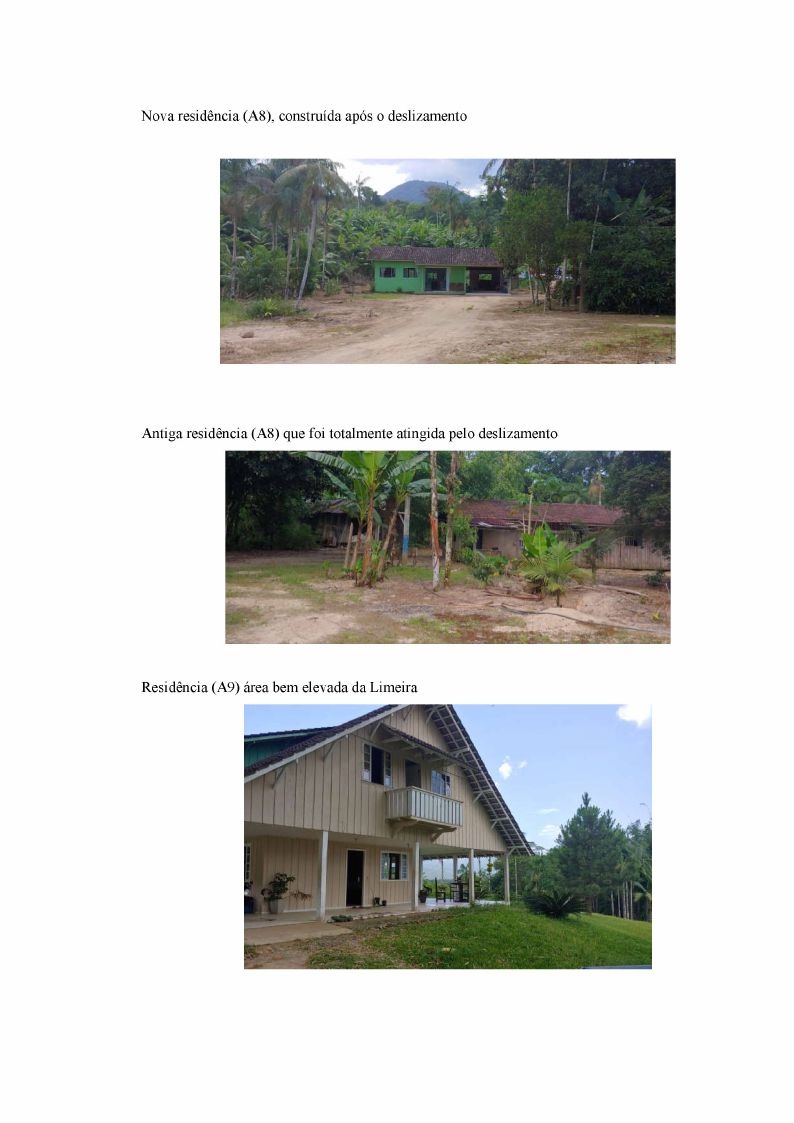
Nova residência (A8), construída após o deslizamento
