
Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém, v. 5, n. 2, p. 399-415, maio-ago. 2010
Do “inferno florido” à esperança do saneamento: ciência, natureza e saúde no
estado do Amazonas durante a Primeira República (1890-1930)
From “flowery hell” to the hope of sanitation: Science, Nature, and Health in the
State of Amazonas during Brazilian First Republic (1890-1930)
Júlio César SchweickardtI
Nísia Trindade LimaII
Resumo: Nas duas primeiras décadas do século XX, as publicações de Euclides da Cunha, Alberto Rangel e Carlos Chagas sobre a
Amazônia apresentaram, sob diferentes perspectivas, uma crítica ao que consideravam visões fantasiosas, originárias dos
relatos de viagem dos naturalistas dos séculos XVIII e XIX. Como alternativa, propunham a análise da região sob a ótica
dos novos conhecimentos científicos, que incluíam domínios diversos – da geologia à medicina tropical. Trabalhos recentes
vêm apontando a necessidade de maior investigação sobre as instituições e práticas científicas locais, tanto na elaboração
de ideias sobre a região como na definição de políticas públicas. É nessa perspectiva que se propõe o presente artigo.
Sua proposta consiste em refletir sobre as diferentes ideias que foram construídas pelo pensamento médico-científico
sobre a natureza e a sociedade no estado do Amazonas, no período da Primeira República, em que se verificou o auge
e o declínio da borracha. Considera-se que os médicos locais participaram ativamente dos debates científicos próprios à
medicina tropical e colocaram em prática as principais teses sobre o combate e a profilaxia de endemias como a malária
e a febre amarela. Esse conjunto de ideias e práticas contribuiu para a definição de ações de saneamento da cidade de
Manaus e do interior do Amazonas.
Palavras-chave: Ciência. Natureza. Saneamento. Medicina tropical. Amazonas. Amazônia.
Abstract: In the first two decades of the 20th century, publications of Euclides da Cunha, Alberto Rangel and Carlos Chagas about
the Amazon presented from different perspectives a critique of what they considered unrealistic visions originated in the
travel accounts of naturalists of 18th and 19th centuries. Alternatively, they proposed the analysis of the region from the
perspective of new scientific knowledge, which included several areas - from geology to tropical medicine. Recent studies
have indicated the need for more research on the institutions and local scientific practices, both in the development of
ideas about the region and the definition of public policies. This article is proposed on this perspective, to reflect on the
different ideas that were built by the medical-scientific thought about Nature and Society in the state of Amazonas during
the Brazilian First Republic, when the rise and decline of the Amazonian rubber was experienced. It is understood that
local physicians actively participated in scientific discussions related to tropical medicine, and put into practice the main
theses about control and prevention of endemic diseases like malaria and yellow fever. This set of ideas and practices
contributed to the definition of sanitation of the city of Manaus and the hinterland of state of Amazonas.
Keywords: Science. Nature. Sanitation. Tropical medicine. Amazonas. Amazon.
I Fundação Oswaldo Cruz. Centro de Pesquisa Leônidas e Maria Deane. Manaus, Amazonas, Brasil (juliocesar@amazonia.fiocruz.br).
II Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil (lima@coc.fiocruz.br).
399

Do “inferno florido” à esperança do saneamento:...
Introdução
(...) o engenheiro, no meio das rosas,
na ocasião de ser erguido,
morria num sorriso de alívio (...)
Não houve eco, que apanhasse e devolvesse as
palavras de fel dos lábios do vencido.
A terra ambiente com elas ganhava o dístico
e o ferrete: - INFERNO VERDE!
(Alberto Rangel, 2001, p. 167).
No Amazonas acontece, de feito, hoje, esta cruel
antilogia: sobre a terra farta e a crescer na plenitude
risonha de sua vida, agita-se, miseravelmente,
uma sociedade que está morrendo
(Euclides da Cunha, 2009a, p. 129).
A ideia de uma natureza desafiadora e de um homem
intruso que chegara precipitadamente àquela terra marca o
imaginário sobre a Amazônia. Diante do cenário monumental,
o homem seria frágil, quer fosse o sertanejo que migrara e
vivera o drama da exploração da borracha, tal como Euclides
da Cunha (1866-1909) descreveu dramaticamente no
episódio de ‘Judas Ahsverus’ (Cunha, 2009b), quer fosse o
engenheiro Souto, personagem do conto que deu título ao
conhecido livro de Alberto Rangel (1871-1945). Concebida
como a última página do Gênesis pelo autor de “Os sertões”
ou como “Inferno Verde”, a natureza, e no mais das vezes
a doença – sobretudo a malária –, igualava a todos os que
percorriam as terras amazônicas.
Nas duas primeiras décadas do século XX, as
viagens e correspondentes publicações de Euclides da
Cunha e Carlos Chagas (1879-1934) sobre a Amazônia
apresentaram, sob diferentes perspectivas, essa visão
sobre uma natureza enigmática, que deveria ser decifrada
pela ciência, e uma sociedade que perecia. Apresentaram,
ao mesmo tempo, crítica ao que consideravam visões
fantasiosas, originárias dos relatos de viagem dos naturalistas
dos séculos XVIII e XIX. Como alternativa, propunham
a análise da região sob a ótica dos novos conhecimentos
científicos, que incluíam domínios diversos – da geologia à
medicina tropical. A despeito das diferenças entre os textos
que elaboraram, os dois autores convergiam na proposta
do que consideravam uma compreensão científica sobre
as características e os problemas da região. Contudo,
tratava-se também de conhecimentos referidos a missões
e viagens, aspecto que tem sido mais valorizado pela
literatura que se dedica à história da Amazônia.
Trabalhos recentes vêm apontando a necessidade de
maior investigação sobre as instituições e práticas científicas
locais tanto na elaboração de ideias sobre a região como na
definição de políticas públicas (Sanjad, 2005; Schweickardt,
2009; Faulhaber e Toledo, 2001; Almeida e Dantes, 2001;
Figueirôa, 2001, 1997). É nessa perspectiva que se apresenta
este artigo. Sua proposta consiste em refletir sobre as
diferentes ideias que foram construídas pelo pensamento
médico-científico sobre a natureza e a sociedade no estado
do Amazonas, no período da Primeira República, em que
se verificou o auge e o declínio da borracha. Considera-se
que os médicos locais participaram ativamente dos debates
científicos próprios à medicina tropical e colocaram em prática
as principais teses sobre o combate e a profilaxia de endemias
como a malária e a febre amarela. Essas ideias e práticas
contribuíram para a definição de ações de saneamento da
cidade de Manaus e do interior do Amazonas.
Ao cotejarmos os textos de Euclides da Cunha e
de Carlos Chagas com aqueles elaborados por médicos
que atuaram na região – Wolferstan Thomas (1875-1931),
Alfredo da Matta (1870-1954) e Marcio Nery (1865-1910)
–, estivemos atentos à sua natureza diversa e às finalidades
igualmente distintas que orientaram sua elaboração. Nosso
propósito consistiu em compreender mudanças no modo
de observar a natureza e as populações locais, à medida
que, sobretudo os relatórios sobre a cidade de Manaus,
apontam para a possibilidade de maior intervenção humana
a partir da análise das condições sanitárias e da proposição
de medidas de saneamento. Essas, que já haviam sido
indicadas no relatório da expedição de Chagas, realizada
em 1913, ganham maior aprofundamento.
Nessa perspectiva, torna-se necessário breve
comentário sobre as fontes consultadas e a contribuição
que pretendemos trazer. Os escritos amazônicos de
Euclides da Cunha, ainda que não tenham sido amplamente
400
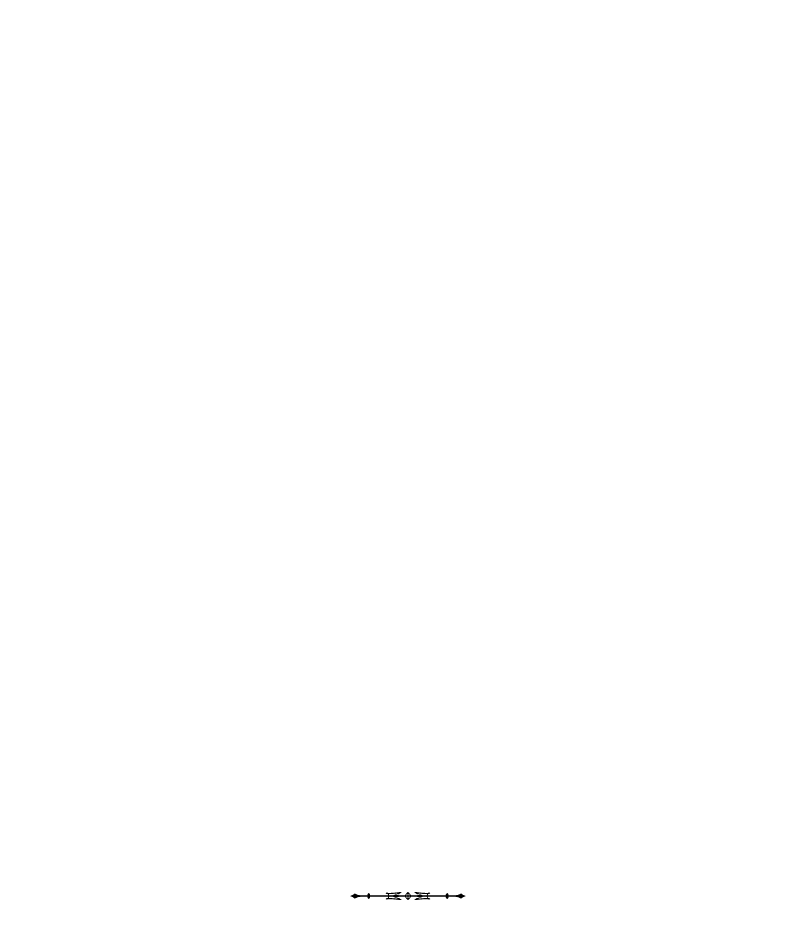
Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém, v. 5, n. 2, p. 399-415, maio-ago. 2010
difundidos, influenciaram textos científicos, históricos e
obras de ficção, e indicam o consórcio entre ciência e
arte nas imagens construídas sobre a Amazônia no início
do século XX. No que se refere ao relatório de Carlos
Chagas, a visão do cientista traz importante referência
para a análise da dimensão local nos estudos de medicina
tropical, além de ter constituído fonte obrigatória para
todos os que se voltaram para o saneamento da região.
Praticamente desconhecidos pelos estudos de história da
saúde na Amazônia, os relatórios dos médicos que se
fixaram na região e atuaram no saneamento de Manaus
permitem uma compreensão mais ampla e matizada
sobre a chamada belle époque. Sua análise indica também
aspectos importantes sobre o combate às doenças
tropicais, notadamente a malária e a febre amarela.
Com o objetivo de abordar este conjunto
de questões, trataremos, na primeira, segunda e
terceira seções, das imagens sobre a natureza e sobre
as populações amazônicas elaboradas a partir das
experiências de viagem de Euclides da Cunha e Carlos
Chagas. A quarta e a quinta seções do artigo são dedicadas
à abordagem do pensamento médico-científico sobre
o estado do Amazonas, com base nos trabalhos da
expedição da Liverpool School of Tropical Medicine, das
comissões de saneamento de Manaus e da trajetória e
obra do médico Alfredo da Matta.
A última página do gênesis:
transmudação da natureza, do homem
e da ciência nos textos amazônicos de
Euclides da Cunha
É natural. A terra ainda é misteriosa. O seu espaço é
como o espaço de Milton: esconde-se em si mesmo.
Anula-a a própria amplidão, a extinguir-se, decaindo
por todos os lados adscrita à fatalidade geométrica da
curvatura terrestre, ou iludindo as vistas curiosas com
o uniforme propósito de descortiná-la. Tem-se que a
reduzir, subdividindo-a, espreitando, e especializando,
ao mesmo passo, os campos das observações,
consoante a norma de W. Bates, seguida por Frederico
Hartt, e pelos atuais naturalistas do museu paraense
(Cunha, 2009a, p. 125).
Euclides da Cunha foi enviado à Amazônia após ser
designado chefe da Comissão Brasileira de Reconhecimento
do Alto Purus. Criada pelo Barão do Rio Branco, ministro
das Relações Exteriores, a missão tinha o objetivo de elucidar
dúvidas relativas às fronteiras entre Brasil e Peru. Mesmo
após a cessão do território do Acre pela Bolívia, assegurada
pelo Tratado de Petrópolis (1903), eram frequentes os
conflitos armados entre seringueiros brasileiros e extratores
de caucho peruanos nos vales dos rios Juruá e Purus.
O escritor partiu para a região em dezembro de 1904.
Após visitar Belém, seguiu para Manaus, cidade agitada,
descrita por ele como uma “Meca tumultuária”. Uma série
de obstáculos adiou o início das atividades da comissão, que,
após três meses, percorreu a calha do rio Purus de abril a
outubro de 1905, em meio a muitas dificuldades. Saindo na
época da vazante dos rios, seus integrantes tiveram que fazer
grande parte do percurso a pé, sem mantimentos suficientes
e enfrentando doenças como a malária.
Quando foi designado para chefiar a comissão, Euclides
estava sem emprego fixo, colaborando com os jornais “O
Estado de São Paulo” e “O País”, no Rio de Janeiro. Foi nessas
folhas que escreveu pela primeira vez sobre a Amazônia e
os problemas de fronteira entre Brasil e Peru. Referia-se,
sobretudo, à necessidade de os peruanos alcançarem o
Atlântico, o que motivara os conflitos diplomáticos. Em
“Contra os caucheiros”, publicado em 22 de maio de 1904 em
“O Estado de São Paulo”, afirmava ser equivocado o envio de
sucessivos batalhões do Exército brasileiro para o Alto Purus.
Para ele, os migrantes sertanejos seriam a força capaz de
garantir a integridade do território amazônico (Lima, 2009b).
No artigo “Entre o Madeira e o Javari”, publicado
uma semana depois, retomou o tema, agora sob um
prisma político. Defendeu um trabalho persistente do
governo brasileiro para a efetiva incorporação da região,
o que demandaria ampliar os meios de comunicação,
sobretudo o telégrafo – objetivo que seria alcançado três
anos mais tarde com a criação da Comissão de Linhas
Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas,
ou a célebre Comissão Rondon.
401

Do “inferno florido” à esperança do saneamento:...
Assim como escreveu sobre a guerra de Canudos antes
de ser enviado ao sertão, discorreu sobre a Amazônia sem
conhecê-la. Para formar seu juízo sobre a região, apoiou-se
em diversas leituras, como os textos de Alexandre Rodrigues
Ferreira, Alexander von Humboldt, William Chandless,
Tavares Bastos, Alfred Wallace, Charles Frederick Hartt e
Henry Bates. E, tal qual ocorreu com “Os Sertões”, os escritos
elaborados após a viagem ganharam em complexidade,
marcados pela ambivalência entre a defesa do progresso e a
denúncia de seus problemas e contradições (Santana, 2000;
Lima, 2009a; Hardman, 2001; Ventura, 1998).
Comparada à experiência na Bahia, a viagem à
Amazônia foi mais longa, mas não resultou em obra de
mesmo fôlego. Em correspondência a amigos, Euclides da
Cunha anunciou a intenção de escrever um segundo “livro-
vingador”, expressão utilizada por José Veríssimo ao se referir
a “Os Sertões” (Galvão e Galotti, 1997). A trágica morte do
escritor, em agosto de 1909, impediu a realização do projeto.
Influenciado pelo que qualificou como imaginosa
literatura dos viajantes, Euclides da Cunha, a princípio,
mostrou-se desapontado em seu primeiro contato direto
com o Amazonas. Imaginara um rio grandioso e o achara
pequeno, um verdadeiro diminutivo do mar, sem as ondas,
a profundidade e o mistério. Tal desencanto só seria revisto
após a visita ao Museu do Pará (atual Museu Emílio Goeldi)
e a leitura de uma monografia do botânico Jacques Huber,
que Euclides definiu como um “narrador sincero”.
As lentes e os filtros da ciência não o levaram apenas à
revisão de suas impressões e conceitos – influíram também
nos sentimentos do viajante. Ao contemplar a Amazônia de
perto, Euclides se declarou comovido e comparou a paisagem
desconhecida à da criação do mundo. Oscilando entre o
cientificismo e o romantismo, entre a pretensa descrição
objetiva e a comoção despertada pela natureza, Euclides
descreve a floresta como “um vasto e luxuoso salão”, onde
o homem seria um “intruso impertinente” (Cunha, 2009c).
O tema da transformação da natureza, tão presente em
“Os Sertões”, torna-se ainda mais acentuado na descrição dos
cenários amazônicos. Aparentemente monótonos, eles se
mostravam aos poucos instáveis e surpreendentes. A história
daquele “paraíso perdido” – título que Euclides imaginou para
o livro que não chegaria a escrever – era revolta como a do
rio, e a natureza, uma opulenta desordem, desafiadora tanto
a poetas como a cientistas.
Não é possível encontrar nos escritos amazônicos de
Euclides da Cunha a mesma tentativa de tipificar o sertanejo
de Canudos, ainda que neles se mencionem indígenas e
caboclos como “fazedores de desertos”, uma referência à
recorrente prática das queimadas. O autor também reforça
estereótipos sobre a preguiça dos caboclos, que, segundo
ele, passavam a vida bebendo, dançando e zombando.
Grande parte dos textos aborda as atividades extrativas
e o sistema de barracão responsável pelo endividamento
e pela ruína dos migrantes. Obrigados a comprar seus
alimentos, roupas e ferramentas de trabalho no armazém
(barracão) do seringalista, que debitava os custos nos salários
já miseráveis, os migrantes nordestinos contraíam dívidas
das quais dificilmente conseguiam se livrar. Em mais uma de
suas fortes imagens, Euclides observou que o seringueiro
realizava uma anomalia, pois trabalhava para escravizar-se.
Uma das descrições mais expressivas é a do ritual
de malhação do Judas, única atividade que rompia a rotina
solitária dos seringais. Em uma das cenas, um sertanejo
horroriza seus filhos ao ceder o próprio chapéu para o
espantalho a ser destruído no ritual. O nordestino estaria
se vingando de si mesmo e da ambição que o fizera migrar
para a Amazônia (Cunha, 2009b).
Embora se dedique a paisagens muito diferentes, tanto
em “Os Sertões” como nos escritos amazônicos, Euclides
denuncia o drama da civilização brasileira. Em ambos ressalta
o contraste – às vezes a oposição – entre a população do
litoral e aquelas dos sertões. Ao escritor, que se proclamou
um profeta Jeremias dos tempos modernos, cabia denunciar
a guerra cotidiana e silenciosa travada nos seringais.
Se o tema do isolamento do sertanejo é o que mais
sobressai em “Os Sertões”, no cenário amazônico destaca-
se o nomadismo; a mobilidade e o desenraizamento
que via na população amazônica e, ao mesmo tempo,
402
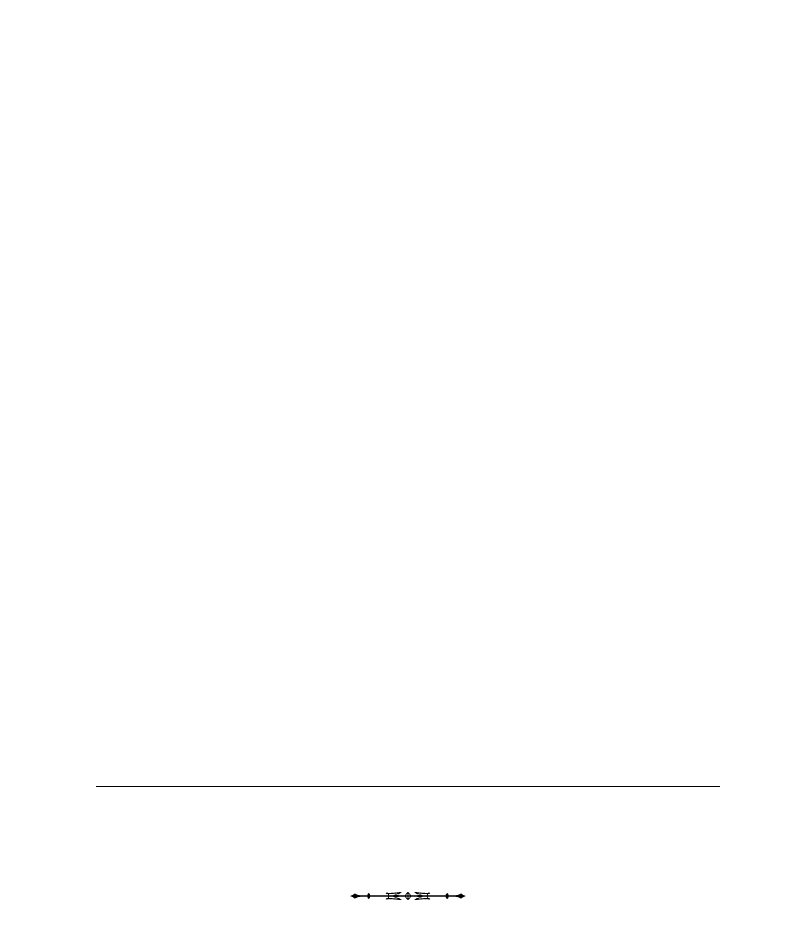
Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém, v. 5, n. 2, p. 399-415, maio-ago. 2010
a dificuldade para se observar e entender a natureza e a
sociedade daquela região. Em suas palavras:
A volubilidade do rio contagia o homem. No
Amazonas, em geral, sucede isto: o observador
errante que lhe percorre a bacia em busca de
variados aspectos, sente, ao cabo de centenares
de milhas, a impressão de circular num itinerário
fechado, onde se lhe deparam as mesmas praias
ou barreiras ou ilhas, e as mesmas florestas e igapós
estirando-se a perder de vista pelos horizontes
vazios; o observador imóvel que lhe estacione
às margens, sobressalta-se, intermitentemente,
diante de transfigurações inopinadas. Os cenários,
invariáveis no espaço, transmudam-se no tempo.
Diante do homem errante a natureza é estável; e aos
olhos do homem sedentário que planeie submetê-la
à estabilidade das culturas, aparece espantosamente
revolta e volúvel, surpreendendo-o, assaltando-o
por vezes, quase sempre afugentando-o e
espavorindo-o (Cunha, 2009b, p. 140).
Seria possível pensar nesta referência do autor também
para avaliar a perspectiva do cientista viajante, para quem
a transfiguração e a surpresa aparecem como elementos
recorrentes nos relatos que elaboram? Partimos dessa questão
para aproximar as representações sobre a Amazônia presentes
nos textos de Euclides da Cunha e do cientista Carlos Chagas.
E também para, nas duas últimas seções deste artigo, analisar
os registros de médicos que atuaram em Manaus e no interior
do estado do Amazonas, apresentando diversos elementos
que nos permitem compor um quadro mais abrangente e
complexo a respeito da belle époque amazônica.
Amazônia, belle époque e sociedade
O período conhecido como belle époque amazônica1 está
relacionado ao boom da economia da borracha entre a
última década do século XIX e a segunda do século XX.
Segundo Daou (2000, 1998), as sociedades amazonenses
e paraenses viveram a euforia da prosperidade econômica
proporcionada pela demanda da borracha para a indústria
automobilística, ocasionando profundas mudanças na vida
social e nas relações culturais. As cidades de Manaus e de
Belém foram beneficiadas por essa riqueza, promovendo
os sinais de progresso por meio dos serviços e do consumo
de bens da moda e da cultura, acompanhando os ventos
da ‘modernidade’ que sopravam sobre a capital federal.
Manaus chegou a ser chamada ‘Paris dos Trópicos’ por
reunir os sinais de ‘progresso’ e ‘civilização’.
Euclides da Cunha espantou-se com a transformação
de Manaus quando observou o movimento de navios:
“uma cidade de dez anos sobre uma tapera de dois séculos
transformou-se na metrópole de maior navegação fluvial
da América do Sul” (Cunha, 2003, p. 87)2. A navegação
foi fundamental para as mudanças ocorridas na região
amazônica, pois possibilitou a integração de uma região
relativamente isolada para se integrar ativamente na
economia internacional (Daou, 2000).
A paisagem urbana de Manaus mudou com obras
de embelezamento, tais como: pontes de ferro, bondes,
sistema elétrico, porto, mercados, prédios públicos e o
famoso Teatro Amazonas. Durante a administração de
Eduardo Ribeiro (1892-1896), viveu-se esta euforia por
novas instalações e mudanças significativas no traçado
urbano (Mesquita, 2009). Enquanto a ‘Paris dos Trópicos’
refletia as luzes da modernidade com suas obras e seus
objetos de consumo, o interior do estado mostrava uma
realidade bem diferente. A vida nos seringais estava regida
por condições insalubres e pela exploração do trabalho
do indígena e do migrante nordestino.
A estrutura econômica da borracha estava baseada
no sistema de aviamento, que consistia em um crédito
que se dava ao aviador, ao patrão e ao seringueiro,
formando uma cadeia composta por elementos que
1 Segundo Daou (2000), a ‘bela época’ é uma expressão que representou a euforia que a sociedade burguesa alcançara por meio
das conquistas materiais, ampliando as redes de comercialização em todo o mundo e incorporando as regiões isoladas do globo.
2 As observações de Euclides da Cunha estão amparadas nas leituras dos naturalistas como Henry Bates, Louis Agassiz, Alfred Wallace,
Johann Baptiste von Spix e Carl Friedrich von Martius, que passaram por Manaus e a descreveram como uma pequena cidade de pouca
vida urbana, o que contrastou com o que viu na sua viagem à região em 1904.
403

Do “inferno florido” à esperança do saneamento:...
iam desde as casas exportadoras até o seringueiro
embrenhado na floresta. Segundo Santos (1980, p. 172),
o sistema “praticado por toda a cadeia do ‘aviamento’ (...)
configurava uma espécie de espoliação hierarquizada,
mediante a qual até os pobres exploravam os mais
pobres”. Esse sistema conduzia a uma exploração do
trabalhador para conseguir o máximo de ‘juros extras’,
diminuindo até mesmo o consumo de alimentos do
seringueiro. Oswaldo Cruz, na sua viagem ao rio Madeira,
em 1910, revela os preços absurdos e a qualidade dos
produtos no seringal, descrevendo a figura do ‘soldador’,
que tinha como função abrir as latas de conserva para tirar
os gases que se formavam e depois soldá-las novamente
para serem vendida nos barracões.
A exploração do trabalho, a alimentação e as
condições ecológicas nos seringais contribuíam para uma
situação de saúde que beirava o mínimo de subsistência. A
comissão liderada por Carlos Chagas, em 1912-1913, para
avaliar as condições sanitárias nos seringais mostrou uma
população cronicamente doente, tendo a malária como
um ‘duende’ que consome aos poucos a vida das pessoas.
Eram poucos os seringais que possuíam um estoque de
medicamentos, sendo que o quinino também era colocado
no saldo devedor do trabalhador.
Uma boa imagem que mostra a ironia desta realidade
amazônica pode ser representada nas palavras de Euclides da
Cunha (2001), na “Apresentação” do livro de Alberto Rangel,
“Inferno Verde”, em que afirma ser o seringal um “inferno
florido que as matas opulentes engrinaldam e traiçoeiramente
os matizam das cores ilusórias da esperança”. O escritor
também questiona o próprio conceito de salubridade, que
era “capaz de garantir tantas existências submetidas a tão
imperfeito regime” (Rangel, 2001, p. 90).
A economia da borracha teve como consequências
o agravamento de doenças, gerando políticas públicas de
controle e combate de patologias. Assim, se a extração
da goma trouxe riqueza, teve como o seu contraponto a
pobreza e a exposição da população distribuída no imenso
interior e no subúrbio de Manaus a infecções e epidemias.
A incidência de doenças tropicais ampliou-se e ganhou
novas formas de manifestação pela própria dinâmica dos
seringais. Consequentemente, os trópicos ganharam uma
nova configuração a partir das doenças, assim como foi
transformada a relação do poder público com as populações.
Amazônia e a patologia dos trópicos: as
condições médico-sanitárias do vale do
Amazonas no relato de Carlos Chagas3
A crise da borracha foi a ‘crônica de uma morte anunciada’
para a belle époque amazônica, pois, a partir de 1913, a
produção dos seringais da Ásia ultrapassou o produto
nativo da região. Os comerciantes locais imaginavam que a
crise fosse temporária, pois acreditavam que nada poderia
superar o produto local. A questão sanitária era um dos
gargalos da cadeia produtiva porque envolvia condições
de vida e de saúde do seringueiro e das populações que
viviam nas vilas e cidades do interior. As doenças que
mais afetavam a saúde dos seringueiros eram malária,
beribéri, leishmaniose e difteria. Entre essas, a malária era
a responsável pela maioria da mortalidade e morbidade.
Foi nesse contexto que Oswaldo Cruz foi
convidado a propor um plano de saneamento para o
vale amazônico. Carlos Chagas foi o responsável pela
expedição à Amazônia4, seguindo as orientações políticas
da Superintendência de Defesa da Borracha. Os objetivos
da comissão consistiram em estudar a nosologia da região,
3 O relatório da expedição à Amazônia, em 1912-1913, foi assinado por Oswaldo Cruz, devido à posição deste como diretor do instituto
que poucos anos depois receberia seu nome, mas redigido por Carlos Chagas. Assim, vamos utilizar Chagas para comentar o relatório e
Cruz para fazer a referência formal. A expedição de Oswaldo Cruz à Amazônia, em 1910, também teve um relatório. Os dois documentos
foram reunidos em uma publicação em 1972 por Felipe Dau em Manaus. Utilizaremos essa referência como fonte para a sua análise.
4 A comissão foi chefiada por Carlos Chagas, acompanhado de João Pedroso e Pacheco Leão. A viagem foi realizada entre outubro de 1912
e abril de 1913 pelos rios Solimões, Taruacá, Purus, Acre, Iaco, Negro e Branco. Sobre a expedição de Carlos Chagas e os relatórios,
ver Schweickardt e Lima (2007).
404

Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém, v. 5, n. 2, p. 399-415, maio-ago. 2010
avaliar as condições de saúde dos seringueiros e esboçar
um plano de saneamento do vale.
A Superintendência de Defesa da Borracha projetou
a construção de alguns hospitais em pontos estratégicos do
estado do Amazonas. A comissão de Carlos Chagas tinha
como uma das tarefas indicar as localidades adequadas para a
instalação desses hospitais. O objetivo principal era identificar
e estudar, através das ‘técnicas modernas’ da ciência, as
principais doenças que dificultavam a exploração da borracha.
Os cientistas entendiam que a “solução segura da questão da
borracha” dependia “primacialmente do problema sanitário”
(Cruz, 1972, p. 47). Por isso, além de propor uma estrutura
de assistência, a comissão entendia que deveria haver também
uma mudança nas condições de trabalho, que se mostravam
subumanas, beirando a escravidão.
A malária ganhou mais destaque nas pesquisas e
análises da comissão pelo caráter endêmico na região e pelas
consequências para a vida social e econômica das pessoas.
Oswaldo Cruz, em 1910, em viagem à obra da Estrada de
Ferro Madeira-Mamoré, observou que o que tornava “essas
paragens verdadeiramente inóspitas é o impaludismo, e só
ele é responsável pelas vidas e pelo descrédito crescente que
infelicita esta região” (Cruz, 1972, p. 32). Na localidade de
Coari, no rio Solimões, por exemplo, a comissão de Chagas
examinou de 80 a 100 crianças, e todas apresentavam
“considerável esplenomegalia e mostravam-se definhadas,
a maioria delas em franca caquexia palustre” (Cruz, 1972,
p. 57). No município de São Felipe (atual Eirunepé), no
rio Juruá, os cientistas encontraram o maior índice de
letalidade por malária de todos os rios visitados. Eles também
suspeitavam de uma quarta espécie de protozoário, além das
três conhecidas (quartã, terçã benigna e tropical). A região
amazônica representava um ótimo campo de observação
para o avanço nas pesquisas da malária, pois apresentava as
condições ‘ideais’ para a produção e reprodução da doença.
Em termos científicos e epidemiológicos, Carlos
Chagas concluía que a Amazônia poderia trazer novas
questões para a ciência, pois as patologias se apresentavam
de modo ‘anarquizado’. Fatos mórbidos, que eram familiares
na observação do sul, tinham manifestações modificadas
em sua sintomatologia, apresentando nova síndrome ou
disfarçadas sob modalidades clínicas desconhecidas:
Doenças bem estudadas, conhecidas em sua razão
etiológica, em seus processos patogênicos e na
inteireza de sua fisionomia clínica, mostravam-
se modificadas, ou seja, pela gravidade extrema
de seus elementos, que não lhe sabíamos
atribuíveis. E, de tal modo assim foi, que se
poderia quase admitir ali uma exceção a essa
lei de patologia geral, de fixidez das entidades
mórbidas, pela qual cumpre sempre orientar o
critério médico na interpretação dos casos clínicos
obscuros. É que na Amazônia, a patologia dos
trópicos se apresenta com suas características
verdadeiras, não raro modificadas nas condições
climáticas mais temperadas das zonas intertropicais
(Cruz, 1972, p. 160).
O relatório de Chagas apontava para as dificuldades
estruturais e logísticas para o tratamento da malária na
região amazônica:
1) grande difusão dos habitantes em regiões
vastíssimas com meios de comunicação muito
demorados e custosos; 2) seringais esparsos nas
margens dos rios, às vezes a grandes distâncias uns
dos outros; 3) habitações dos seringueiros no interior
das matas, quase sempre a grandes distâncias dos
barracões, onde geralmente só vem de 15 em 15 dias
ou de mês em mês; 4) impossibilidade absoluta de
navegação de certos rios durante a vazante, quando
só podem ser percorridos por pequenas canoas; 5)
situação dos maiores centros de produção de
borracha a imensas distâncias dos centros populosos
(Cruz, 1972, p. 69-70).
A profilaxia possível nessas condições, segundo
Carlos Chagas, seria a distribuição de quinina em larga
escala por meio de uma política pública de distribuição
gratuita ou de baixo custo entre os seringais e vilas do
interior. O impaludismo se manifestava na forma crônica,
não exigindo, portanto, uma hospitalização, mas um
tratamento continuado. Esse argumento reforçava a ideia
de instalar pequenos postos de atendimento.
Somado às péssimas condições de trabalho, ou
em consequência delas, o índice de impaludismo era
405

Do “inferno florido” à esperança do saneamento:...
elevadíssimo. Para algumas endemias do Acre, havia o
agravante da ausência absoluta de assistência médica.
Sem o atendimento médico, os indígenas e caboclos
recorriam aos tratamentos populares e outros difundidos
pelos patrões e regatões. A comissão observava que, em
algumas localidades, devido às péssimas condições de vida
e de saúde, se iniciava o processo de despovoamento e a
ruína das instalações (Cruz, 1972, p. 114).
Os relatórios de Carlos Chagas e de Oswaldo Cruz
(1972) reafirmam a confiança dos cientistas na profilaxia das
patologias que afligiam o ser humano que se aventurava
no vale amazônico, mostrando que a malária, o beribéri,
a leishmaniose e a ancilostomíase poderiam ser vencidos.
Oswaldo Cruz afirmava que o combate à malária era
apenas uma questão de tenacidade científica e resolução
política (Cruz, 1972, p. 51). Segundo o cientista do Instituto
de Manguinhos, as questões técnicas da profilaxia estavam à
disposição, bastava vontade política para que o saneamento
da Amazônia se realizasse.
No rio Negro, a comissão chefiada por Carlos
Chagas encontrou indígenas trabalhando nos seringais. Nos
outros lugares visitados, os trabalhadores eram migrantes
que chegaram com o objetivo de trabalhar na extração
da seringa. Na descrição das condições do rio Negro, os
cientistas deixaram a neutralidade de lado para caracterizar
o trabalhador e habitante.
Os trabalhadores de seringais neste barracão
(Providência) são quase todos índios, de diversas
tribos. Apresentam-se aqui, como em todo o Rio
Negro, numa condição física e moral das mais
precárias, sendo os homens de estatura pequena,
de constituição pouco robusta e aspecto geral
pouco simpático. As mulheres são extremamente
feias, muito precocemente envelhecidas, ou
melhor, trazendo desde a mocidade estigmas da
velhice (Cruz, 1972, p. 106).
As relações de trabalho nesse rio foram consideradas
as mais duras, piores do que em qualquer outro seringal,
e a relação entre o patrão e o seringueiro foi descrita
como de escravidão: “É incontestavelmente no Rio Negro
que se encontra a condição mais primitiva e a condição
mais precária de vida humana” (Cruz, 1972, p. 107). Para
ilustrar isso, Carlos Chagas observa que o pagamento do
trabalho era feito com comida, roupas e álcool, inexistindo
remuneração em dinheiro. O cientista, ao mesmo tempo
em que aborda a escravidão, faz juízo sobre a indolência
do indígena em relação ao trabalho: “Predomina em
ambos os sexos a mais extrema indolência”; “em pleno
dia de trabalho, na época propícia ao fabrico, a Comissão
teve oportunidade de apreciar a indolência do índio,
inteiramente despreocupado no fundo de uma rede,
dormitando horas continuadas, sem qualquer objetivo de
trabalho” (Cruz, 1972, p. 107). Apesar desse juízo sobre o
modo do indígena se relacionar com o trabalho, a denúncia
das condições de vida e saúde dos trabalhadores nos
seringais é um elemento destacado no relatório.
Os relatórios de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas
se transformaram em importante referência para a saúde
pública e o saneamento na Amazônia. Os relatórios trazem
ideias sobre a ciência da época, mas também deixaram
um importante marco para as ações de saúde pública.
Os cientistas de Manguinhos procuravam por novidades
científicas e encontraram uma população cronicamente
doente. A natureza foi observada sob o olhar da ciência,
mas principalmente como um lugar que poderia explicar
o desenvolvimento de determinadas patologias em um
meio tão peculiar como a Amazônia. Enfim, os relatórios
mostram uma região sob a ótica da doença, mas também
indicam a possibilidade de mudança orientada pela ciência.
Guerra aos mosquitos: a esperança
de erradicação da malária e da
febre amarela
A demonstração do papel do mosquito na transmissão da
malária e da febre amarela representou uma importante
contribuição no combate e no controle dessas doenças.
As medidas de profilaxia passaram a priorizar a erradicação
das espécies responsáveis: o Anopheles, responsável pela
malária; e o Stegomyia, posteriormente denominado de
406
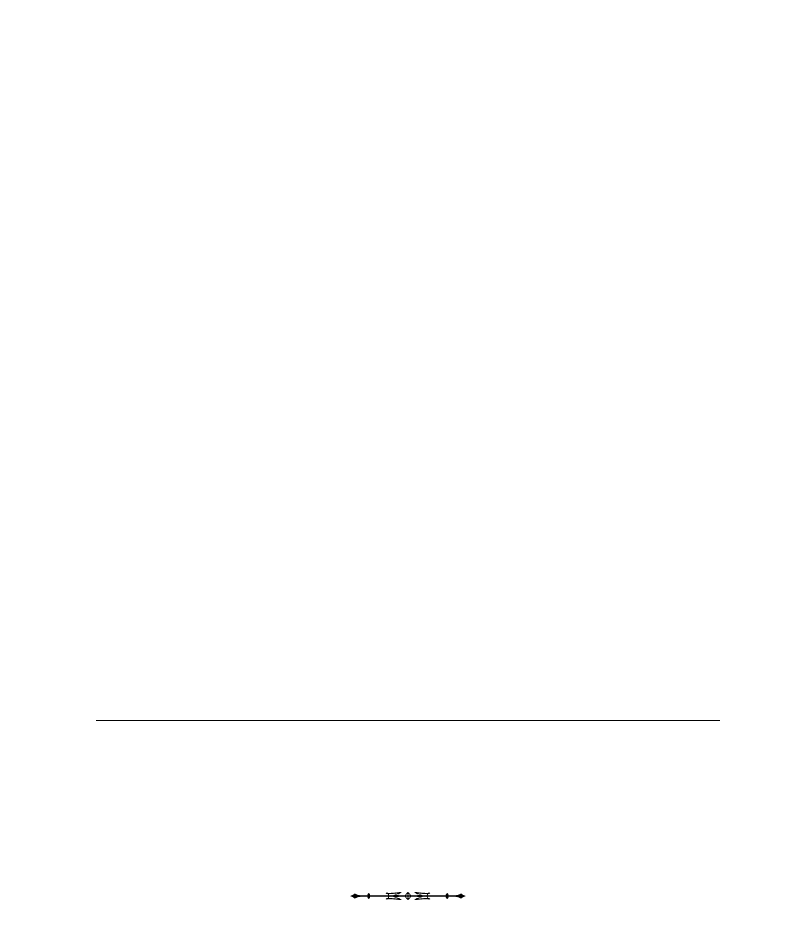
Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém, v. 5, n. 2, p. 399-415, maio-ago. 2010
Aedes aegypti, responsável pela febre amarela. As estratégias
de erradicação dessas duas espécies foram diferentes, mas
seguiam a mesma lógica de combate ao vetor.
O modelo para uma ‘política vertical’, que visava
o combate ao vetor, consistia em atacar o estágio larval
aquático do mosquito e, ao mesmo tempo, agir sobre a
fase alada. O modelo previa a criação de brigadas contra
os mosquitos, como indica o título do livro de Ronald
Ross, “Mosquito Brigades”, que defendia a proposta de
campanhas para a erradicação do mosquito (Worboys,
1997, p. 524; Anderson, 2006). As medidas de defesa
individual também foram propagadas, como o uso de
mosquiteiros, de telas nas casas e o uso de quinina para
o tratamento da doença. Os programas ‘horizontais’,
que consistiam em drenagem, distribuição de água,
pavimentação de ruas, limpeza de rios e esgotos, deveriam
ser complementares ao modelo vertical.
As medidas de combate à malária não foram unânimes
nas escolas de medicina tropical. Os britânicos e americanos
tendiam a ver a doença como um problema associado à
presença do mosquito; os alemães e franceses concentravam-
se no ataque ao parasito por meio do uso de quinina
(Worboys, 1997, p. 525). Humphreys (2001, p. 73) coloca
uma terceira forma de controle da malária, utilizada nas
colônias europeias na África, que consistia na segregação dos
moradores brancos, construindo suas casas em locais distantes
das casas dos nativos. No Brasil, as medidas foram mais
heterodoxas, havendo tanto combate ao mosquito e às larvas
como o combate do parasito por meio de medicamentos.
As campanhas de saúde pública trouxeram a
esperança de erradicação das principais endemias, como
a eliminação da febre amarela no sul dos Estados Unidos;
o controle da malária e a erradicação da febre amarela em
Havana5; os trabalhos de William Gorgas na construção
do canal do Panamá (Franco, 1976, p. 69). Do mesmo
modo, a campanha de Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro
se tornou modelo para as ações de saúde pública e de
erradicação de doenças. A malária não foi erradicada
destes locais, mas foi relativamente controlada para
níveis toleráveis ao trabalho em obras como o do canal
do Panamá, ou em obras de ferrovias e de infraestrutura
no Brasil (Schweickardt, 2009).
Em 1905, a Liverpool School of Tropical Medicine
realizou a sua segunda expedição à Amazônia6. A 15ª
expedição da escola se deslocou para Manaus e teve
como pesquisador responsável Wolferstan Thomas7. O
relatório desta expedição corresponde ao período de
1905 a 1909, o qual traz importantes informações sobre
as características físicas da cidade, as condições sanitárias,
as doenças e os costumes da população, que tinham
interesse sanitário (Thomas, 1909)8.
As pessoas que mais sofriam com a malária, segundo
Wolferstan Thomas, eram os pobres dos subúrbios de
Manaus, os trabalhadores dos seringais e os trabalhadores
de obras como a Madeira-Mamoré, cujas condições de
vida os colocavam como hospedeiros ideais da doença.
As moradias da população pobre e a abundância de lagos
naturais e artificiais criavam os focos para a reprodução
dos mosquitos, tornando a malária uma enfermidade
endêmica na região. No entanto, o cientista relata que havia
lugares livres da doença, aqueles destinados à moradia dos
comerciantes estrangeiros (Thomas, 1909, p. 35).
5 O major-médico William Gorgas iniciou a campanha contra o mosquito em Havana em 4 de fevereiro de 1901 e, em outubro, já não
havia mais casos registrados (Franco, 1976, p. 62).
6 A primeira expedição à Amazônia se dirigiu a Belém e foi denominada de Yellow Fever Expedition of Liverpool School of Tropical
Medicine, sendo composta por Herbert Durham e Walter Myers.
7 Depois que a comissão se retirou em 1909, Wolferstan Thomas retornou a Manaus e ficou responsável pelo laboratório da Liverpool
School na cidade, passando a colaborar com o Serviço Sanitário do Amazonas até a sua morte, em 1931.
8 Cópia do relatório está na Coleção Fundação Rockefeller, na Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. Como não possuímos a publicação do
relatório, utilizaremos como referência o nome do autor e o ano final da expedição: Thomas (1909). No livro da Liverpool School of
Tropical Medicine (1920), a referência do relatório é a seguinte: H. Wolferstan Thomas. The sanitary conditions on diseases prevailling
in Manaos, North Brazil, 1905-1909, with plan of Manaos and chart. Ann. Trop. Med. & Parasit., 4, 1910, p. 1-55.
407
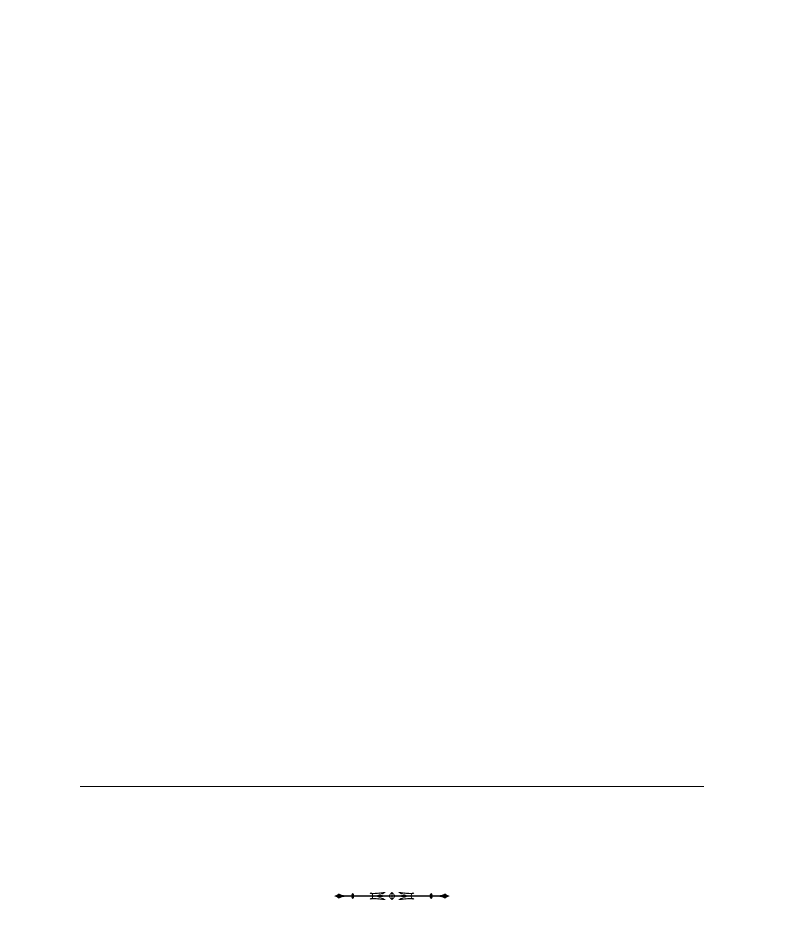
Do “inferno florido” à esperança do saneamento:...
A comissão inglesa fez uma intensa pesquisa sobre
mosquitos, tanto para a identificação das espécies como
para localizar os principais focos relevantes para a saúde
pública9. Thomas escreve que em 98% das residências e
dos estabelecimentos comerciais havia focos de água onde
as fêmeas da Stegomyia calopus depositavam os seus ovos
(Thomas, 1909, p. 18). Isto se agravava ainda mais porque as
pessoas tinham a prática de estocar água em barris e cisternas.
A febre amarela era a mais séria doença para os
estrangeiros que chegavam a Manaus para trabalhar nas
obras ou para comercializar a borracha. A Stegomyia
calopus chamava a atenção dos cientistas por ter hábitos
domésticos e a sua fêmea voava distâncias curtas. As
condições climáticas da cidade, além da grande quantidade
de água disponível, eram ideais para a reprodução do
mosquito. Por isso, a febre amarela poderia ocorrer
em qualquer período do ano, diminuindo nos meses de
junho e agosto. A principal fonte de infecção da fêmea de
Stegomyia era os trabalhadores estrangeiros e as crianças
nativas (Thomas, 1909, p. 42).
Os quadros estatísticos do período mostram que a
febre amarela atingia prioritariamente os estrangeiros. No
entanto, a comissão inglesa observou casos da doença em
nativos e indígenas do Acre e do rio Purus, assim como em
crianças e adultos vindos do sul do país (Thomas, 1909,
p. 47). Segundo os cientistas, o diagnóstico da febre amarela
em crianças era difícil de ser feito, pois os sintomas eram
de manifestação diferente e não chamavam a atenção das
mães: irritabilidade, choro, vômito moderado associado
com febre leve. Esses sintomas eram característicos
nos primeiros meses de idade, sendo quase sempre
diagnosticados como distúrbio gástrico. A febre amarela não
era observada porque a criança recuperava-se em poucos
dias. O único sintoma que deixava os pais preocupados
era o “vômito preto” por ser automaticamente associado
à febre amarela (Thomas, 1909, p. 48).
Wolferstan Thomas defendia a tese de que Manaus
poderia ficar livre da febre amarela desde que o número
de Stegomyia chegasse a uma proporção mínima, designado
por Gorgas10 como “the mosquito point”. As medidas
antimosquitos, como as praticadas em Havana e no
Panamá, seriam suficientes para eliminar a febre amarela na
cidade. O cientista confiava no trabalho do Serviço Sanitário
do estado, dirigido pelo colega Alfredo da Matta. O cientista
da Livepool School fez uma duradoura parceria com o
médico brasileiro, colaborando tanto com as pesquisas do
seu laboratório como no tratamento clínico dos atingidos
pela febre amarela. Wolferstan Thomas afirmava que a
profilaxia realizada pelos médicos no Amazonas seguia
os mesmos critérios utilizados nas campanhas do Rio de
Janeiro, de Havana, do Panamá e de Nova Orleans. Em
outras palavras, o trabalho realizado pelos médicos locais
não se diferenciava qualitativamente do executado em
outras regiões do globo, mas sofria de continuidade pela
falta de recursos financeiros e humanos.
Os médicos e o saneamento de Manaus
A história da saúde pública no estado do Amazonas
na última década do século XIX e nas duas primeiras
décadas do século XX está significativamente relacionada
às transformações na cidade de Manaus e às suas
características geográficas e topográficas. O saneamento da
capital amazonense teve duas ações principais: o controle
e o combate da malária e a erradicação da febre amarela.
Essas duas doenças afetavam a cidade de modo diferente:
a malária estava presente nos subúrbios e arredores da
cidade; e a febre amarela se apresentava no centro da
cidade, atingindo principalmente os estrangeiros.
9 Thomas e Robert Newstead publicaram um trabalho sobre mosquitos em 1910, chamado “The mosquitoes of the Amazon Region”
(Benchimol e Sá, 2006, p. 55).
10 Wolferstan Thomas referencia no relatório o trabalho de Gorgas, “Method of the spread of yellow fever”, publicado no “Proceeding
of Canal Zone Medical Association” em 1908. Gorgas defendia que havia um índice mínimo de mosquitos, “mosquito point”, o que
determinava o nível de infecção em um determinado ambiente.
408
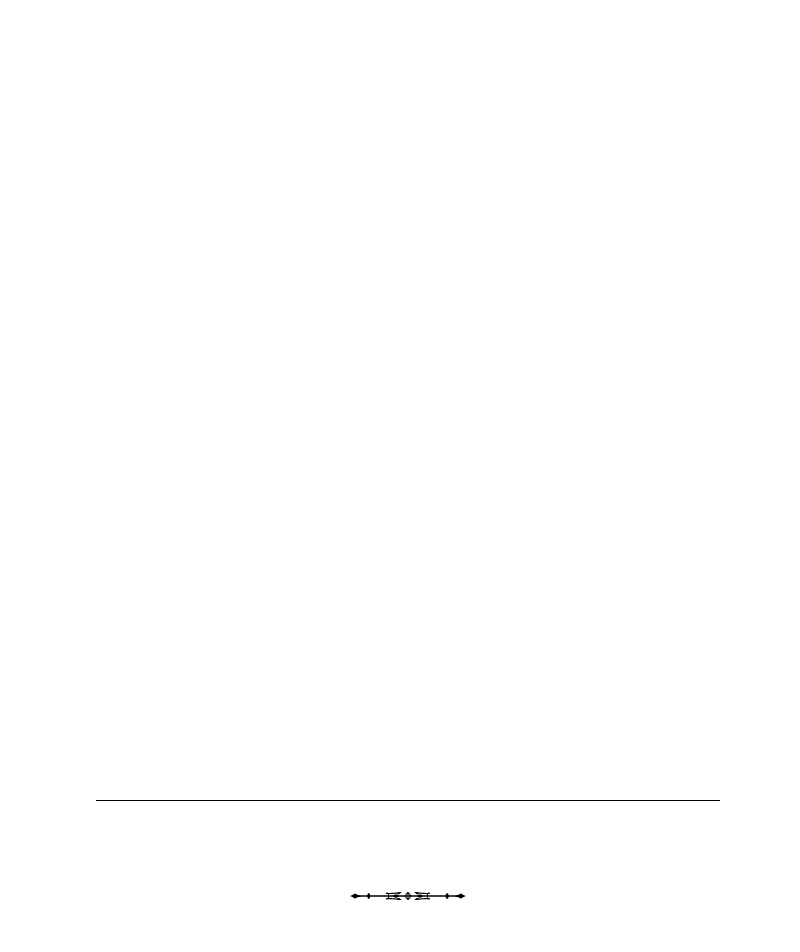
Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém, v. 5, n. 2, p. 399-415, maio-ago. 2010
As duas doenças tropicais são importantes na
análise da história das ciências e da saúde pública, pois
representavam duas endemias importantes na nosologia
local e também porque essas patologias eram centrais
na agenda de pesquisa das recém-fundadas escolas de
medicina tropical europeias. A inserção dos médicos do
Amazonas no estudo e na profilaxia dessas doenças é
relevante para o entendimento da dinâmica da ciência
na relação centro-periferia. Além disso, as duas doenças
representavam problemas sanitários significativos para os
projetos políticos e econômicos da Amazônia.
O governo do Amazonas realizou investimentos
principalmente no combate à febre amarela: primeiro porque
havia uma possibilidade real de eliminar a doença a partir de
experiências bem sucedidas em Havana e no Rio de Janeiro;
e segundo porque ela afetava os interesses econômicos
do estado. No que concerne à malária, enfrentavam-se
problemas maiores para a eliminação da doença devido às
dificuldades logísticas de combate ao vetor, que se mantinha
em áreas mais abertas e com grande quantidade de água.
Manaus abrigou quatro comissões de saneamento
que tinham como objetivo a profilaxia de doenças tropicais:
a primeira, entre 1897 a 1899, chefiada pelo engenheiro
Samuel Gomes Pereira e pelo médico-chefe da Diretoria de
Higiene, Henrique Álvares Pereira; a segunda foi a Comissão
de Saneamento de Manaus, chefiada pelo médico Márcio
Nery, entre 1904 a 1906; a terceira priorizou a profilaxia
específica e sistemática da malária e da febre amarela, entre
1907 a 1913, chefiada pelos médicos Alfredo da Matta e
Miranda Leão; a quarta foi a Comissão Federal de Profilaxia
da Febre Amarela, no segundo semestre de 1913, chefiada
pelo médico Theóphilo Torres. As comissões representam
um importante objeto de análise das práticas científicas e sua
relação com as políticas públicas. O presente artigo aborda
determinados aspectos dos trabalhos de algumas comissões11.
A ‘teoria do mosquito’ foi anunciada juntamente com
propostas de saneamento do Amazonas. A notícia foi divulgada
por Alfredo da Matta em relatório de 1902 (referente a 1901).
No primeiro semestre de 1902, Alfredo da Matta considerou a
malária como o “morbo integrante à vasta região amazônica”.
Segundo o médico, o poder público (municipal e estadual)
era, em parte, responsável pelo crescimento da doença em
função da grande quantidade de obras, que criavam “pântanos
artificiais” produzidos pelos aterros e pelo deslocamento de
terras. Por isso, “nas zonas palustres os serviços no solo devem
ser feitos com todo critério higiênico” (Matta, 1902, p. 6).
A malária, em 1900, provocou um número absurdo
de 1.512 mortes, em um total de 2.519 óbitos12, caindo
para 614 em 1901. A justificativa para esta diminuição dos
casos de malária era, segundo o governador Silvério Nery,
o menor “movimento de terras, que tanto concorreu para
as poussées de febres” (Nery, 1903, p. 21). O governador
confiava nas “modernas” técnicas de diagnóstico como uma
arma para afastar a “injusta fama” do estado como um dos
mais insalubres do país.
Nas estatísticas desse período, a malária sempre
se destacava como a primeira entre todas as doenças. O
médico Alfredo da Matta declarava que a malária era a
“moléstia proteu desta zona, o impaludismo representa o
maior inimigo que o homem tem a enfrentar e a combater”
(Matta, 1904, p. 4). Os médicos locais preocupavam-se
principalmente com os focos crônicos da doença, pois eles
contribuíam tanto para a manutenção da doença na região
como para a diminuição da capacidade física das pessoas.
Os prejuízos decorrentes da malária eram também de
natureza social e econômica, pois, segundo Alfredo da Matta,
ela “entibia ou nulifica” a força dos organismos “por muito
tempo, às vezes para sempre, ou que, semelhante a faísca
elétrica, vem abrir brecha em muitos organismos dando
atividade a predisposições ou simpatias, que bem poderiam
11 A respeito da descrição e análise das comissões de saneamento aplicadas em Manaus e no estado do Amazonas, ver Schweickardt (2009).
12 Alfredo da Matta afirmou que o grande número de mortos de 1900 a 1902 também era explicado pelo conflito entre os seringueiros
do alto Purus (Acre) e a Bolívia, assim como pela chegada de muitos doentes do interior. Isto alterava as estatísticas de saúde da capital
(Matta, 1903).
409
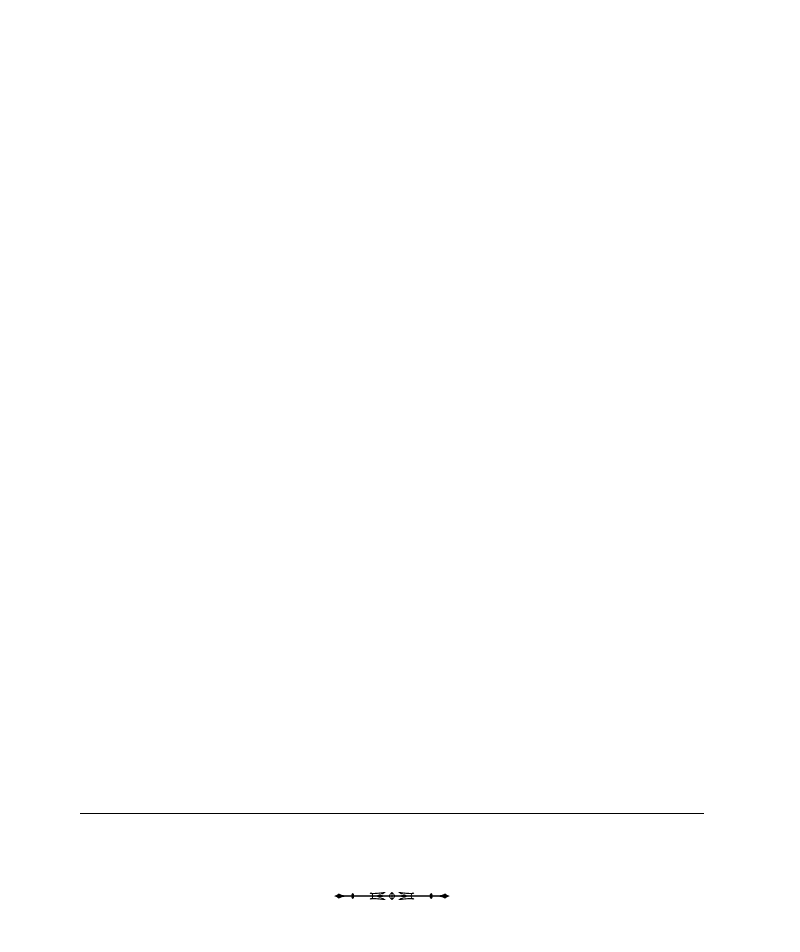
Do “inferno florido” à esperança do saneamento:...
continuar latentes” (Matta, 1909, p. 13). A doença, associada
às condições de alimentação e trabalho, ao uso de álcool,
“às intempéries” e à falta de atendimento médico, contribuía
para que a situação no interior fosse agravada.
A ‘teoria do mosquito’ ganhou corpo sob o ponto
de vista das características da cidade de Manaus: rodeada
por água e com o fenômeno de cheias do rio Negro, que
represa os igarapés. Segundo Alfredo da Matta, não era
somente a água parada que contribuía para o aumento
dos mosquitos, mas também havia “a influência do calor
e da umidade para o desenvolvimento do paludismo (...)”
(Matta, 1904, p. 9). Assim, o Serviço Sanitário passou a dar
combate aos insetos “obedecendo a normas e preceitos
modernos a fim de que diminuamos as condições de
vitalidade e a proliferação de tão perigosos bichinhos”
(Matta, 1904, p. 11). Havia um apelo para que a população
também colaborasse com o Serviço Sanitário, não
deixando “água estagnada nos quintais; providenciar que de
dois em dois dias seja mudada a água dos jarros, vasos de
flores etc.; cobrindo com tela de arame, malha um mm, os
tanques d’água e as caixas de descarga dos Water-closets”
(Matta, 1904, p. 12).
Alfredo da Matta apresentou no 6º Congresso
Brasileiro de Medicina e Cirurgia, em 1907, um estudo
intitulado “Paludismo, varíola e tuberculose em Manaus”.
O texto faz uma exposição sobre a topografia da cidade
de Manaus, principalmente no que se refere à quantidade
de água que cercava a cidade. No entanto, essa paisagem
estava se modificando pelas obras que as sucessivas
administrações realizavam, principalmente em relação aos
aterros dos igarapés, que criavam áreas alagadas em pleno
centro urbano (Matta, 1909, p. 16). As obras receberam
severas críticas dos sanitaristas, pois criavam dificuldades
para o combate de doenças transmitidas por vetores,
sendo que o sucesso das campanhas sanitárias dependia
da solução de problemas de infraestrutura da cidade.
As obras, segundo da Matta, criaram focos de
mosquitos porque não havia um acompanhamento da
engenharia sanitária, que poderia ter evitado os danos à
saúde da população. Assim, “um caudaloso igarapé foi
transformado em imenso viveiro de mosquitos, no qual
encontram estes dípteros soberanas condições de um ótimo
habitat” (Matta, 1909, p. 10). Os relatórios não mencionavam
o acompanhamento médico nos canteiros de obras para a
realização de uma profilaxia preventiva dos trabalhadores,
porém informavam que se recorria aos hospitais para
o tratamento de doenças. A cidade vivia, portanto, a
contradição de ser uma metrópole com todos os seus
benefícios; mas, ao mesmo tempo, estava produzindo suas
próprias doenças, ou melhor, estava criando as melhores
condições para que isto acontecesse.
As características do clima e da geografia já eram, em
si, suficientes para a criação das condições necessárias à
reprodução dos mosquitos. Os meses de maior incidência
de malária eram de junho a setembro, pois coincidiam
com o período final das chuvas, a diminuição do nível dos
igarapés e rios, o aumento progressivo da temperatura
e uma diminuição em torno de 20% da umidade. “Tudo
isto condiciona a maior evaporação das águas, formando-
se, em consequência, coleções de água descontínua e
estagnada, nos baixios e várzeas do grande dedado, com
a possibilidade de multiplicação das várias espécies de
anofelinas” (Batista, 1946, p. 37).
As campanhas sistemáticas contra a malária da Diretoria
do Serviço Sanitário estavam direcionadas ao combate ao
mosquito. Segundo Alfredo da Matta, não havia mais dúvida
de que os anofelinos eram os responsáveis pela transmissão
de “certos agentes patógenos”. O quadro de óbitos por
malária era significativo na capital, na população pobre que
vivia no subúrbio e próximo aos igarapés da cidade (Matta,
1909, p. 18)13. O combate ao vetor passou a fazer parte da
política pública de saúde, sendo sistematizada a partir de 1907.
13 O recenseamento de 1900 dava para o perímetro urbano de Manaus uma população de 30.757 habitantes e para o suburbano,
21.283, totalizando 52.040. Em 1905, Alfredo da Matta calculava que havia 50.395 habitantes, sendo 3.268 estrangeiros (Matta,
1909, p. 9).
410
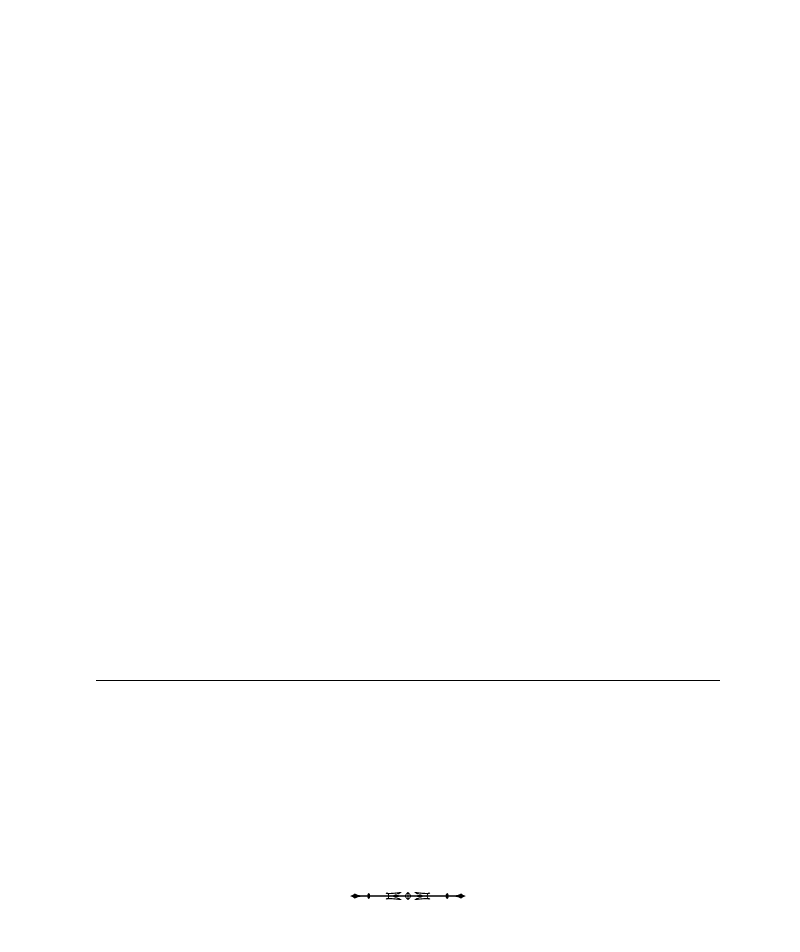
Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém, v. 5, n. 2, p. 399-415, maio-ago. 2010
O tratamento da malária era realizado somente na
cidade de Manaus, nos hospitais Santa Casa de Misericórdia14,
Beneficência Portuguesa15 e Militar. As pessoas que adoeciam
no interior estavam sujeitas a condições precárias de
tratamento, tendo que viajar a Manaus quando a doença
chegava aos níveis mais críticos. Os migrantes do nordeste
que se deslocavam para o interior, com “a imaginação
prenhe de sonhos dourados, muitas vezes fugazes, que pela
extração da goma elástica, prenunciam a esperança de uma
breve e libertadora fortuna”, voltavam à capital do estado em
busca de tratamento e “com a face característica dos grandes
sofrimentos palustres” (Matta, 1909, p. 19). Manaus também
sofria com a malária, pois, segundo o médico Djalma Batista,
“a capital do Amazonas é um misto de metrópole e zona
rural”, sendo que o que acontecia ali, “no que diz respeito
à saúde pública, é portanto a miniatura do que vai pela
hinterlândia bárbara e quase deserta” (Batista, 1946, p. 10).
O governador Constantino Nery16, em 1904, criou
a Comissão de Saneamento de Manaus para estudar
e elaborar projetos que diminuíssem os impactos das
endemias na vida da população e, consequentemente,
no que se referia à imagem da ‘Paris dos Trópicos’. O
governador nomeou o seu irmão Márcio Nery17 para
chefiar a referida comissão. O governador definiu que os
objetivos da comissão seriam os seguintes:
(...) estudar as condições mesológicas da
cidade e sua patologia, as questões relativas ao
abastecimento de água e a construção de uma
perfeita rede de esgotos, o saneamento do solo,
a abertura e aformoseamento das ruas, praças
etc., construção de habitações coletivas públicas e
particulares, hospitais, escolas, fábricas, cemitérios
e finalmente todas as questões referentes à
alimentação pública (Nery, 1905, p. 19).
A situação dos cortiços também foi objeto de
preocupação e de controle por parte dos higienistas e da
polícia sanitária. Os cortiços eram comuns em uma cidade
que recebia uma grande quantidade de migrantes nordestinos
para trabalhar nos seringais, assim como aqueles que faziam o
caminho de volta: do interior para a capital. O médico Márcio
Nery afirmou que quase um terço da população pobre da
cidade se aglomerava, até mesmo nos bairros centrais, em
“choupanas cobertas de zinco e concorrem parelhas com
as imundas estalagens em que se aglomeram esses pobres
trabalhadores que lutam o dia inteiro em extenuante labor”
(Nery, 1906). Wolferstan Thomas, no mesmo período,
chamava a atenção que as classes trabalhadoras, constituídas
por portugueses e italianos, viviam frequentemente nas piores
habitações, preferindo morar próximo ao lugar de trabalho.
Os nativos que viviam nos subúrbios da cidade, em suas
casas de palha, estavam em melhores condições do que os
trabalhadores que moravam no centro (Thomas, 1909, p. 16).
Logo em seguida à Comissão de Saneamento,
a proposta do Serviço Sanitário foi criar uma comissão
permanente que tivesse como objetivo o combate das
duas doenças de maior impacto na cidade de Manaus,
ou seja, a febre amarela, que atingia os estrangeiros, e a
malária, que era o terror dos habitantes do subúrbio e das
margens dos igarapés. Desse modo, a “Profilaxia Específica”18
14 Wolferstan Thomas informou que o hospital tinha 160 camas, mas as suas acomodações eram inadequadas, principalmente quando
havia muitos pacientes chegando do interior. Os trabalhos da expedição da Liverpool School foram realizados neste hospital (Thomas,
1909, p. 11).
15 Os pacientes do Hospital Beneficência Portuguesa recebiam mosquiteiros e as enfermarias eram isoladas e apropriadas para o tratamento
dos doentes de febre amarela (Thomas, 1909, p. 11).
16 Constantino Nery (1859-1926) foi filho do Major Silvério José Nery e irmão de Silvério Nery (1858-1934), que governou o estado do
Amazonas de 1900 a 1904. Constantino Nery também entrou para a política depois de fazer carreira militar no sul do país. Sucede o
seu irmão no governo do estado no quadriênio 1904-1908 (Bittencourt, 1973).
17 Márcio Nery (1865-1910) estudou medicina no Rio de Janeiro, concluindo o curso em 1890 e tornando-se lente substituto. Publicou
trabalhos na “Revista Brasileira” sobre as doenças no Amazonas (Bittencourt, 1973).
18 Benchimol e Sá (2006, p. 86) esclarecem que a “profilaxia específica” ou “terapêutica” se referia ao trabalho de aplicar a quinina para
eliminar o hematozoário do corpo dos doentes. No caso de Manaus, o termo “profilaxia específica” se referia a um programa exclusivo
de combate às doenças transmitidas por vetores.
411

Do “inferno florido” à esperança do saneamento:...
foi oficializada no regulamento sanitário de 1907. As suas
atividades estavam restritas à capital do estado. O objetivo
era destruir os mosquitos em todas as suas fases (alada, ovos,
larvas e ninfas), como definia o regulamento:
I. Determinará fumigações com piretro19, gás
sulforoso ou outra substância gasosa ou volátil
capaz de destruir aqueles insetos nos domicílios
em que se derem casos de febres palustres ou
amarela e nas habitações vizinhas;
II. Fará desaparecer todas as coleções de águas
estagnadas ou águas pouco correntes por meio
de aterro, drenagens, retificações e limpeza dos
leitos dos igarapés, cultura e taludamento de suas
margens etc.;
III. Na impossibilidade de suprimir imediatamente
aquelas coleções de água, fará criar nelas peixes,
batráquios ou outros animais que se alimentem
de larvas de mosquitos ou cobri-las com petróleo
bruto20, que se renovará todas as semanas;
IV. Fiscalizará todas as escavações que se fizerem
no solo, a fim de que o revolvimento de terra e a
consequente formação de cavidades e depressões
não deem origem ao desenvolvimento de
mosquitos e a disseminação do impaludismo e
a febre amarela (Regulamento..., 1907, p. 35).
Em 1907, o governador Constantino Nery oficializava
a comissão especial para a “profilaxia específica” da febre
amarela21 e da malária, mesmo porque o número de
mortes causado por essas doenças tinha alcançado
índices elevados. A febre amarela atingia diretamente os
interesses econômicos do estado, pois já era conhecido o
temor que os estrangeiros tinham em aportar em lugares
onde a doença era endêmica. A profilaxia principal era o
ataque ao vetor, devidamente demonstrado no relatório
das atividades da comissão. No entanto, o governador
lamentava que era “impossível fazer desaparecer os
mosquitos por meios tão parcos” (Carvalho, 1908, p. 21).
A malária, por ser um fenômeno da realidade
suburbana e do interior, poderia ocorrer em todos os
meses do ano devido às características da região. A
febre amarela tinha o maior número de casos nos três
primeiros meses do ano; enquanto que a malária tinha os
índices mais elevados entre os meses de junho a outubro,
ou seja, a primeira em pleno ‘inverno’22 amazônico e a
segunda no início e auge do ‘verão’, quando as águas
do rio Negro começavam a baixar. O naturalista Emílio
Goeldi afirmava que o gênero Anopheles vivia mais ao ar
livre, em lugares pantanosos e esporadicamente entrava
nas residências. Por outro lado, o Stegomyia fasciata
poderia ser considerado “cosmopolita”, uma vez que
vivia no interior das casas e se reproduzia em pequenas
coleções de água limpa (buracos, poços, depressões do
solo, recipientes, calhas, barris, caldeirões, no coração das
folhas de bananeiras, bromélias etc.) (Goeldi, 1905, p. 15).
Alfredo da Matta defendia que os trabalhos de
profilaxia deveriam ser permanentes e “deveriam constituir
seção especial, dirigida por profissional que empregasse
19 Pyrethrum (vulgar ‘pó da Pérsia’) é extraído do pólen de uma planta da família das Compostas e de parentesco próximo da camomila.
O uso indicado por Goeldi (1905, p. 36) foi o seguinte: “Molha-se o pó, tal como se encontra na drogaria, com tanta água, quanto
necessária para formar uma massa plástica. Desta forma-se pequenos cones, que se secam sobre uma folha de metal no forno. Secos,
estão prontos para o uso; acendem-se com um fósforo na ponta. Dois ou três destes cones serão suficientes em geral pra impor aos
mosquitos o armistício de algumas horas num quarto de dimensões regulares”. A fumaça pirética do pó somente “narcotiza, tonteia o
carapanã, não o mata”.
20 Goeldi sugere o uso de querosene ou derivados para “a matança das larvas nos seus lugares de criação”. Esta medida profilática era
realizada devido aos conhecimentos biológicos que se tinha a respeito da larva, a qual necessita tomar ar na superfície de minuto em
minuto. Assim, nem a larva pode respirar como a fêmea não pode depositar os seus ovos. O método não era novo, segundo o naturalista,
mas foi Howard, em 1892, nos Estados Unidos, quem insistiu no uso de querosene no combate aos mosquitos (Goeldi, 1905, p. 36).
21 Nesse mesmo período, março de 1907, depois de quatro anos de campanha, Oswaldo Cruz comunica ao presidente Rodrigues Alves
que a febre amarela não era mais endêmica na cidade do Rio de Janeiro (Franco, 1976, p. 88).
22 O ‘inverno’ se refere ao período de chuvas e o ‘verão’ ao período de estiagem. Djalma Batista diz que “entre os meses de junho a
outubro se observa, em Manaus, o máximo da curva de morbidade do paludismo, culminando nos meses de julho e agosto, a coincidir
com o período de vazante dos rios (...). Em Manaus, registra a observação popular que a enchente é contemporânea do Natal, e a
vazante do dia de São João” (Batista, 1946, p. 21).
412

Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém, v. 5, n. 2, p. 399-415, maio-ago. 2010
nela toda a sua atividade, energia e saber”. O combate
ao mosquito seria um trabalho de “profilaxia específica,
constituída de seção especial e puramente subordinada
à diretoria do Serviço Sanitário” (Matta, 1911, p. 100). As
atividades da profilaxia específica não foram permanentes,
como se imaginou, porque além dos recursos não serem
constantes, as mudanças na política local, principalmente
quando assumiam governadores opositores, também
influenciavam as ações do serviço sanitário. A política da
profilaxia específica encerrou quando chegou a Manaus a
Comissão Federal de profilaxia da febre amarela, em 1913.
Considerações finais
A Amazônia dos viajantes do século XVIII e XIX não é
a mesma dos cientistas que realizaram expedições no
início do século XX. O olhar dos médicos localizados no
Amazonas também não é o mesmo daquele viajante que
passa. Os olhares e as representações fazem parte da
invenção de uma mesma Amazônia. Intelectuais como
Alberto Rangel e Euclides da Cunha foram marcantes nas
imagens que criaram sobre a região; do mesmo modo,
os relatórios científicos de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas
constituíram referência para abordar o espinhoso tema do
saneamento da Amazônia. As representações da natureza,
da sociedade e das doenças são relativamente conhecidas,
mas é importante ressaltar que sempre passam por novas
leituras sob perspectivas diferentes.
Os médicos e cientistas que viveram e aturam no
Amazonas nos trazem uma interpretação daqueles que
viam a região sob o ponto de vista de quem se fixou no
local, para utilizar uma observação de Euclides da Cunha,
citada neste artigo. Atribui-se importância, desse modo, às
práticas científicas médicas locais que tinham como objeto
duas doenças tropicais: a malária e a febre amarela. É
importante ressaltar também que, apesar de se realizar em
lugar específico, o conhecimento médico estava atento ao
debate científico internacional sobre a profilaxia dessas duas
doenças. As ideias iam ao encontro das necessidades do lugar,
materializando-se em políticas públicas e práticas sanitárias.
As comissões de saneamento constituídas em Manaus
envolveram personagens diferentes do mundo científico
nacional e internacional. Em alguns momentos, os conflitos
foram evidentes. A análise dessas comissões mostrou que
os conflitos e as divergências não se encontravam no nível
técnico e do conhecimento, mas se apresentavam nos
planos político e econômico. Assim, o que se procurou
discutir é que o pensamento médico local não só estava a
par das questões científicas do momento, como as colocou
em prática na profilaxia da malária e da febre amarela.
A Amazônia não ficaria mais ‘revelada’ nem menos
‘misteriosa’ depois deste trabalho, mas, seguramente, os
elementos apresentados aqui apontam para a necessidade
de se discutir a história das ciências da saúde, aprofundando
as relações entre pensamento social e ação médico-
sanitária no contexto local. A Amazônia, nas palavras de
Euclides da Cunha, seria a última página do Gênesis porque
estaria em constante processo de criação, e os indígenas,
caboclos, cientistas, viajantes, romancistas e intérpretes
participariam na cocriação permanente desse lugar, que
já foi paraíso, inferno ou as duas coisas: “inferno florido”.
Referências
ALMEIDA, Marta; DANTES, Maria Amélia. O serviço sanitário de
São Paulo, a saúde pública e a microbiologia. In: DANTES, Maria
Amélia (Org.). Espaços da Ciência no Brasil (1800-1930). Rio de
Janeiro: Fiocruz, 2001. p. 135-155.
ANDERSON, Warwick. Malaria between race and ecology:
colonial pathologies. American Tropical Medicine, Race and Higyene
in the Philippines. Durham/London: Duke University Press, 2006.
BATISTA, Djalma. O paludismo na Amazônia. Rio de Janeiro:
Imprensa Nacional, 1946.
BENCHIMOL, Jaime; SÁ, Magali. Adolpho Lutz e a entomologia
médica no Brasil (apresentação histórica). Rio de Janeiro: Fiocruz,
2006. (Adolpho Lutz: obra completa, v. 2, livro 3).
BITTENCOURT, Agnello. Dicionário amazonense de biografias:
vultos do passado. Rio de Janeiro: Conquista, 1973.
CARVALHO, Raymundo Affonso de. Mensagem lida perante
o Congresso do Amazonas em 10 de julho de 1908 pelo Dr.
Raymundo Affonso de Carvalho (governador em exercício).
Manaus: Tipografia Amazonas, 1908. p. 19-23.
413

Do “inferno florido” à esperança do saneamento:...
CRUZ, Oswaldo. Relatório sobre as condições médico-sanitárias
do Vale do Amazonas. In: CRUZ, Oswaldo; CHAGAS, Carlos;
PEIXOTO, Afrânio. Sobre o saneamento da Amazônia. Manaus:
Philippe Daou, 1972.
CUNHA, Euclides da. Preâmbulo. Prefácio a Inferno Verde. In:
VENANCIO FILHO, Alberto; FRANCO, Affonso Arinos de Mello;
CARVALHO, José Murilo de (Orgs.). Trabalhos esparsos. Rio de
Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 2009a [1907]. p. 124-134.
CUNHA, Euclides da. Primeira Parte. À Margem da História. In:
PEREIRA, Paulo Roberto (Org.). Obra Completa de Euclides da
Cunha. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2009b [1909]. v. I,
p. 131-203.
CUNHA, Euclides da. Academia Brasileira de Letras (discurso de
recepção). In: CUNHA, Euclides. Contrastes e Confrontos. Obra
completa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2009c [1906]. v. I,
p. 112-128.
CUNHA, Euclides da. Amazônia: um paraíso perdido. Manaus:
Valer, EDUA, Governo do Estado do Amazonas, 2003.
CUNHA, Euclides da. Apresentação. In: RANGEL, Alberto. Inferno
Verde. 5. ed. Manaus: Editora Valer, 2001. p. 23-34.
HARDMAN, Francisco Foot. A vingança da Hilea: os sertões
amazônicos de Euclides. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 144,
p. 29-64, jan.-mar. 2001.
HUMPHREYS, Margaret. Introduction. Race, poverty and place.
In: HUMPHREYS, Margaret (Ed.). Malaria: poverty, race and public
health in the United States. Baltimore: The Johns Hopkins University
Press, 2001. p. 1-5.
LIMA, Nísia Trindade. Outro sertão. Revista de História da
Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, v. 4, n. 47, p. 35-37, 2009a.
LIMA, Nísia Trindade. Euclides da Cunha; o Brasil como sertão.
In: BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia (Orgs.). Um enigma
chamado Brasil: 29 intérpretes e um país. São Paulo: Companhia
das Letras, 2009b. p. 104-117.
MATTA, Alfredo Augusto da. Relatório da Diretoria Geral de Higiene
Pública do Estado do Amazonas. In: BITTENCOURT, Antonio Clemente
Ribeiro. Mensagem lida perante o Congresso do Amazonas, 10 de
julho de 1910. Manaus: Imprensa Oficial, 1911. p. 77-110.
MATTA, Alfredo Augusto da. Paludismo, Varíola, Tuberculose
em Manáos: Ligeiro estudo precedido de algumas palavras sobre
Manaus. São Paulo: Typographia Brazil-Rothschild, 1909.
DAOU, Ana Maria. A belle époque amazônica. Rio de Janeiro:
Zahar, 2000.
DAOU, Ana Maria. A Cidade, o teatro e o “País das Seringueiras”:
práticas e representações da sociedade amazonense na virada do
século XIX. 1998. Tese (Doutorado em Antropologia) – Museu
Nacional, Rio de Janeiro, 1998.
FAULHABER, Priscila; TOLEDO, Peter Mann (Orgs.). Conhecimento
e fronteira: história da ciência na Amazônia. Belém: Museu Paraense
Emílio Goeldi; Brasília: Paralelo 15, 2001.
FIGUEIRÔA, Silvia. Para pensar as vidas de nossos cientistas tropicais.
In: HEIZER, Alda; VIDEIRA, Antonio A. Passos (Orgs.). Ciência,
civilização e império nos Trópicos. Rio de Janeiro: Access, 2001.
v. 1, p. 235-246.
MATTA, Alfredo Augusto da. Relatório da Diretoria Geral de
Higiene Pública apresentado ao Dr. Silvério Nery. Manaus:
Imprensa Oficial, 1904.
MATTA, Alfredo Augusto da. Relatório da Diretoria Geral de Higiene
Pública do Estado do Amazonas. Dirigido ao Governador Silvério
Nery. In: NERY, Silvério José. Mensagem lida perante o Congresso
do Amazonas em 10 de julho de 1903 pelo Dr. José Silvério Nery,
governador do Estado. Manaus: Tipografia Amazonas, 1903. p. 35-62.
MATTA, Alfredo Augusto da. Relatório da Diretoria Geral de Higiene
Pública do Estado do Amazonas. Dirigido ao Governador Silvério
Nery. In: NERY, Silvério José. Mensagem lida perante o Congresso
do Amazonas em 10 de julho de 1902 pelo Dr. José Silvério
Nery, governador do Estado. Manaus: Tipografia Amazonas,
1902. p. 5-20.
FIGUERÔA, Silvia. As ciências geológicas no Brasil: uma história MESQUITA, Otoni. La Belle Vitrine: Manaus entre dois tempos
social e institucional, 1875-1934. São Paulo: Hucitec, 1997.
(1090-1900). Manaus: Edua, 2009.
FRANCO, Odair. História da febre amarela no Brasil. Rio de
Janeiro: Ministério da Saúde, 1976.
GALVÃO, Walnice; GALOTTI, Oswaldo (Orgs.). Correspondência
de Euclides da Cunha. São Paulo: Edusp, 1997.
GOELDI, Emílio. Os mosquitos do Pará encarados como uma
calamidade pública. In: GOELDI, Emílio. Os mosquitos no
Pará: reunião de quatro trabalhos sobre os Mosquitos indígenas,
principalmente as espécies que molestam o homem. Belém: Museu
Paraense Emílio Goeldi, 1905. p. 129-197. (Série Memórias do
Museu Goeldi, v. 4).
NERY, Constantino. Mensagem lida perante o Congresso do
Amazonas em 10 de julho de 1905 pelo Dr. Constantino Nery,
governador do Estado. Manaus: Tipografia Amazonas, 1905.
NERY, Márcio. Relatório da Comissão de Saneamento de Manaus.
Diário Oficial, Manaus, p. 33958-33961; 33975-33976, abr. 1906.
NÉRY, Silvério José. Mensagem lida perante o Congresso do
Amazonas em 10 de julho de 1902 pelo Dr. José Silvério Nery,
governador do Estado. Manaus:Tipografia Ferreira Penna, 1903.
RANGEL, Alberto. Inferno Verde. 5. ed. Manaus: Editora Valer, 2001.
414

Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém, v. 5, n. 2, p. 399-415, maio-ago. 2010
REGULAMENTO DO SERVIÇO SANITÁRIO DO ESTADO DO
AMAZONAS. Decreto n. 802, de 12 de novembro de 1906.
Manaus: Imprensa Oficial, 1907.
SANJAD, Nelson. A coruja de Minerva: o Museu Paraense entre o
Império e a República, 1866-1907. 2005. 442 f. Tese (Doutorado em
História das Ciências e da Saúde) – Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz,
Rio de Janeiro, 2005.
SANTANA, José Carlos Barreto de. Euclides da Cunha e a Amazônia;
visão mediada pela ciência. História, Ciências, Saúde – Manguinhos,
Rio de Janeiro, v. 6 (suplemento), p. 901-917, set. 2000.
SANTOS, Roberto. História econômica da Amazônia (1800-1920).
São Paulo: T. A. Queiroz, 1980.
SCHWEICKARDT, Júlio. Ciência, Região e Nação: as doenças
tropicais e o saneamento no Estado do Amazonas (1890-1930).
2009. Tese (Doutorado em História das Ciências e da Saúde) – Casa
de Oswaldo Cruz/Fiocruz, Rio de Janeiro, 2009.
SCHWEICKARDT, Júlio; LIMA, Nísia Trindade. Os cientistas brasileiros
visitam a Amazônia: as viagens científicas de Oswaldo Cruz e Carlos
Chagas (1910-1913). História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio
de Janeiro, v. 14 (suplemento), p. 15-50, dez. 2007.
THOMAS, Wolferstan. The sanitary conditions and diseases
prevailing in Manaos, North Brazil, 1905-1909, with plan of
Manaos and chart. Fifteenth Expedition of the Liverpool School of
Tropical Medicine. Expedition to the Amazonas, 1909. Mimeografado.
VENTURA, Roberto. Visões do deserto: selva e sertão em
Euclides da Cunha. História, Ciências, Saúde - Manguinhos, v. 5
(suplemento), p. 133-147, jul. 1998.
WORBOYS, Michael. Tropical diseases. In: BYNUM, W. F.; PORTER,
Roy (Eds.). Companion Encyclopedia of the History of Medicine.
London/New York: Routledge, 1997. v. 1, p. 462-92.
Recebido: 26/02/2010
Aprovado: 26/07/2010
415
