
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE E
SECRETARIADO EXECUTIVO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA
MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA
EDMILSON PINTO DE ALBUQUERQUE JÚNIOR
A INFLUÊNCIA DE ASPECTOS RELATIVOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE
SOBRE A INTENÇÃO DE COMPRA DE ALIMENTOS ORGÂNICOS
FORTALEZA
2012

EDMILSON PINTO DE ALBUQUERQUE JÚNIOR
A INFLUÊNCIA DE ASPECTOS RELATIVOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE
SOBRE A INTENÇÃO DE COMPRA DE ALIMENTOS ORGÂNICOS
Dissertação submetida à Coordenação do Programa
de Pós-Graduação em Administração e
Controladoria-Acadêmico da Universidade Federal
do Ceará, como requisito parcial para obtenção do
grau de Mestre em Administração e Controladoria.
Área de concentração: Organizações, Estratégia
e Sustentabilidade.
Orientador: Dr. José Carlos Lázaro da Silva Filho.
FORTALEZA
2012
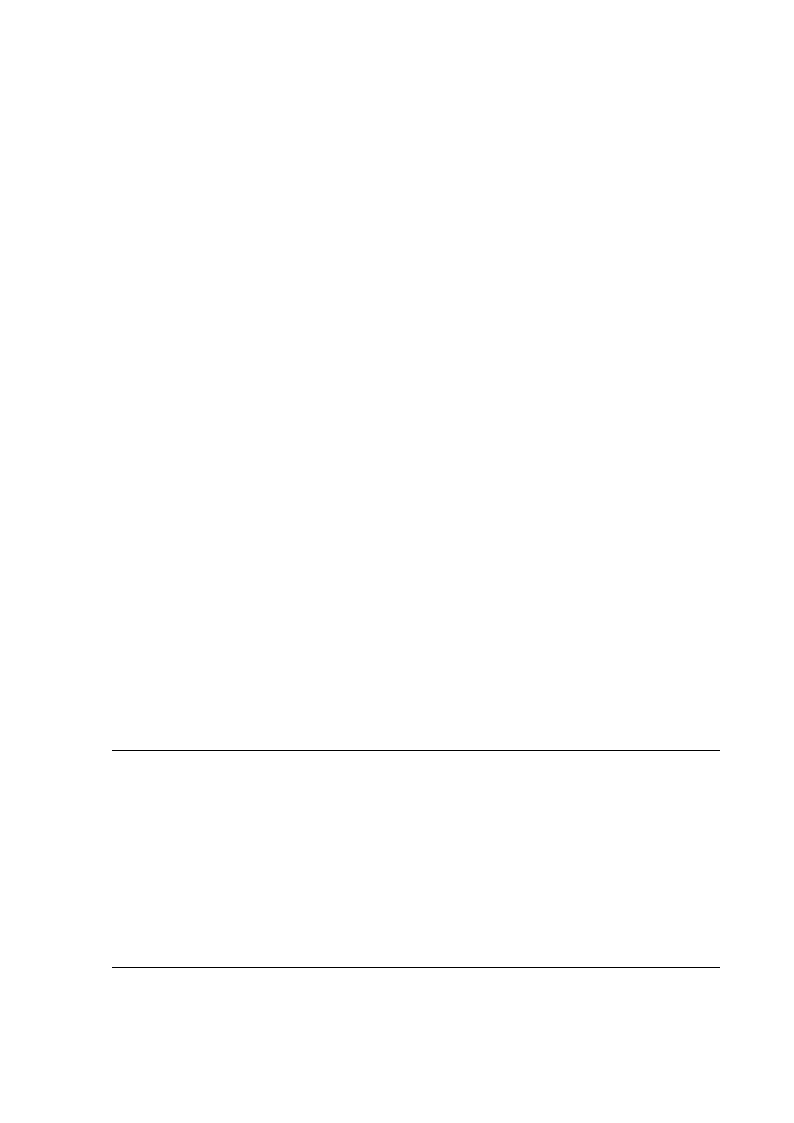
A31i
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Universidade Federal do Ceará
Biblioteca da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade
Albuquerque Júnior, Edmilson Pinto de.
A influência de aspectos relativos à saúde e ao meio ambiente sobre a intenção de compra de
alimentos orgânicos / Edmilson Pinto de Albuquerque Júnior – 2012.
134 f.; il., enc.; 30 cm.
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia,
Administração, Atuária e Contabilidade, Programa de Pós-Graduação em Administração e
Controladoria, Fortaleza, 2012.
Área de Concentração: Organizações, estratégia e sustentabilidade.
Orientação: Prof. Dr. José Carlos Lázaro da Silva Filho.
1. Comportamento do consumidor 2. Alimentos naturais I. Título.
CDD 658.8343

EDMILSON PINTO DE ALBUQUERQUE JÚNIOR
A INFLUÊNCIA DE ASPECTOS RELATIVOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE
SOBRE A INTENÇÃO DE COMPRA DE ALIMENTOS ORGÂNICOS
Dissertação submetida à Coordenação do
Programa de Pós-Graduação em
Administração e Controladoria-Acadêmico da
Universidade Federal do Ceará como requisito
parcial para a obtenção do grau de Mestre em
Administração e Controladoria. Área de
concentração: Organizações, Estratégia e
Sustentabilidade.
Aprovada em: ____/____/_______.
BANCA EXAMINADORA
______________________________________________
Dr. José Carlos Lázaro da Silva Filho (Orientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)
_______________________________________________
Prof. Dra. Sandra Maria dos Santos
Universidade Federal do Ceará (UFC)
______________________________________________
Prof. Dr. Áurio Lúcio Leocádio da Silva
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)

Para João Carlos Brasileiro de Albuquerque,
meu sobrinho, afilhado e parceiro.

AGRADECIMENTOS
Ao meu orientador, Dr. José Carlos Lázaro da Silva Filho, a quem de fato eu teria que dedicar
uma página exclusiva de agradecimentos. O meu sincero obrigado por tudo.
À Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Funcap, pela
bolsa de estudo concedida.
Ao Banco do Nordeste, pelo apoio à implementação desta pesquisa.
Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria da
Universidade Federal do Ceará, em especial aos extraordinários doutores Augusto Cézar de
Aquino Cabral e Sandra Maria dos Santos, pela rica experiência compartilhada em sala de
aula.
Aos professores que participaram das bancas, desde o projeto até a defesa final, e que
contribuíram para o aperfeiçoamento deste trabalho: Dr. Áurio Lúcio Leocádio da Silva,
Dra. Sandra Maria dos Santos, Dr. Hugo Osvaldo Acosta Reinaldo, Dr. Francisco José da
Costa e Dra. Márcia Dutra de Barcellos.
Agradeço do fundo do peito ao professor e colega Josimar Souza Costa, pela força e pela
inestimável e decisiva ajuda.
À Dra. Sílvia Maria Dias pela disposição em contribuir no início do processo do tratamento
dos dados.
Aos funcionários da secretaria do PPAC, Cleverland, Maruza, Marta, Ribamar e Ezilda pelo
suporte e simpatia dados ao longo do mestrado.
Ao Gilvan Oliveira, pelo apoio constante durante esse período.
Aos colegas Leonardo, Alexandra, Danilo, Sofia, Sylene, Anelise, Davi, Paulo, Allan, Ana
Rita (Aninha), Guipson, Jesuína e aos demais colegas do mestrado o meu obrigado pela
companhia, força e trocas nesse período. Agradeço em especial à Larissa Teixeira, Johnny
Herberthy e Bruno Chaves pelas parcerias nos trabalhos aprovados e pelo companheirismo.
A todos os que contribuíram na pesquisa de campo.
À minha irmã Luciana Brasileiro, pela presença e suportes de sempre.
Agradeço aos meus pais: Edmilson Pinto de Albuquerque e Marluce Brasileiro Albuquerque
(in memorian), por tudo o que veio e por tudo o que ainda virá.
Agradeço a Deus por tudo e por ter colocado as pessoas acima citadas no meu caminho.

RESUMO
As escolhas alimentares tornam-se mais significativas quando se leva em conta que estão
diretamente ligadas à saúde. De maneira similar, essas decisões já refletem também aspectos
de correção ambiental e tem-se demonstrado um crescente interesse na responsabilidade
ecológica por trás dos alimentos consumidos. Os alimentos orgânicos são propagados como
alimentos saudáveis e ecologicamente corretos, e tornou-se relevante investigar esses dois
construtos associados às intenções de compra de consumidores. Este estudo buscou
investigar de que maneira os aspectos relativos à consciência ambiental e à busca por saúde
influenciam as atitudes e intenções de compra do consumidor de alimentos orgânicos no
mercado cearense. Para tal fim, empreendeu-se uma pesquisa do tipo survey e testou-se por
intermédio da técnica de modelagem de equações estruturais (MEE) um modelo integrado no
intuito de verificar as relações entre os construtos relativos ao meio ambiente, à saúde e à
teoria do comportamento planejado, que analisa as atitudes e intenções dos consumidores. Os
resultados indicam haver uma influência positiva das motivações ligadas à saúde sobre as
atitudes em relação aos orgânicos, e destas nas intenções de compra desses alimentos.
Verificou-se ainda que os aspectos ligados à preocupação ambiental não influenciam as
intenções de compra de orgânicos no mercado pesquisado. Do ponto de vista gerencial, as
contribuições deste estudo residem na compreensão das variáveis determinantes do
comportamento de compra de um mercado em ascensão, o que sugere bases para o
desenvolvimento de estratégias, por parte dos agentes da cadeia produtiva, adequadas ao
mercado analisado.
Palavras-chave: alimentos orgânicos; comportamento do consumidor; teoria do
comportamento planejado.

ABSTRACT
Food choices become more meaningful when it is taken into account that they are directly
related to health. Likewise, these decisions already reflect aspects regarding environmental
correction and it has been demonstrated a growing interest in the ecological responsibility
behind consumed food. Organic food is considered healthy and environmentally friendly, then
becoming relevant the investigation about these two constructs associated to the shopping
intention of consumers. This study sought to investigate how the aspects related to the
environmental awareness and the pursuing of health influence the shopping attitudes and
intentions of organic food consumers in Ceará market. To this end, it was applied a survey
research type and an integrated model was tested by means of the technique known as
structural equation modeling (SEM) in order to observe the relations between the constructs
concerning the environment, the health and the theory of planned behavior, which analyze the
attitudes and intentions of consumers. The results indicate that there is a positive influence of
the motivations related to health on the attitudes towards organics, the same occurring to these
attitudes on the shopping intentions related to that type of food. Furthermore, it was observed
that the aspects regarding environmental concerns do not influence the shopping intentions of
organics in market under research. From a managerial point of view, the contributions from
this study reside in the comprehension of the determining variables of the shopping behavior
of an ascending market, what suggests basis to the development of strategies, by the agents of
the productive chain, adequate to the analyzed market.
Keywords: Organic food; consumer behavior; theory of planned behavior.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
QUADROS
Quadro 1 – Proposta da amostragem para a pesquisa..................................................... 64
Quadro 2 – Resumo do instrumento de coleta............................................................... 66
Quadro 3 – Codificação dos construtos do instrumento de coleta................................
67
Quadro 4 – Codificação das variáveis observáveis de cada construto..........................
67
Quadro 5 – Bloco 1. Atitudes em relação ao meio ambiente.......................................... 68
Quadro 6 – Bloco 2. Motivações e crenças ligadas à saúde............................................ 69
Quadro 7 – Bloco 3. Atitudes em relação aos orgânicos................................................. 70
Quadro 8 – Bloco 4. Atitudes em relação à compra de orgânicos.................................. 70
Quadro 9 – Bloco 5. Normas subjetivas.......................................................................... 71
Quadro 10 – Bloco 6. Controle comportamental percebido............................................ 71
Quadro 11 – Bloco 7. Intenções Comportamentais........................................................ 71
Quadro 12 – Fatores extraídos e agrupados.................................................................... 85
Quadro 13 – Índices de adequabilidade de modelos...................................................... 91
FIGURAS
Figura 1 – Atributos ecológicos do produto................................................................. 21
Figura 2 – Selo de certificação orgânica IBD.............................................................. 25
Figura 3 – Selo Produto Orgânico Brasil, do Sistema Brasileiro da Avaliação da
Conformidade Orgânica (SisOrg).............................................................. 27
Figura 4 – Áreas destinadas à agricultura orgânica no mundo, por continente, em
2009 (milhões de hectares)......................................................................... 28
Figura 5 – Selo único da certificação orgânica da União Européia............................. 32
Figura 6 – Relações entre crenças, sentimentos, atitude, intenção comportamental e
comportamento........................................................................................... 40
Figura 7 – Modelo da teoria da ação racional.............................................................. 43
Figura 8 – Teoria do comportamento planejado......................................................... 45
Figura 9 – Framework da pesquisa de Chen (2007) para análise de intenções de
compra de orgânicos................................................................................... 58
Figura 10 – Modelo conceitual e síntese do questionário da dissertação....................... 60
Figura 11 – Modelo conceitual inicialmente proposto................................................... 87
Figura 12 – Diagrama de caminhos do modelo 1 proposto............................................ 88
Figura 13 – Representação gráfica dos construtos ATMA e MCS................................ 93
Figura 14 – Representação gráfica do construto ATO................................................... 94
Figura 15 – Representação gráfica do construto ATC................................................... 96
Figura 16 – Representação gráfica do modelo 2............................................................ 99
Figura 17 – Representação gráfica do Modelo Final..................................................... 103

LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1 – Distribuição de terras agrícolas orgânicas por região em 2009.................. 29
Gráfico 2 – Os dez países com as maiores extensões de terra destinadas a agricultura
orgânica em 2009............................................................................................................ 29
Gráfico 3 – Os países com maiores produtores de orgânicos no mundo, em 2009......... 30
Gráfico 4 – Países com os maiores mercados domésticos, em 2009............................... 31
Gráfico 5 – Países com os maiores índices de consumo per capita anual, em 2009....... 31
Gráfico 6 – Frequencia de compra de FLV orgânicos.................................................... 77

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica da amostra............................................. 75
Tabela 2 - Local declarado de compra de orgânicos.................................................... 77
Tabela 3 - Estatística descritiva das variáveis componentes da TPB.......................... 79
Tabela 4 - Testes de adequação da amostra................................................................. 82
Tabela 5 - Adequação ao critério Kaiser de autovalor................................................. 83
Tabela 6 - Matriz de componente rotativa................................................................... 84
Tabela 7 - Índices de adequação do modelo original (modelo 1)................................ 91
Tabela 8 - Indices de adequação dos construtos ATMA e MCS................................. 93
Tabela 9 - Indices de adequação do contruto ATO...................................................... 95
Tabela 10 - Indices de adequação do construto ATC.................................................... 96
Tabela 11 - Confiabilidade dos construtos NS, CCP e IC............................................. 97
Tabela 12 - Medidas de ajustes dos construtos.............................................................. 98
Tabela 13 - Índices de adequação do modelo 2............................................................. 100
Tabela 14 - Pesos da regressão padronizados para o modelo 2..................................... 101
Tabela 15 - Índices de adequação do modelo final........................................................ 105
Tabela 16 - Pesos da regressão padronizados para o modelo final............................... 106
Tabela 17- Hipóteses da dissertação e resultados alcançados...................................... 107
Tabela 18 - Validade discriminante dos construtos...................................................... 108

SUMÁRIO
1
INTRODUÇÃO................................................................................................ 12
1.1 A Problemática da pesquisa............................................................................... 14
1.1.1 Pergunta da pesquisa......................................................................................... 15
1.2 Objetivos............................................................................................................. 15
1.2.1 Objetivo geral..................................................................................................... 15
1.2.2 Objetivos específicos.......................................................................................... 15
1.3 Justificativa do trabalho...................................................................................... 16
1.4 Aspectos metodológicos..................................................................................... 19
1.5 Estrutura da dissertação...................................................................................... 20
2
ALIMENTOS ORGÂNICOS.......................................................................... 21
2.1 Caracterização do sistema de agricultura orgânica............................................. 21
2.2 Certificação e garantia de qualidade................................................................... 24
2.2.1 Instrumentos para garantir a qualidade dos orgânicos..................................... 24
2.3 Orgânicos e mercado internacional.................................................................... 28
2.4 O Mercado brasileiro de orgânicos..................................................................... 33
2.5 O consumidor de alimentos orgânicos no Brasil................................................ 35
3
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E A TEORIA DO
COMPORTAMENTO PLANEJADO............................................................ 37
3.1 Comportamento do consumidor......................................................................... 37
3.2 Atitudes em comportamento do consumidor..................................................... 38
3.2.1 Formação das atitudes....................................................................................... 40
3.2.2 Modelos das atitudes.......................................................................................... 41
3.2.2.1 Modelos de atitudes com múltiplos atributos..................................................... 41
3.3 Teoria da ação racional (TRA).......................................................................... 42
3.4 Teoria do comportamento planejado (TPB)...................................................... 44
4
O CONSUMO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS......................................... 48
4.1 Sustentabilidade ambiental e saúde ligados ao consumo de orgânicos.............. 49
4.2 Crenças acerca dos orgânicos............................................................................. 52
4.3 Normas subjetivas ligadas aos orgânicos........................................................... 53
4.4 Controle comportamental percebido ligado aos orgânicos................................. 56
4.5 Modelo conceitual da dissertação ...................................................................... 58
5
METODOLOGIA............................................................................................. 61
5.1 Caracterização da pesquisa................................................................................. 61
5.1.1 Quanto aos objetivos.......................................................................................... 61
5.1.1.1 Caracterização da fase exploratória do estudo................................................. 61
5.1.2 Quanto aos meios de Investigação..................................................................... 62
5.2 População e amostra.......................................................................................... 62
5.3 Coleta de dados................................................................................................... 64
5.3.1 Questionário........................................................................................................ 65
5.4 Tratamento e análise dos dados.......................................................................... 72

2
6
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS......................................... 75
6.1 Caracterização da amostra................................................................................. 75
6.2 Análise descritiva dos construtos...................................................................... 78
6.3 Análise fatorial exploratória dos construtos....................................................... 82
6.4 Modelagem de equações estruturais (MEE)....................................................... 86
6.4.1 Diagrama de caminhos do modelo conceitual da dissertação.......................... 87
6.5 Índices de ajuste de modelos.............................................................................. 89
6.5.1 Avaliação do ajuste do modelo inicialmente proposto (modelo 1).................... 91
6.6 Análise fatorial confirmatória............................................................................. 92
6.6.1 Construtos atitudes em relação ao meio ambiente e motivações e crenças
ligadas à saúde (ATMA e MCS)......................................................................... 92
6.6.2 Construto “atitudes em relação a alimentos orgânicos”(ATO)........................ 94
6.6.3 Construto “atitudes em relação à compra de FLV orgânicos” (ATC).............. 95
6.6.4 Construtos normas subjetivas (NS), controle comportamental percebido
(CCP) e intenções comportamentais (IC).......................................................... 97
6.6.5 Confiabilidade composta e variância extraída dos construtos.......................... 97
6.7 Avaliação do ajuste do modelo 2 e do modelo final.......................................... 99
6.7.1 Validade discriminante....................................................................................... 107
6.8 Discussão dos resultados................................................................................... 108
7
CONCLUSÕES................................................................................................. 111
7.1 Considerações gerais.......................................................................................... 111
7.2 Limitações da pesquisa....................................................................................... 113
7.3 Implicações da pesquisa e direcionamntos......................................................... 114
8
REFERÊNCIAS .............................................................................................. 115
APÊNDICE A................................................................................................................... 127

12
1 INTRODUÇÃO
As pessoas rotineiramente tomam decisões relativas à compra de alimentos. Essas
escolhas tornam-se mais significativas quando se leva em conta que a ingestão de alimentos
está diretamente ligada à saúde. Dentro deste contexto, têm sido ainda amplamente divulgadas
as implicações nocivas advindas do consumo de alimentos industrializados ou pobres em
valores nutricionais, sendo estes apontados, dentre outras razões, como responsáveis por
muitos dos problemas de saúde registrados na atualidade (HANSEN; MUKHERJEE;
THOMSEN, 2011).
Concomitante a esse quadro, a questão do consumo alimentar também se tornou
uma emblemática forma de expressão da consciência ambiental (TOMIELL; KRISCHKE,
2009). Essa consciência pressupõe uma escolha ética legitimada pelo conhecimento do como
e onde os alimentos são produzidos e de que maneira isso causará impacto no ecossistema.
Dessa forma, a sociedade tem demonstrado um crescente interesse na responsabilidade
ambiental por trás dos alimentos consumidos; tendo os alimentos eticamente produzidos
alcançado popularidade nas últimas décadas, o que ocasionou uma mudança nos padrões
tradicionais de consumo alimentar (MAHÉ, 2010; TSAKIRIDOU et al., 2008).
A ocorrência cada vez mais freqüente de debates em diversos campos da
sociedade com intuito de tornar comum a questão da problemática ambiental tem levado os
sujeitos característicos da cadeia produtiva a assumirem papéis voltados à redução dos
impactos no ecossistema global. Ao longo da história, as atividades produtivas em geral têm
produzido rejeitos variados e nocivos, haja vista boa parte dos processos produtivos existentes
serem intrisecamente poluentes (FREIRE et al., 2000). A orientação ambiental adotada
atualmente demanda o reconhecimento da necessidade e uso de práticas de produção que
visem minimizar o impacto externo causado por esses sistemas produtivos. Os indicadores a
serem utilizados devem contemplar o grau de contribuição na preservação do meio ambiente
(JIMÉNEZ; LORENTE, 2001).
Nesse contexto geral, e em razão de serem baseados em práticas de gestão que
restauram e mantém o equilíbrio ecológico, os denominados “alimentos orgânicos” tornaram-
se uma opção atrativa para muitas pessoas, o que tem elevado sua produção e consumo (GIL;
GRACIA; SANCHEZ, 2000). A “produção orgânica” pode ser definida como um sistema
ecológico de produção e gestão que promove e melhora a biodiversidade, os ciclos biológicos
e a atividade biológica do solo (WINTER; DAVIS, 2006). Assim, os alimentos orgânicos são

13
cultivados e processados sem o uso de engenharia genética, fertilizantes artificiais, pesticidas,
herbicidas, fungicidas, reguladores de crescimento, aditivos, revestimentos químicos ou
química nos materiais de embalagem (WINTER; DAVIS, 2006; SCHIFFERSTEIN; OUDE
OPHUIS, 1998).
Conforme Tomiello e Krichke (2009), os orgânicos refletem uma nova
consciência que tem sido analisada abrangendo questões múltiplas, tais como a preocupação
com a ecologia e bem-estar individual. Cahill, Morley e Powell (2010) confirmam que
historicamente meio ambiente e saúde vêm sendo os construtos mais associados aos alimentos
orgânicos na mídia. As pessoas, dessa maneira, estariam cada vez mais interessadas em
consumi-los guiadas por consciência ambiental, saúde e mesmo por questões de ordem moral
e social (ÖZCELIK; UÇAR, 2008; BAKER et al., 2004; GIL; GRACIA; SANCHEZ, 2000).
Essa preocupação ecológica que reflete o conceito de desenvolvimento sustentável
– o equilíbrio entre o elemento econômico, ambiental e social – gera uma expectativa de
mudança de valores em relação ao meio tanto em perspectiva macro quanto em perspectiva
pessoal. A primeira abrange as preocupações gerais com o meio ambiente, solo, animais e
com o planeta; a segunda abrange a busca por bem estar e vida saudável (DIAS, 2009). Para o
autor, novos padrões de consumo e valorização de novas formas de viver tornaram-se
imperativo global uma vez que o que estaria em jogo, caso mantidos os padrões atuais de
consumo, é a própria existência do homem. Para Mostafa (2006), a consciência ambiental
deve ser compreendida além das ideologias políticas; ela remete, segundo o autor, à vantagem
competitiva e a fatores de influência sobre os indivíduos, sendo determinante para o sucesso
das organizações atuais. Portanto, uma questão relevante tem sido tornar o conceito de
sustentabilidade implícito no próprio conceito de consumo (DIAS, 2009).
Assim, as novas iniciativas de um comércio mais justo e ético convidam os
consumidores a assumirem a responsabilidade moral ou corresponsabilidade pelas
consequências de seu consumo (BRINKMANN, 2004), mais precisamente sobre como as
outras pessoas, os animais e o ambiente natural são direta ou indiretamente afetados. As
investigações sobre o consumo mais sustentável não devem passar ao largo de características
mais intrínsecas do agente social desse processo. Deve-se buscar sólida compreensão acerca
de como pensam e agem esses consumidores que respondem positivamente à questão
ambiental (WEBSTER JR., 1975).

14
1.1 Problemática da pesquisa
De acordo com Magnusson et al. (2003), essas questões que vinculam os
alimentos orgânicos a temas ligados à saúde e ao meio ambiente possibilitam identificar dois
perfis distintos de consumidores. Quando a preocupação com a saúde e o bem estar é
declarada como a principal motivação para o consumo de orgânicos, tem-se uma motivação
egoísta para esse comportamento. Em contrapartida, quando se consideram as questões
relacionadas à preservação ambiental, a salubridade dos envolvidos em sua produção e a
garantia de consumo às gerações futuras como a maior motivação para consumo destes
alimentos, tem-se caracterizada uma relação altruísta de consumo onde os benefícios para a
sociedade falam mais à consciência (MAGNUSSON et al., 2003).
Guillon e Willequet (2003 apud GUIVANT, 2003) também polarizam essas
práticas de consumo: tem-se, de um lado, o perfil denominado ego-trip, que estaria presente
nas decisões dos indivíduos que buscam se preservar e se destacar em termos de estética,
autoconfiança, saúde e bem estar; do outro lado, o perfil denominado ecológico-trip
representa a procura de contato do consumidor com seu meio ambiente e traduz-se em um
consumo sistemático de produtos verdes referindo-se não apenas a práticas alimentares, mas
tendo relação com a natureza, bem como com diversas atividades sociais de engajamento e
comportamentos de correção ambiental.
Em uma extensão dessa dicotomia, Guivant (2003) parte do pressuposto de que
pode existir uma diferença significativa entre os consumidores de orgânicos já em dois canais
de distribuição típicos: as feiras agroecológicas e os supermercados. A autora argumenta que
o consumo crescente de orgânicos nos supermercados, em oposição à perspectiva dos que
compram nas feiras ecológicas, faz parte de uma demanda mais ampla por alimentos
saudáveis e que pode ter pouca associação com algum ativismo social ou conscientização
ambiental, um argumento relacionável à dicotomia de Magnusson et al. (2003), anteriormente
explicada. A preocupação ambiental e as ações delas advindas acabariam por coexistir com o
argumento de que a sociedade de consumo é, em última análise, individualista (GUIVANT,
2003).
Essa possível divergência cognitiva entre consumidores de um mesmo produto em
pontos de venda distintos foi o elemento propulsor que deu origem ao questionamento
proposto nesta investigação. De acordo com Guivant (2003), na maioria dos supermercados, a
estratégia de venda utilizada para o setor de orgânicos se dá fundamentalmente como
direcionada para indivíduos que, por possuírem atitude favorável em relação a produtos

15
saudáveis, são orientados para um consumo destes buscando saúde. Tem-se, por outro lado, a
ideia do consumidor das feiras, em razão de sua atitude favorável em relação a questão
ambiental, como um agente consciente do como, onde, e de que modo o produto orgânico que
ele consome chega ao mercado, levando estes aspectos invariavelmente em conta ao comprar
tal produto. Assim, os consumidores demonstrariam um crescente interesse na
responsabilidade social que envolve os produtos ofertados (MAHÉ, 2010).
1.1.1 Pergunta da pesquisa
A partir do quadro exposto definiu-se a seguinte pergunta:
De que forma os aspectos relativos à consciência ambiental e à busca por saúde
influenciam as atitudes e intenções de compra do consumidor de alimentos orgânicos?
Dada a abrangência dos alimentos orgânicos, optou-se por restringir a
investigação a três categorias: frutas, legumes e verduras (FLV).
1.2 Objetivos
Atem-se esta pesquisa ao foco investigativo encerrado pela pergunta
anteriormente exposta. Seguem-se, assim, os objetivos gerais e específicos propostos para este
estudo.
1.2.1 Objetivo geral
O objetivo geral do trabalho consiste em investigar como se dá as relações entre
elementos ligados ao meio ambiente e à saúde sobre as intenções de compra do consumidor
de frutas, legumes e verduras (FLV) orgânicos no mercado de Fortaleza- CE.
1.2.2 Objetivos específicos
Com base erguida a partir da determinação deste objetivo principal, foram
estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

16
1) Analisar a influência de fatores ligados ao meio ambiente e à saúde sobre as
atitudes em relação aos alimentos orgânicos;
2) Verificar se as atitudes em relação aos alimentos orgânicos influenciam as
atitudes em relação à compra de FLV orgânicos;
3) Investigar se as atitudes em relação à compra de FLV orgânicos influenciam as
intenções de compra destes alimentos;
4) Examinar se as normas sociais influenciam as intenções de compra de FLV
orgânicos no mercado cearense;
5) Verificar se percepção de controle de comportamento da compra de FLV
orgânicos influenciam as intenções de compra destes.
A investigação aqui proposta lançará mão da Teoria do Comportamento Planejado
– Theory of Planned Behaviour (TPB) como a teoria base para alcançar os objetivos
propostos uma vez que esta teoria busca relacionar construtos tais como crenças, atitudes e
intenções comportamentais.
1.3 Justificativa da pesquisa
O perfil do consumidor de alimentos orgânicos é um campo já maduro na Europa,
com uma literatura já bem estabelecida (ESSOUSSI; ZAHAF, 2009). De acordo com estes
autores, as pesquisas têm buscado analisar os consumidores com base em demografia, nos
estilos de vida e em relação às atitudes e intenções de compra. O estudo das atitudes é
relevante por seu espaço considerável no cotidiano mental e social das pessoas e por sua forte
influência em decisões e comportamentos (CACIOPPO et al., 1999).
Para melhor entender o indivíduo que consome produtos ecológicos torna-se
necessário não apenas identificar o perfil do consumidor, mas também desenvolver e aplicar
mensurações relevantes acerca de seu comportamento de compra (WEBSTER JR, 1975).
Mostafa (2006) endossa esses argumentos ao afirmar que o mercado verde encontra-se em
crescimento e que, por essa razão, o momento é propício para a realização de pesquisas e
estudos sobre o comportamento do consumidor verde.
O mercado de orgânicos no Brasil movimentou cerca de R$ 500 milhões em 2010,
segundo estimativa da Associação Brasileira de Orgânicos, que abrange os produtores,
processadores e certificadores (FLORES, 2011). O volume de negócios com produtos
orgânicos no mundo mais do que triplicou desde o ano de 1999, quando foi estimado em 15
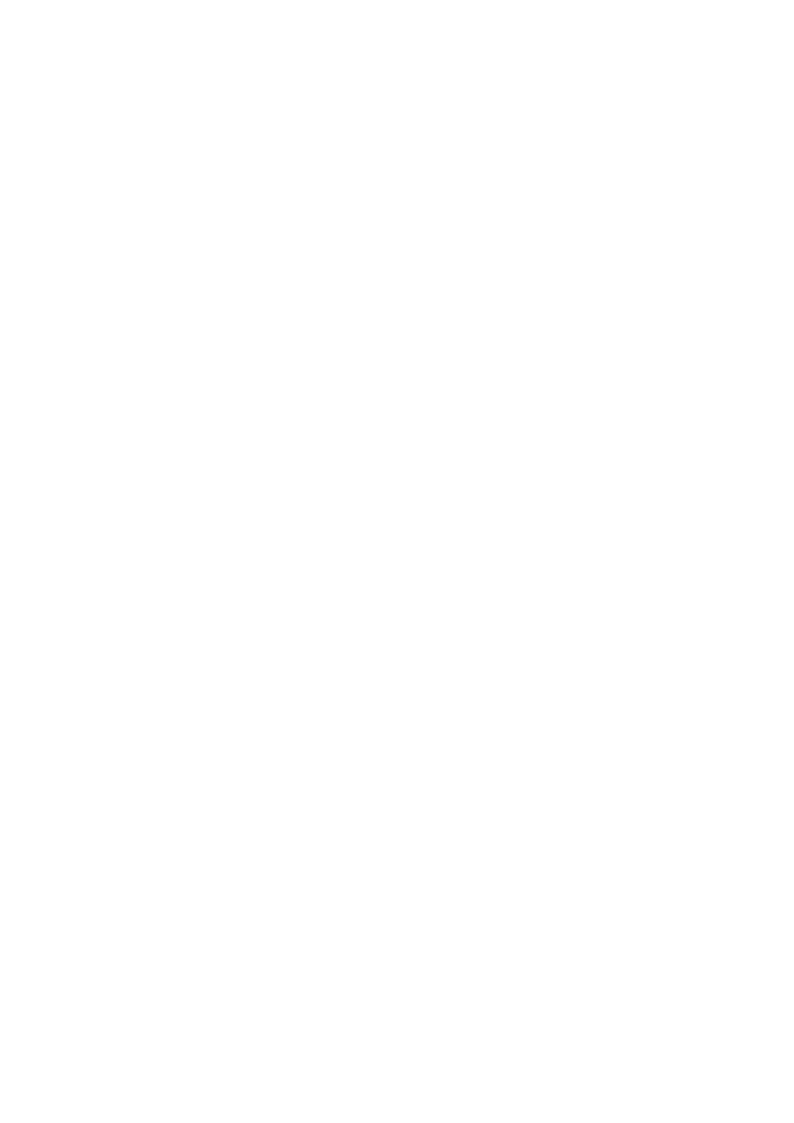
17
bilhões de dólares. Em 2009, o mercado mundial de alimentos orgânicos certificados foi
estimado em 54,9 bilhões de dólares (WILLER; KILCHER, 2011).
A agricultura orgânica torna-se uma alternativa para a produção de alimentos
também por fatores estratégicos no Brasil: a dependência por parte da agricultura tradicional
dos insumos importados é um fator relevante, pois 70% dos fertilizantes utilizados pela
agricultura tradicional no Brasil são importados (MATIAS, 2011). O setor como um todo
mobiliza-se em prol da expansão do mercado de orgânicos. A Bio Brazil Fair - Feira
Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia, maior evento do setor no país, que
acontece em São Paulo é exemplo da busca por organização e avanços de ordem estratégica
(MATIAS, 2011). A Bio Brazil Fair reúne, anualmente, cerca de 200 empresas expositoras,
entre produtores e processadores de alimentos em geral, laticínios, frutas, vegetais e cereais,
massas, carnes e ovos, bebidas, roupas e cosméticos; empresas de insumos, equipamentos,
consultoria e certificação; e fornecedores de matérias-primas para a produção de cosméticos e
biofármacos, dentre outros. Em 2010, o evento recebeu 21,5 mil visitantes de vários estados
brasileiros e de oito países (RITSCHEL, 2011).
No Ceará, o crescimento do mercado de orgânicos chega a 40% ao ano, e os
supermercados situados na capital Fortaleza, tais como o Carrefour, Pão de Açúcar, Extra,
Bompreço e Mercadinhos São Luiz já comercializam esses alimentos em suas prateleiras
(CAVALCANTE, 2010). O Grupo Pão de Açúcar vende mais de 750 itens orgânicos em suas
lojas entre FLV, processados, mercearia; além de laticínios, congelados, carnes e padaria. No
Extra Hipermercados existem ilhas especiais que, além dos produtos, expõem vídeos e
materiais informativos sobre os benefícios da alimentação orgânica. No Carrefour, o setor de
FLV orgânica possui sortimento que inclui alface, rúcula, banana, morango, entre outros. As
folhagens orgânicas como alfaces e misturas de folhas higienizadas são os produtos mais
vendidos. A expectativa em 2011 foi de um crescimento médio de 20% nas vendas deste
segmento no Carrefour (CAVALCANTE, 2010). Nos Mercadinhos São Luiz, as vendas de
orgânicos crescem até 10% por mês. A empresa comercializa carnes, azeite e palmito
orgânico e consolidou a venda de frutas, legumes e verduras orgânicas, a partir de parceria
com fornecedores locais.
Entretanto, a proposta dos alimentos orgânicos como uma alternativa
supostamente mais saudável de nutrição ainda tem barreiras a serem superadas, como, por
exemplo, as barreiras de preço e distribuição (BADUE, 2007; WIER; CALVERLEY, 2002,
JONES et al., 2001). Para os fornecedores desses mercados, os desafios se enquadram em

18
questões estratégicas e operacionais que devem ser identificadas e corrigidas no intuito de
atender à crescente demanda, o que exige estudos e investimentos (JONES et al., 2001).
Investigações sobre o comportamento de compra e consumo de produtos tidos
como ecológicos ganham ainda um relevante espaço nos estudos acadêmicos e suscitam
constantes pesquisas, uma vez que, além de ser um tema complexo e multidisciplinar, está
relacionado a crise ecológica alvo de constantes debates e tida como decorrente do
desenvolvimento humano (DIAS, 2009). Tem-se assim como imprescindível uma análise da
nova e evidente postura dos indivíduos sobre a maneira como consomem em tempos de
correção ambiental (KIM; CHUNG, 2011).
De uma maneira geral, essa compreensão do comportamento do consumidor já
proporciona benefícios significativos, como afirmam Mowen e Minor (2003), pois auxilia os
gestores em decisões estratégicas, apóia à legislação na criação de leis e regulamentos
referentes à circulação de mercadorias, e ainda no auxílio à compreensão de fatores
socioculturais que influem sobre o comportamento humano. Outro benefício relevante é para
o próprio consumidor que, por meio de pesquisas como a aqui proposta, tem as suas
percepções agregadas a um debate contemporâneo e necessário acerca de temas como os aqui
propostos e expostos.
De acordo com Zakowska-Biemans (2011), no cenário específico dos orgânicos,
tentar compreender os motivos por trás do consumo destes alimentos é essencial para a
formulação e implementação de estratégias adequadas, tais como de comunicação com o
mercado. Além de ser um campo ainda pouco explorado nos estudos de gestão, conforme
afirma a autora.
Acredita-se ainda que uma pesquisa que parte do pressuposto de que a percepção
geral que se tem acerca dos orgânicos, diferenciados e intrinsecamente associados ao
consumo ético e à responsabilidade socioambiental, pode não ser, de fato, tão profundamente
relacionadas a essas características na perspectiva do consumidor sugere aprofundamentos
acerca das reais orientações dessas pessoas. Essas orientações podem sinalizar, de acordo com
Guivant (2003), uma tendência caracterizada por uma busca de qualidade de vida pessoal, boa
forma e autopreservação. Associada aos alimentos orgânicos, essa tendência tem se tornado
cada vez mais objeto de estudos.
O Hartman Group, com seu estudo intitulado “The Wellness Lifestyle Shopper:
Mapping the Journeys of Wellness Consumers”, revelou que os consumidores em sua busca
para atingir o bem-estar são complexos, considerando-se a enorme diversidade de produtos
que a cada ano entra no mercado com apelos de melhoria na qualidade de vida. A

19
preocupação com a saúde e a qualidade nutricional dos alimentos foi citada por 66% dos
consumidores de orgânicos entrevistados. O conhecimento dos riscos dos pesticidas foi
mencionado por 38%, a segurança alimentar por 30%, enquanto razões ambientais foram
mencionadas apenas por 26% dos consumidores, contradizendo a crença de que os
consumidores de alimentos orgânicos são conscientes ambientalistas (GUIVANT, 2003).
Acredita-se, por fim, que seja relevante investigar o consumo relacionado a
questões de interesse público como o são as questões de saúde e meio ambiente ligadas aos
orgânicos, uma vez reconhecida a predominância da chamada cultura do consumo
(BAUDRILLARD, 2006), na qual a circulação de bens constitui linguagem e código social e
que, por seu intermédio, os indivíduos podem se comunicar e ser, inclusive, por ela
caracterizada.
1.4 Aspectos metodológicos
Esta pesquisa, no tangente aos seus fins, deve ser classificada como exploratória e
descritiva. A fase exploratória do estudo abrangeu ampla revisão da literatura acerca do tema,
quando buscou-se nas bases de dados nacionais e internacionais a identificação e escolha da
teoria que dá respaldo à investigação proposta. Ocorreram também, nesta fase exploratória, a
identificação, seleção e adaptação de questionários já utilizados em pesquisas internacionais,
coerentes com os objetivos aqui propostos, e que foram utilizados para a elaboração do
instrumento final de coleta desta pesquisa. A fase descritiva se deu mediante o método Survey
para a coleta de dados primários. Tem-se ainda a pesquisa como bibliográfica e de campo –
com a utilização de dados secundários e primários, respectivamente. Os dados primários
foram obtidos por meio da aplicação de questionamento estruturado.
No que tange a amostra, escolheu-se a não probabilística e intencional, sendo
composta ao final por 200 (duzentos) questionários válidos. Houve pré-teste com a utilização
de trinta questionários. A coleta de dados foi realizada em Fortaleza, capital do Estado do
Ceará, entre os meses de fevereiro e março de 2012, totalizando três semanas em campo. Os
questionários reformulados e aprimorados após o pré-teste foram aplicados dentro de
supermercados (16 supermercados ao todo) mediante autorização prévia dos
estabelecimentos. Uma feira agroecológica também serviu de unidade para coleta dos dados.
O tempo médio de cada aplicação de questionário foi de quinze minutos. Para proceder a
análise dos dados lançou-se mão de técnicas estatísticas multivariadas, com a utilização dos
softwares R, versão 2.14, SPSS e AMOS, versão 20.0. A modelagem de equações estruturais

20
(MEE) é o método estatístico. A MEE combina aspectos de regressão múltipla e da análise
fatorial para estimar uma série de relações de dependência entre construtos simultaneamente
(HAIR JR et al., 2005). A modelagem de equações estruturais testa empiricamente um
conjunto de relacionamentos de dependência através de um modelo que operacionaliza uma
teoria (SILVA, 2006).
1.5 Estrutura da dissertação
Além desta introdução, a dissertação é composta por mais seis seções: a seção 2 é
voltada para contextualizar os alimentos orgânicos legal e mercadologicamente. Ela discorre
principalmente sobre a legislação que controla e regulamenta o sistema orgânico de produção
nacional e o contexto mercadológico mundial e nacional desses alimentos. Constam ainda
algumas especificidades do mercado local a ser analisado. A seção 3 inicialmente
contextualiza de forma breve os estudos sobre o comportamento do consumidor. Nesta seção
são apresentados os conceitos essenciais para a compreensão da pesquisa tais como crenças,
atitudes e intenções comportamentais. A teoria base que foi utilizada na pesquisa, a Teoria do
Comportamento Planejado (TPB) é apresentada e explicada nesta seção 3. A seção seguinte, a
4, apresenta os resultados de várias pesquisas internacionais que se associam ao modelo
teórico escolhido para a análise. Encerra-se essa seção (e a revisão teórica deste estudo) com a
apresentação do modelo conceitual da dissertação, criado a partir de um framework validado.
A seção 5 abrange o percurso metodológico da pesquisa constando sua caracterização, a
amostra a ser investigada e o detalhamento e justificativa do instrumento de coleta utilizado.
A seção 6 traz a apresentação e discussão dos resultados da pesquisa, seguida pelas
considerações finais, a seção 7. A dissertação é encerrada pelas referências, expondo os
autores e as obras que alimentaram toda a base teórica e empírica do trabalho; bem como
apêndice que apresenta o instrumento de coleta utilizado como no momento da ida a campo.
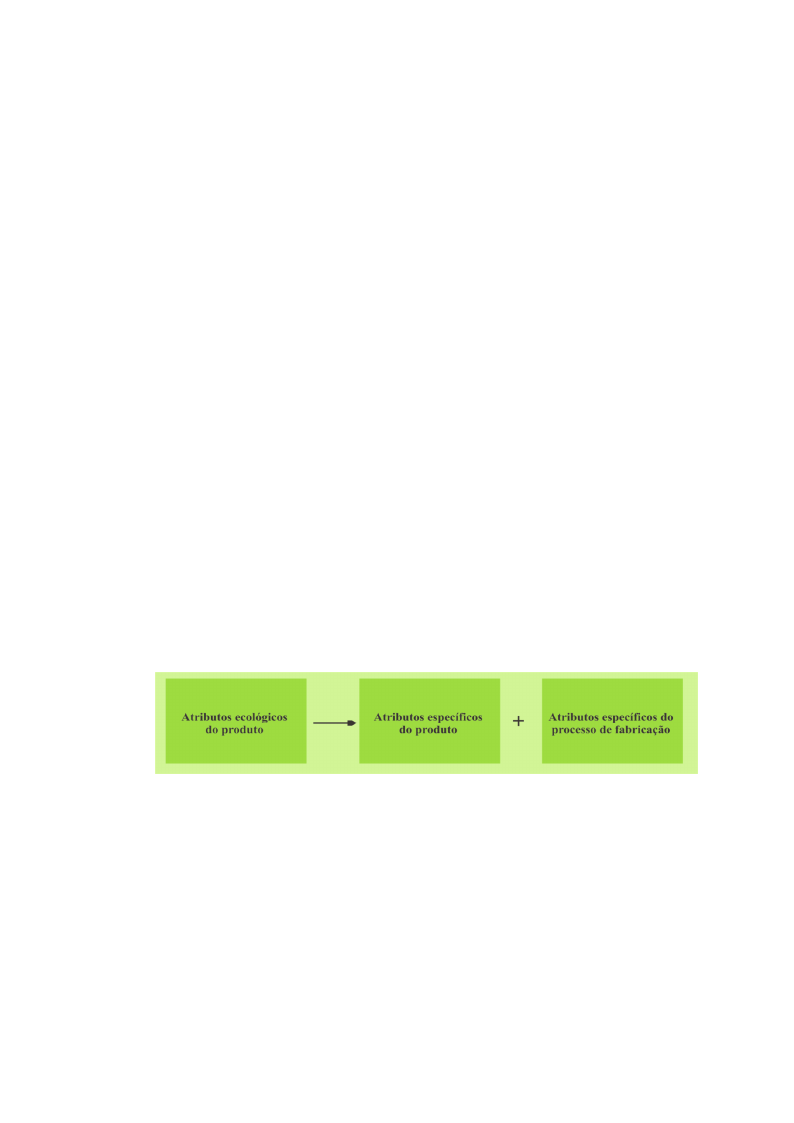
21
2 ALIMENTOS ORGÂNICOS
Nesta seção pretende-se abordar os principais aspectos relacionados aos alimentos
orgânicos. São apresentados os aspectos legais e de garantia de qualidade desses produtos,
bem como visualizam-se dados relativos ao mercado internacional e nacional.
2.1 Caracterização do sistema de agricultura orgânica
Conforme exposto no artigo 2º da Lei Nº 10.831 de 23 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre a agricultura orgânica no Brasil, produto orgânico é todo produto que for obtido,
seja ele processado ou in natura, em sistema orgânico de produção agropecuário ou oriundo
de processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local (BRASIL, 2003).
Os alimentos da agricultura orgânica são definidos pelas práticas e pelos insumos
utilizados em seus processos produtivos e não por propriedades intrínsecas ao produto dali
resultante (ZAKOWSKA-BIEMANS, 2011; SAHER et al., 2006). O conceito de um produto
ecológico envolve todo o processo de sua fabricação, e não apenas o produto em si (DIAS,
2009). Este autor afirma que os atributos ecológicos de um produto constituem a soma de
atributos específicos– tais como duração – com os atributos específicos do processo de
fabricação – consumo de energia, da água, geração de resíduos – como ilustrado na Figura 1.
Figura 1 – Atributos ecológicos do produto.
P
Fonte: Dias (2009).
Para Hoppe (2010), a denominação “orgânico”, visualizada nos rótulos de
alimentos, indica que aquele produto foi produzido em consonância com as normas da
produção de orgânicos e que foram certificados por uma entidade certificadora legalmente
constituída e autorizada. Segundo Chen (2009), de maneira geral, a agricultura orgânica se
refere ao sistema de cultivo que usa adubo orgânico e evita ou se abstém do uso de
fertilizantes sintéticos, pesticidas e produtos químicos. De acordo com a Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), sistemas de agricultura orgânica
bens geridos reduzem o risco de impactos negativos sobre o meio ambiente. A agricultura

22
orgânica pode ajudar a reduzir a contaminação da água e rotação de culturas e pode ainda
aumentar fertilidade do solo. Logo, este tipo de agricultura diferenciada é amplamente
percebido como uma maneira sustentável de tratar o meio ambiente (CHEN, 2009). O
desenvolvimento sustentável implica em atender às necessidades da geração atual sem
comprometer o direito das futuras gerações terem atendidas as suas próprias necessidades
(ROBLES JR; BONELLI, 2006; NOSSO FUTURO COMUM, 1991).
A expressão “alimento orgânico” foi utilizada pela primeira vez na década de
1940, embora o conceito subjacente seja muito mais antigo (JONES et al., 2001). Antes da
introdução de fertilizantes e pesticidas sintéticos na década de 1940, toda a agricultura no
Reino Unido foi realizado em linhas orgânicas. De acordo com Ormond et al. (2002), os
sistemas orgânicos de produção agrícolas remontam ao início da década de 1920 com o
trabalho do pesquisador inglês Albert Howard, que, ao observar as práticas agrícolas de
compostagem1 e adubação orgânica utilizadas na Índia, descreveu-as em seu livro Um
testamento agrícola, de 1940. Na França, Claude Aubert disseminou o conceito e as práticas
da agricultura biológica, na qual são obtidos alimentos pela utilização de rotação de culturas,
adubos verdes, estercos, restos de culturas, palhas e outros resíduos vegetais ou animais, bem
como controle natural de pragas e doenças. Em 1924, na Alemanha, Rudolf Steiner lançou as
bases da agricultura biodinâmica, que busca o equilíbrio das unidades produtivas (terra,
plantas, animais e o homem) ao utilizar influências do sol e da lua. Neste tipo de agricultura,
para se estabelecer o elo entre as formas de matéria e de energia presentes no ambiente natural
somente devem ser utilizados os elementos orgânicos produzidos na propriedade agrícola.
Esta é considerada como um organismo vivo, um ser indivisível (ORMOND et al., 2002).
Nos primeiros movimentos em favor de sistemas orgânicos de produção não havia
padrões, regulamentos ou interesses em questões ambientais e de segurança alimentar. Na
década de 1970 começaram a surgir no comércio da Europa os primeiros produtos orgânicos.
No mesmo período, aqui no Brasil, a produção orgânica estava diretamente relacionada com
movimentos filosóficos que buscavam o retorno do contato com a terra como forma
alternativa de vida em contraposição aos preceitos consumistas da sociedade contemporânea.
Ao recusar o aparato tecnológico da agricultura moderna, intensivo em insumos sintéticos e
agroquímicos e vigorosa movimentação de solo, acrescentou-se uma perspectiva ecológica ao
movimento. A comercialização se dava de forma direta, do produtor ao consumidor. Os dois
1 A compostagem é o processo de transformação de materiais grosseiros, como palhada e estrume, em materiais orgânicos
utilizáveis na agricultura. Este processo envolve transformações extremamente complexas de natureza bioquímica,
promovidas por milhões de microorganismos do solo que têm na matéria orgânica in natura sua fonte de energia, nutrientes
minerais e carbono.
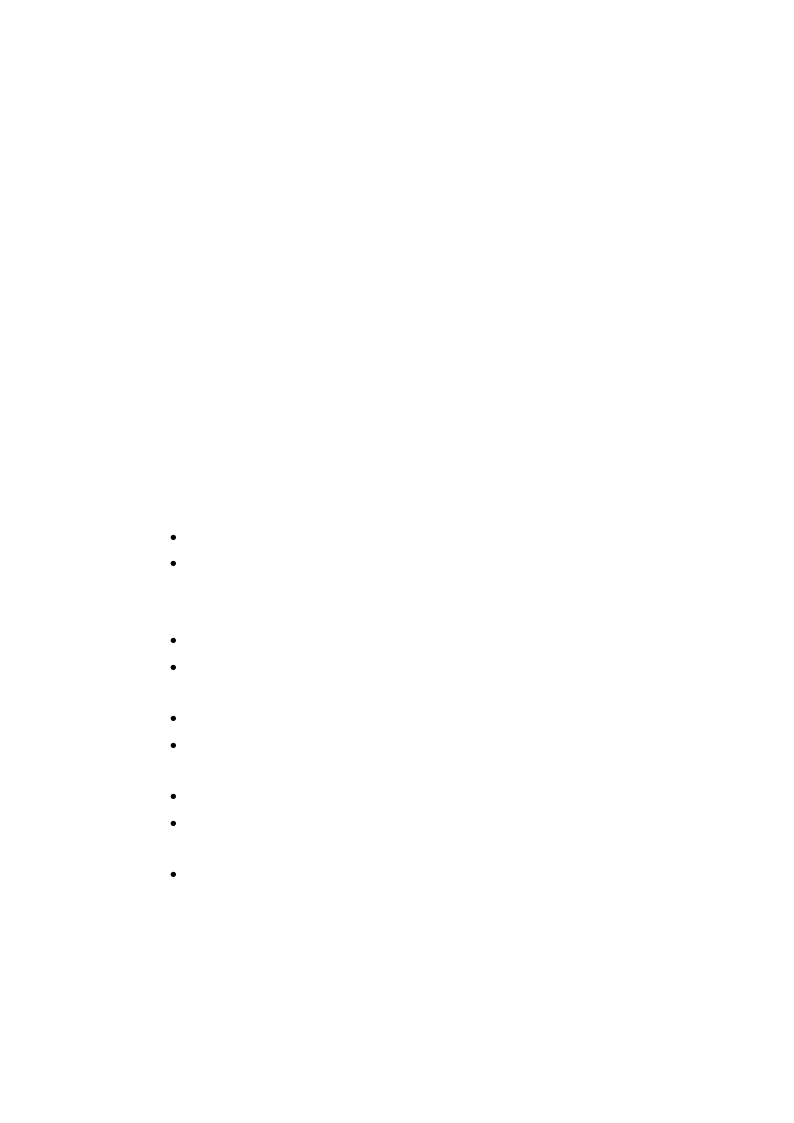
23
grupos defendiam a mesma filosofia, assemelhando-se a uma “ação entre amigos”. Com o
crescimento da consciência de preservação ecológica e a busca por alimentação cada vez mais
saudável, houve expansão da clientela dos produtos orgânicos e, na década de 1980,
organizaram-se muitas das cooperativas de produção e consumo de produtos naturais hoje em
atividade (ORMOND et al., 2002). No final da década de 1990, os produtos orgânicos entram
com força nos supermercados.
Em 2003, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), criou o
Programa de Desenvolvimento da Agricultura Orgânica (Pró-Orgânico), que fortaleceu os
segmentos de produção, processamento e comercialização de produtos orgânicos,
possibilitando implantar a Comissão Nacional da Produção Orgânica (CNPOrg) e comissões
nos estados, visando estimular a padronização e melhorias no comércio destes produtos
(ALVES, 2010).
Conforme disposto na Lei Nº 10.831, tem-se como a finalidade dos sistemas
orgânicos de produção (BRASIL, 2007):
A oferta de produtos saudáveis isentos de contaminantes intencionais;
A preservação da diversidade biológica dos ecossistemas naturais e a recomposição ou
incremento da diversidade biológica dos ecossistemas modificados em que se insere o
sistema de produção;
Incrementar a atividade biológica do solo;
Promover um uso saudável do solo, da água e do ar, e reduzir ao mínimo todas as
formas de contaminação desses elementos que possam resultar das práticas agrícolas;
Manter ou incrementar a fertilidade do solo em longo prazo;
A reciclagem de resíduos de origem orgânica, reduzindo ao mínimo o emprego de
recursos não-renováveis;
Basear-se em recursos renováveis e em sistemas agrícolas organizados localmente;
Incentivar a integração entre os diferentes segmentos da cadeia produtiva e de
consumo de produtos orgânicos e a regionalização da produção e comércio desses produtos;
Manipular os produtos agrícolas com base no uso de métodos de elaboração
cuidadosos, com o propósito de manter a integridade orgânica e as qualidades vitais do
produto em todas as etapas.
A regulamentação deste sistema de produção diferenciado ocorreu apenas em 27
de dezembro de 2007, com a publicação do Decreto Nº 6.323. O inciso III deste decreto
define ainda a certificação orgânica como o ato pelo qual um organismo de avaliação da

24
conformidade credenciado dá a garantia por escrito de que uma produção ou um processo
claramente identificado foi metodicamente avaliado e está em conformidade com as normas
de produção orgânica vigente (BRASIL, 2007).
2.2 Certificação e garantia de qualidade
De acordo com Vieira (2006), no momento de uma aquisição, os consumidores
dificilmente têm o conhecimento real acerca da qualidade do alimento em razão dela ser
representada por uma variedade de atributos passíveis ou não de serem identificados.
Evidências extrínsecas deverão existir para que possibilitem a verificação da presença (ou
ausência) da qualidade (VIEIRA, 2006). A autora enumera três atributos: de busca, de
experiência e de confiança. Os atributos de busca são aqueles que os consumidores podem
avaliar antes de comprar; os atributos de experiência são os que os consumidores só podem
avaliar ao consumir o produto. Em contrapartida, a presença ou não de química nos alimentos,
por exemplo, não pode ser detectada normalmente pelos consumidores. Esse é um exemplo de
um atributo de confiança.
2.2.1 Instrumentos para garantir a qualidade dos orgânicos
A legislação brasileira configurou três instrumentos para garantir a qualidade dos
alimentos orgânicos produzidos no país (BRASIL, 2008a): Certificação; Sistemas
Participativos de Garantia; Controle Social para a Venda Direta sem Certificação. Os dois
primeiros, a Certificação e os Sistemas Participativos formam o Sistema Brasileiro de
Avaliação da Conformidade Orgânica (SisOrg) e são realizados por Organismos de Avaliação
da Conformidade Orgânica (BRASIL, 2008a). Estes por sua vez, quando credenciados, são
responsáveis por lançar e manter atualizados os dados ligados a todas as unidades de
produção – empreendimentos destinados à produção, manuseio ou processamento de produtos
orgânicos – que estejam sob seu controle no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos e no
Cadastro Nacional de Atividades Produtivas.
A Certificação se dá por meio de empresas públicas ou privadas, com ou sem fins
lucrativos: as certificadoras. Essas empresas realizam inspeções e auditorias, de acordo com
procedimentos estabelecidos por normas reconhecidas internacionalmente, como por
exemplo, não ter ligação com o processo produtivo que estão avaliando. As certificadoras
devem garantir que cada unidade de produção e de comercialização certificada cumpra

25
determinadas exigências durante todas as etapas do processo. Cada unidade de produção
certificada deve apresentar um registro do tipo de produção na qual se enquadra. Isso permite
a obtenção de informações afim de realizar as verificações necessárias sobre produção,
armazenamento, processamento, aquisições e vendas (BRASIL, 2008a).
Entre as entidades certificadoras no Brasil destaca-se o IBD - Associação de
Certificação Instituto Biodinâmico. A certificação IBD possui credibilidade internacional e é
monitorada por instituições como a IFOAM (International Federation of Organic Agriculture
Movements), da Inglaterra; DAR, da Alemanha; USDA, dos Estados Unidos e JAS, do Japão.
Além disso, concede a certificação do padrão EUREPGAP (frutas, hortaliças e animais para
produção de carne). Produtos com selo IBD, visualizado na Figura 2, são exportados para a
Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, EUA, França, Japão, Reino Unido, Suíça e Canadá
(PLANETA ORGÂNICO, 2011).
Figura 2 – Selo de certificação orgânica IBD.
Fonte: INSTITUTO BIODINÂMICO (2011).
A Certificação pode ser feita ainda por Grupos de Produtores, desde que estes
sejam agricultores familiares, pequenos produtores, projetos de assentamento e outros grupos
formados por ribeirinhos, quilombolas, indígenas e extrativistas que possuam uma
organização e estrutura suficientes para assegurar um Sistema de Controle Interno dos
procedimentos regulamentados (BRASIL, 2008a).
Os Sistemas Participativos de Garantia (SPG) caracterizam-se pelo controle
social e pela responsabilidade solidária:
O Controle Social é um processo de geração de credibilidade, necessariamente
reconhecido pela sociedade, organizado por um grupo de pessoas que trabalham
com comprometimento e seriedade. Ele é estabelecido pela participação direta dos
seus membros em ações coletivas para avaliar a conformidade dos fornecedores aos
regulamentos técnicos da produção orgânica. Em outras palavras, o
comprometimento deles com as normas exigidas para esse tipo de produção. Já a
Responsabilidade Solidária acontece quando todos os participantes do grupo
comprometem-se com o cumprimento das exigências técnicas para a produção
orgânica e responsabilizam-se de forma solidária nos casos de não-cumprimento
delas por alguns de seus membros (BRASIL, 2008b, p.9).

26
Os Sistemas Participativos de Garantia (SPG) caracterizam-se, assim, pela
responsabilidade coletiva de seus membros. Estes podem ser: a) o produtor, a quem cabe por
exemplo, garantir que tanto os seus produtos quanto os do grupo estarão de acordo com os
regulamentos da produção orgânica; b) outros interessados, tais como consumidores, técnicos,
organizações públicas e privadas que tenham em comum o objetivo de fortalecer esses
sistemas; cabendo a esses a responsabilidade solidária pelos produtos avaliados (BRASIL,
2008b).
Os métodos de geração de credibilidade devem ser adequados a diferentes
realidades – sejam elas sociais, culturais, políticas, territoriais ou institucionais. O SPG deve
possuir um Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC), legalmente
constituído e credenciado pelo MAPA, cuja responsabilidade é avaliar a conformidade
orgânica dos produtos, incluir os produtores no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos e
autorizá-los a utilizar o selo do SisOrg. A OPAC corresponde às certificadoras tradicionais;
são elas que avaliam, verificam e atestam que produtos ou estabelecimentos produtores ou
comerciais atendem as exigências do regulamento da produção orgânica. Na realidade, a
OPAC toma a forma da pessoa jurídica assumindo a responsabilidade formal pelo conjunto de
atividades desenvolvidas em um SPG (BRASIL, 2008b).
O Controle Social para a Venda Direta sem Certificação refere-se à venda que
acontece entre produtor e consumidor final sem intermediários (BRASIL, 2008c). Para
legitimar a relação de confiança estabelecida entre produtores e consumidores, a legislação
brasileira abriu uma exceção na obrigatoriedade de certificação dos orgânicos que são
vendidos diretamente em feiras e pequenos mercados locais. Para isso, os produtores – que
pode ser um grupo de agricultores familiares, associação, cooperativa ou consórcio, com ou
sem personalidade jurídica – têm de fazer parte de uma Organização de Controle Social
(OCS) cadastrada em órgãos fiscalizadores, dentre os quais o próprio Mapa.
A OCS tem por função orientar os associados sobre a qualidade dos produtos
orgânicos. Para que tenha credibilidade e seja reconhecida pela sociedade, precisa estabelecer
uma relação de organização, comprometimento e confiança entre os participantes. A venda
pode ser realizada pelo próprio produtor assim como por um membro de sua família que
integre o processo de produtivo e seja vinculado à OCS. Vale ressaltar que, no caso específico
deste Controle Social para a Venda Direta sem Certificação, os orgânicos não podem
estampar o selo “Produto Orgânico do Brasil” do SisOrg mas seus fornecedores podem
apresentar aos seus mercados locais um documento oficial atestando que são cadastrados
como produtores orgânicos (BRASIL, 2008c).
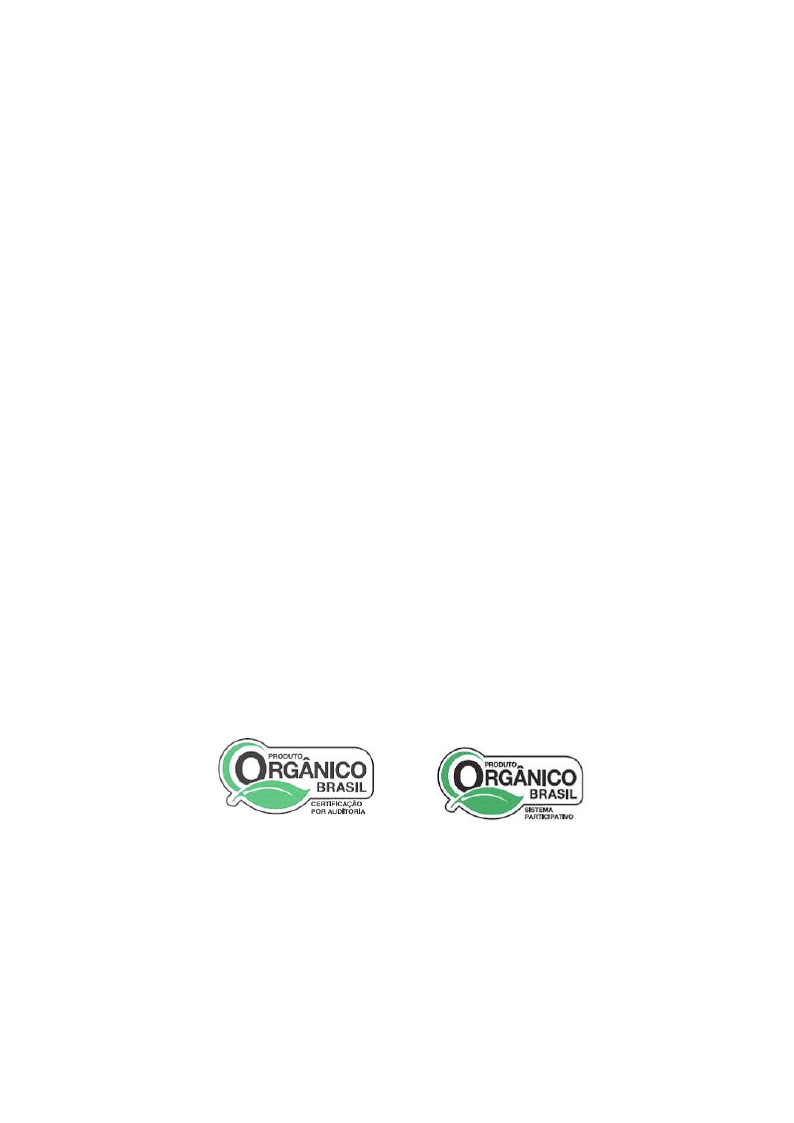
27
De acordo com Vieira (2006), as certificações servem como mecanismos de
controle do cumprimento de atributos. Para Dias (2009), as certificações ambientais em geral
se constituem em garantia de que os atributos ambientais declarados sejam reais, o que é
positivo para o consumidor, que terá a certeza de estar consumindo um produto benéfico para
si e para o meio ambiente; para o empresário, que obtém um elemento que o diferenciaria em
relação aos concorrentes; e para a sociedade em geral, que fica apta a identificar as
organizações que contribuem com boas práticas.
A França foi o primeiro país europeu a criar um certificado oficial para a
agricultura orgânica. Em 1997, o governo francês lançou um plano de ação com o objetivo de
tornar o país o maior fornecedor de produtos orgânicos na Europa. Na União Européia, para
que um produto seja comercializado como orgânico é necessário que ele seja certificado por
algum país membro, o que permite a sua comercialização nos demais países da União
(ORMOND et al, 2002).
No Brasil, os alimentos orgânicos vendidos no varejo precisam ter o selo do
SisOrg que é gerido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa. O
SisOrg é integrado por órgãos e entidades da administração pública federal e pelos
Organismos de Avaliação da Conformidade, entendidos por Certificação por Auditoria e
Sistemas Participativos de Garantia, credenciados pelo Mapa. O selo do Sistema Brasileiro de
Avaliação da Conformidade Orgânica, visualizado na Figura 3, é o selo público oficial e é
utilizado para identificar e controlar a produção nacional de orgânicos.
Figura 3 – Selo Produto Orgânico Brasil, do Sistema Brasileiro da Avaliação da Conformidade Orgânica
(SisOrg).
Fonte: Brasil (2009).
Desde o mês de janeiro de 2011 os produtos certificados por Auditoria e Sistemas
Participativos de Garantia apresentam o selo do SisOrg em seus rótulos. Este selo garante a
conformidade do alimento orgânico diante da legislação federal. Ele aparece ao lado das
marcas das certificadoras registradas junto ao Mapa e ao Instituto Nacional de Metrologia
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). O produtor não tem propriedade sobre o selo
orgânico, ele o recebe como uma marca cedida por outra organização certificadora mediante

28
contrato assinado entre as partes. O selo recebido reflete o fato de que o sistema produtivo
está em conformidade com as normas nacionais e internacionais sobre produção orgânica e
deve ter sua credibilidade preservada.
2.3 Orgânicos e o mercado internacional
De acordo com dados da pesquisa mundial realizada pelo Forschungsinstitut für
biologischen Landbau / Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) e pela International
Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), as terras agrícolas destinadas ao
plantio de orgânicos, bem como o mercado global desses alimentos estão em forte
crescimento. Os dados estatísticos acerca do mercado mundial de orgânicos provêm
atualmente de 160 países, número superior aos anos de 2008 e 2007, onde 154 e 141 países,
respectivamente (WILLER; KILCHER, 2011).
Na época da realização deste estudo existiam 37,2 milhões de hectares de terras
agrícolas orgânicos em todo o mundo, incluindo as áreas que estão em processo de conversão.
As regiões com as maiores áreas destinadas à agricultura orgânica são Oceania (12,2 milhões
de hectares), Europa (9,3 milhões de hectares) e América Latina (8,6 milhões de hectares)
(WILLER; KILCHER, 2011). Em seguida vêm a Ásia, com 3,6 milhões de hectares; América
do Norte, com 2,7 milhões de hectares; e a África com 1 milhão de hectares de terras,
conforme visualizado na Figura 4.
Figura 4 – Áreas destinadas à agricultura orgânica no mundo, por continente, em 2009 (milhões de hectares).
Fonte: Willer e Kilcher (2011).
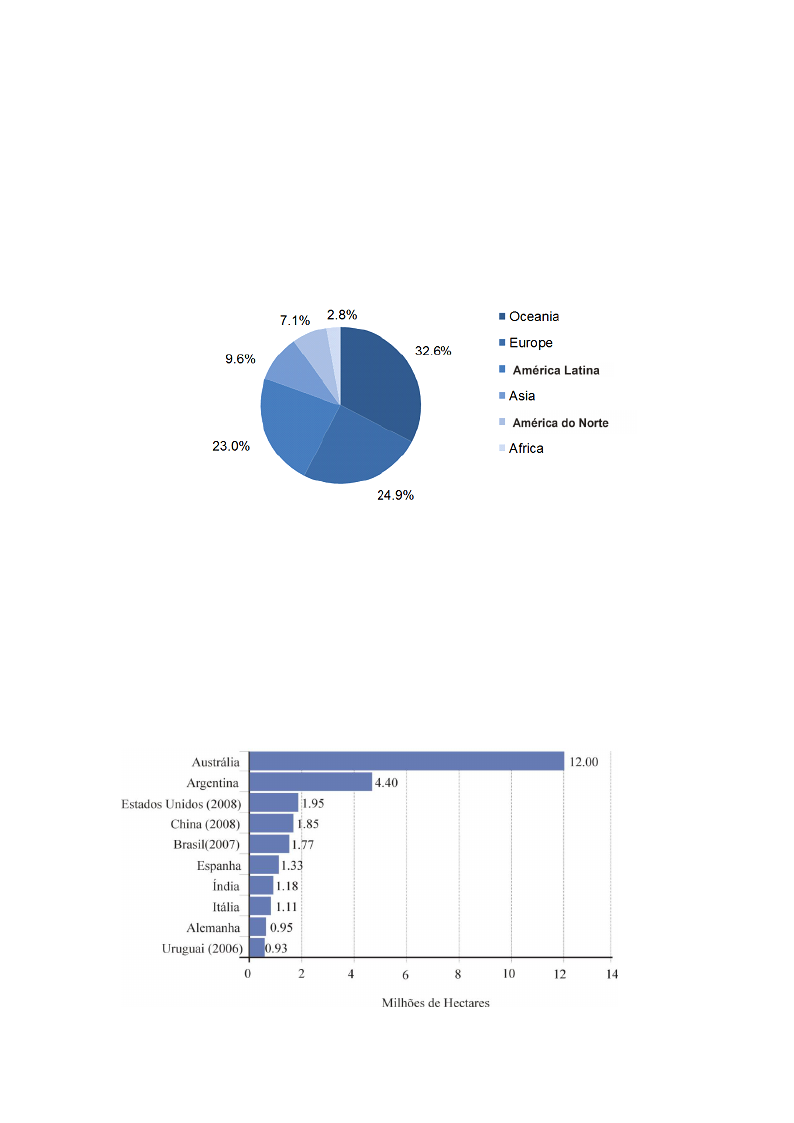
29
A Oceania possui quase um terço das terras destinadas ao plantio de orgânicos, o
que corresponde a 32,6%, visualizado no Grafico 1, das terras de cultivo de orgânicos do
planeta. A Europa é a região que tem tido um crescimento constante ao longo dos anos e
possui um quarto das terras orgânicas no mundo (24, 9%), seguida da América Latina, com
23% do total das terras.
Gráfico 1 – Distribuição de terras agrícolas orgânicas por região em 2009.
Fonte: Willer e Kilcher (2011)
A Austrália é o país com as maiores extensões de terras agrícolas orgânicas no
mundo. Argentina é o segundo país, seguida pelos Estados Unidos, conforme o Grafico 2. O
Brasil fica em quinto lugar, atrás da China. Os dez países com as maiores extensões de terras
destinanadas a produção de orgânicos juntos somam um total de 27,5 milhões de hectares,
constituindo-se, assim, em três quartos de terra agrícola (orgânica) do mundo.
Gráfico 2 – Os dez países com as maiores extensões de terra destinadas a agricultura orgânica em 2009.
Fonte: Willer e Kilcher (2011).
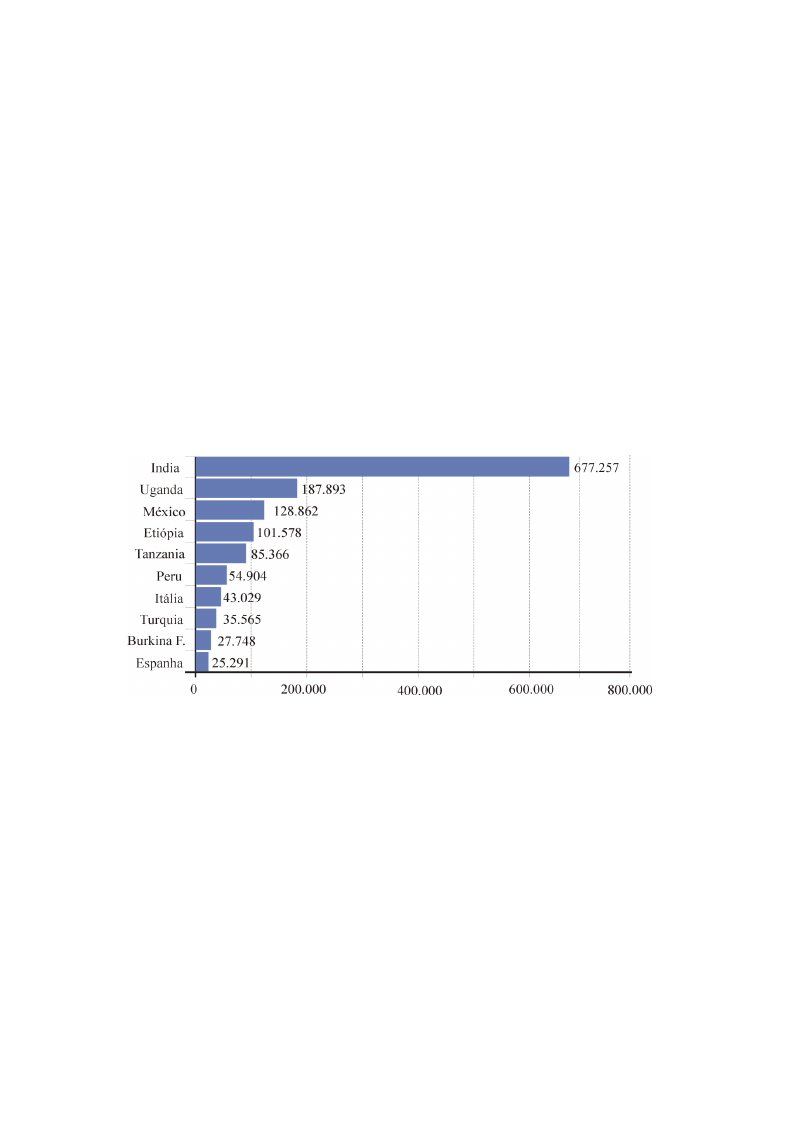
30
No que concerne aos fornecedores, em 2009 registrou-se um total de 1,8 milhões
de produtores de orgânicos ao redor do mundo. Registrou-se um aumento de 31 por cento em
relação ao ano de 2008 devido principalmente a um acréscimo no número de produtores na
Índia. Os países com maior número de produtores orgânicos no mundo são a Índia (677.257),
Uganda (187.893) e México (128.862), conforme apresentado no Gráfico 3. Deve-se ressaltar,
entretanto, que esse número total pode ser bem maior uma vez que nem todas as entidades
certificadoras registraram os produtores (WILLER; KILCHER, 2011).
Quarenta por cento dos produtores de orgânicos do mundo estão na Ásia; em
segundo e terceiro lugar, respectivamente, estão África com 28 por cento, e América Latina
com 16 por cento.
Gráfico 3 – Os países com maiores produtores de orgânicos no mundo, em 2009.
Fonte: Willer e Kilcher (2011).
O volume de negócios com produtos orgânicos mais do que triplicou desde 1999,
quando foi estimado em 15 bilhões de dólares. Em 2009, o mercado mundial de alimentos e
bebidas orgânicos certificados foi estimado em 54,9 bilhões de dólares. Ainda sob o efeito da
crise econômica global, em 2009 alguns países estagnaram (como na Alemanha), e outros
registraram um crescimento estável como foi o caso da França, que registrou um crescimento
do volume de negócios orgânicos em torno de 19 por cento (WILLER; KILCHER, 2011).
Mais de noventa por cento das receitas de produtos orgânicos é gerada no
Hemisfério Norte. A Europa é responsável por 48 por cento das vendas globais de alimentos
orgânicos; e a América do Norte responde por 48,1 por cento desse volume de vendas
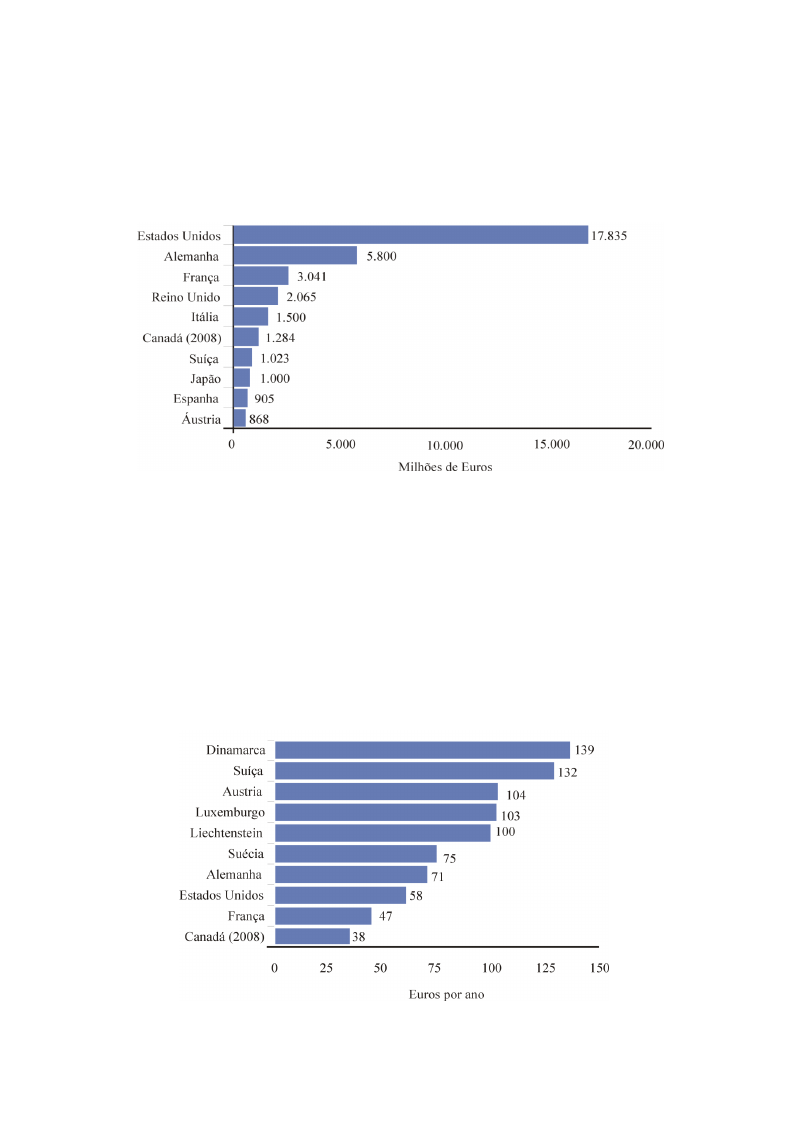
31
(WILLER; KILCHER, 2011). Em 2009, os Estados Unidos lideraram o ranking dos
mercados domésticos, seguidos pela Alemanha e França, conforme apresentado no Gráfico 4.
Gráfico 4 – Países com os maiores mercados domésticos, em 2009.
Fonte: Willer e Kilcher (2011).
Em 2009, os países com as mais elevadas fatias de mercado de alimentos
orgânicos foram a Dinamarca (7,2 por cento), Áustria (6 por cento) e Suíça (5,2 por cento).
Estes mesmos países lideram o ranking referente ao consumo per capita anual: Dinamarca
(139 Euros), Suíça (132 Euros) e Áustria (104 euros) conforme visto no Gráfico 5. As
categorias de produtos orgânicos mais populares são frutas e legumes frescos, lacticínios e
produtos de panificação (WILLER; KILCHER, 2011).
Gráfico 5
maiores
consumo
em 2009.
– Países com os
índices
de
per capita anual,

32
Fonte: Willer e Kilcher (2011)
De acordo com Willer e Kilcher (2011), um número crescente de produtores está
sendo verificado em seus mercados locais por meio dos Sistemas Participativos de Garantia
(SPG). Iniciativas como os SPG estão presentes em todos os continentes, embora a América
Latina e a Índia liderem nesse tipo de certificação. De uma maneira geral, em 2010
empreenderam-se esforços para aumentar o reconhecimento oficial dos SPG pelos governos,
principalmente no Brasil e na Índia. O ano de 2010 foi também um ano de consolidação no
domínio das normas e regulações (WILLER; KILCHER, 2011).
Na Europa, outro passo relevante para o sistema orgânico de produção e
comercialização foi dado em 2010 quando da eleição, com mais 130.000 votos contabilizados,
do selo único que representaria os orgânicos produzidos na União Européia (NIGGLI, 2010).
O selo pode ser visualizado na Figura 5.
Figura 5. Selo único da certificação orgânica da União Européia.
Fonte: Niggli (2010).
Segundo a pesquisa do FiBL, 74 países já possuem padrões e normas referentes
aos orgânicos, e outros 27 países estão em processo de elaboração de legislação própria.
Houve um crescimento modesto no número de organismos de certificação na maioria das
regiões, com um destacado aumento nos países europeus. O número total de organismos de
certificação no mundo atualmente chega a 532. Grande parte das entidades certificadoras está
concentrada na União Européia, Estados Unidos, Japão, Coréia do Sul, China, Canadá e no
Brasil (WILLER; KILCHER, 2011).
Na América Latina, de acordo com dados de 2009, mais de 280.000 produtores
manejam 8,6 milhões de hectares de terras orgânicas agrícolas, o que equivale a 23 por cento
de toda a terra destinada aos orgânicos no mundo (WILLER; KILCHER, 2011). A maioria
dos produtos orgânicos dos países latino-americanos é destinada ao mercado europeu, norte-
americano e japonês. As frutas tropicais, grãos e cereais, café, cacau, açúcar e carnes estão

33
entre as culturas mais relevantes na America Latina. As vendas de alimentos orgânicos na
maioria dos mercados domésticos do continente sul americano ocorrem nas grandes cidades
(WILLER; KILCHER, 2011). Os países líderes nesse continente são Argentina (4,4 milhões
de hectares), Brasil (1,8 milhões de hectares) e Uruguai (930.965 hectares). A seguir, aborda-
se o mercado de orgânicos no contexto brasileiro.
Os dados expostos refletem, portanto, um sistema de produção e consumo com
níveis extremamente satisfatórios e crescentes em todo o mundo, refletindo ainda a
preocupação com a qualidade, por meio das certificações, e com a expansão deliberada dos
orgânicos no cotidiano de uma crescente leva de consumidores ao redor do planeta; o que se
reflete, ou constata-se também no Brasil, conforme veremos a seguir.
2.4 Mercado brasileiro de orgânicos
Mesmo com uma participação ainda pequena no mercado agropecuário brasileiro,
a produção de orgânicos tem se desenvolvido bastante (FLORES, 2011). O faturamento dos
fornecedores de orgânicos em 2010 foi de cerca de R$ 500 milhões, de acordo com a
estimativa da Associação Brasileira de Orgânicos (BRASILBIO), que engloba os produtores,
processadores e certificadores de orgânicos. Este valor, afirma Flores (2011), corresponde a
apenas 0,2% dos R$ 255,3 bilhões registrados pela Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA), como referentes ao valor bruto de toda a produção do setor agropecuário
como um todo, em 2009.
Em contrapartida, o mercado dos alimentos orgânicos cresce mais que o mercado
tradicional (FLORES, 2011). Em 2010 a estimativa é que ele tenha aumentado em 40% em
relação a 2009. Mantido esse crescimento, espera-se que o setor fature aproximadamente R$
700 milhões em 2011. A evolução do setor agropecuário tradicional está estimada para 7,4%
neste ano, de acordo com dados da CNA. A demanda em todo o mundo por orgânicos cresce
acima de 30% ao ano e no Brasil cresce até 40%, de acordo com a Associação Brasileira de
Orgânicos (FLORES, 2011). Em maio de 2011 existiam cerca de 9,7 mil produtores
orgânicos cadastrados no MAPA, embora a expectativa é a de que essa quantidade seja
superior e alcance um número em torno de 15 mil produtores em 2012 (BRITO, 2011).
O Brasil tem potencial para tornar-se um dos grandes produtores de orgânicos e
ser a porta de entrada destes produtos (MATIAS, 2011). Para o Sebrae de São Paulo, a
situação econômica brasileira é confortável e o grau de amadurecimento do consumidor
brasileiro indicam que cada vez mais a população vai buscar qualidade na alimentação

34
(MATIAS, 2011). Neste sentido, tem-se que os dois pontos de venda característicos de
orgânicos são os supermercados e as feiras agroecológicas.
Os supermercados desempenham um importante papel como principal canal de
distribuição de produtos orgânicos ao consumidor final, a frente das feiras ecológicas, das
entregas em domicílio e de outros canais de venda (GUIVANT, 2003). Durante a década de
1990, a produção e consumo de orgânicos expandiram consideravelmente tanto no Brasil
como no exterior. Os supermercados passaram a ter papel dominante como canal de
comercialização. As tradicionais feiras e lojas de produtos naturais passaram a buscar novas
estratégias de comercialização, tais como a entrega direta de cestas com produtos por pedidos.
Uma tendência internacional colocou os supermercados como canal central e
dominante na expansão do consumo de produtos orgânicos (GUIVANT, 2003). Cada vez
mais os espaços nas gôndolas dos supermercados para os produtos orgânicos aumentam,
segundo a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA). Mais do que a oferta de orgânicos,
muitas redes de supermercados têm se destacado por adotarem importantes estratégias de
vendas a fim de atrair os consumidores (MORO, 2008).
As feiras ecológicas são provavelmente a forma mais popular de comércio
orgânico na América Latina e muitos governos locais subsidiam este tipo de comercialização
(GUIVANT, 2003). Para a autora, apesar do pouco significado econômico dessas feiras
individualmente, esse sistema de venda é importante para os pequenos produtores e
representam uma importante parte do mercado orgânico do continente. Este sistema, em
muitos casos, serviu como ponto de partida para outros métodos de comercialização e resultou
no desenvolvimento de associações de produtores de lojas e distribuidoras especializadas.
Na capital cearense, as feiras ecológicas são promovidas na Praça da Gentilândia,
no bairro Benfica, ocorrendo quinzenalmente, aos sábados. A Associação para o
Desenvolvimento da Agropecuária Orgânica (ADAO), também promove no Mercado dos
Pinhões a venda aberta de orgânicos todas as terças-feiras das 6h às12h. Os produtores que
participam dessas feiras englobam agricultores familiares dos municípios de Mulungu, da
Associação Vale da Biodiversidade e de Canindé.
Tem-se ainda que os hábitos alimentares da população brasileira podem variar
consideravelmente em todo o país. Aspectos regionais e culturais influenciam no consumo
(BARCELLOS et al. 2009). Assim, o comportamento do consumidor de alimentos orgânicos
também é objeto de pesquisas científicas nacionais em diferentes regiões, conforme exposto a
seguir.

35
2.5 Consumidor de orgânicos no Brasil
Moura et al. (2010) investigaram, na região sudeste, a percepção dos
consumidores de orgânicos acerca dos benefícios e dos atributos mais importantes ligados a
esses alimentos. Identificaram que a tríade saúde, meio ambiente e sabor caracteriza os
elementos mais buscados. A pesquisa descreve ainda o consumidor de orgânicos como
alguém preocupado com questões ambientais e sociais, tais como a manutenção dos pequenos
produtores rurais. A qualidade de vida por meio da alimentação saudável e da prática de
exercícios físicos regulares também possui forte relevância (MOURA et al, 2010).
Costa, Lima e Montefusco (2008) buscaram investigar, por meio de estudo de
caso, os conceitos e práticas adotadas em relação à produção e ao consumo sustentável no
mercado agropecuário orgânico no Ceará. Buscou-se analisar a relação entre os construtos
satisfação/ identificação/compromisso com a divulgação boca a boca de orgânicos em
Fortaleza. Foram entrevistados clientes de uma associação de produtores e verificou-se que há
variações na interação entre esses construtos. Constatou-se ainda que nessa associação de
produtores a consciência ambiental por trás do desejar um produto saudável é o fator
preponderante no momento da aquisição de produtos orgânicos.
Sousa, Lima Filho e Araújo. (2007) buscaram identificar as motivações por trás de
hábitos gerais de alimentação saudável, em quatro capitais brasileiras: São Paulo, Recife,
Porto Alegre e Goiânia. Identificou-se que os atributos sabor e qualidade nutricional estão
entre os fatores determinantes para a escolha de alimentos quando da busca por mais saúde.
Zamberlan, Büttenbender e Sparemberger (2006) investigaram o grau de
identificação e conhecimento acerca dos orgânicos no Rio Grande do Sul, considerando
aspectos relacionados ao produto, preço, distribuição e comunicação desses produtos.
Observou-se que há concentração de consumidores fazendo compras de orgânicos em feiras
ou diretamente do produtor, 47,2% e 25% respectivamente, e apenas 19,4% de consumidores
compram em supermercados e mercados. Verificou-se ainda que hortaliças e frutas estão entre
os produtos mais procurados entre todos os agroecológicos. A preocupação com a saúde e a
qualidade destes produtos foi apontada como o maior incentivo para o consumo. Observou-se
ainda que 83% dos consumidores pesquisados declararam que os produtos agroecológicos são
mais saborosos em relação aos convencionais. Os consumidores demonstraram ainda sentir
sensação de segurança a respeito dos benefícios à saúde gerados pelos agroecológicos quando

36
estes produtos são certificados: 86,24% deles concordaram que o produto com selo de
qualidade passa a imagem e a certeza de garantia de qualidade. O preço dos alimentos
agroecológicos foi considerado mais elevado que o dos produtos convencionais.
(ZAMBERLAN; BÜTTENBENDER; SPAREMBERGER, 2006).
Outros estudos relevantes contribuem para a análise do comportamento de
compra de orgânicos no Brasil. Vilas Boas, Pimenta e Sette (2008) buscaram descrever, por
meio de pesquisa qualitativa, as características dos consumidores de FLV orgânicos em
Uberlândia, relacionando os atributos e benefícios percebidos nos alimentos orgânicos com
valores pessoais. Valores ligados ao senso de coletividade tiveram menor incidência em
relação aos ligados ao bem estar pessoal (VILAS BOAS; PIMENTA; SETTE, 2008). Os
autores descrevem o perfil demográfico característico do consumidor de orgânico: pessoas
que residem em grandes cidades e que possuem boa escolaridade e renda elevada.
No estudo de Krischkel e Tomiello (2009) também fica evidente que a busca por
saúde é uma das principais razões para compra de alimentos orgânicos. O fator “ausência de
agrotóxico” está mais associado à saúde do que com o cuidado com o meio ambiente. Além
das preocupações com o meio ambiente terem sido pouco citadas, houve inclusive, da parte
dos entrevistados, uma referência a uma possível capacidade de renovação dos ecossistemas
independente dos impactos, sendo, portanto, algo para não se preocupar muito.
A pesquisa realizada por Ceschim (2008) objetivou compreender as influências
das características pessoais, dos atributos percebidos nos produtos orgânicos e das
características psicológicas de consumidores entre 18 e 70 anos, das classes A e B (Critério
Brasil). O estudo revelou que consumidores de orgânicos se autoavaliam como inovadores por
consumirem esses alimentos. A procura e o consumo de novidades, assim como a busca
constante por informações, sinalizam, segundo a autora, um comportamento inovador
(CESCHIM, 2008). Os consumidores que se declararam inovadores consomem maior
variedade de orgânicos, com maior freqüência, além de possuírem maior conhecimento sobre
esses produtos. Os orgânicos foram declarados como compatíveis com as crenças e valores
sócio-culturais dos pesquisados. Os consumidores percebem as vantagens relativas dos
orgânicos mesmo considerando a diferença de preços quando comparados aos convencionais
(CESCHIM, 2008).

37
3 O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E A TEORIA DO
COMPORTAMENTO PLANEJADO
Esta seção aborda o comportamento do consumidor relacionado aos alimentos
orgânicos. Inicialmente apresentam-se definições gerais acerca dos estudos sobre o
comportamento do consumidor assim como sua relevância. Em seguida, são discutidos os
principais conceitos relativos às atitudes do consumidor, uma vez que são necessários ao
entendimento da Teoria do Comportamento Planejado além de serem intrinsecamente ligados
a ela. Logo, crenças, afeto, intenções comportamentais e comportamentos são os principais
itens abordados. O desdobramento teórico ligado a estes conceitos conduzem à subseção
referente à Teoria do Comportamento Planejado – Theory of Planned Behaviour (TPB), que
embasa esta pesquisa.
3.1 O Comportamento do consumidor
As análises decorrentes do comportamento do consumidor são benéficas para todas
as ciências sociais e sua importância e impacto vão além dos estudos mercadológicos
(MARSDEN, 2001). Seth, Mittal e Newman (2001) afirmam que o comportamento do
consumidor envolve esforços físicos e mentais empreendidos por clientes de bens de consumo
e industrial que resultam em decisões e ações de compra e consumo. Blackwell, Miniard e
Engel (2009, p.6), definem o comportamento do consumidor como “atividades com que as
pessoas se ocupam quando obtêm, consomem e dispõem de produtos e serviços”. Têm-se os
estudos sobre o comportamento humano em atividades de consumo como recentes e
evidenciam-se seus primeiros manuais escritos como sendo da década de 1960, o que
representou uma mudança significativa na história do pensamento de marketing (SHETH;
GARDNER e GARRETT, 1988).
A compreensão dos comportamentos ligados ao consumo proporciona benefícios
significativos – se embasados por pesquisas voltadas para problemas reais e de aplicabilidade
prática (MARSDEN, 2001) – quando auxilia gestores na tomada de decisões, quando apóia à
legislação na criação de leis e regulações referentes à compra e a venda de mercadorias e
quando fornece subsídios para compreensão dos fatores sociais que influenciam o
comportamento humano (MOWEN; MINOR, 2003). Esse campo de estudo vem recebendo

38
contribuições de diversas ciências ao longo de sua história (PINTO; LARA, 2008; DI
NALLO, 1999).
O comportamento do consumidor abrange um campo interdisciplinar onde
convergem interpretações derivadas de diferentes perspectivas, por vezes não
complementares. Disso resulta, de um lado, em contribuições significativas, mas, de outro, na
ausência da coerência derivada de um modelo geral, e reflexões sobre quão os diferentes
fatores considerados são relevantes (PINTO; LARA, 2008; MARSDEN, 2001; HOLBROOK,
1987).
A psicologia, por exemplo, quando estuda o consumo, lida com os mesmos tipos de
questões que a psicologia em geral (AJZEN, 2008) tais como memória e cognição, afeto e
emoção, julgamento e tomada de decisão, dinâmica de grupo, e toda uma miríade de tópicos
abordados na literatura das ciências psicológicas, como o são as relações entre as atitudes e os
comportamentos, explicitados na seção a seguir.
3.2 As Atitudes em comportamento do consumidor
Embora as definições formais variem, concorda-se que as atitudes podem ser vistas
como uma tendência em responder a um objeto com algum grau de favorecimento ou
desfavorecimento; ou mesmo que elas representem uma breve avaliação de um
objeto psicológico captados em dimensões tais como bom-mau, agradável-desagradável,
simpático-antipático (AJZEN, 2001). Para Vieira (2007), a atitude pode ser considerada o
alicerce sobre o qual foi construída a Psicologia Social, além de ter influencia profunda sobre
as disciplinas fundamentais da área de negócios.
As atitudes ocupam um papel central nas teorias e pesquisas sobre comportamento
do consumidor. Ao refletir as predisposições dos indivíduos em se comportar de determinada
forma, as atitudes relacionam-se aos principais aspectos da vida social, implicando em
expectativas e avaliações acerca do próprio comportamento e do comportamento alheio. As
atitudes, assim, causam respostas consistentes precedendo ou até mesmo produzindo
comportamentos; podendo ainda, e inversamente, o comportamento final ser utilizado para
inferir as atitudes por trás dele (AJZEN, 2008).
Uma grande quantidade de pesquisas têm concentrado na estrutura e nos
determinantes das atitudes, assim como na persuasão e outras técnicas destinadas a mudá-las
(AJZEN, 2008). O psicólogo Daniel Katz (apud SOLOMON, 2011; MOWEN; MINOR,
2003) formulou uma teoria funcional das atitudes para explicar como estas facilitam o

39
comportamento social: a função utilitária das atitudes determina que as pessoas expressem
sentimentos para maximizar as compensações e minimizem as punições recebidas de
terceiros; pela função de expressão de valor, os consumidores são capazes de expressar seus
valores centrais e seu conceito do eu perante as outras pessoas; na função de conhecimento, as
atitudes servem como diretrizes para simplificar a tomada de decisão. Tem-se, portanto, uma
perspectiva pragmática das atitudes. Quando os indivíduos pressupõem precisar lidar com
situações semelhantes no futuro, eles são mais propensos a formarem atitudes
antecipadamente ao momento da situação de fato. Duas pessoas podem, por exemplo, formar
uma atitude em relação a um objeto por razões distintas.
No entanto, não necessariamente tem-se apenas uma única atitude em relação a dado
objeto. Em um mesmo contexto é possível ter duas atitudes em relação a algo (WILSON;
LINDSEY; SCHOOLER, 2000). Para estes autores, uma atitude pode ainda sobrepor-se a
outra no decorrer do tempo sem que a primeira avaliação que se tinha sobre algo desapareça.
3.2.1 Formação das atitudes
A formação das atitude tem atraído, ao longo das últimas décadas, a atenção de
pesquisadores nas teorias e pesquisas em ciências sociais e comportamentais (AJZEN, 2001).
As pessoas não nascem com avaliações prontas acerca de tudo; elas podem formar-se com
base em alguma experiência ou informações acerca das coisas e são armazenadas na memória
permanente dos indivíduos (BASSILI; ROY, 1998).
Desta forma, as atitudes são formadas a partir de processos cognitivos (AJZEN,
2001). Elas podem ocorrer, por exemplo, como resultado de um condicionamento, quando o
objeto de atitude é repetidamente associado a outro elemento atraente ao indivíduo. As
atitudes, no entanto, podem ser resultantes de um processo cognitivo ainda mais complexo.
Em uma perspectiva tradicional, as atitudes são compostas a partir de três
componentes: cognição, afeto e conação (SETH; MITTAL; NEWMAN, 2001; ENGEL,
BLACKWELL, MINIARD, 2000).
A cognição relaciona-se com tudo o que os indivíduos acreditam (as crenças) ser
verdadeiro em relação ao objeto de suas atitudes. As pessoas podem formar muitas crenças
sobre um produto ou qualquer outro objeto, mas supõe-se que apenas um pequeno número vai
influenciar a atitude em determinado momento (AJZEN, 2001). Algumas crenças podem ser
formadas com base na observação direta (FISHBEIN; AJZEN, 1975). É relevante ressaltar
que as crenças em relação a algo podem não corresponder necessariamente à realidade
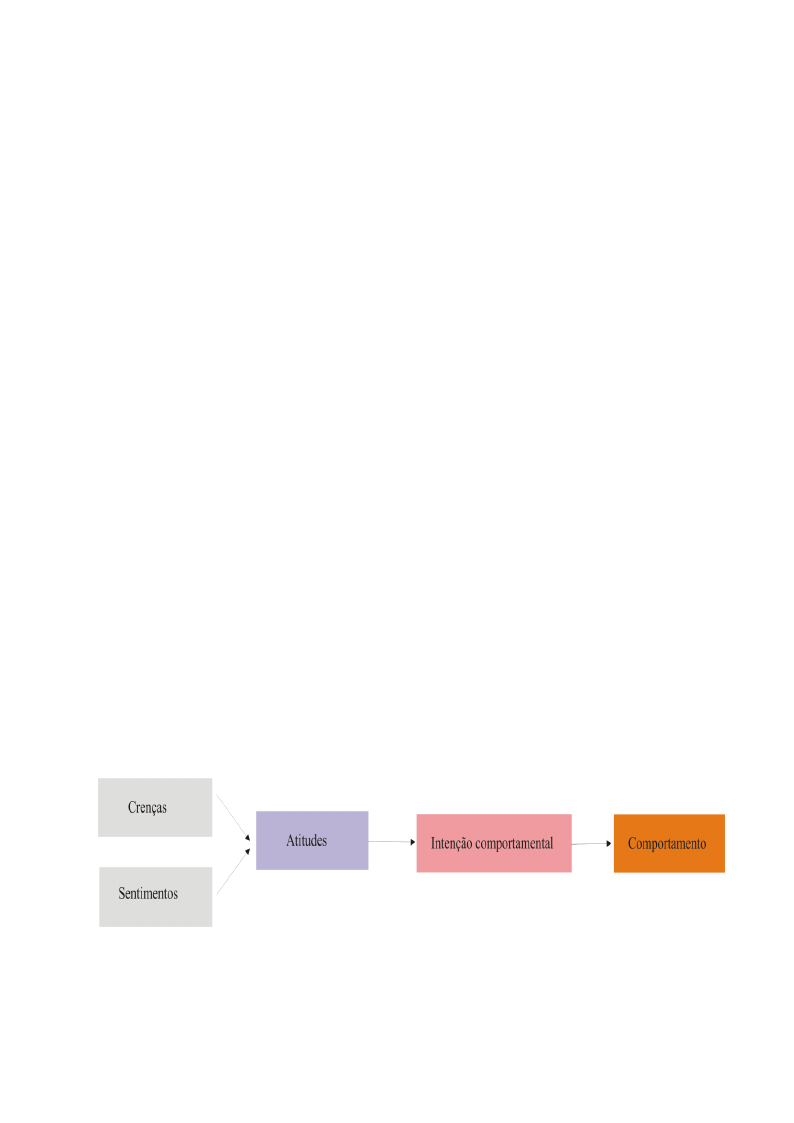
40
(MOWEN, MINOR, 2003). As crenças, portanto, envolvem as expectativas do consumidor
(SOLOMON, 2011; SETH; MITTAL; NEWMAN, 2001) e resultam da aprendizagem
cognitiva; além de expressarem o conhecimento e as conclusões acerca dos objetos, de seus
atributos e benefícios. De acordo com Mowen e Minor (2003), os atributos são as
características do objeto e os benefícios são os resultados positivos que estes proporcionam.
Tem-se ainda que os atributos possam diferir em importância de uma pessoa para outra. Essa
importância é a avaliação da pessoa quanto ao significado de um atributo, e é fortemente
influenciada pela atenção dirigida a ele. Quanto maior a atenção dirigida à característica, mais
importante ela se torna.
O afeto refere-se aos sentimentos que uma pessoa tem em relação ao objeto e
representa as emoções que ele evoca na pessoa (FISHBEIN; AJZEN, 1975). Por fim, a
conação diz respeito às intenções do indivíduo em agir em relação ao objeto de atitude. No
entanto, nem sempre pode resultar em um comportamento real; representando, assim, a ação
qualquer que uma pessoa desejaria realizar em relação ao objeto.
A evolução deste modelo onde as crenças, o afeto e a conação compõem as atitudes,
apresenta as crenças e intenções comportamentais também relacionadas com a atitude, porém,
como conceitos cognitivos separados dela. Essa perspectiva contemporânea toma a atitude
como conseqüência de crenças (componente cognitivo) e sentimentos (componente afetivo).
O componente conativo, conforme visualizado na Figura 6, não é mais avaliado como um
determinante das atitudes, mas sim o inverso: as atitudes são vistas como determinantes das
intenções comportamentais (FISHBEIN; AJZEN, 1975).
Figura 6 – Relações entre crenças, sentimentos, atitude, intenção comportamental e Comportamento.
Fonte: Engel, Blackwell e Miniard (2000)
De acordo com Solomon (2011), os pesquisadores não podem mensurar as atitudes
dos consumidores em relação a um produto apenas pela identificação das cognições (crenças)

41
acerca deste produto. Se uma pessoa apenas conhece os atributos de um produto não existe,
neste fato, nenhum indício que afirme que esta pessoa goste ou mesmo que ela comprará o
produto. Logo, Seth, Mittal e Newman (2001) afirmam que os pesquisadores só podem
mensurar as atitudes por meio da avaliação dos consumidores em relação aos três
componentes – cognição, afeto, conação.
De uma maneira resumida, quando se tem uma atitude em relação a um produto,
normalmente ela será baseada no fato de que algum conhecimento ou crença existe acerca
dele; algum sentimento (positivo ou não) existirá; e, por fim, desejar-se-á agir de determinada
maneira em relação ao produto.
3.2.2 Modelos das atitudes
Os modelos tentam especificar quais são os diferentes elementos que podem atuar
em conjunto para influenciar as atitudes das pessoas. Avaliar as atitudes em relação a um
produto é complexo, pois produtos e serviços são compostos de muitos atributos ou
qualidades e algumas delas podem ter mais relevância para uns dos que para outros
(FISHBEIN; AJZEN, 1973).
3.2.2.1 Modelos da atitude com múltiplos atributos
Como as atitudes são muito complexas, os modelos de atitudes com múltiplos
atributos têm sido extremamente utilizados (SOLOMON, 2011). O modelo multiatributo
pressupõe que a atitude de um consumidor em relação a um objeto de atitude (Ao) depende
das crenças que ele tem sobre alguns ou muitos atributos do objeto. A utilização desse modelo
implica que a identificação dessas crenças específicas e da sua combinação para gerar uma
medida da atitude geral do consumidor possa prever uma atitude em relação a um produto. Os
modelos multiatributos especificam três elementos (FISHBEIN; AJZEN, 1975): os atributos,
que são as características do objeto de atitude; as crenças, que envolvem as cognições sobre o
objeto de atitude específico (geralmente, relativas a outros como ele); e os pesos de
importância, que refletem a prioridade relativa de um atributo para o consumidor. Embora as
pessoas possam considerar um Ao como uma série de atributos, é provável que alguns sejam
mais importantes que outros. Esses pesos tendem a variar entre os consumidores.
Combinados esses três elementos, pode-se calcular a atitude geral do consumidor em
relação a algo.
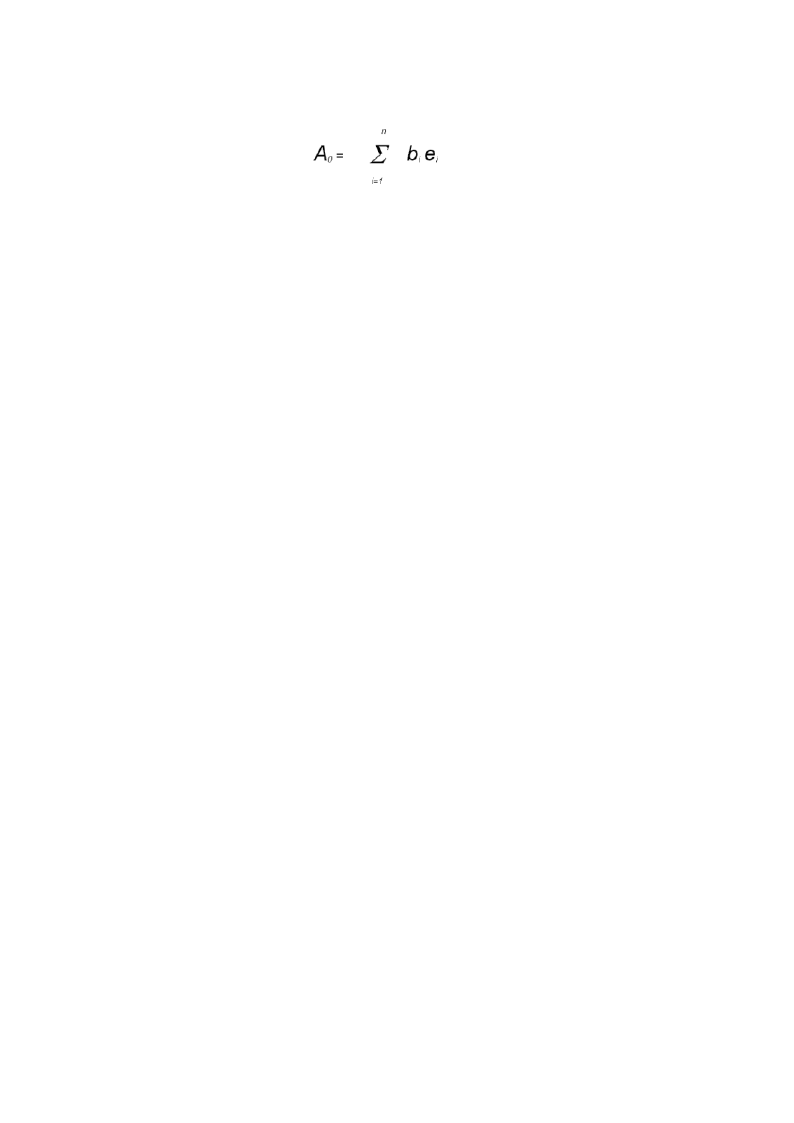
42
(1)
Tem-se que Ao é a atitude geral em relação ao objeto, bi é a crença do consumidor
sobre o quanto ao produto possuir o atributo, ei peso de importância dado ao atributo pelo
consumidor, e n é o número de atributos. Quanto mais positivas forem as crenças, e mais
fortemente elas forem mantidas, mais favorável deverá ser a atitude (AJZEN, 2008). A fonte
das crenças, e sua veracidade, são irrelevantes para este modelo. Verdadeiras ou falsas,
tendenciosas ou imparciais, as crenças representam a informação subjetiva realizada sobre os
quais atitudes são baseadas (AJZEN, 2008).
O modelo de Fishbein, concebido em 1963, é, conforme Solomon (2011), o mais
importante modelo de múltiplos atributos. O modelo avalia três componentes de atitude
(FISHBEIN; AJZEN, 1975): 1) crenças importantes, que são consideradas durante a
avaliação; 2) ligações objeto-atributo, a probabilidade de que um determinado objeto tenha
um atributo importante e; 3) avaliação, de cada um dos atributos importantes.
Desta forma, a avaliação da cada atributo contribuiria para a atitude em proporção
direta da probabilidade de que objeto de atitude possuiria, de fato, o atributo em foco
(FISHBEIN; AJZEN, 1975). O modelo de Fishbein foi ampliado para melhorar sua
capacidade de previsão. A versão posterior é representada pela Teoria da Ação Racional –
Theory of Reasoned Action (TRA), explanada na seção a seguir. Este modelo contém
acréscimos importantes ao original, e, de acordo com Solomon (2011), embora ainda não seja
o ideal, sua capacidade de prever comportamentos aumentaria consideravelmente.
3.3 Teoria da ação racional (TRA)
Ajzen (2008) afirma que, mesmo sendo razoável supor que as atitudes dos
consumidores sejam indicadores preditivos de seus comportamentos, deve-se ter cautela em
razão de inúmeras pesquisas sobre a relação atitude-comportamento realizadas ao longo dos
anos provarem que isso não é sempre certo. É isso o que também afirmam Mowen e Minor
(2003) quando explicam que alguns pesquisadores vêem com reserva o poder preditivo das
atitudes sobre um comportamento efetivo. Além disso, o modelo de Fishbein não levaria em
conta outras considerações potencialmente importantes associados com o comportamento do
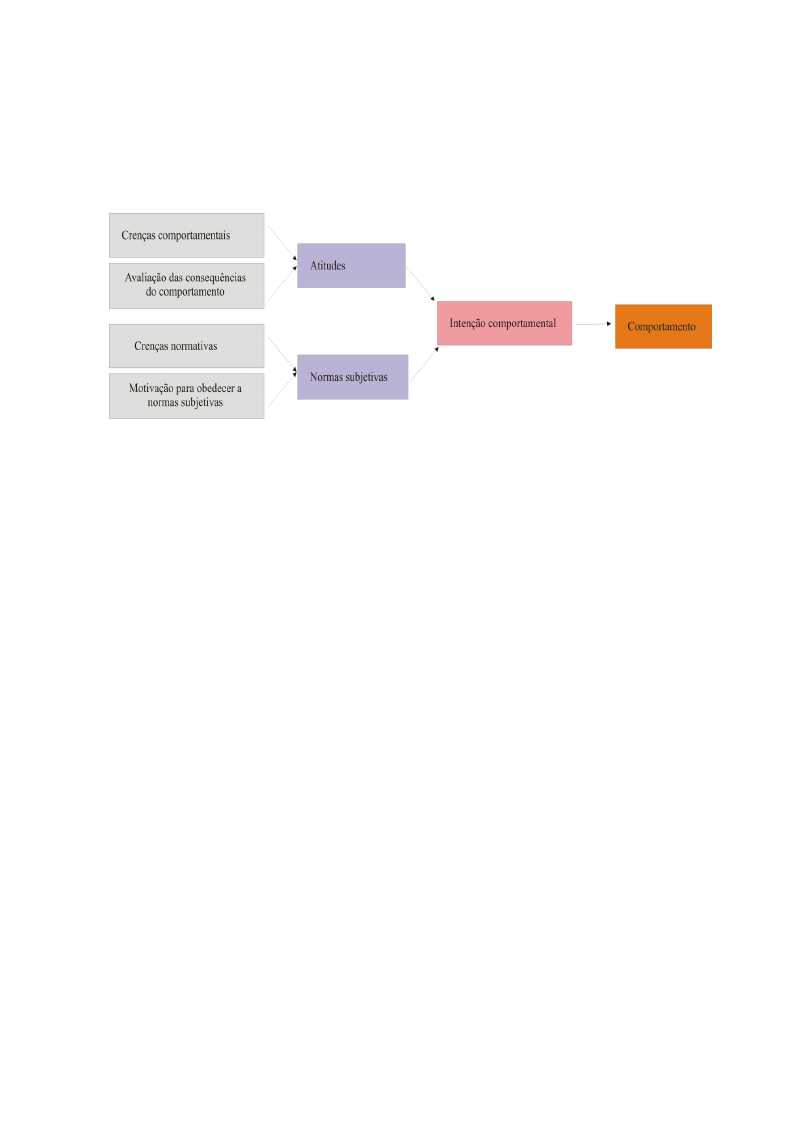
43
consumidor, tais como o contexto social no qual o comportamento ocorre (AJZEN, 2008). Em
decorrência disso, desenvolveu-se a Teoria da Ação Racional (TRA), conforme a Figura 7.
Figura 7 – Modelo da teoria da ação racional.
Fonte: Fishbein e Ajzen (1975).
A Teoria da Ação Racional - Theory of Reasoned Action (TRA): a) supõe que o
comportamento é determinado diretamente pela intenção de praticar uma determinada ação,
sendo esta intenção, por sua vez, influenciada pela atitude; b) reconhece o poder que outras
pessoas têm para influenciar o comportamento de um indivíduo (SOLOMON, 2011).
Acrescentou-se, dessa forma, um novo elemento: a pressão social percebida pelo indivíduo, a
norma subjetiva. A norma subjetiva representa os efeitos do que acreditamos que outras
pessoas pensam que deveríamos fazer. Elas representam o produto das crenças sobre as
normas ou expectativas de outras pessoas multiplicadas pela própria motivação em aderir a
essas normas (KALAFATIS et al.. 1999). De acordo com Vieira (2007), é provável que o
efeito de cada construto sobre o comportamento seja pequeno. O ponto fundamental, afirma o
autor, não está relacionado à influência isolada da atitude do indivíduo, nem a ação exercida
pela opinião de determinados grupos de referência sobre a sua percepção, mas está
intrinsecamente vinculada à operação conjunta desses construtos.
É relevante ressaltar que a TRA mede a atitude em relação ao comportamento de
fato, e não em relação ao objeto. A principal diferença aqui é que o foco está na percepção do
consumidor quanto a quais serão as conseqüências da compra (FISHBEIN; AJZEN, 1975).
Quando as conseqüências da compra são avaliadas (e não os atributos do produto) os
pesquisadores podem levar em consideração os fatores que podem impedir as intenções de
comportamentos. As intenções comportamentais são definidas como as expectativas de se

44
comportar de determinada maneira ou ainda como “julgamentos subjetivos sobre como será o
nosso comportamento no futuro” (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2009, p. 294).
Esta teoria, conforme Vieira (2007), embasa-se na hipótese de que o comportamento
depende essencialmente da vontade do indivíduo. A intenção é, portanto, assumida como um
antecedente imediato de comportamento (FISHBEIN; AJZEN, 1975). Coerente com esse
raciocínio, os psicólogos sociais tendem a enxergar as intenções como mediadoras entre as
atitudes e ações (AJZEN, 2008).
Porém, tem-se que as intenções comportamentais ainda não se configuravam como
preditores ótimos do comportamento humano (AJZEN, 2008), conforme expõe a Teoria do
Comportamento Planejado – Theory of Planned Behaviour (TPB). De acordo com esta teoria,
as intenções relativamente estáveis e as percepções que se tem acerca do controle sobre
determinada ação a ser realizada foram diagnosticados como melhores preditores do
comportamento (AJZEN, 2001), conforme explicado na seção a seguir.
3.4 A Teoria do comportamento planejado
As ações, ou grande parte delas, estão sujeitas a graus de incerteza e o êxito de sua
concretização não depende apenas das intenções das pessoas. De acordo com a Teoria do
Comportamento Planejado – Theory of Planned Behaviour (TPB) algumas variáveis podem
interferir no controle que temos sobre nossas ações (AJZEN, 2008). Essas variáveis podem
ser externas, como o poder aquisitivo, o contexto da situação; ou internas, tais como as
habilidades e o autocontrole da pessoa. Isso quer dizer que a intenção de comprar um
determinado produto pode até existir, mas o controle sobre a ação da compra em si pode estar
sujeito à disponibilidade do produto no ponto de venda, dentre outros fatores (AJZEN, 2008).
A TPB é considerada uma extensão da Teoria da Ação Racional e tem predominado
nos estudos das relações atitude-comportamento (KALAFATIS et al.. 1999). Várias
investigações, em uma ampla variedade de domínios, têm aplicado a TPB (AJZEN, 2008). Ela
é muito utilizada na previsão e explicação do comportamento dos consumidores (HOPPE,
2010; CHEN, 2007; ARMITAGE; CHRISTIAN, 2003). De acordo com essa teoria, o
comportamento dos indivíduos é orientado por três crenças:
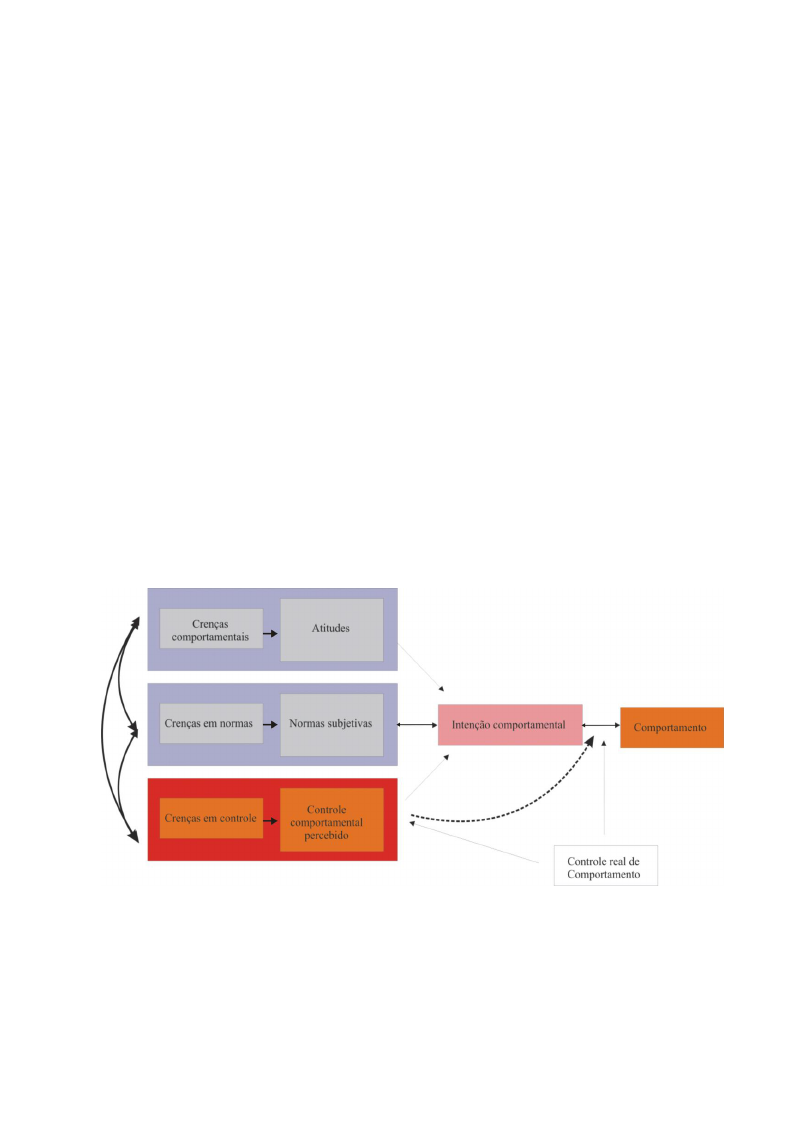
45
1. Comportamentais: são as crenças sobre as prováveis conseqüências de um
comportamento;
2. Normativas: são crenças sobre as expectativas normativas dos grupos de
influência, como famílias e/ou amigos;
3. Em controle: são as crenças a cerca da presença de elementos que possam limitar
ou facilitar a realização da ação em si.
As crenças comportamentais resultam em atitude (favorável ou não) em relação ao
comportamento; as crenças normativas resultam em pressão social perceptível (as normas
subjetivas); e as crenças em controle podem facilitar ou dificultar a realização de um
comportamento, resultando na percepção do controle que se tem sobre a ação (AJZEN, 1991).
Juntos, esses elementos levam à formação de uma intenção comportamental, ou simplesmente
intenção, conforme apresentado na Figura 8.
Figura 8 – Teoria do comportamento planejado.
Fonte: Ajzen (2006).
Percebe-se que, em comparação com à Teoria da Ação Racional, a TPB introduziu o
elemento “Controle Comportamental Percebido”. De acordo com Ajzen (2008), em razão de
muitas ações possuírem naturalmente certas dificuldades de execução, é útil considerar,
além da intenção, essa percepção de controle sobre o comportamento.

46
Mensurar este controle – partindo da premissa de que as pessoas são francas em seus
julgamentos da dificuldade para executar um dado comportamento – pode, além de servir
como preditor para o controle real, contribuir para a previsão da ação. Quanto mais forte a
convicção de que a situação está sob controle, maior será a intenção de agir (AJZEN, 2008).
Porém, uma vez que pode ser difícil mensurar o controle real da ação, o controle percebido
funcionará como medida de confiança quanto à efetivação ou não do comportamento
(MATHUR, 1998).
Rousseau et al. (1998, p. 395) definem a confiança como “um estado psicológico
compreendendo a intenção de aceitar vulnerabilidade baseada em expectativas positivas sobre
as intenções e comportamentos do outro”.
Portanto, quanto mais favorável a atitude e a norma subjetiva, e maior o controle
comportamental percebido, mais forte deve ser a intenção da pessoa para executar o
comportamento em questão. Segundo Ajzen (2008), por mais que as crenças de uma pessoa
sejam infundadas, imprecisas ou tendenciosas, as suas atitudes, normas subjetivas e
percepções de controle comportamental serão levadas a acompanhar de forma espontânea e
razoável essas crenças, produzindo, assim, intenções comportamentais correspondentes e que
poderá resultar em um comportamento. Comportamento este que será consistente com a
tendência geral das crenças. Finalmente, dado um grau suficiente de controle real sobre o
comportamento, espera-se das pessoas, no momento em que a oportunidade surgir, a
concretização de suas intenções, na forma de ações concretas (AJZEN, 2008).
Muitas vezes, de acordo com Ajzen (2008), pode ser argumentado que as teorias da
ação racional e comportamento planejado são excessivamente racionais, deixando de levar em
conta emoções, compulsões e outros aspectos irracionais do comportamento humano. Isso não
quer dizer, esclarece o autor, que as emoções não sejam levadas em conta nestas teorias. O
humor geral e emoções podem ter efeitos sistemáticos sobre as crenças e avaliações do
indivíduo (AJZEN, 2008).
A TPB tem sido utilizada nos estudos sobre consumo de alimentos orgânicos, onde
tem se buscado investigar a existência ou não de relação positiva entre a compra desses
alimentos, as intenções de compra e o controle comportamental percebido (AERTSENS et al,
2009; CHEN, 2007; THØGERSEN, 2006; SABA; MESSINA, 2003). É relevante, dessa
forma, incluir os componentes cognitivos e afetivos nos modelos de escolha dos alimentos
orgânicos uma vez que afetam sua intenção de compra (DEAN; RAATS; SHEPHERD,
2008).

47
A Teoria do Comportamento Planejado já vem sendo utilizada no Brasil, como no
caso das pesquisas de Santos, Veiga e Moura (2010) e Pinto (2007), relacionadas à tecnologia.
No entanto, sua utilização buscando interface com o consumo de orgânicos ainda é escassa.
Hoppe (2010) buscou caracterizar o comportamento do consumidor de produtos
orgânicos nas feiras ecológicas e supermercados, replicando parcialmente a metodologia
empregada no Projeto CONDOR – Consumer Decision Making on Organic Products, projeto
financiado pela União Européia (UE) que utilizou a Teoria do Comportamento Planejado e a
Teoria de Valores Pessoais para compreender os valores, as atitudes e os aspectos afetivos que
regem o comportamento do consumidor de orgânicos. Em seu estudo, Hoppe (2010) utilizou
apenas a TPB. Foram entrevistados 446 consumidores de orgânicos, em Porto Alegre. Foi
revelado que os consumidores crêem que os produtos orgânicos sejam mais saudáveis, mais
naturais, livres de agrotóxicos e pouco agressivos ao meio ambiente, embora sejam menos
atraentes e mais caros que os convencionais (HOPPE, 2010). Apesar da pouca diferença na
comparação entre os canais pesquisados, o consumidor das feiras ecológicas aparenta ser mais
cético, além de comprar produtos orgânicos com maior freqüência do que o consumidor dos
supermercados. Apesar dos interesses individuais predominarem, alguns interesses coletivos
se destacam para aqueles que freqüentam as feiras ecológicas (HOPPE, 2010).
Rodrigues et al. (2009) investigaram os consumidores de supermercados, em
Ribeirão Preto também utilizando a TPB. Em referência a dicotomia já exposta por
Magnusson et al. (2003), aqueles autores diagnosticaram os ‘fatores egoístas’ como
preponderantes. Os consumidores buscam orgânicos guiados por qualidade de vida. Em
contrapartida, o surgimento de respostas distintas sobre a real definição do que seja um
produto orgânico e o preço premium dos orgânicos foram apontados como barreiras ao
consumo. Revelou-se ainda que os consumidores apontam a comodidade e a praticidade como
um dos fatores-chave na escolha do ponto de venda dos orgânicos (RODRIGUES et al.,
2009).
A partir do exposto até aqui sobre os alimentos orgânicos em geral e sobre a TPB e
seus componentes (bem como a aplicabilidade desta teoria nas investigações sobre o
comportamento do consumidor de alimentos em geral e de alimentos orgânicos em
específico), propõe-se na seção a seguir associar diversas investigações científicas acerca do
consumo de orgânicos e estruturar o modelo conceitual desta dissertação a partir dos
componentes da TPB, formulando assim as hipóteses desta pesquisa.

48
4 O CONSUMO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS
O meio ambiente, a saúde humana, a segurança alimentar e a agricultura são termos
indissociáveis (CAHILL; MORLEY; POWELL, 2010). Os alimentos orgânicos são
propagados como alimentos saudáveis e corretos ecologicamente, e tornou-se relevante
investigar esses dois construtos relacionando-os com as atitudes dos consumidores (CHEN,
2009).
Os orgânicos, livres de agrotóxicos e cujo crescimento e expansão do mercado
tornam-se expressivos, refletem uma nova consciência além de serem analisados sob
múltiplos enfoques (TOMIELLO; KRISCHKE, 2009). A agricultura orgânica é o sistema de
cultivo que usa adubo orgânico e evita ou se abstém do uso de fertilizantes sintéticos,
pesticidas e produtos químicos em geral e pode ser definida como um sistema ecológico de
produção e gestão que promove e melhora a biodiversidade, os ciclos biológicos e a atividade
biológica do solo (WINTER; DAVIS, 2006). Ações empreendidas nas estratégias de
sustentabilidade hoje também se concentram nos orgânicos. O mercado mundial de alimentos
orgânicos é crescente e pressupõe aumento de produção e consumo no Brasil e no mundo
(GUIVANT; TOMIELLO, 2008). Em 2009, o mercado mundial de alimentos orgânicos
certificados foi estimado em 54,9 bilhões de dólares (WILLER; KILCHER, 2011).
Concomitante a esse quadro, o interesse de pesquisadores em questões referentes à
escolha de alimentos por parte das pessoas é crescente (HANSEN; MUKHERJEE;
THOMSEN, 2011). Têm sido divulgadas as possíveis implicações danosas advindas do
consumo de alimentares considerados prejudiciais ao organismo em um longo prazo, sendo
estes apontados como possíveis responsáveis, dentre outros fatores, pelos problemas de saúde
registrados na atualidade. As implicações financeiras de tais problemas são igualmente
alardeadas (HANSEN; MUKHERJEE; THOMSEN, 2011). Além disso, as crises de
abastecimento de alimentos decorrentes de eventos como doença da vaca louca, epidemia de
febre aftosa e preocupações com o uso de pesticidas na agricultura, assim como a utilização
de antibióticos e hormônios na alimentação de gado levam os consumidores a perder um
pouco da confiança nos alimentos industrializados (PORTILHO; CASTANEDA; CASTRO,
2011; SHAHARUDIN; MANSOR; ELIAS, 2010; CHEN, 2009).
Em adição a esse contexto, tem-se que as sociedades promoveram ao longo da
história um crescimento contínuo e abusivo do consumo. O consumo vem preenchendo uma
função acima e além daquela de satisfazer necessidades materiais e de reprodução social. O
consumo passou ser utlizado como mecanismo de controle e gerenciamento de emoções. Os

49
indivíduos que são menos capazes de exercer o controle interno das suas emoções negativas
(especialmente tristeza) podem ser mais propensos a usar consumo hedônico como uma
maneira de gerir as suas emoções (KEMP; KOPP, 2011).
Para Barbosa (2004), a cultura do consumo é uma cultura característica da sociedade
de mercado, uma vez que no mundo moderno o consumo teria se tornado o foco central da
vida social. Práticas sociais, valores culturais, aspirações e identidades são definidas e
orientadas em relação ao consumo, em detrimento de outras dimensões sociais tais como
cidadania e religião.
A crescente exploração dos recursos naturais ocorrida nos séculos posteriores à
revolução industrial visando atender a essa sociedade de consumo foi desencadeada por um
conjunto de crenças em relação ao meio ambiente que o considerava inesgotável (DIAS,
2009). Conforme Howard (2007), não foi respeitado o princípio agrícola que estabelece que,
para um acelerado crescimento, deve haver uma acelerada decomposição. O que gerou um
desequilíbrio na agricultura mundial.
4.1 Sustentabilidade ambiental e a saúde ligadas ao consumo de orgânicos
Desde a década de 1960, questões relativas ao meio ambiente ganharam importância
no mundo dos negócios (CHEN, 2009). O final da década de 1960 e o início da década de
1970 são considerados mundialmente um ponto de inflexão da postura do ser humano frente o
meio ambiente (SILVA FILHO, 2007). Nesse período tornou-se evidente o esgotamento do
modelo de exploração da natureza vigente até então. De acordo com Bhate e Lawler (1997),
foi na década de 1990 que culminou a preocupação com questões ecológicas e a consagração
do conceito de desenvolvimento sustentável, tendo como fatores o desgaste da camada de
ozônio, desmatamento de florestas e poluição do ar, dentre outros.
Expressivas ações e debates têm tentado, desde então, mobilizar diversos setores da
sociedade no intuito de tornar comum a questão dessa problemática ambiental. Essa questão,
e isto é um consenso, é problema de todos. A manutenção da fertilidade dos solos, por
exemplo, é um problema universal (HOWARD, 2007). Em razão do crescimento dessa
consciência e das conseqüentes respostas geradas a partir desta preocupação, a década de
1990 foi declarada a década do ambientalismo (CHEN, 2009). Nos EUA, assumindo que um
mesmo valor pessoal pode direcionar o comportamento de consumo entre categorias de
produtos distintos (KIM; CHUNG, 2011), essa perspectiva verde se reflete em categorias de
produtos tais como os eletrônicos, higiene e limpeza e alimentos.

50
Os comportamentos ambientalmente significativos foram analisados por Stern
(2000), que classificou as ações ecológicas quanto ao grau de impacto sobre o meio ambiente
e pela intenção de proteger ou beneficiar o meio natural. O autor formulou a seguinte
classificação: o ativismo ambiental consiste no envolvimento com organizações e
manifestações ecológicas; o comportamento não ativista na esfera pública consiste no apoio a
temas pontuais ambientais em políticas públicas e contribuição com entidades engajadas; o
ambientalismo na esfera privada revela um comportamento com consequências diretas para o
meio natural uma vez que envolve a compra, uso e formas de descarte de produtos e resíduos;
e o comportamento dos indivíduos nas organizações reflete os maiores impactos causados ao
meio ambiente e envolvem as decisões gerenciais sobre o tema.
A preocupação ambiental deve ser entendida como um processo cognitivo que pode
ativar comportamentos e atitudes favoráveis ao meio ambiente (DIAS, 2009). Essas novas
atitudes podem levar a comportamentos mais notórios como evitar a compra de produtos que
afetam o meio ambiente ou o total boicote a empresas que possuam reputação negativa. Os
consumidores que adotam comportamento coerente com esses valores são chamados de
consumidores verdes ou ecológicos (DIAS, 2009).
O consumo de produtos verdes tem firmado seus primeiros passos em muitos países
em desenvolvimento e a preocupação com o meio-ambiente tem se configurado como uma
característica cultural no ocidente (ALI; KHAN; AHMED, 2011). Em pesquisa sobre as
implicações morais que envolvem o consumo de alimentos orgânicos, por exemplo,
descobriu-se que a avaliação afetiva que os consumidores fazem de si mesmos acabam por
reduzir a importância do fator preço no momento da escolha (DEAN; RAATS; SHEPHERD,
2008). A constante tentativa de equilíbrio entre os componentes afetivos e cognitivos, já
explicados anteriormente, resultam em uma avaliação na qual os custos com a aquisição
destes alimentos são compensados pelo sentimento produzido no pós-compra; ou seja, a
compra de orgânicos poderá ser compensada na mente do consumidor pela autoavaliação de
que se está fazendo algo correto - seja para si mesmo ou para o planeta (DEAN; RAATS;
SHEPHERD, 2008).
No entanto, ocorre que nas questões ligadas ao meio ambiente; apesar dos altos
níveis de atitudes e intenções em prol do bem-estar ecológico serem registrados em pesquisas,
tal fato não tem necessariamente influenciado, na mesma intensidade, ações pró-ambientais
(DUNLAP, SCARCE, 1991; TARRANT, CORDELLE, 1997). A mesma ressalva ocorre em
relação a consciência acerca da saúde e estilos de vida saudáveis: ainda que estejam
correlacionados, é sabido que algumas pessoas seguem um estilo de vida distanciado de

51
práticas benéficas para si, mesmo tendo a consciência dos benefícios que um estilo de vida
saudável pode trazer (CHEN, 2009).
A construção de um estilo de vida saudável pode ser caracterizada pela prática
moderada de atividades físicas, comprometimento individual com o consumo de alimentos
saudáveis e busca por uma vida equilibrada (GIL; GRACIA; SANCHEZ, 2000).
Os estilos de vida mudam de forma sistemática no decorrer da história de uma
pessoa, de modo que é possível manter certo equilíbrio entre as mudanças que ocorrem ao
longo do tempo e o sistema de valores que os indivíduos carregam. Estilos de vida saudáveis
podem ainda representar bons mediadores entre a consciência acerca da saúde – que guia os
indivíduos a adotarem comportamentos saudáveis – e as atitudes favoráveis em relação ao
meio ambiente e aos alimentos orgânicos (CHEN, 2009).
Tem-se, inclusive, creditado à saúde o fator predominante nas escolhas de orgânicos
a frente das preocupações com o bem estar do planeta (ESSOUSSI; ZAHAF, 2009). De
acordo com Magkos, Arvaniti e Zampela (2006), a segurança tornou-se um dos atributos mais
procurados nos alimento atualmente. Isso implica que motivações mais pessoais ou egoístas
parecem ser mais relevantes do que as razões altruístas (MAGNUSSON et al., 2003). Essa
predominância do elemento individual em contraponto ao elemento coletivo poderia ser
creditada ao fato de que o benefício individual é mais perceptível e as pessoas tendem a levar
mais em conta o benefício que vem em curto prazo e é mais visível para si (MAGNUSSON et
al., 2003). As pesquisas científicas também devem relacionar a busca por saúde e as crenças
ligadas a ela com a busca pela beleza estética uma vez que a preocupação com a aparência
afeta fortemente hábitos alimentares, sendo, inclusive, fator por vezes predominante na
escolha dos alimentos consumidos (HAYES; ROSS, 1987).
Guillon e Willequet (apud GUIVANT, 2003) classificaram dois perfis de
consumidores de alimentos saudáveis: tem-se de um lado, o perfil denominado ego-trip, que
estaria presente nas decisões dos indivíduos que buscam se preservar e se destacar em termos
de estética, autoconfiança, saúde e bem estar; do outro lado, o perfil ecológico-trip representa
a procura de contato com o meio ambiente por meio do consumo sistemático de produtos
verdes junto não apenas à práticas alimentares, mas de relação com a natureza, bem como
com diversas atividades sociais de engajamento e comportamentos de correção ambiental.
Tem-se, portanto, que o aumento do consumo de alimentos orgânicos pode revelar-se
tanto como o lado positivo das preocupações éticas dos consumidores contemporâneos ao
buscar alimentos produzidos com respeito ao meio ambiente (e bem estar dos envolvidos em
sua produção), como, por outro lado, um distanciamento dessa perspectiva ambiental quando
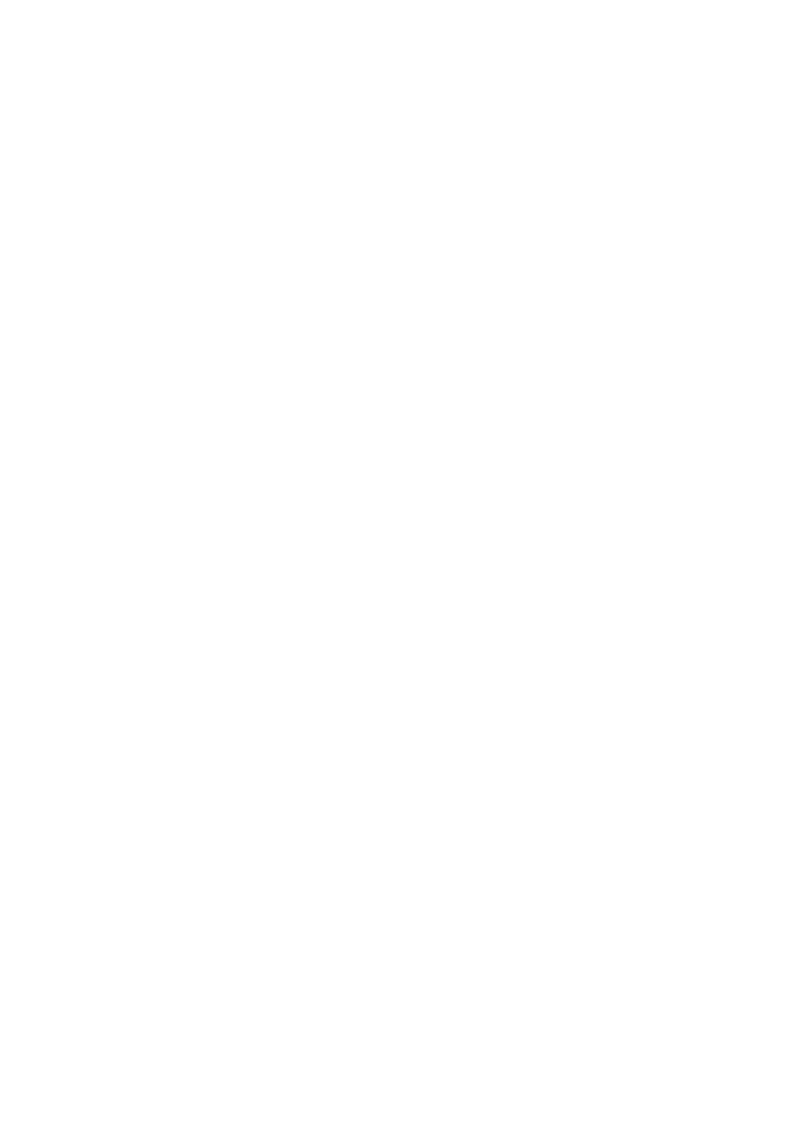
52
voltado para questões de bem estar individual (ÖZCELIK; UÇAR, 2008; BAKER et al.,
2004; GIL; GRACIA; SANCHEZ, 2000; HARPER; MAKATOUNI, 2002).
Essoussi e Zahaf (2009) afirmam que, uma vez que existem benefícios percebidos,
mas também problemas de qualidade associados aos orgânicos, é de interesse para os gestores
e para o desenvolvimento de seus mercados investigar as crenças e motivações dos
consumidores de produtos orgânicos no intuito de descobrir o que os orienta até esses
produtos, bem como o que os afasta de seu consumo.
Diante do exposto, propõe-se a seguinte hipótese:
H1: A consciência ambiental e a busca por saúde influenciam as atitudes em relação aos
orgânicos;
4.2 Crenças acerca dos orgânicos
O consumo de alimentos orgânicos é impulsionado pela preocupação com a saúde, a
preocupação ambiental, pelas propriedades sensoriais dos alimentos, pela segurança alimentar
e por preocupações éticas (ZAKOWSKA-BIEMANS, 2011; ESSOUSSI; ZAHAF, 2009;
ÖZCELIK; UÇAR, 2008; MAGNUSSON et al., 2003; BAKER et al., 2004; ZANOLI;
NASPETTI, 2004). As crenças mais comuns acerca dos alimentos orgânicos são a de que eles
são mais saudáveis e que seu modo de produção respeita requisitos de correção ambiental
(WANDEL; BUGGE, 1997). A motivação para escolha desses alimentos em detrimento dos
alimentos convencionais é baseada tanto nesses atributos, como na crença de que os orgânicos
contêm mais nutrientes do que os alimentos convencionais (ANNETT et al., 2008;
MAGNUSSUM et al., 2003).
No entanto, de acordo com Saher, Linderman e Ulla-Kaisa (2006), a maior parte das
crenças declaradas acerca dos alimentos orgânicos são de natureza intuitiva. Muito do que se
propaga ou defende acerca deste tipo de alimento é baseado em intuição e não em
embasamento científico (CARHILL; MORLEY; POWELL, 2010; SAHER; LINDERMAN;
ULLA-KAISA, 2006). Zakowska-Biemans (2011) corrobora ao alertar que questões
relacionadas à saúde não deveriam ser utilizadas em estratégias de comunicação para os
alimentos orgânicos. O termo orgânico não poderia ser automaticamente associado à total
segurança alimentar (MAGKOS; ARVANITI; ZAMPELAS, 2006).
Enquanto os benefícios para o meio ambiente não são questionados e são os mais
divulgados ao comunicar os benefícios da produção de orgânicos, há um certo debate em
curso sobre a salubridade e segurança destes alimentos (ZAKOWSKA-BIEMANS, 2011). Os

53
potenciais benefícios para a saúde provenientes do consumo de orgânicos são multivariáveis e
não podem ser diretamente transformados em uma mensagem única: a de que eles podem
contribuir para uma saúde melhor. Há poucos estudos científicos que dão, de fato, respaldo à
crença generalizada de que os orgânicos são mais saudáveis e mais nutritivos que os
alimentos ditos convencionais, embora a crença nisso seja forte (SAHER; LINDERMAN;
ULLA-KAISA, 2006).
A questão da percepção da salubridade dos orgânicos relaciona-se com o
componente cognitivo (crenças) dos indivíduos. Quando as pessoas têm incertezas em relação
aos orgânicos o peso de uma abordagem cognitiva é reduzido e as pessoas passam a confiar
mais em seus sentimentos (componente afetivo) ao formar uma atitude em relação a estes
alimentos diferenciados (AERTSENS et al., 2009). Uma pessoa com preocupações e crenças
fortes em relação à saúde está mais predisposta a ter atitudes positivas em relação aos
orgânicos. A consciência acerca da saúde pode indicar o grau de prontidão para empreender
comportamentos mais saudáveis, sendo um construto mais amplo para indicar a prontidão de
uma pessoa para fazer alguma coisa em benefício de sua própria saúde (SCHIFFERSTEIN;
OUDE OPHUIS, 1998; BECKER et al., 1977). Logo, a consciência do consumidor em
relação à saúde influencia a atitude em relação aos alimentos orgânicos (CHEN, 2009).
A partir do apresentado, propõem-se as seguintes hipóteses para a pesquisa:
H2: As atitudes em relação aos orgânicos influenciam as atitudes em relação à compra de
FLV orgânicos;
H3: As atitudes em relação à compra de FLV orgânicos influenciam as intenções de compra
destes alimentos.
4.3 Normas subjetivas ligadas ao consumo de orgânicos
Diferentes estudos focam nos efeitos que as mensagens sobre os orgânicos acerca da
saúde trazem para a percepção (SCHIFFERSTEIN; OUDE OPHUIS, 1998; BAKER et al.,
2004). Estas mensagens podem vir de diferentes fontes. Alguns consumidores canadenses,
por exemplo, optaram por consumir orgânicos a partir da influência de parentes ou amigos
próximos (ESSOUSSI; ZAHAF, 2009).
Admite-se atualmente que a cobertura nos meios de comunicação tem influenciado a
percepção do consumidor e seus gastos com alimentos orgânicos e outros produtos verdes
(CAHILL; MORLEY; POWELL, 2010; LOCKIE et al., 2002). Em pesquisa feita em mais de
600 artigos na imprensa internacional constatou-se uma tendência de não expor de forma

54
negativa a produção orgânica. A pesquisa mostrou ainda que a literatura científica, por outro
lado, busca constantemente incluir estudos que destaquem além das vantagens, as possíveis
desvantagens dos produtos resultantes dos sistemas orgânicos de produção (CAHILL;
MORLEY; POWELL, 2010). No entanto, a cobertura dada pela mídia sobre questões de
saúde, segurança alimentar e meio ambiente é desigual. Tem-se dado uma maior atenção
sobre os riscos associados a resíduos de pesticidas do que a possibilidade de contaminação
microbiana inerentes aos adubos orgânicos, concluem estes autores.
A influência de outras pessoas, especialmente familiares, sobre o consumo de
produtos é tida como relevante e ocupa espaço nos estudos sobre o comportamento do
consumidor. De acordo com Blackwell, Miniard e Engel (2009, p. 381), independente de
quantos estejam presentes no momento da compra de um produto, os outros membros da
família desempenham um importante papel influenciador uma vez que “as famílias utilizam
os produtos, apesar de os indivíduos os comprarem”.
Para Solomon (2011), ainda que os chamados grupos de referência não tenham poder
de influenciar comportamentos de compra para todo e qualquer tipo de produto, eles podem
ser muito persuasivos. Esses grupos de referência são indivíduos ou grupos capazes de ter
relevância significativa para avaliações ou aspirações dos indivíduos e detém um “poder
social” de persuadir os outros a agirem. O autor chama de poder referente àquele advindo de
uma pessoa que possui qualidades que são admiradas por outros e, dessa forma, é capaz de
influenciar os processos decisórios relacionados ao consumo de bens. As pessoas são, dessa
forma, levadas por esse “poder social”, que reflete as normas subjetivas, porque são
motivadas a agir de maneira coerente com o que as outras pessoas fazem e pensam, além de
buscarem reduzir o esforço em seus processos decisórios e busca por informação (FISHBEIN;
AJZEN, 1975).
De acordo com Hansen, Mukherjee e Thomsen (2011), tem-se como aceito o fato de
que as decisões de compras alimentares tornaram-se complexas dado o alto volume de
informações disponível. Listas detalhadas de ingredientes hoje incluem informações sobre
níveis de gordura, fibras minerais para aumentar o valor nutricional do alimento e beneficiar a
saúde, dentre muitos outros esclarecimentos. Os consumidores tendem a buscar mais
informações relacionadas à saúde de maneira proporcional ao nível da ansiedade ou
desconfiança que têm em relação às informações divulgadas (HANSEN; MUKHERJEE;
THOMSEN, 2011). Annett et al. (2008) endossam a importância das mensagens quando
afirmam que as informações divulgadas acerca de um produto podem influenciar fortemente
a percepção sensorial, bem como a decisão final de escolha do alimento.

55
De acordo com Zakowska-Biemans (2011), existem muitos estudos que
comprovaram a importância das características sensoriais para a decisão de compra dos
produtos orgânicos. Kihlberg e Risvik (2007 apud ZAKOWSKA-BIEMANS, 2011) em seu
estudo sobre a percepção de alimentos processados orgânicos (pão) constataram que a maior
parte dos consumidores crêem que os alimentos orgânicos têm gosto melhor do que os
alimentos convencionais. Essa constatação convive ao lado de pesquisas que diagnosticaram
que muitos consumidores afirmam crêr que o sabor dos alimentos orgânicos seja inferior aos
convencionais (CHEN, 2009; ZANOLLI; NASPETTI, 2004). Em estudo utilizando a TPB
para examinar o papel dos componentes afetivo e moral como motivadores para compra de
alimentos orgânicos (ARVOLA et al., 2008), descobriu-se que os consumidores parecem ser
mais positivos em relação aos produtos orgânicos não processados, justamente os que melhor
exemplificam sensorialmente a noção de sistema orgânico de produção, inclusive nas
mensagens propagadas nas mídias.
O sabor dos orgânicos é fator de grande interesse investigativo (SCHIFFERSTEIN;
OUDE OPHUIS, 1998). A importância dos aspectos referentes ao gosto dos alimentos
orgânicos diverge ainda dependendo da categoria do produto. Para frutas, legumes e
derivados de cereais, o sabor foi considerado como fator importante para a escolha, já para os
produtos lácteos os aspectos sensoriais foram considerados de menor importância (PADEL;
FOSTER, 2005). Em pesquisa realizada nos EUA sobre a percepção do sabor entre hortaliças
orgânicas e convencionais descobriu-se que, com a exceção do tomate, não há diferença
significativa no gosto entre os dois tipos de verduras (ZHAO et al., 2007). A relevância do
sabor dos alimentos no processo de escolha é alta porque ainda que a maioria dos
consumidores comece a avaliar a qualidade dos alimentos em geral pela aparência, o sabor
permanece como o mais importante atributo na escolha dos alimentos (WANDEL; BUGGE,
1997; CHRYSSOHOIDIS; KRYSTALLIS, 2005). A percepção do consumidor acerca de
aspectos sensoriais e de qualidade é um importante fator a ajudar em suas escolhas (ANNET
et al., 2008). Essa percepção está ainda entre as incertezas declaradas em pesquisas realizadas
sobre o consumo de orgânicos em diversos países.
Vários estudos têm revelado diferenças culturais na hierarquia de motivos para o
consumo de orgânicos (ZAKOWSKA-BIEMANS, 2011, ESSOUSSI; ZAHAF, 2009). Por
exemplo, Saba e Messina (2003) afirmam que os consumidores italianos com atitudes
favoráveis a frutas e verduras orgânicas carregam a crença de que estes alimentos
diferenciados estão associados à saúde, à correção ambiental, à um melhor sabor e à níveis
nutricionais mais elevados, como os demais estudos vêm demonstrado. Já de acordo com

56
Chryssohoidis e Krystallis (2005), as questões referentes à correção ambiental não possuem
relevância para os gregos. Nesse caso específico, mensagens com apelos ambientais poderiam
redundar em custos de comunicação com o mercado consumidor perdidos pois foram mal
direcionados.
A partir do apresentado, formulou-se e a hipótese a seguir:
H4: As normas subjetivas influem as intenções de compra de FLV orgânicos.
4.4 O controle comportamental percebido ligado ao consumo de orgânicos
De acordo com Sparks, Guthrie e Sheperd (1997), em pesquisa utilizando a TPB
ligada ao consumo de alimentos, o controle comportamental percebido estaria ligado a dois
construtos: dificuldades percebidas e controle percebido. Tem – se dessa forma que, ainda que
a maioria das investigações científicas divulgue que as atitudes direcionadas aos alimentos
orgânicos sejam favoráveis, não se deve passar ao largo de verificar motivos ou barreiras
possam impedir a efetiva ação de sua compra. Estuda-se assim o gap entre as atitudes (e
intenções) favoráveis e a ação de compra dos orgânicos (PADEL; FOSTER, 2005), e, nessas
análises, expõe-se sobre as incertezas e crenças negativas quanto a esse produto.
As principais dificuldades declaradas ao consumo de alimentos orgânicos envolvem
o preço elevado, a disponibilidade limitada do produto, falta de conhecimento ou
desconfiança, a satisfação com os alimentos convencionais e a ausência de valor percebido
(AERSTSENS et al., 2009; ESSOUSSI; ZAHAF, 2009; SAHER; LINDERMAN; ULLA-
KAISA, 2006; CHRYSSOHOIDIS; KRYSTALLIS, 2005; PADEL; FOSTER, 2005;
MAGNUSSON et al, 2001; FOTOPOULOS; KRYSTALLIS, 2002; ZANOLI; NASPETTI,
2004).
Em pesquisa com consumidores poloneses, descobriu-se que quanto maior a
sensibilidade a preço por parte do consumidor, menor é a inclinação para a compra de
produtos orgânicos (ZAKOWSKA-BIEMANS, 2011). Por outro lado, Shaharudin, Mansor e
Elias (2010) descobriram que quanto mais informações os consumidores do Reino Unido
adquiriam acerca dos orgânicos mais eles tendiam a perceber que pode valer a pena comprá-
los. Constata-se ainda haver sensível aumento de consumo de alimentos orgânicos quando do
aumento de renda das famílias (LOCKIE et al., 2002). Jackson (2005) aponta o equilíbrio
entre custos e benefícios como um fator a ser considerado para o entendimento da
discrepância entre atitude e ação: comportamentos de consumo ecologicamente corretos
demandam mais esforços do consumidor, tais como a aceitação de preços mais elevados.

57
São constantemente mencionados o pouco conhecimento acerca dos orgânicos e a
falta de confiança nas certificações e processos característicos do sistema orgânico de
produção (ZAKOWSKA-BIEMANS, 2011; PADEL; FOSTER, 2005; FOTOPOULOS;
KRYSTALLIS, 2002). Na visão de Hoppe (2010), a certificação orgânica enfatiza a garantia
da qualidade do processo produtivo, estabelecendo um relacionamento de confiança entre o
produtor e o consumidor. A falta de conhecimento sobre os orgânicos resulta em desconfiança
ou descrença quanto aos seus atributos em mercados ainda em desenvolvimento
(ZAKOWSKA-BIEMANS, 2011). O fato de que muitos consumidores ainda têm problemas
para reconhecer alimentos orgânicos e serem céticos em relação às certificações é uma
barreira declarada das mais relevantes nos estudos científicos (PADEL; FOSTER, 2005).
Existem consumidores que não creem que os alimentos orgânicos sejam de fato cultivados
sem o uso de fertilizantes sintéticos, pesticidas e produtos químicos (CHEN, 2009).
Para Zakowska-Biemans (2011), isso ocorre porque as mensagens ainda são confusas
na mente das pessoas e a falta de informação a cerca dos orgânicos e a conseqüente
insegurança que isso gera são consideradas barreiras. O que torna prioritária a necessidade de
se trabalhar a redução dessas incertezas. Os produtores e comerciantes do setor de orgânicos
na indústria mundial de alimentos deveriam, assim, empreender esforços no sentido de
fornecer mais evidências aos indivíduos sobre o sabor dos alimentos orgânicos e seus
atributos se quiserem expandir seus mercados (CHEN, 2009).
Apesar de considerados pouco significativos (ZAKOWSKA-BIEMANS, 2011),
fatores demográficos podem influenciar no consumo de orgânicos. Rieffer e Hamm (2011)
relatam que a transição da infância para a adolescência pode ser caracterizada pela diminuição
do consumo de orgânicos em famílias que costumam comprar esses alimentos. Em outro
estudo, constatou-se que consumidores mais jovens são os que mais frequentemente
expressam a opinião de que os alimentos orgânicos são produzidos de maneira ética e as
mulheres declaram consumir mais orgânicos do que os homens (ZAKOWSKA-BIEMANS,
2011).
De acordo com Hayes e Ross (1987), a idade pode influenciar fortemente os hábitos
alimentares. As autoras afirmam que os hábitos alimentares dos indivíduos mais velhos
tendem a ser melhores embora não levem mais tanto em consideração as questões estéticas.
Em contrapartida, quando se relaciona a variável “aparência” com a idade e o sexo outros
aspectos surgem; mulheres, por exemplo, tendem a se alimentar melhor que os homens por se
preocuparem mais com questões ligadas à estética (HAYES; ROSS, 1987).
Formulou-se assim, a partir do exposto, a última hipótese desta investigação:
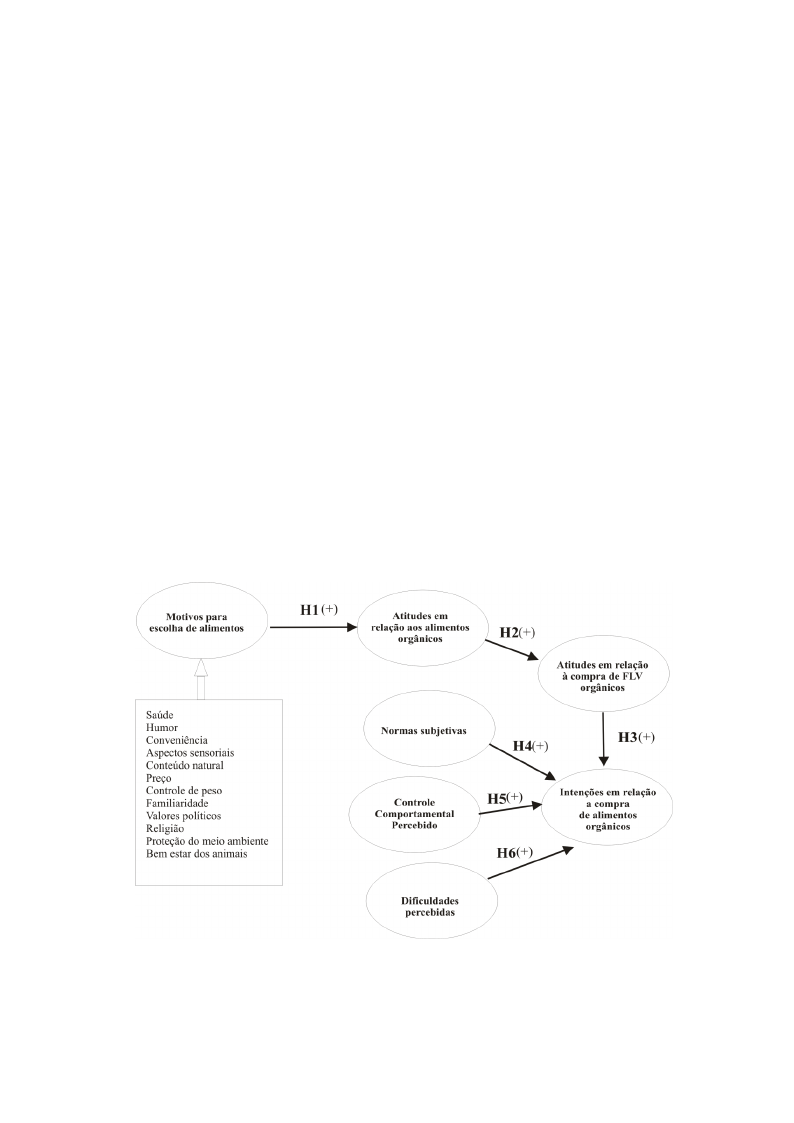
58
H5: O controle comportamental percebido influencia as intenções de compra de FLV
orgânicos.
4.5. O modelo conceitual da dissertação
Para este trabalho, optou-se por testar a correlação entre os construtos definidos pela
Teoria do Comportamento Planejado (TPB) com base em modelo utilizado por Chen (2007)
que também utilizou a TPB como marco teórico. O propósito do instrumento de coleta
aplicado na presente pesquisa, explicitados na seção Metodologia, foi seguir parcialmente o
modelo de Chen (2007) em sua investigação acerca do consumo de orgânicos com a
utilização da TPB. O modelo original daquele autor, apresentado na Figura 9, objetivava
entender os principais determinantes das atitudes dos consumidores de Taiwan em relação aos
alimentos orgânicos. Em sua pesquisa, Chen (2007) elencou doze possíveis motivações para
escolhas alimentares, tais como religiosas, valores políticos, saúde e a preocupação com o
meio ambiente.
Figura 9 – Framework da pesquisa de Chen (2007) para análise de intenções de compra de orgânicos.
Fonte: Chen (2007).

59
Chen (2007), que utilizou 470 questionários, testou as seis hipóteses a seguir,
buscando relacionar a influência dos construtos componentes da TPB:
H1 – Em comparação com outros motivos para escolha alimentar, saúde e proteção ambiental são os
que mais contribuem positivamente para a atitude positiva dos consumidores em relação aos alimentos
orgânicos.
H2 – Quando a atitude do consumidor em relação aos orgânicos é positiva, a atitude dos consumidores
em relação à compra de orgânicos tenderá a ser mais positiva.
H3 – Quando a atitude do consumidor em relação à compra de orgânicos é positiva, as intenções dos
consumidores em relação à compra de orgânicos tenderá a ser mais positiva.
H4 – Quando um consumidor tem uma norma subjetiva positiva em relação à compra de alimentos
orgânicos, ele ou ela tenderá a ter maior intenção de compra de alimentos orgânicos.
H5 – Quão maior for a percepção de controle sobre a compra de alimentos orgânicos maior será a
intenção de compra do consumidor.
H6 – Quanto mais dificuldades o consumidor perceber em relação a compra de alimentos orgânicos
menor será a intenção de compra de alimentos orgânicos.
No questionário da presente pesquisa, optou-se por focar e analisar apenas os
construtos saúde e meio ambiente como passíveis de correlação positiva para com as atitudes
em relação aos alimentos orgânicos. A opção por restringir se deu em razão, primeiro, da
revisão da literatura já revelar que são estes os construtos mais associados aos orgânicos;
segundo, a pesquisa objetiva deliberadamente desde sua concepção trabalhar as atitudes dos
consumidores de FLV orgânicos a partir desses dois construtos apenas.
O modelo de Chen (2007) apresenta ainda o construto “dificuldades percebidas”.
Entretanto, entende-se que este construto já possui relação intrínseca com o “Controle
Comportamental Percebido” sendo dele componente (SPARKS; GUTHRIE; SHEPERD,
1997) e, desta forma, ele não foi replicado de maneira explícita, mas como parte do construto
“Controle Comportamental Percebido” como um todo.
Desta forma, tem-se a seguir, na Figura 10, o modelo conceitual e síntese do
questionário aplicado em nossa pesquisa, onde são visualizados cada bloco que o compõe,
bem como suas hipóteses.
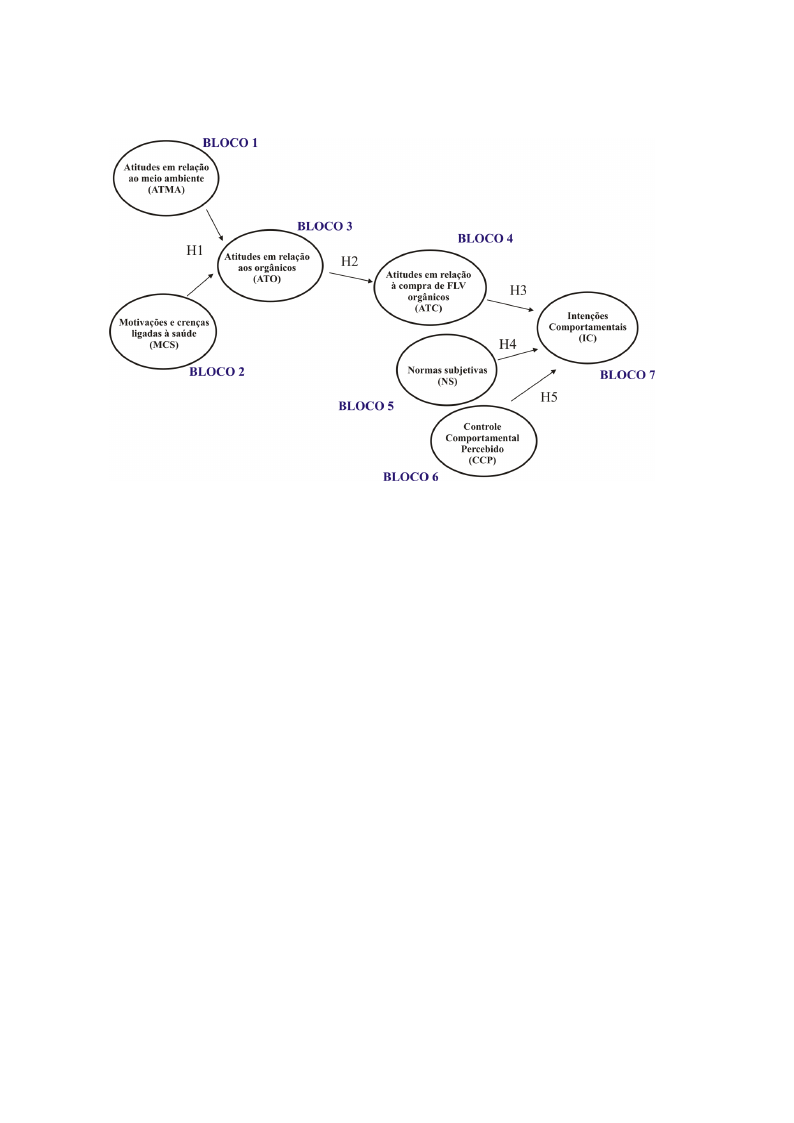
60
Figura 10 – Modelo Conceitual e síntese do Questionário da dissertação.
elaborado pelo autor a partir do modelo de Chen (2007).
Fonte:
Foram formuladas, conforme já apresentadas no decorrer desta seção, as seguintes
hipóteses para esta dissertação:
H1: A consciência ambiental e a busca por saúde influenciam as atitudes em relação aos
orgânicos;
H2: As atitudes em relação aos orgânicos influenciam as atitudes em relação à compra de
FLV orgânicos;
H3: As atitudes em relação à compra de FLV orgânicos influenciam as intenções de compra
destes alimentos.
H4: As normas subjetivas influem as intenções de compra de FLV orgânicos.
H5: O controle comportamental percebido influencia as intenções de compra de FLV
orgânicos.
A partir desse delineamento conceitual, originado do objeto de estudo e da teoria
base escolhida para a pesquisa, considera-se o referencial teórico encerrado. Logo, entende-se
como necessário apontar os aspectos metodológicos da pesquisa, expostos na seção a seguir.

61
5 METODOLOGIA
O objetivo desta seção é descrever o curso metodológico da pesquisa aqui proposta.
Desta forma, contempla as informações referentes ao seu delineamento e características.
Constam ainda o plano de amostragem e o plano de coleta de dados, bem como o
detalhamento do instrumento de coleta utilizado na pesquisa.
5.1 Caracterização da pesquisa
A metodologia aqui proposta busca guardar vínculo direto com a pergunta geral
deste trabalho que é saber de que forma os aspectos relativos à consciência ambiental e à
busca por saúde influenciam as atitudes e intenções de compra do consumidor de alimentos
orgânicos. Com esta intenção declarada, busca-se agora caracterizar este estudo quanto aos
seus objetivos e meios.
5.1.1 Quanto aos objetivos
A pesquisa, no tangente aos seus fins, deve ser classificada como exploratória e
descritiva. É exploratória, uma vez que tem por objetivo aprofundar o conhecimento acerca
das atitudes, comportamentos e motivações de um determinado grupo consumidor (HAIR JR
et al., 2010). A pesquisa exploratória é ainda caracterizada pela flexibilidade e pela
versatilidade, uma vez que não emprega protocolos ou procedimentos formais de pesquisa
(MALHOTRA, 2012). Exemplos de informações descritivas podem ser referentes às atitudes,
às intenções e preferências do consumidor, bem como comportamentos específicos de compra
(HAIR JR et al., 2010). A pesquisa descritiva, conforme Vergara (2010), não tem
compromisso com explicação de fenômenos, mas serve de base para tal fim. Por seu
intermédio, é possível ainda descrever características de grupos relevantes como
consumidores ou mesmo estimar a porcentagem de unidades em uma população específica
que exibem um determinado comportamento (MALHOTRA, 2012).
5.1.1.1 Caracterização da fase exploratória do estudo
Esta fase abrangeu ampla revisão da literatura acerca do tema, quando buscou-se nas
bases de dados nacionais e internacionais (Emerald, Wiley Interscience, Springer, EBSCO,

62
dentre outras) a identificação e escolha da teoria que dá respaldo à investigação proposta. No
caso, a Theory of Planned Behaviour (TPB). Artigos, leis e cartilhas nacionais referentes aos
alimentos orgânicos também foram consultadas na elaboração do referencial teórico desta
pesquisa. Ocorreram também, nesta fase exploratória, a identificação, seleção e adaptação de
questionários já utilizados em pesquisas internacionais, coerentes com os objetivos aqui
propostos, e que foram utilizados para a elaboração do instrumento de coleta desta pesquisa.
Buscaram-se ainda informações preliminares com alguns sujeitos da cadeia produtiva local a
fim de averiguar as suas percepções gerais acerca dos seus consumidores, o objetivo junto a
esses sujeitos foi o de ampliar o conhecimento do pesquisador acerca do tema como um todo.
5.1.2 Quanto aos meios de investigação
Tem-se a pesquisa como bibliográfica e de campo – com a utilização de dados
secundários e primários, respectivamente. As fontes secundárias são interpretações de dados
primários e quase todos os materiais de referências – livros, jornais, revistas, manuais e a
maioria das notícias veiculadas – podem se enquadrar nessa categoria de informação
(COOPER; SCHINDLER, 2011).
De acordo com Mattar (2005, p. 95), “quando há grande homogeneidade nos
elementos da população, o estudo de campo será recomendado, pois se caracteriza como uma
forma mais rápida e mais econômica de obtenção dos dados, sem perda de
representatividade”. Dentre as duas formas de se obter dados primários, comunicação e
observação (MATTAR, 2005), optou-se aqui pela comunicação, caracterizada pelo
questionamento dos respondentes para obtenção do dado desejado, que pode ser fornecido por
declaração verbal ou escrita. O método de perguntas (comunicação) possibilitou, como
endossam Hair Jr et al. (2010), a coleta de uma gama maior de informações. Os métodos
baseados em perguntas podem reunir informações sobre atitudes, intenções, motivações e
comportamento passado, possibilitando não apenas questionar como a pessoa se comporta,
mas a razão daquele comportamento (HAIR JR et al., 2010).
5.2 População e amostra
De acordo com Cooper e Schindler (2011, p. 376), a população é “o conjunto
completo de elementos sobre os quais desejamos fazer algumas inferências”. Amostra é
qualquer parte de uma dada população. Os membros da amostra podem ser selecionados com

63
base em probabilidade ou em não probabilidade. Tem-se, portanto, dois tipos de amostragem:
probabilística e não probabilística (COOPER; SCHINDLER, 2011; HAIR JR et al., 2010;
RICHARDSON, 2009; MATTAR, 2005).
De acordo com Hair Jr et al. (2010) na amostragem probabilística cada elemento da
população alvo disponível possui uma probabilidade conhecida de ser selecionado para a
amostra. Para Cooper e Schindler (2011), somente as amostragens probabilísticas oferecem a
possibilidade de generalização de resultados da população da amostra para a população de
interesse. Entretanto, esses autores ressaltam algumas dificuldades inerentes a esse tipo de
amostragem: elas costumam ser caras, uma vez que exigem muito tempo de planejamento e
repetidas visitas para assegurar que cada elemento da população selecionada seja contatado.
Outro fator limitante da opção pela amostra probabilística é que os dados acerca da população
geral podem não estar disponíveis (MATTAR, 2005). Desta forma, seria necessário, no caso
da pesquisa aqui proposta, dispor de uma relação de todos os consumidores de orgânicos em
supermercados e feiras para que a amostra pudesse ser sorteada de maneira que cada elemento
dela tenha chance igual de ser escolhida.
Optou-se, assim pela amostragem não probabilística e intencional. Tem-se que na
amostragem não probabilística, a seleção de cada unidade amostral depende da intuição e
conhecimento do pesquisador (HAIR JR et al., 2010). Já a amostragem intencional (também
conhecida como amostragem por julgamento) ocorre quando os entrevistadores em campo
selecionam membros da amostra por atender a algum critério (COOPER; SCHINDLER,
2011).
Tem-se que a escolha do processo de amostragem depende do tipo de pesquisa, da
acessibilidade aos membros da população, da disponibilidade de tempo, de recursos humanos,
de dinheiro e da oportunidade apresentada pela ocorrência dos fatos (MATTAR, 2005).
Deve-se ressaltar ainda que “uma amostragem não probabilística cuidadosamente controlada
frequentemente produz resultados aceitáveis” (COOPER; SCHINDLER, 2011, p. 399).
No que concerne ao tamanho da amostra pesquisada, Hair Jr et al. (2010) afirmam
que em amostragens não probabilísticas não é possível utilizar fórmulas matemáticas para
determinar o tamanho da amostra. Levou-se em conta ainda a orientação de Hair Jr et al.
(2005) de que, para proceder-se com a Modelagem de Equações Estruturais (MEE) deve-se
ter, no mínimo, cinco casos para cada item do questionário. Como o questionário possui ao
todo 71 itens, um número mínimo deveria estar entre 355 respondentes. No caso desta
investigação, o tamanho final da amostra foi norteado por limitações de recursos, dentre os
quais, recursos financeiros, de pessoal; bem como a própria saturação da quantidade de
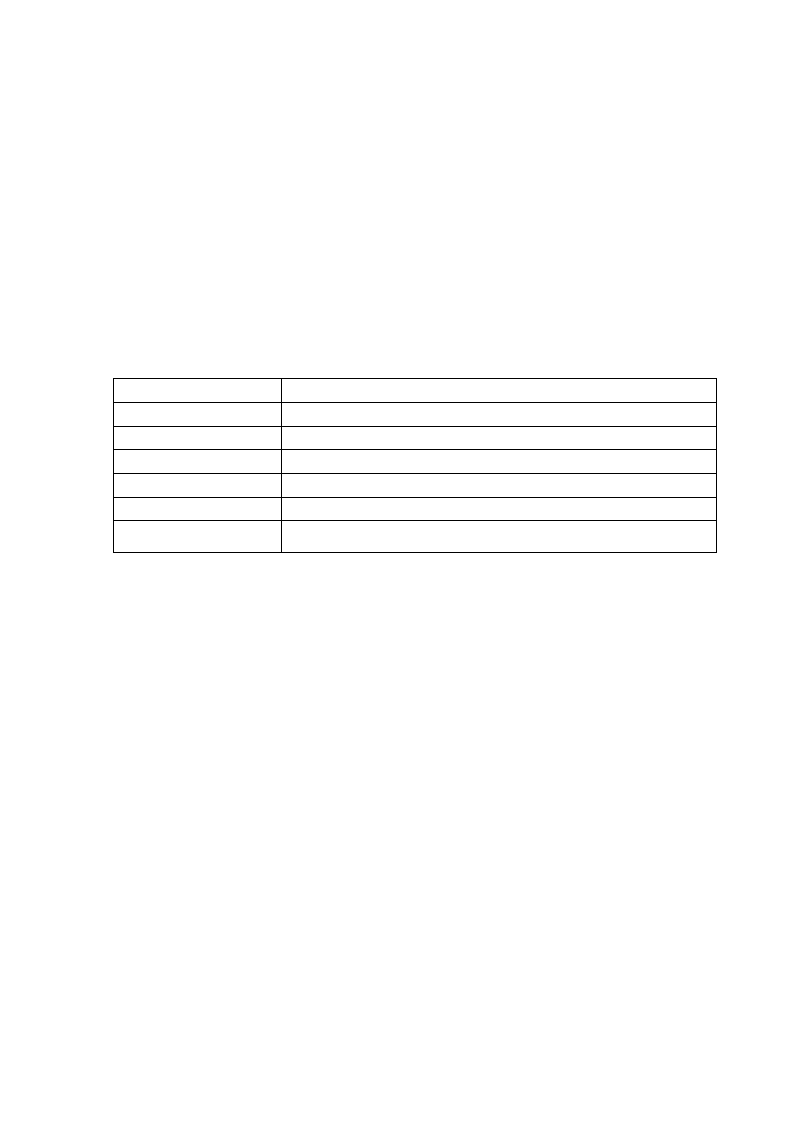
64
respondentes quando do período proposto para a aplicação dos questionários. Chegou-se ao
total de 200 entrevistados (não contados os questionários aplicados no pré-teste).
Deve ser ressaltado que o número de itens do questionário que trabalha com os
construtos em análise nesta pesquisa totalizam 36. Em razão disso, assume-se que não há
comprometimento da análise do modelo conceitual proposto uma vez que, se considerarmos
novamente a orientação de Hair Jr et al.(2005), teríamos que o mínimo de 180 observações
seriam necessárias nesta investigação para a MEE. O Quadro 1 resume a proposta da
amostragem.
Quadro 1 – Proposta da amostragem para a pesquisa.
População
População-alvo
Método de coleta de dados
Método de amostragem
Tamanho da amostra
Abrangência
Período da coleta
Fonte: elaborado pelo autor.
Consumidores de alimentos orgânicos.
Consumidores de FLV orgânicos em supermercados e feira agroecológica.
Survey.
Não probabilística intencional.
200 entrevistados.
Cidade de Fortaleza-CE.
Fevereiro e março de 2012.
Nas subseções seguintes descreve-se a abordagem para coleta dos dados bem como,
descreve-se o instrumento de coleta de dados e seu vínculo com a teoria base da investigação
proposta, a Teoria do Comportamento Planejado.
5.3 Coleta de Dados
O instrumento de coleta escolhido para desta investigação é um questionário
estruturado e não disfarçado. No intuito de identificar possíveis problemas de interpretação,
aprimorá-lo e aperfeiçoar o conteúdo de cada questão, o instrumento de coleta da pesquisa foi
submetido a uma etapa de pré-teste. Durante o mês de novembro de 2011, o próprio
pesquisador aplicou os questionários nos campi do Pici e Benfica, da Universidade Federal do
Ceará. A maior parte dos entrevistados nesta fase, de um total de 30 (trinta) respondentes,
eram professores da universidade, que responderam positivamente à pergunta-filtro e
concordaram em responder o questionário até o fim. O pré-teste contribuiu para a pesquisa,
dentre outras vantagens, por determinar quanto tempo os respondentes precisariam levar para
completar o levantamento (HAIR JR et al., 2010), e para verificar se as perguntas estavam
sendo entendidas da forma como deveriam ser entendidas (MALHOTRA, 2012). Para facilitar

65
o processo, foram disponibilizadas (tanto no pré-teste como na etapa seguinte) à parte, para os
respondentes, as escalas utilizadas em cada bloco do questionário. O tempo médio de
resposta nesta etapa do pré-teste foi de 10 minutos por respondente.
Após a etapa de pré-teste, os questionários foram aplicados, entre os meses de
fevereiro e março de 2012, em dois canais de distribuição de alimentos orgânicos no
município de Fortaleza - CE: feira agroecológica e supermercados. O critério para a escolha
dos estabelecimentos se deu da justificativa de onde se concentram os consumidores, alvo da
pesquisa. Chegou-se assim aos seguintes pontos de venda: Carrefour (duas lojas pesquisadas),
Extra Supermercados (três lojas), Mercadinhos São Luiz (três lojas), Pão de Açúcar (cinco
lojas), Hiper Bompreço (duas lojas) e a Feira Agroecológica do Benfica.
Os questionários foram aplicados, após autorização dos estabelecimentos comerciais,
por quatro pesquisadores contratados. No intuito de garantir uma adequada e correta coleta de
dados, os pesquisadores, todos já com experiência anterior em pesquisas de campo, foram
previamente treinados especificamente para lidar com o tema da pesquisa. O autor dedicou
um dia de treinamento onde foram abordados os principais conceitos relacionados aos
alimentos orgânicos, ao comportamento do consumidor e a teoria que embasa a investigação;
bem como acerca de todos os itens do questionário e sua função no processo de busca da
resposta para a pergunta da pesquisa.
Quando da aplicação dos questionários, os respondentes, se adequados a proposta da
investigação por meio de pergunta filtro, foram convidados a respondê-lo até o fim. Cada
questionário foi respondido em tempo médio de 15 minutos por pessoa. Uma vez que a
pesquisa também parte da premissa de que os consumidores nesses dois canais podem possuir
atitudes distintas à cerca dos construtos saúde e meio ambiente, optou-se por um questionário
único para os dois públicos.
5.3.1 Questionário
Optou-se por elaborar o questionário a partir de instrumentos já validados em
pesquisas anteriores e que possuíam vínculo direto e profundo com o tema desta pesquisa. Os
blocos que compõem o questionário foram traduzidos para a língua portuguesa e adaptados ao
contexto brasileiro. Para garantir a adequação dos termos utilizados em português, a técnica
de tradução reversa foi aplicada por um especialista em tradução. Os questionários – o
traduzido e original – foram comparados para verificar a equivalência dos termos.
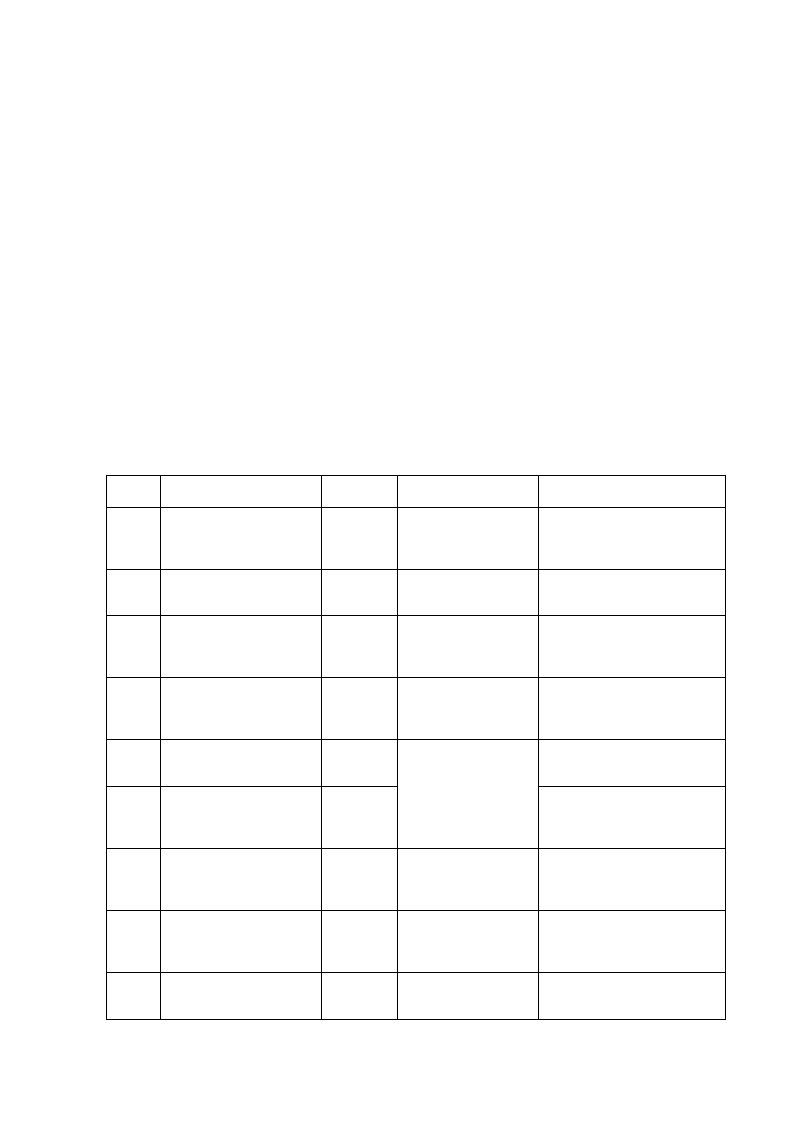
66
O questionário é, assim, composto de nove blocos. Os sete primeiros blocos guardam
relação direta com a Teoria do Comportamento Planejado (TPB) e buscam mensurar os
construtos que compõem esta teoria. O oitavo bloco busca mensurar a freqüência de compra
dos produtos orgânicos. O nono bloco investiga o perfil sociodemográfico dos entrevistados.
A maior parte do questionário é composta por escala de sete pontos, a Escala Likert, com a
utilização dos pólos “concordo totalmente”/”discordo totalmente” em um contínuo;
entretanto, tem–se também a utilização de questões com escalas de diferencial semântico,
com a utilização de adjetivos bipolares tais como satisfeito/insatisfeito ou danoso/benéfico
como pontos finais em um contínuo.
O questionário é apresentado completo ao final desta dissertação, no Apendice A.
No Quadro 2 é possível visualizar a proposta de cada um dos nove blocos, que serão
explicados em seguida.
Quadro 2 – Resumo do instrumento de coleta.
Bloco
Construto
Quantiade
de itens
Referência
Objetivo
1
Atitudes em relação ao
meio ambiente
05
Gil; Gracia; Sanchez
(2000)
Mensurar crenças e sentimentos
em relação ao construto meio
ambiente
Motivações e crenças
2
ligadas à saúde
Chen (2007) e
09
Schifferstein e Oude Mensurar o construto saúde.
Ophuis (1998)
3
Atitudes em relação aos
orgânicos
09
Gil; Gracia; Sanchez
(2000)
Mensurar crenças e sentimentos
em relação aos alimentos
orgânicos.
4
Atitudes em relação à
compra de FLV orgânicos
06
Hoppe (2010)
Mensurar as crenças,
sentimentos e avaliações morais
em relação a compra de FLV
orgânicos.
5
Normas subjetivas
02
Mensurar o poder social que
influencia as intenções.
6
Controle comportamental
percebido
03
Chen (2007)
Mensurar preditores para o
controle real da ação e barreiras
percebidas.
Mensurar expectativas de
7 Intenções comportamentais
02
Shaharudin et al (2010)
comportamento dos
entrevistados em relação à
compra.
8
Frenquência de compra de
FLV orgânicos
04
O autor
Identificar a freqüência de
compra
9
Perfil sociodemográfico
07
Fonte: elaborado pelo autor.
O autor
Traçar um perfil do
entrevistado.
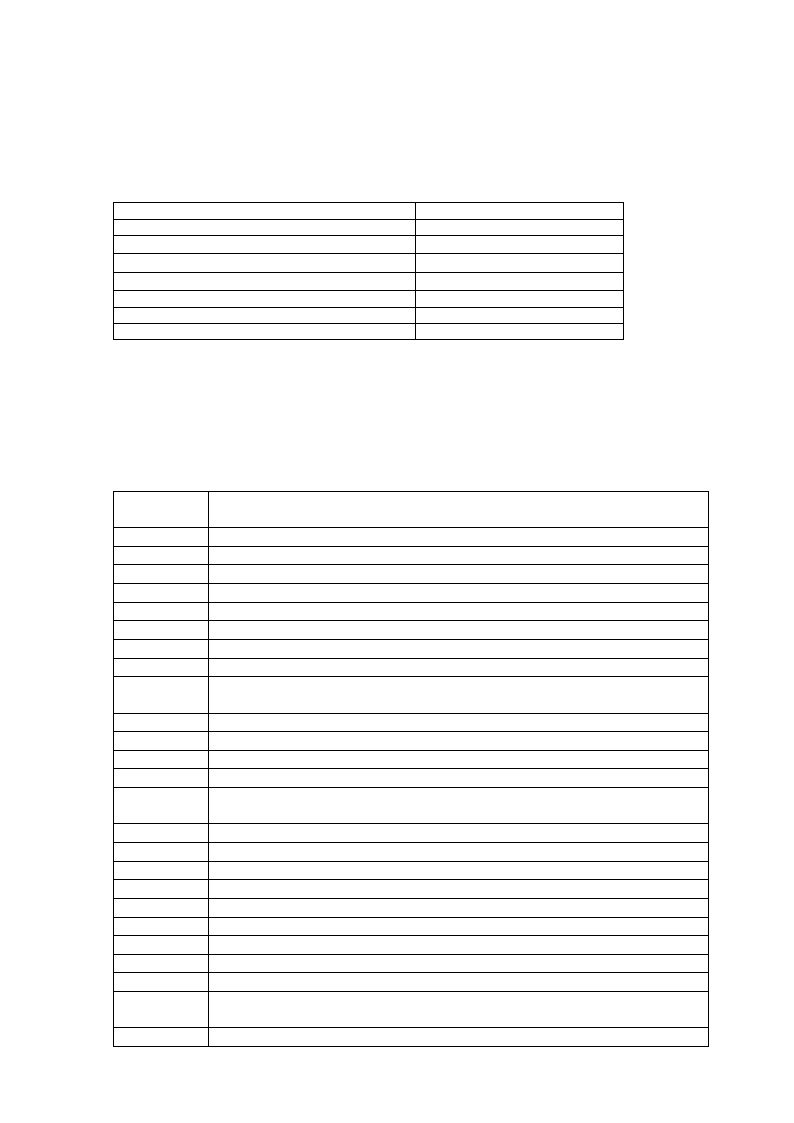
67
Os construtos foram codificados para sua melhor representação e compreensão
durante a análise. O Quadro 3 representa os construtos da TPB codificados.
Quadro 3 – Codificação dos construtos do instrumento de coleta.
Construto
Código do construto
Atitudes em relação ao meio ambiente
ATMA
Motivações e crenças ligadas à saúde
MCS
Atitudes em relação aos alimentos orgânicos
ATO
Atitudes em relação a compra de FLV orgânicos
ATC
Normas subjetivas
NS
Controle comportamental percebido orgânicos
CCP
Intenções de compra
IC
Fonte: o autor
Quadro 4 apresenta a codificação, em seqüência, das variáveis observáveis
tomando por base sua alocação em cada construto.
Quadro 4 – Codificação das variáveis observáveis de cada construto (continua)
Código da
variável
Variável
atma 1
O desenvolvimento atual está destruindo o meio ambiente.
atma 2
Prefiro consumir produtos reciclados.
atma 3
Faço a coleta seletiva do meu lixo.
atma 4
A menos que façamos algo, os danos ambientais serão irreversíveis.
atma 5
Pratico ações de preservação ambiental.
mcs 1
É importante para mim que a comida que eu consumo diariamente me mantenha saudável.
mcs 2
Eu realmente não fico pensando o tempo todo se tudo o que eu faço é saudável.
mcs 3
É importante para mim que a comida que eu consumo diariamente seja nutritiva.
mcs 4
É importante para mim que a comida que eu consumo diariamente seja boa para minha
pele, dentes, cabelo.
mcs 5
Acredito que seja importante saber bem como se alimentar de maneira saudável.
mcs 6
Tenho a impressão de que as outras pessoas prestam mais atenção à sua saúde do que eu.
mcs 7
Não fico o tempo todo me perguntando se as coisas que eu como são boas pra mim.
mcs 8
Tenho a impressão que eu me sacrifico muito em prol da minha saúde.
mcs 9
Estou preparado para abdicar de muitas coisas e me alimentar da maneira mais saudável
possivel.
ato 1
Alimentos orgânicos são mais saudáveis.
ato 2
Alimentos orgânicos têm qualidade superior.
ato 3
Alimentos orgânicos são uma fraude.
ato 4
Alimentos orgânicos são mais gostosos.
ato 5
Alimentos orgânicos são piores que os alimentos convencionais.
ato 6
Alimentos orgânicos são mais caros.
ato 7
Alimentos orgânicos são mais bonitos
ato 8
Alimentos orgânicos não fazem mal.
ato 9
Alimentos orgânicos são apenas moda.
Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais me faria sentir que estou fazendo
atc 1
algo “politicamente correto”.
atc 2
Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais me faria sentir uma pessoa melhor.
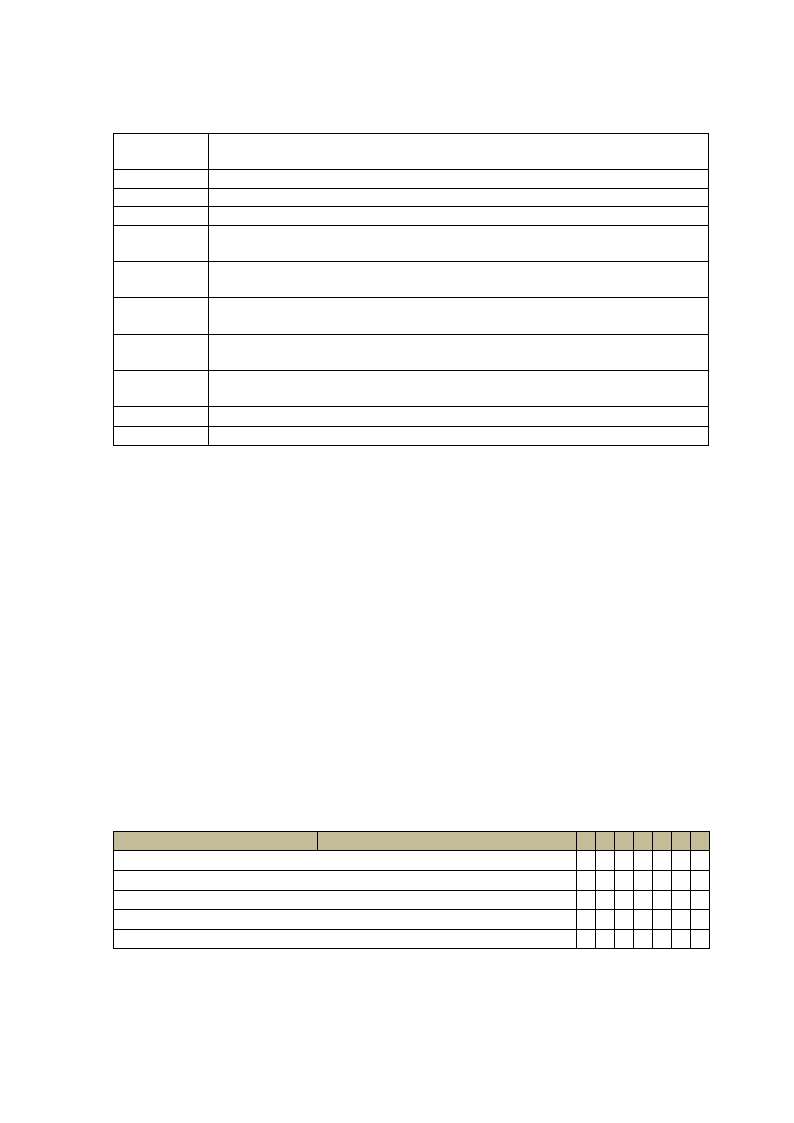
68
Quadro 4 – Codificação das variáveis observáveis de cada construto (conclusão)
Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais faria eu me sentir como se estivesse
atc 3
contribuindo para algo melhor.
atc 4
Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais seria...
atc 5
Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais seria...
atc 6
Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais me faria sentir...
A maioria das pessoas que são importantes para mim acham que eu
ns 1
deveria__________________ alimentos orgânicos.
ns 2
Grande parte das pessoas próximas a mim acham que eu deveria _________________
alimentos orgânicos.
ccp 1
Se frutas, legumes e verduras orgânicos estiverem disponíveis para compra, nada me
impediria de comprá-los, caso eu quisesse.
ccp 2
Eu tenho total controle sobre uma eventual compra de frutas, legumes e verduras
orgânicos.
ccp 3
Se eu quisesse, eu poderia facilmente comprar frutas, legumes e verduras orgânicas ao
invés dos convencionais.
ic 1
Eu planejo consumir FLV orgânicos em breve.
ic 2
Eu pretendo comprar FLV orgânicos nos próximos quinze dias.
Fonte: o autor
No primeiro bloco, traduzido de Gil, Gracia e Sanchez (2000) e utilizado na pesquisa
de Chen (2009), objetiva-se mensurar as atitudes dos consumidores em relação ao construto
meio ambiente. Conforme já explicado neste estudo, as atitudes referem-se a avaliações gerais
das pessoas acerca das coisas ou fenômenos e envolvem tanto componentes cognitivos (as
crenças) como componentes afetivos. Entende-se que os itens que compõem este bloco já
contenham os elementos afetivos e cognitivos das atitudes intrínsecos em cada afirmação,
sendo descartada pelo pesquisador a opção de utilizar seções que discorram sobre as crenças e
afetos em separado. Conforme apresentado no Quadro 5, as afirmações do Bloco 1 envolvem
avaliações tais como “eu prefiro consumir produtos reciclados” (ligada ao componente
afetivo das atitudes), ou “ o caminho para o desenvolvimento na atualidade está destruindo o
planeta” (referente às crenças individuais).
Quadro 5 – Bloco 1. Atitudes em relação ao meio ambiente.
1 = discordo totalmente
7= concordo totalmente
1. O desenvolvimento atual está destruindo o meio ambiente.
2. Prefiro consumir produtos reciclados.
3. Faço a coleta seletiva do meu lixo.
4. A menos que façamos algo, os danos ambientais serão irreversíveis.
5. Pratico ações de preservação ambiental.
Fonte: Gil; Gracia e Sanchez (2000)
1234567
No segundo bloco do questionário, exposto no Quadro 6, optou-se pela inclusão de
construtos relacionados à saúde. Um dos objetivos específicos da pesquisa, conforme exposto
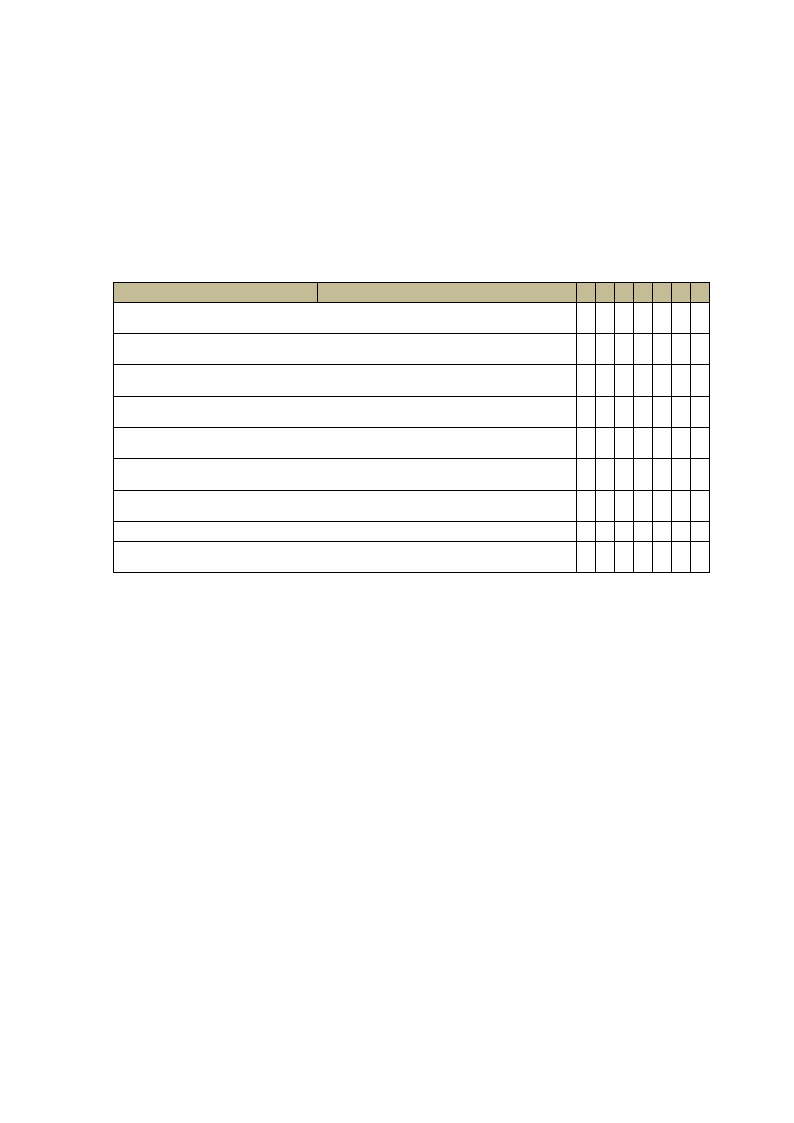
69
anteriormente, é comparar o grau de importância dada aos construtos meio ambiente e saúde
pelos consumidores. Dessa forma, crenças intrínsecas e motivações para o consumo de
orgânicos ligado a saúde são propostos nesse bloco. Foram utilizados itens dos questionários
de Chen (2007) e Schifferstein e Oude Ophuis (1998). Busca-se, assim, conectar o
consumidor de alimentos orgânicos com construtos ligados a saúde e qualidade de vida.
Quadro 6 – Bloco 2. Motivações e crenças ligadas à saúde
1 = discordo totalmente
7= concordo totalmente
1. É importante para mim que a comida que eu consumo diariamente me
mantenha saudável.
2. Eu realmente não fico pensando o tempo todo se tudo o que eu faço é saudável.
(1,2)
3. É importante para mim que a comida que eu consumo diariamente seja
nutritiva.
4. É importante para mim que a comida que eu consumo diariamente seja boa para
minha pele, dentes, cabelo.
5. Acredito que seja importante saber bem como se alimentar de maneira
saudável.
6. Tenho a impressão de que as outras pessoas prestam mais atenção à sua saúde
do que eu.
7. Não fico o tempo todo me perguntando se as coisas que eu como são boas pra
mim.
8. Tenho a impressão que eu me sacrifico muito em prol da minha saúde.
9. Estou preparado para abdicar de muitas coisas e me alimentar da maneira mais
saudável possivel.
Fonte: Chen (2007) e Schifferstein e Oude Ophuis (1998)
1234567
No bloco 3, também traduzido de Gil; Gracia e Sanchez (2000) e utilizado na
pesquisa de Chen (2009), objetiva-se mensurar as atitudes dos consumidores em relação aos
alimentos orgânicos. Optou-se neste bloco do questionário (apresentado no Quadro 7) por não
restringir ainda os alimentos orgânicos em frutas, legumes e verduras preservando, assim, a
generalização do questionário original no intuito de mensurar as atitudes gerais em relação
aos alimentos orgânicos como um todo.
Nos próximos blocos há a especificação em FLV orgânicos. Este bloco 3 expõe, por
exemplo, afirmações como “alimentos orgânicos são mais gostosos”, que fez parte da
discussão teórica na seção referente ao consumo de orgânicos.
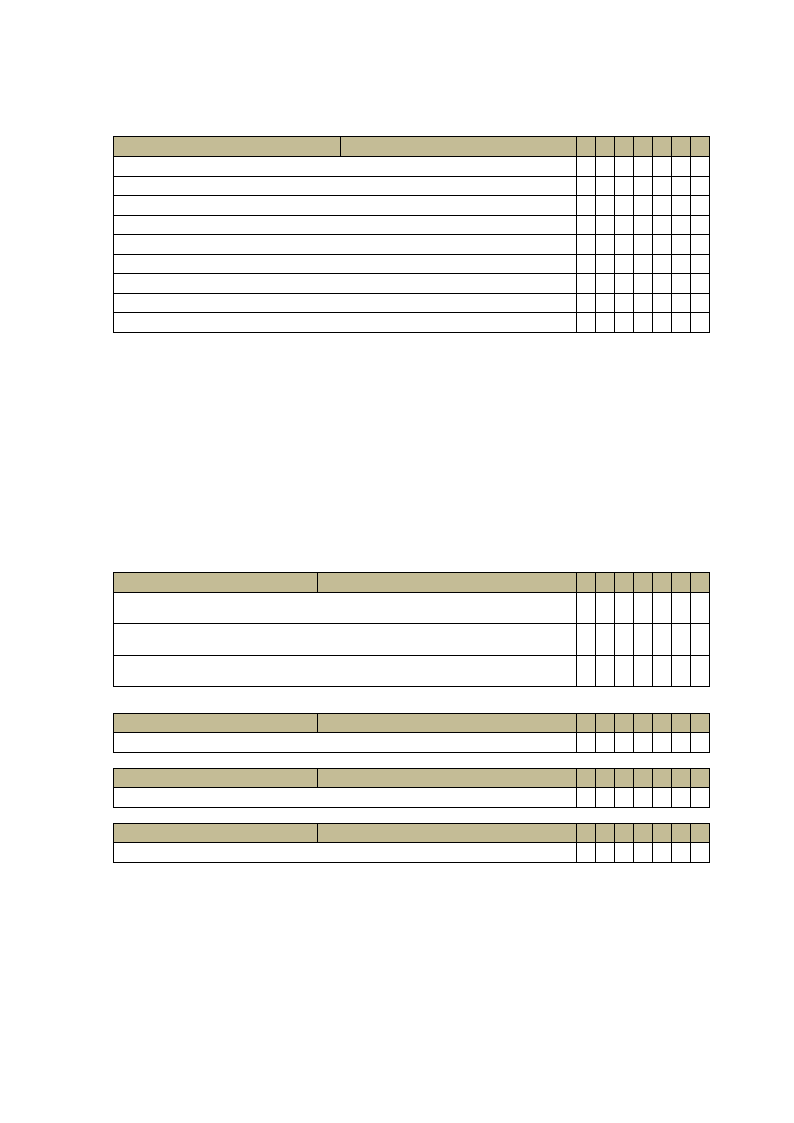
70
Quadro 7 – Bloco 3. Atitudes em relação aos orgânicos.
1 = discordo totalmente
7= concordo totalmente
1. Alimentos orgânicos são mais saudáveis.
2. Alimentos orgânicos têm qualidade superior.
3. Alimentos orgânicos são uma fraude.
4. Alimentos orgânicos são mais gostosos.
5. Alimentos orgânicos são piores que os alimentos convencionais.
6. Alimentos orgânicos são mais caros.
7. Alimentos orgânicos são mais bonitos
8. Alimentos orgânicos não fazem mal.
9. Alimentos orgânicos são apenas moda.
Fonte: Gil; Gracia e Sanchez (2000).
1234567
As atitudes em relação à compra de frutas, legumes e verduras orgânicas são
mensuradas no bloco 4 do questionário, visualizado no Quadro 8, a seguir. Os seis itens que
compõem esse bloco foram retirados e adaptados do questionário de Hoppe (2010). As
afirmações constantes nessa seção buscam envolver elementos cognitivos, afetivos e morais
relativos ao consumo de orgânicos.
Quadro 8 – Bloco 4. Atitudes em relação à compra de orgânicos.
1 = discordo totalmente
7= concordo totalmente
1234567
1. Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais me faria sentir que estou
fazendo algo “politicamente correto”.
2. Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais me faria sentir uma
pessoa melhor.
3. Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais faria eu me sentir como se
estivesse contribuindo para algo melhor.
1 = danoso
7= benéfico
4. Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais seria...
1 = tolice
7= sábio
5. Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais seria...
1 = insatisfeito
7= satisfeito
6. Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais me faria sentir...
Fonte: Hoppe (2010).
1234567
1234567
1234567
As normas subjetivas são mensuradas no bloco 5 do questionário, apresentado no
Quadro 9, a seguir. Uma norma subjetiva simboliza o poder dos efeitos que “grupos de
referência” ou “líderes de opinião” têm sobre as ações dos indivíduos. Assim, das crenças
sobre as expectativas das outras pessoas e da própria motivação a aderir a essas expectativas
resultam as normas subjetivas de uma determinada pessoa.
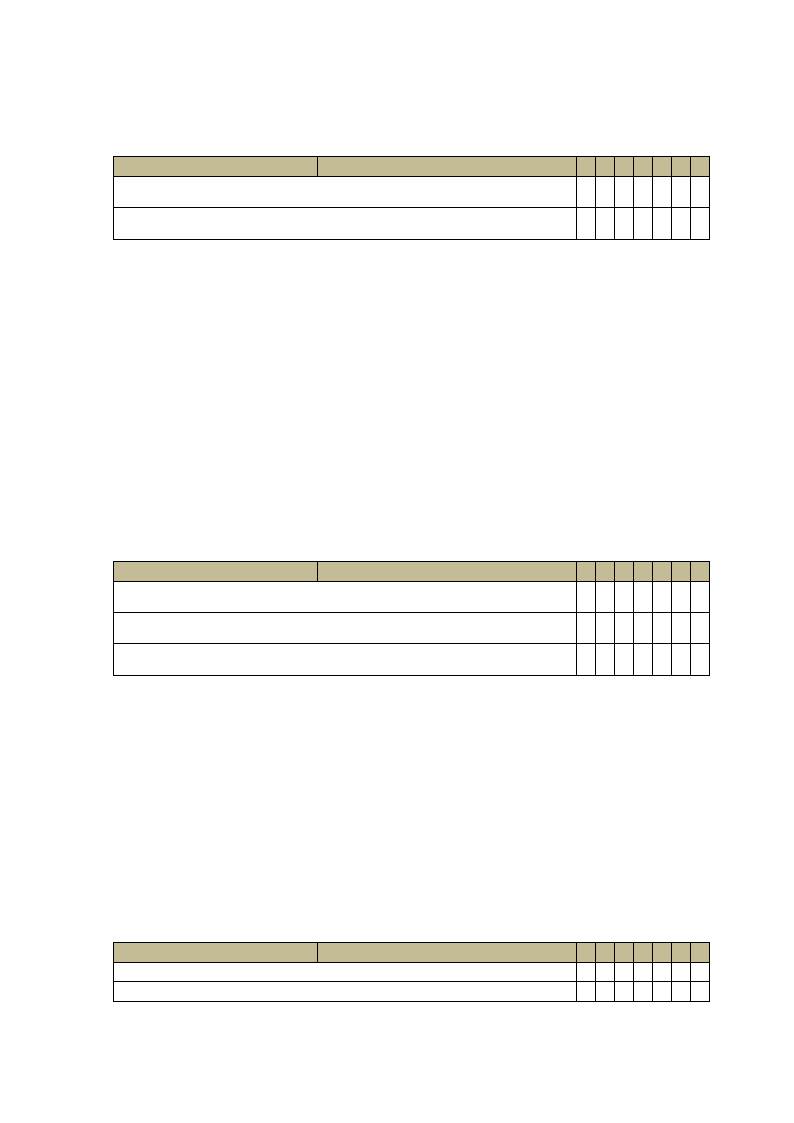
71
Quadro 9 – Bloco 5. Normas subjetivas.
1 = definitivamente evitar
7= definitivamente comprar
1. A maioria das pessoas que são importantes para mim acham que eu
deveria__________________ alimentos orgânicos.
2. Grande parte das pessoas próximas a mim acham que eu deveria
_________________ alimentos orgânicos.
Fonte: Chen (2007).
1234567
Aborda-se no bloco 6 do questionário o construto Controle Comportamental
Percebido. Mensurar este controle pode contribuir para a previsão da ação, além de servir
como preditor para o controle real, de acordo com Ajzen (2008). Parte-se do princípio que
quanto mais forte a convicção de que a situação está sob controle, maior será a intenção de
agir. Mas, uma vez que pode ser difícil mensurar o Controle Real da Ação, o controle
percebido funciona como medida de confiança quanto à efetivação ou não do comportamento.
As afirmações envolvem a percepção do respondente sobre suas intenções tais como em “Se
frutas, legumes e verduras orgânicos estiverem disponíveis para compra, nada me impediria
de comprá-los, caso eu quisesse”.
Quadro 10 – Bloco 6. Controle comportamental percebido.
1 = discordo totalmente
7= concordo totalmente
1. Se frutas, legumes e verduras orgânicos estiverem disponíveis para
compra, nada me impediria de comprá-los, caso eu quisesse.
2. Eu tenho total controle sobre uma eventual compra de frutas, legumes e
verduras orgânicos.
3. Se eu quisesse, eu poderia facilmente comprar frutas, legumes e verduras
orgânicas ao invés dos convencionais.
Fonte: Chen (2007).
1234567
No bloco 7 do instrumento de coleta busca-se mensurar as intenções
comportamentais dos consumidores de alimentos orgânicos. As intenções, conforme já
definido anteriormente, equivalem a expectativas de se comportar de determinada maneira
(MOWEN; MINOR, 2003). Esse construto integra a TPB e os itens que constam no
questionário, expostos no Quadro 11, foram traduzidos de um estudo que buscou
especificamente estudar as intenções de compra do consumidor relacionado aos alimentos
orgânicos (SHAHARUDIN; MANSOR; ELIAS, 2010).
Quadro 11 - Bloco 7. Intenções comportamentais.
1 = absolutamente não
7= absolutamente sim
1. Eu planejo consumir FLV orgânicos em breve.
2. Eu pretendo comprar FLV orgânicos nos próximos quinze dias.
Fonte: Shaharudin; Mansor e Elias (2010)
1234567

72
O Bloco 8 do instrumento de coleta buscou analisar a freqüência de compra das
frutas, legumes e verduras orgânicas. Composta de quatro itens com apenas uma opção de
resposta, esse bloco classificou a freqüência de compra em “diariamente”, “semanalmente”,
“de vez em quando” e “raramente”, entendendo assim que todos esses itens legitimam e
caracterizam um comprador de FLV orgânicos. O Bloco 9 refere-se as questões que Cooper e
Schidler (2011) denominam questões de classificação e identificam o perfil sociodemográfico
dos respondentes. Optou-se por colocar essa seção no fim do questionário como geralmente é
recomendado (COOPER; SCHINDLER, 2011). Segundo Hair Jr et al (2010), os dados de
classificação servem como um marco transitório podendo o entrevistador avisar ao
respondente que a tarefa de completar o questionário está no fim, o que pode deixar o
entrevistado mais a vontade além de prepará-lo para um novo processo de raciocínio.
Constam nessa seção questões referentes ao gênero, idade, renda, dentre outras características
comuns as questões de classificação. Por serem questões comuns a maioria dos questionários
optou-se por não explicitar o bloco 9 em detalhamento. Ele pode ser visualizado no Apêndice
A deste trabalho, junto aos demais blocos que compõem todo o instrumento de coleta
proposto.
A mensuração e análise dos construtos que constam no questionário objetivam
responder à pergunta geral da pesquisa e reconhece que apenas pela ação conjunta desses
construtos é possível obter uma resposta coerente, assim como a própria TPB presume que é
da ação conjunta entre a atitude, norma subjetiva e o controle comportamental percebido que
é possível prever (ainda que com certo grau de incerteza) um comportamento.
5.4 Tratamento e análise dos dados.
Inicialmente foi empreendida uma análise descritiva das variáveis para a
caracterização da amostra, apresentando os valores percentuais dos itens sócio-demográficos.
Com base nesta análise foi traçado o perfil dos consumidores de produtos orgânicos em
Fortaleza-CE, pesquisados.
Empreendeu-se uma etapa de Análise Fatorial Exploratória (AFE), visando
analisar a unidimensionalidade dos construtos pesquisados. A unidimensionalidade ocorre se
a covariância entre todos os itens incluídos nesse construto é reproduzida por um único fator
(KUMAR; DILLON, 1987).
Para analisar os múltiplos relacionamentos de variáveis dependentes e
independentes do modelo teórico proposto no framework da dissertação lançou-se mão do

73
método de equações estruturais, também conhecido como Modelagem de Equações
Estruturais (MEE). De acordo com Hair Jr. et al. (2005), a MEE configura-se como uma
técnica de análise multivariada que combina aspectos da regressão múltipla (examinando
relações de dependência) e da análise fatorial (representando fatores não diretamente medidos
– as variáveis latentes ou construtos), para estimar uma série de relações de dependência
simultaneamente. O termo equações estruturais remete a modelos de dependência entre
variáveis latentes dependentes e independentes (LATTIN; CARROL; GREEN, 2011). O seu
uso não se limita à análise de dependência simultânea dos dados; a técnica proporciona uma
transição da análise exploratória para uma perspectiva confirmatória (HAIR JR et al, 2005).
A MEE foi utilizada nesta pesquisa com o propósito de confirmar o modelo
proposto, baseado na teoria escolhida (a teoria do comportamento planejado) e no modelo de
Chen (2007), avaliando, se há ajuste estatístico aos dados coletados, por meio da aceitação ou
rejeição do modelo. A razão pela qual a MEE tem sido utilizada em muitas áreas é, de acordo
com Silva (2006), a sua habilidade de resolver problemas de pesquisa relacionados às relações
causais entre construtos latentes que são medidos pelas variáveis observadas. Muitos
conceitos culturais, psicológicos e de mercado são construtos latentes de confiança, medidos
por múltiplas variáveis observadas (SILVA, 2006).
É importante ressaltar que na utilização da MEE, existe a necessidade de
justificativa teórica para a especificação das relações de dependência, modificações das
relações propostas e outros aspectos da estimação de um modelo. A teoria fornece o
fundamento para quase todos os aspectos da MEE (HAIR JR et a.l, 2005).
O processo de Modelagem de Equações Estruturais está centrado em dois passos:
(1) validação do modelo de medida e (2) ajuste do modelo estrutural. A validação do modelo
de medida é realizada principalmente por meio de Análise Fatorial Confirmatória (ACF).
A Análise Fatorial Confirmatória envolve a especificação e estimação de um ou
mais modelos hipotéticos de estrutura fatorial, cada um dos quais propõe um conjunto de
variáveis latentes (fatores) a considerar a fim de se obter covariâncias em um conjunto de
variáveis observadas. Ela permite ainda a operacionalização de um modelo de medida. O
modelo de medida, visualizado por meio de um diagrama relacionando variáveis
independentes, intermediárias e dependentes, possui uma característica própria: as variáveis
latentes possuem uma covariância mútua, ou seja, todas as suas associações são especificadas
como não analisadas (SILVA, 2006).
A Análise Fatorial Confirmatória é, assim, apropriada quando o pesquisador já
possui alguma ideia sobre as variáveis latentes em estudo (SILVA, 2006). Nesta análise, o

74
modelo deve ser previamente construído, o número de variáveis latentes é fixado antes da
análise, alguns efeitos diretos de variáveis latentes em variáveis observadas são fixados em
zero ou em alguma constante, erros de medida podem ser correlacionados, a covariância das
variáveis pode ser estimadas ou fixadas em qualquer valor, é necessária a identificação dos
parâmetros; em resumo, a AFC requer um modelo inicial detalhado e identificado. Baseado
no conhecimento teórico, a Análise Fatorial Confirmatória postula as relações entre as
variáveis medidas e os fatores definidos a priori, e então testa estatisticamente essa estrutura
hipotética. Análise fatorial confirmatória é, de acordo com Hair Jr et al. (2005),
particularmente útil na validação de escalas de mensuração de construtos específicos.
Tem-se que a modelagem de equações estruturais possui duas opções de input de
matriz de dados: matriz de correlação e matriz de covariância. De acordo com Hair Jr et al.
(2005), o uso da matriz de correlação é apropriado quando se busca entender apenas os
padrões das relações entre os construtos, mas não para explicar a variância total de um
construto. Lançou-se mão da outra opção, a matriz de covariância, por ter-se o objetivo de se
testar um modelo teórico, visto que esse tipo de matriz é o indicado para a validação de dados
em relações causais (HAIR Jr et al., 2005; LATTIN; CARROL; GREEN, 2011). Sobre a
estimação de modelos de equação estrutural, optou-se pelo método de máxima
verossimilhança (Maximum Likelihood Estimation), no qual se requer que os dados tenham
distribuição normal multivariada e que a amostra seja em torno de 100 a 200 casos (HAIR JR
et al., 2005).
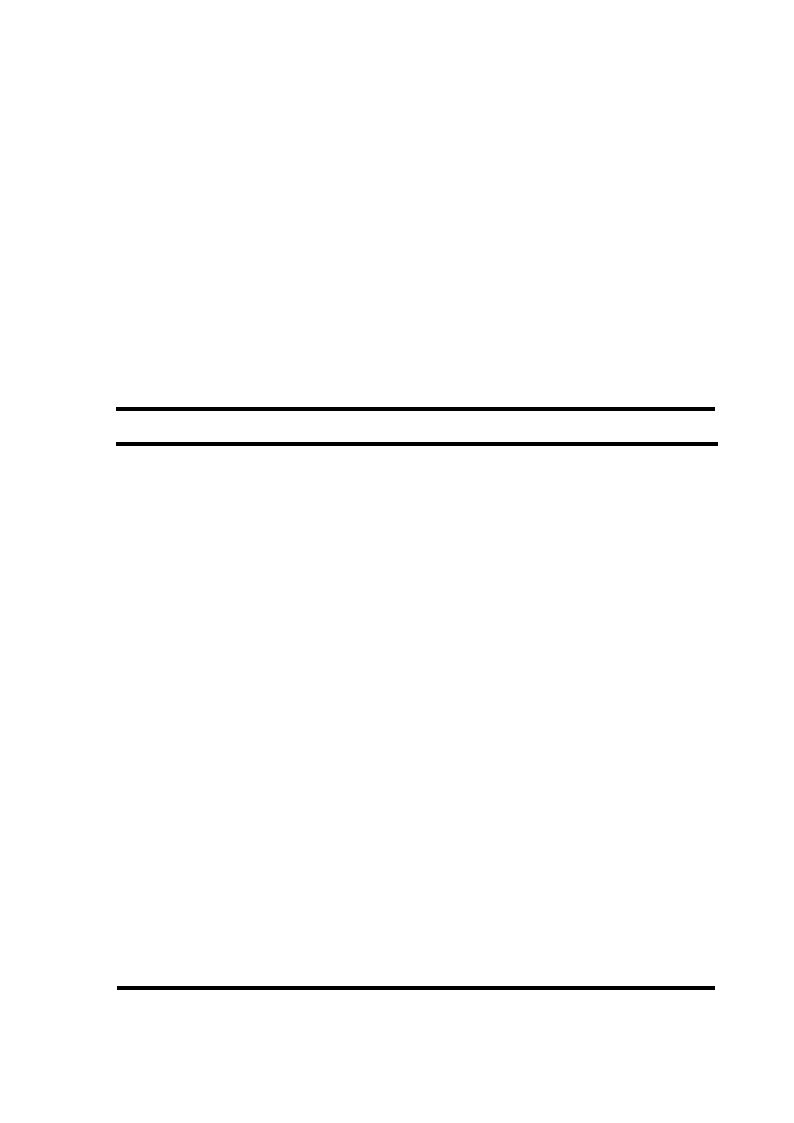
75
6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Nesta seção são apresentados os resultados, análises e discussão dos dados
coletados. São visualizados, dentre outros elementos, os dados demográficos dos
consumidores pesquisados e a análise referente ao modelo conceitual proposto na dissertação,
com base nos dados coletados com a utilização da MEE.
6.1 Caracterização da amostra
A Tabela 1 apresenta o perfil sócio-demográfico da amostra pesquisada.
Tabela 1 – Caracterização sócio-demográfica da amostra.
Caracterização
Gênero
Faixa Etária
Grau de escolaridade
Estado civil
Renda Familiar
mensal
Número de pessoas
que moram na
residência
Fonte: dados da pesquisa.
Masculino
Feminino
18 a 25 anos
26 a 35 anos
36 a 45 anos
46 a 55 anos
56 a 65 anos
Mais de 65 anos
Fundamental
Fundamental incompleto
Ensino médio
Ensino médio incompleto
Superior
Superior incompleto
Pós-graduação
Solteiro (a)
Casado (a)
Separado ou divorciado (a)
Viúvo (a)
Até 1.000,00
De 1.001,00 a 3.000,00
De 3.001,00 a 5.000,00
De 5.001,00 a 7.000,00
Mais de 7.001,00
1 pessoa
2 pessoas
3 pessoas
4 pessoas
Mais de 4 pessoas
Porcentagem da
amostra (%)
32
68
18
19
18,5
26
13,5
5
1,5
1
17
2
38,5
16
24
35,5
53,5
7
4
13
17
29
15,5
25,5
7
16,5
30,5
23,5
22,5

76
Observam-se nos dados apresentados que a maior parte da amostra é do sexo
feminino: das 200 pessoas entrevistadas 136 foram mulheres (68%) enquanto 64 (32%) da
amostra foi composta por consumidores do sexo masculino. A revisão da literatura já
apresentada nesta dissertação ressaltou essa predominância do sexo feminino em pesquisas
anteriores realizadas com consumidores de orgânicos, como na investigação de Zakowska-
Biemans (2011).
No tangente a faixa etária dos respondentes, constatou-se que há uma ligeira
equiparação entre as faixas de 18 a 25 anos (18%), 26 a 35 anos (19%) e 36 a 45 anos
(18,5%). O número de 52 respondentes (26%) encontra-se na faixa entre 46 a 55 anos e
representam a maior porcentagem nesta categoria. Tem-se ainda que 27 respondentes (13,5%)
da amostra declararam estarem na faixa entre 56 a 65 anos enquanto que apenas 10
respondentes (5%) dos 200 têm mais de 65 anos de idade.
No que se refere ao grau de escolaridade da amostra pesquisada, constata-se que a
maioria, 77 respondentes, possui nível superior completo (38,5%), 48 pesquisados (24%)
afirmaram ter pós-graduação, enquanto 16% da amostra, 32 respondentes, disseram ter o nível
superior ainda incompleto. Um total de 34 entrevistados (17%) afirmou possuir ensino médio
completo enquanto apenas quatro respondentes (2%) afirmaram ter essa escolaridade
incompleta. Apenas 1% do total dos 200 respondentes, afirmaram ter o ensino fundamental
incompleto, enquanto que 3 respondentes (1,5%) disseram possuir ensino fundamental
completo.
No tangente ao estado civil dos respondentes, tem-se que a maioria é casada
(53,5%), enquanto 35,5% da amostra se declararam solteiros. Da amostra total de
consumidores de orgânicos em Fortaleza, apenas 7% declaram ser separados ou divorciados e
apenas 8 respondentes (4%), do total, declararam serem viúvos.
A renda familiar mensal dos entrevistados foi outro elemento de análise e os
dados mostram que 29% dos entrevistados declaram que a renda familiar mensal está entre
R$3.001,00 e R$5.000,00. A segunda maior porcentagem (25,5%) foi a dos que declararam
ser a renda familiar mensal superior a R$ 7.000, 00. Da amostra, 17% declaram que sua renda
está entre R$1.001,00 e R$3.000,00 enquanto 15,5% da amostra afirmaram que a renda
familiar mensal é R$ 5.000,00 a R$7.000,00. Apenas 26 entrevistados possuem renda familiar
até R$ 1.000,00 / mês.
Quando do questionamento sobre o número de pessoas que moravam na mesma
residência (incluindo o próprio respondente) obteve-se os seguintes resultados: 30,5% da
amostra afirmaram haver três pessoas na residência; enquanto 23,5% disseram que possuem 4
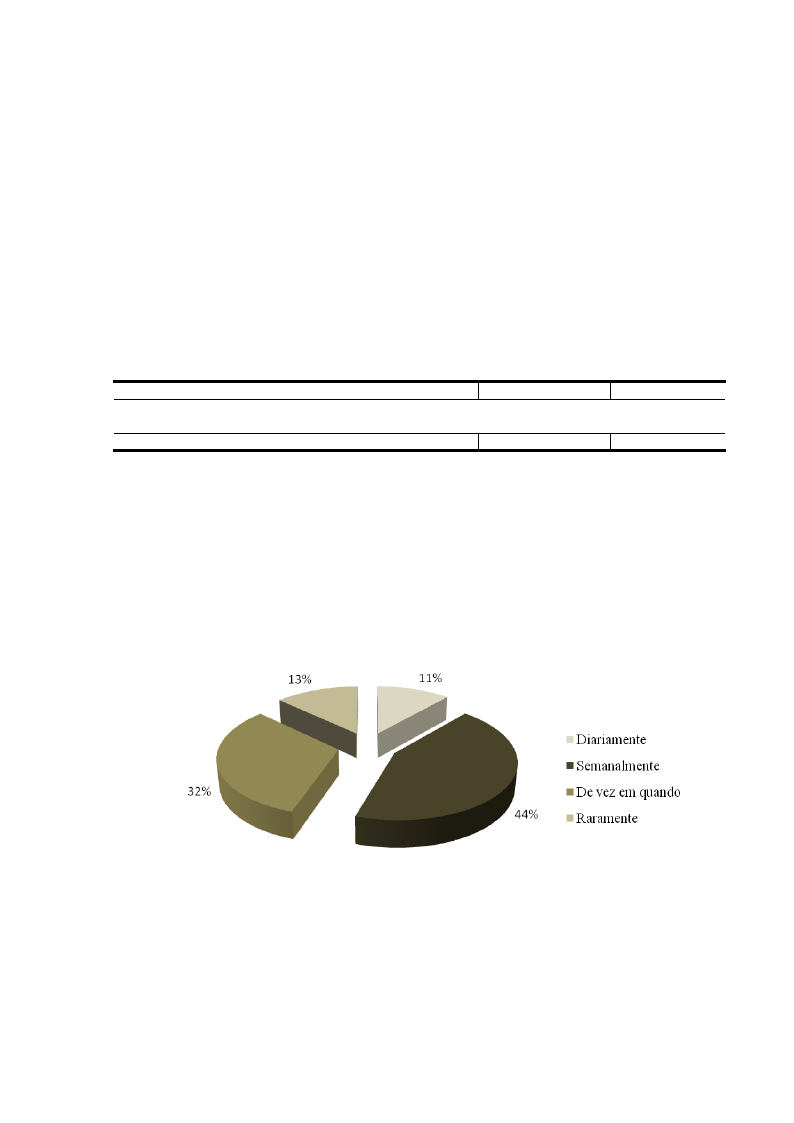
77
pessoas morando na residência; 45 respondentes (ou 22,5% da amostra) possuem mais de
quatro pessoas. Do total, 33 respondentes afirmaram morar apenas com mais uma pessoa e,
dos consumidores de orgânicos pesquisados, apenas 14 respondentes (7%) moram sozinhos.
No que se refere ao canal de compra – supermercado ou feira agroecológica –
tem-se, conforme visualizada na Tabela 2, que os supermercados representam a
predominância (87,5%) das respostas. Dos entrevistados, apenas 25 afirmaram comprar na
Feira agroecológica.
Tabela 2 – Local declarado de compra de orgânicos.
Canal de compra
Feira agroecológica
Supermercado
Total
Fonte: dados da pesquisa.
Frequência
%
25
12,5
175
87,5
200
100
Foi solicitado ainda aos respondentes que indicassem a freqüência na qual
costumam comprar frutas, legumes e verduras (FLV) orgânicos. Os resultados são
visualizados no Gráfico 6.
Gráfico 6 – Frequência de compra de FLV orgânicos
Fonte: dados da pesquisa.
Observa-se uma aproximação percentual entre dois pares de respostas
(“semanalmente” e “de vez em quando”), uma vez que 44% dos respondentes afirmaram que
compram apenas semanalmente e 32% declaram que compram, porém, de vez em quando.

78
Essas duas opções guardam certo distanciamento, como pode ser observado no gráfico do
outro par de repostas (“diariamente” e “raramente”): 13% dos entrevistados afirmaram
comprar frutas, legumes e verduras orgânicos “raramente” e apenas 11% da amostra declarou
a opção “diariamente”, como a adequada à sua realidade de compra.
6.2 Análise descritiva dos construtos
De acordo com Hair Jr et al. (2010), a estatística descritiva contribui para resumir
as informações contidas no conjunto total de dados. A partir dos construtos da teoria do
comportamento planejado e da abordagem de Chen (2007), foram trabalhados nesta
investigação os construtos listados a seguir:
(1) atitudes em relação ao meio ambiente;
(2) motivações e crenças ligadas à saúde;
(3) atitudes em relação aos alimentos orgânicos;
(4) atitudes em relação à compra de FLV orgânicos;
(5) normas subjetivas;
(6) controle comportamental percebido quanto a compra de FLV orgânicos;
(7) intenções de compra de FLV orgânicos,
Na Tabela 3 a seguir observam-se os construtos analisados (variáveis latentes),
suas variáveis observáveis, médias e desvio padrão com base nos resultados coletados. Como
parte das medidas de tendência central, a média é a medida de tendência central mais utilizada
sendo ainda muito robusta, pois não sente muito o efeito da adição ou subtração de valores
dados, sendo apenas sujeita distorções se valores extremos forem incluídos nos dados (HAIR
JR et al., 2010). Já o desvio-padrão se enquadra entre as medidas de dispersão (que
descrevem a variabilidade de uma distribuição numérica) e descreve a distância média dos
valores da distribuição e sua estimativa informa sobre o nível de concordância entre os
respondentes sobre determinada pergunta.
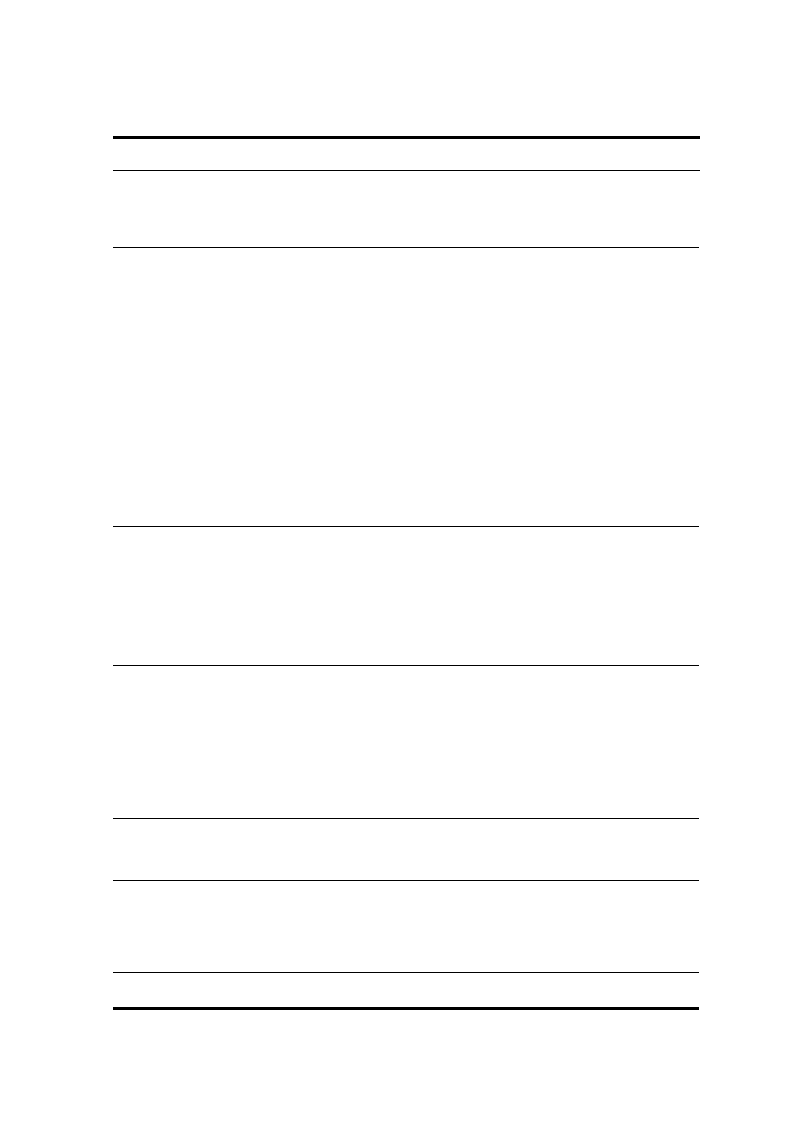
79
Tabela 3 – Estatística descritiva das variáveis componentes da TPB.
Construto
Variável
Média
Atitudes em
relação ao
meio
ambiente
O desenvolvimento atual está destruindo o meio ambiente.
Prefiro consumir produtos reciclados.
Faço a coleta seletiva do meu lixo.
A menos que façamos algo, os danos ambientais serão irreversíveis.
Pratico ações de preservação ambiental.
6,25
5,12
4,75
6,38
5,26
É importante para mim que a comida que eu consumo diariamente 6,70
me mantenha saudável.
Eu realmente não fico pensando o tempo todo se tudo o que eu faço 4,57
é saudável.
É importante para mim que a comida que eu consumo diariamente 6,48
seja nutritiva.
É importante para mim que a comida que eu consumo diariamente 6,24
Motivações e seja boa para minha pele, dentes, cabelo.
crenças
Acredito que seja importante saber bem como se alimentar de
6,67
ligadas à
maneira saudável.
saúde
Tenho a impressão de que as outras pessoas prestam mais atenção à 3,88
sua saúde do que eu.
Não fico o tempo todo me perguntando se as coisas que eu como
4,22
são boas pra mim.
Tenho a impressão que eu me sacrifico muito em prol da minha
3,27
saúde.
Estou preparado para abdicar de muitas coisas e me alimentar da
5,38
maneira mais saudável possivel.
Alimentos orgânicos são mais saudáveis.
6,63
Alimentos orgânicos têm qualidade superior.
6,34
Atitudes em
relação aos
alimentos
orgânicos
Alimentos orgânicos são uma fraude.
Alimentos orgânicos são mais gostosos.
Alimentos orgânicos são piores que os alimentos convencionais.
Alimentos orgânicos são mais caros.
Alimentos orgânicos são mais bonitos
1,84
5,11
1,80
6,50
5,17
Alimentos orgânicos não fazem mal.
5,59
Alimentos orgânicos são apenas moda.
2,04
Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais me faria sentir 5,72
que estou fazendo algo “politicamente correto”.
Atitudes em
relação a
compra de
FLV
orgânicos
Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais me faria sentir
uma pessoa melhor.
Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais faria eu me
sentir como se estivesse contribuindo para algo melhor.
Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais seria...
Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais seria...
5,32
6,03
6,57
6,50
Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais me faria
6,41
sentir...
A maioria das pessoas que são importantes para mim acham que eu 5,67
Normas
deveria__________________ alimentos orgânicos.
subjetivas
Grande parte das pessoas próximas a mim acham que eu deveria
5,66
_________________ alimentos orgânicos.
Se frutas, legumes e verduras orgânicos estiverem disponíveis para 5,85
Controle
compra, nada me impediria de comprá-los, caso eu quisesse.
comportamen Eu tenho total controle sobre uma eventual compra de frutas,
5,45
tal percebido legumes e verduras orgânicos.
orgânicos
Se eu quisesse, eu poderia facilmente comprar frutas, legumes e
5,03
verduras orgânicas ao invés dos convencionais.
Intenções de Eu planejo consumir FLV orgânicos em breve.
6,14
compra
Eu pretendo comprar FLV orgânicos nos próximos quinze dias.
5,64
Fonte: dados da pesquisa.
Desvio
padrão
1,34
1,75
2,25
1,35
1,63
0,81
2,05
1,12
1,33
0,74
2,18
2,10
1,90
1,72
0,85
1,11
1,38
1,91
1,51
1,12
2,01
1,76
1,54
1,76
2,04
1,46
0,90
0,93
1,09
1,70
1,62
1,46
2,02
2,09
1,23
1,83

80
Observa-se que os valores mais elevados para a média (6,70 e 6,67, respectivamente)
pertencem aos itens “É importante para mim que a comida que eu consumo diariamente me
mantenha saudável” e “Acredito que seja importante saber bem como se alimentar de maneira
saudável”, ambos pertencentes ao construto Motivações e crenças ligadas à saúde. Essas
médias elevadas, considerando que a escala utilizada no questionário foi de 7 pontos, revela
que os respondentes associam positivamente uma boa alimentação à saúde. Ressalte-se que o
“crédito” dado à saúde, como fator predominante nas escolhas de orgânicos a frente das
preocupações com o bem estar do planeta, tem sido elevado conforme já afirmaram, dentre
outros, Essoussi e Zahaf (2009) e Chen (2009).
No construto “Atitudes em relação ao meio ambiente” as médias mais elevadas
pertencem aos indicadores “o desenvolvimento atual está destruindo o meio ambiente” e “a
menos que façamos algo, os danos ambientais serão irreversíveis”, com os valores 6,25 e
6,38, respectivamente, revelando, assim, a concordância dos respondentes quanto à relevância
das ações ativas e reativas do homem em relação ao meio ambiente, tomando-o como
responsável pelo problema e como o agente catalisador da mudança dos problemas
ambientais. Conforme já visto na revisão teórica, no entanto, nas questões ligadas ao meio
ambiente, apesar dos altos níveis de atitudes favoráveis e intenções em prol do bem-estar
ecológico serem comumente registrados em pesquisas, tal fato não tem necessariamente
influenciado, na mesma intensidade, ações pró-ambientais, conforme revelam as pesquisas de
Dunlap e Scarce (1991) e Tarrant e Cordelle (1997).
Verifica-se por meio da análise das médias do construto “Atitudes em relação aos
alimentos orgânicos” uma forte concordância quanto aos alimentos orgânicos serem salubres,
pois os itens “os alimentos orgânicos são mais saudáveis” e “os alimentos orgânicos têm
qualidade superior” apresentam médias de 6,63 e 6,34, respectivamente. As crenças mais
comuns acerca dos alimentos orgânicos tem sido a de que eles são mais saudáveis e que seu
modo de produção respeita requisitos de correção ambiental (WANDEL; BUGGE, 1997). A
motivação para escolha desses alimentos é baseada tanto nesses atributos, como na crença de
que eles contêm mais nutrientes do que os alimentos convencionais (ANNETT et al., 2008;
MAGNUSSUM et al., 2003). Ainda no que se refere a esse construto, outras médias merecem
atenção: os itens “alimentos orgânicos são uma fraude”, “alimentos orgânicos são piores que
os convencionais” e “alimentos orgânicos são apenas moda” apresentaram média que revelam
expressiva discordância dos entrevistados em relação a essas afirmações, com valores de 1,84,
1,80 e 2,04, respectivamente. As médias reveladas no construto “Atitudes em relação aos
orgânicos” acabam por revelar que os consumidores possuem uma avaliação positiva em

81
relação a esses alimentos. Muito embora seja importante destacar ainda o fato de que, de
acordo com a pesquisa, os orgânicos são percebidos como alimentos mais caros, como revela
a média 6,50 que associada ao item que expressa essa afirmativa. Esta observação está em
sintonia com as pesquisas que revelam que entre as principais dificuldades declaradas ao
consumo de alimentos orgânicos envolvem o preço elevado (AERSTSENS et al., 2009;
ESSOUSSI; ZAHAF, 2009; SAHER; LINDERMAN; ULLA-KAISA, 2006; PADEL;
FOSTER, 2005).
No que se refere ao construto “atitudes em relação à compra de frutas, legumes e
verduras orgânicos” os maiores valores expressam e reforçam a concordância com o construto
anterior onde se constata a percepção positiva quanto aos orgânicos. Os itens “comprar FLV
orgânicos ao invés dos convencionais seria... (danoso/benéfico)” e “comprar FLV orgânicos
ao invés dos convencionais seria ... (tolice/sábio)” mostraram médias que tendem fortemente
para os extremos “benéfico” e “sábio”, com médias 6,57 e 6,50, respectivamente. Isso indica
que na avaliação dos respondentes a compra de alimentos orgânicos é vista como uma ação
positiva.
O construto “normas subjetivas”, que expressa o peso social da opinião de outras
pessoas para com um dado comportamento ou ação do indivíduo, apresentou também valores
de média maiores que o ponto médio (4, em um intervalo de 1 a 7) da escala utilizada. Os
valores 5,67 e 5,66 revelam, respectivamente, as médias dos itens “grande parte das pessoas
que são importantes para mim acham que eu deveria definitivamente ... (evitar/comprar)
orgânicos” e “grande parte das pessoas próximas a mim acham que eu deveria definitivamente
... (evitar/comprar) orgânicos”.
Ainda que se constate uma ligeira diminuição dos valores ao se comparar as
avaliações dos respondentes quanto ao que os outros podem pensar e o que eles próprios
pensam acerca do consumo de orgânicos, observa-se que os dados obtidos na pesquisa estão
em consonância com pesquisas realizadas anteriormente como a que revelou que
consumidores canadenses, passaram a consumir orgânicos a partir da influência de parentes
ou amigos próximos (ESSOUSSI; ZAHAF, 2009).
No construto “controle comportamental percebido”, que expressa a percepção do
indivíduo sobre o quão fácil ou difícil seria empreender determinada ação, tem-se como maior
média registrada no item “Se frutas, legumes e verduras orgânicos estiverem disponíveis para
compra, nada me impediria de comprá-los, caso eu quisesse” com valor de 5.85. Quanto ao
ultimo construto da TPB, “Intenções de compra”, a pesquisa revela concordância moderada
dos respondentes quanto aos itens “eu planejo consumir FLV orgânicos em breve” e “eu
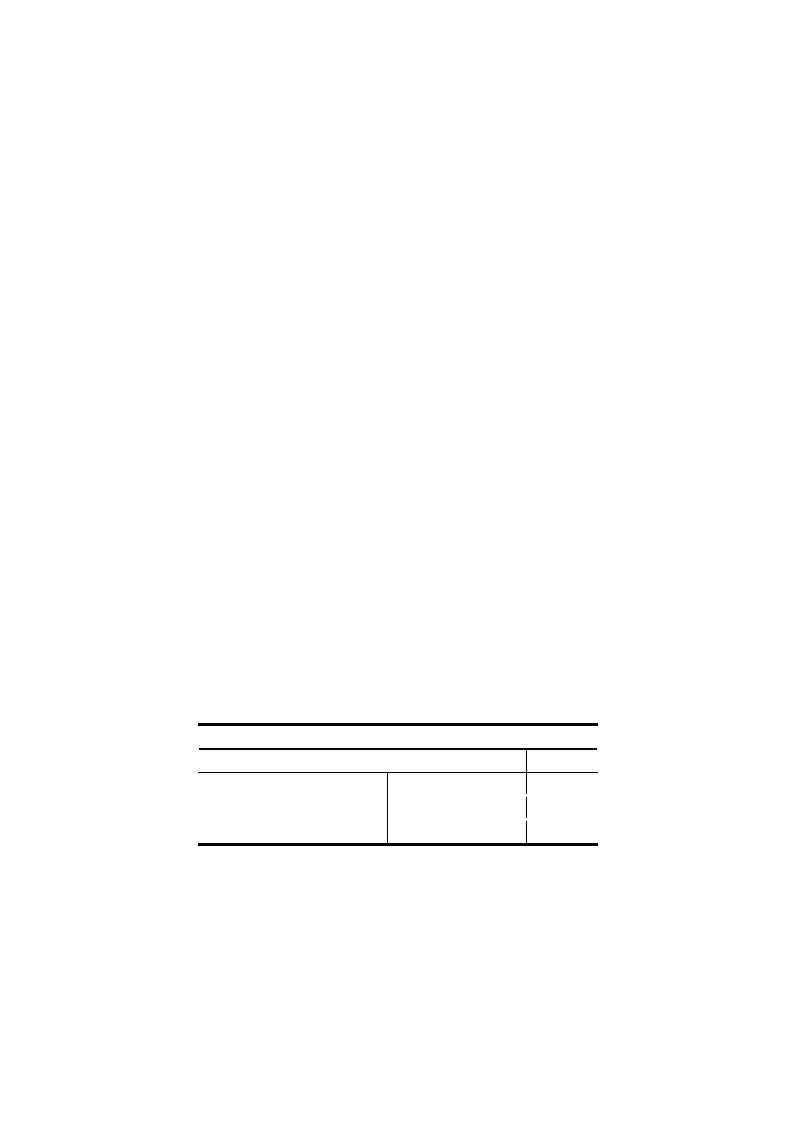
82
pretendo comprar FLV orgânicos nos próximos quinze dias” com as médias 6,14 e 5,64,
respectivamente.
6.3. Análise fatorial exploratória dos construtos
Para observar o comportamento das variáveis latentes (construtos da TPB) e
observadas empreendeu-se uma Análise Fatorial Exploratória (AFE). Esta análise é utilizada
quando não se tem uma conexão a priori entre as variáveis observadas e as variáveis latentes.
Por meio da AFE é possível identificar variáveis ou fatores que explicam correlações dentro
de um conjunto de variáveis.
É um procedimento, portanto, de redução da dimensão dos dados originais que
visa identificar um pequeno número de fatores que explique a maior parte da variação
observada de um número grande de variáveis (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR,
2010).
No que concerne ao padrão de correlação entre as variáveis, necessário à
consecução da análise fatorial, observou-se que a matriz de correlações, exibiu a maior parte
dos coeficientes com valor acima 0,30, constatando assim, também, a adequabilidade dos
dados à fatorial. A análise de componentes principais foi conduzida nos 36 itens do
questionário com rotação ortogonal (Varimax) na amostra de 200 respondentes para
verificação de existência de dimensões latentes nos dados. No que se refere aos testes de
adequação da amostra, a Tabela 4 sintetiza o diagnóstico referente à adequação.
Tabela 4 – Testes de adequação da amostra
KMO e Barlett
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.
Chi-quadrado aprox.
Teste de esfericidade de Bartlett Gl (graus de liberdade)
Sig.
Fonte: dados da pesquisa
,751
2347,347
630
,000
A medida de Kaiser-Meyer-Olkin verificou a adequação amostral para a análise
(KMO = 0,751) e todos os valores de KMO para os itens individualmente se mostraram
adequados. O teste de esfericidade de Bartlett [x² (630) = 2347, 347, p menor que 0, 001],
indicou que as correlações entre os itens foram suficientes para indicar a apropriação da
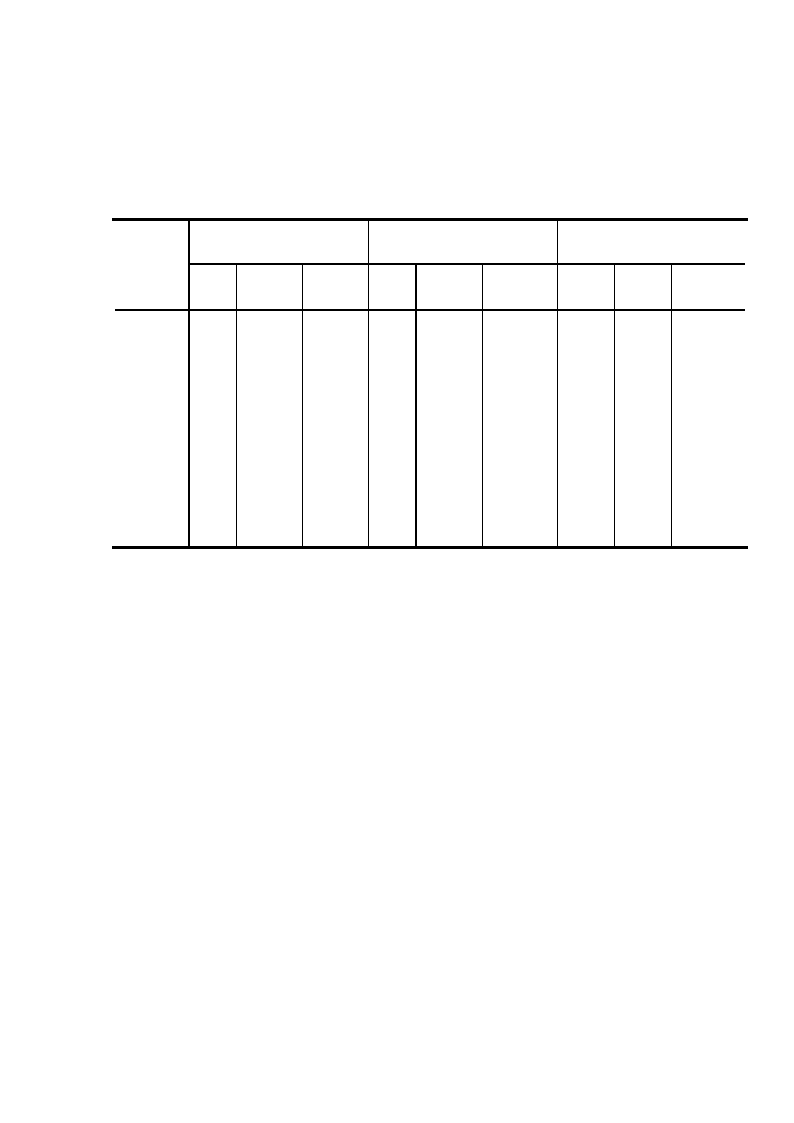
83
análise. Essa análise inicial revelou que onze componentes obedeceram ao critério de Kaiser
do autovalor (“Eigenvalue”) maior que 1, conforme observado na Tabela 5.
Tabela 5 – Adequação ao critério Kaiser do autovalor.
Valores próprios iniciais
Somas de extração de
carregamentos ao quadrado
Componente Total % de
%
Total % de
%
variação cumulativa
variação cumulativa
1
6,694 18,596 18,596 6,694 18,596
18,596
2
2,526
7,018 25,613 2,526
7,018
25,613
3
2,146
5,962 31,575 2,146
5,962
31,575
4
1,899
5,274 36,849 1,899
5,274
36,849
5
1,697
4,713 41,562 1,697
4,713
41,562
6
1,635
4,541 46,104 1,635
4,541
46,104
7
1,399
3,885 49,989 1,399
3,885
49,989
8
1,312
3,646 53,634 1,312
3,646
53,634
9
1,215
3,376 57,011 1,215
3,376
57,011
10
1,187
3,298 60,308 1,187
3,298
60,308
11
1,107
3,075 63,384 1,107
3,075
63,384
Método de extração: análise do componente principal.
Somas rotativas de
carregamentos ao quadrado
Total % de
%
variação cumulativa
3,774 10,482
10,482
3,076
3,050
1,942
1,869
8,544
8,471
5,393
5,192
19,026
27,497
32,891
38,083
1,718 4,771
42,854
1,677 4,659
47,513
1,602 4,450
51,963
1,434
1,354
1,323
3,985
3,760
3,676
55,947
59,707
63,384
Em conjunto, esses onze explicam 63,38% da variância. Considerando o tamanho
da amostra (N=200) e o critério de Kaiser, este foi o número de componentes mantido na
análise, além de se estar trabalhando com 36 variáveis observadas, ou seja, dentro do limite
aceitável, que é entre 20 e 50 variáveis.
Pretende-se que a visualização dos itens do questionário na forma codificada torne
mais fácil a leitura dos dados; como na Tabela 6, onde se observa a representação geral dos
fatores obtidos.
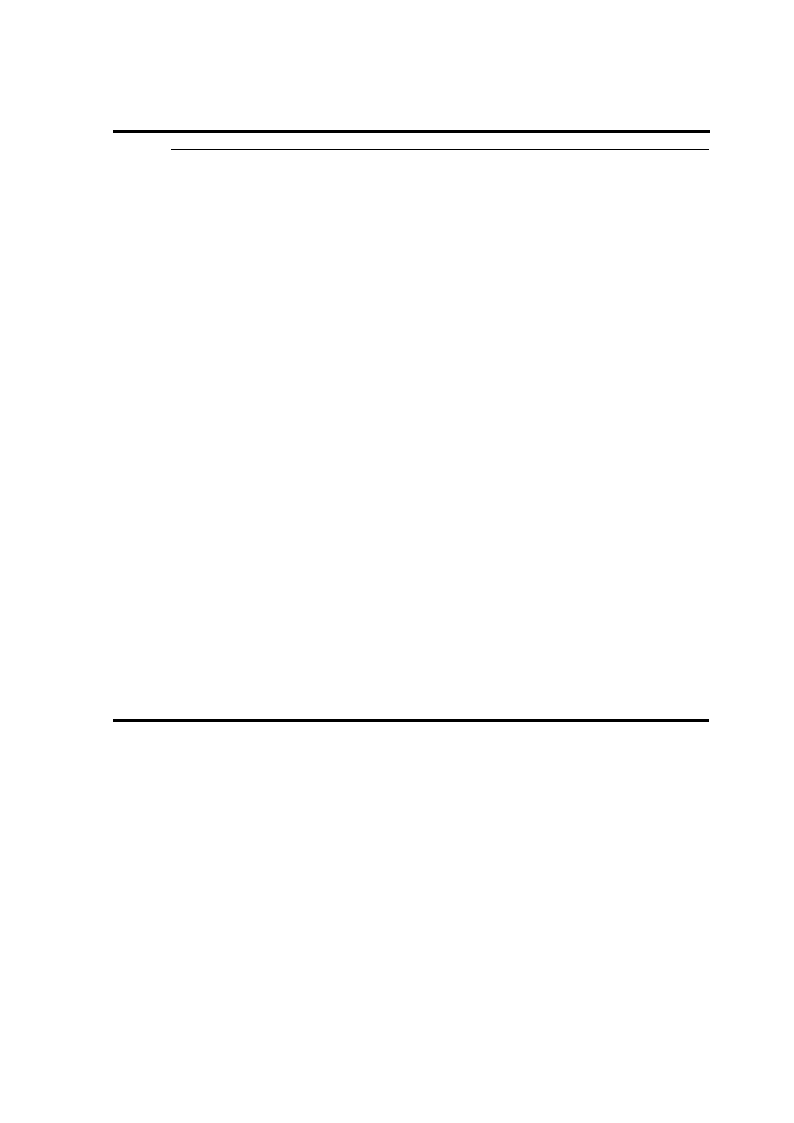
84
Tabela 6 – Matriz de componente rotativa
Componente
mcs4
mcs1
mcs3
mcs5
atma5
mcs9
ato4
atc3
atc1
atc2
atc5
ato8
ato3
ato1
ato9
atc4
atc6
ato2
ns1
ns2
mcs7
mcs6
mcs2
atma4
atma1
ic2
ic1
ccp1
ccp3
mcs8
atma2
ccp2
ato6
atma3
ato7
ato5
1
2
3
4
5
,811
,751
,751
,623
,568
,565
,777
,756
,726
,536 ,482
-,781
,708
-,523
,419 ,515
,426
,509
,465
,865
,857
,770
,651
,527
6
7
-,433
,784
,593
,789
,489
-,419
,416
Método de extração: Análise do Componente principal.
Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser.
a. Rotação convergida em 17 iterações.
8
,736
,602
-,469
9
10
11
-,489
,663
,652
,787
,737
-,509
,494
Observa-se que os fatores agrupados guardam, em grande medida, vínculo com os
construtos originais, ficando agrupados conforme o Quadro 12 a seguir.
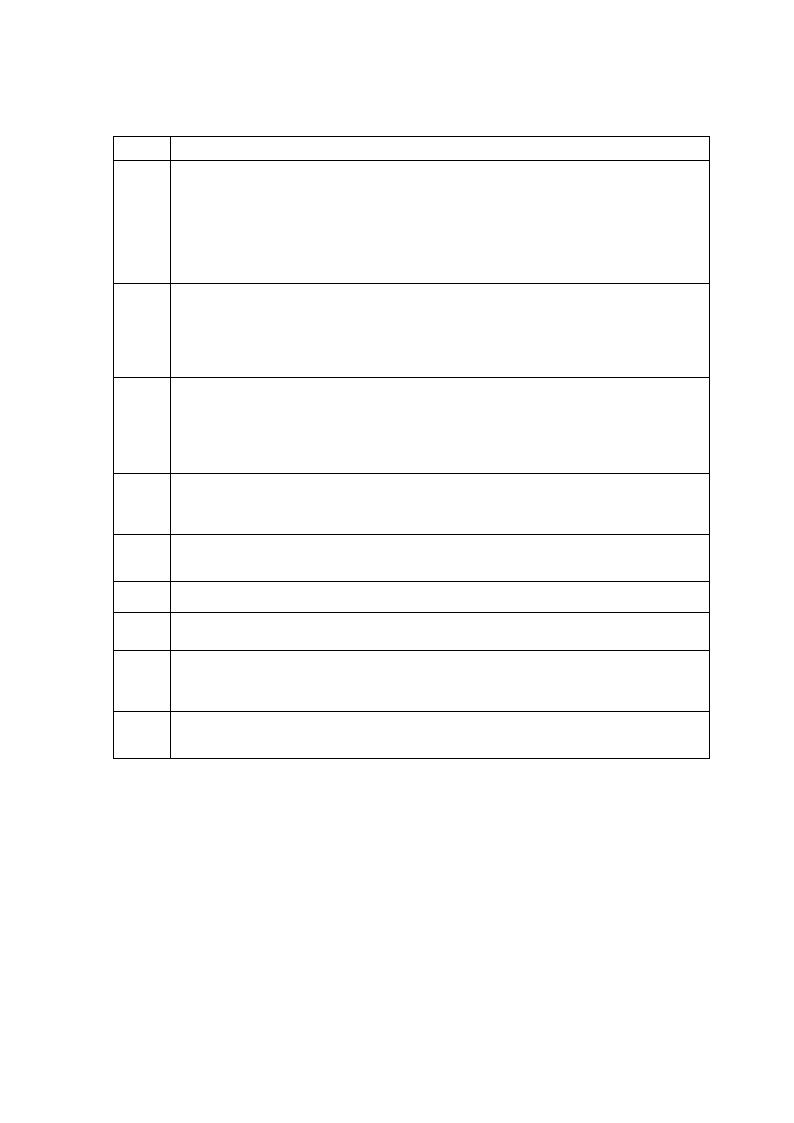
85
Quadro 12 – Fatores extraídos e agrupados
Fator
Variáveis observadas
Fator 1
Fator 2
Fator 3
Fator 4
Fator 5
Fator 6
Fator 7
mcs 4 - é importante para mim que a comida que eu consumo diariamente seja boa para minha
pele, dentes e cabelo.
mcs 3 - é importante para mim que a comida que eu consumo diariamente seja nutritiva.
mcs 1- é importante para mim que a comida que eu consumo diariamente me mantenha saudável.
mcs 5 - acredito que seja importante saber bem como se alimentar de maneira saudável.
atma 5 - pratico ações de preservação ambiental.
mcs 9 - estou preparado para abdicar de muitas coisas e me alimentar da maneira mais saudável
possível.
atc 3 - comprar flv orgânicas ao invés dos convencionais faria eu me sentir como se estivesse
contribuindo para algo melhor.
atc 1 - comprar flv orgânicas ao invés dos convencionais me faria sentir que estou fazendo algo
"politicamente correto".
atc 2 - comprar flv orgânicas ao invés dos convencionais me faria sentir uma pessoa melhor.
atc 5 - comprar flv orgânicas ao invés dos convencionais seria... (tolice-sábio)
ato 3 - alimentos orgânicos são uma fraude.
ato 1 - alimentos orgânicos são mais saudáveis.
ato 9 - alimentos orgânicos são apenas moda.
atc 4 - comprar flv orgânicas ao invés dos convencionais seria... (danoso-benefico).
atc 6 - comprar flv orgânicas ao invés dos convencionais me faria sentir... (insatisfeito-satisfeito)
ato 2 - alimentos orgânicos têm qualidade superior.
ns 1 - a maioria das pessoas que são importantes para mim acham que eu
deveria__________________ alimentos orgânicos. (evitar-comprar).
ns 2 - grande parte das pessoas próximas a mim acham que eu deveria _________________
alimentos orgânicos. (evitar-comprar).
mcs 7 - não fico o tempo todo me perguntando se as coisas que eu como são boas pra mim.
mcs 6 - tenho a impressão de que as outras pessoas prestam mais atenção à sua saúde do que eu.
mcs 2 - eu realmente não fico pensando o tempo todo se tudo o que eu faço é saudável.
atma 4 - a menos que façamos algo, os danos ambientais serão irreversíveis.
atma 1 - o desenvolvimento atual está destruindo o meio ambiente.
ic 2 - eu pretendo comprar FLV orgânicos nos próximos quinze dias.
ic 1 - eu planejo consumir FLV orgânicos em breve.
ccp 1 - se frutas, legumes e verduras orgânicos estiverem disponíveis para compra, nada me
Fator 8
impediria de comprá-los, caso eu quisesse.
ccp 3 - se eu quisesse, eu poderia facilmente comprar frutas, legumes e verduras orgânicas ao
invés dos convencionais.
atma 2 - prefiro consumir produtos reciclados.
Fator 9 ccp 2 - eu tenho total controle sobre uma eventual compra de frutas, legumes e verduras
orgânicos.
Fonte: dados da pesquisa.
O construto “Motivações e crenças ligadas aos orgânicos” ficou distribuído nos
Fatores 1 e 5. O Fator 2 contém exclusivamente os itens constantes do construto “atitudes em
relação a compra de orgânicos” embora houve uma redução de seis para quatro itens. O Fator
3 contem em sua maioria os itens do construto “atitudes em relação aos orgânicos”, embora
possua dois itens do construto anteriormente mencionado. O fator 4 agrupou exatamente os
dois itens referentes ao construto “normas subjetivas”; os Fatores 6 e 9 distribuíram os itens
relativos ao construto “Atitudes em relação ao meio ambiente”. O fator 7 também agrupou
perfeitamente os itens do construto “ Intenções de compra”. Por fim, o Fator 8 agrupou em

86
sua totalidade os itens do construto “Controle comportamental percebido”, exceto por um
item que foi alocado no Fator 9. Pode-se observar, portanto, que ocorreu um agrupamento
moderadamente relacionado aos construtos das perguntas realizadas.
6.4 Modelagem de equações estruturais (MEE)
A modelagem de equações estruturais testa empiricamente um conjunto de
relacionamentos de dependência através de um modelo que operacionaliza uma teoria (HAIR
JR et al, 2005; SILVA, 2006; LATTIN; CARROL; GREEN, 2011). O propósito do modelo é
proporcionar uma representação dos relacionamentos a serem examinados, sendo formalizado
por meio de um diagrama de caminhos ou de um conjunto de equações estruturais. A MEE
pode ser vista como uma extensão da regressão múltipla se for considerado que na aplicação
da regressão tem-se interesse em prever uma única variável dependente, enquanto que na
MEE há mais de uma variável dependente a ser prevista (SILVA, 2006).
Mesmo que a análise fatorial exploratória apresentada na seção anterior já tenha
fornecido indicações sobre a carga fatorial de cada variável observada, e também sobre como
cada uma se agrupa, optou-se por transpor todo o modelo inicialmente proposto – com todos
os construtos que o compõem e que foram descritos na seção 4.5 – para o software AMOS
20.0, que foi utilizado para as análises confirmatórias, e realizar as análises a partir do
conjunto total dos dados coletados.
A Figura 11 reapresenta o modelo conceitual desta dissertação e que teve como
referência o modelo de Chen (2007).
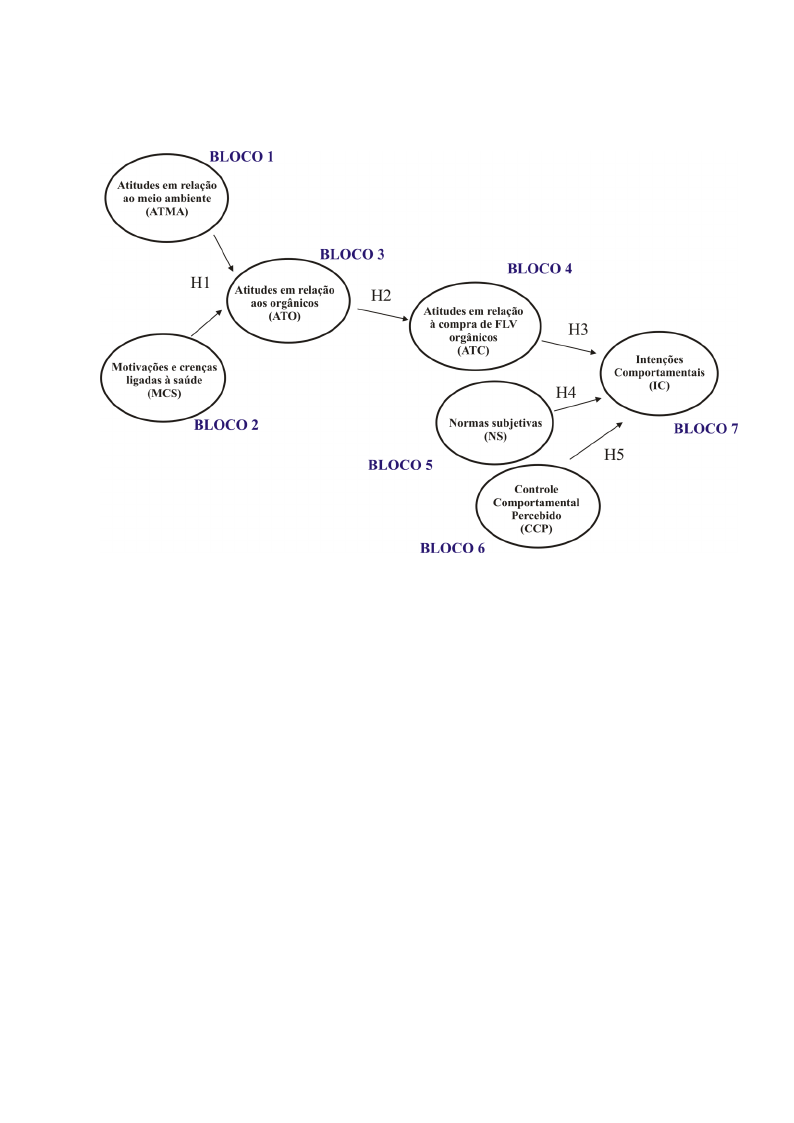
87
Figura 11 – Modelo conceitual inicialmente proposto.
Fonte: elaborado pelo autor a partir do modelo de Chen (2007).
6.4.1. Diagrama de caminhos do modelo conceitual da dissertação
Visualiza-se na Figura 12 a seguir o modelo conceitual da dissertação, na forma
de um diagrama de caminhos. Este modelo será denominado Modelo 1. Hair Jr et al. (2005)
afirmam que o diagrama de caminhos é mais do que apenas uma descrição visual das
relações, pois permite apresentar não apenas as relações preditoras entre construtos (as
relações entre variáveis dependentes e independentes), mas também relações associativas
(correlações) entre construtos e até mesmo indicadores. Identificam-se dois elementos básicos
no diagrama. O primeiro é o construto, conceito teórico que atua como bloco de construção
usado para definir relações, e que pode ir de um conceito simples como renda até um conceito
mais complexo, como atitudes. Deve-se, assim, definir diagramas de caminhos em termos de
construtos para, daí, buscar variáveis para medir cada construto. O segundo elemento básico
são as setas, utilizadas para representar relações específicas entre construtos. Uma seta
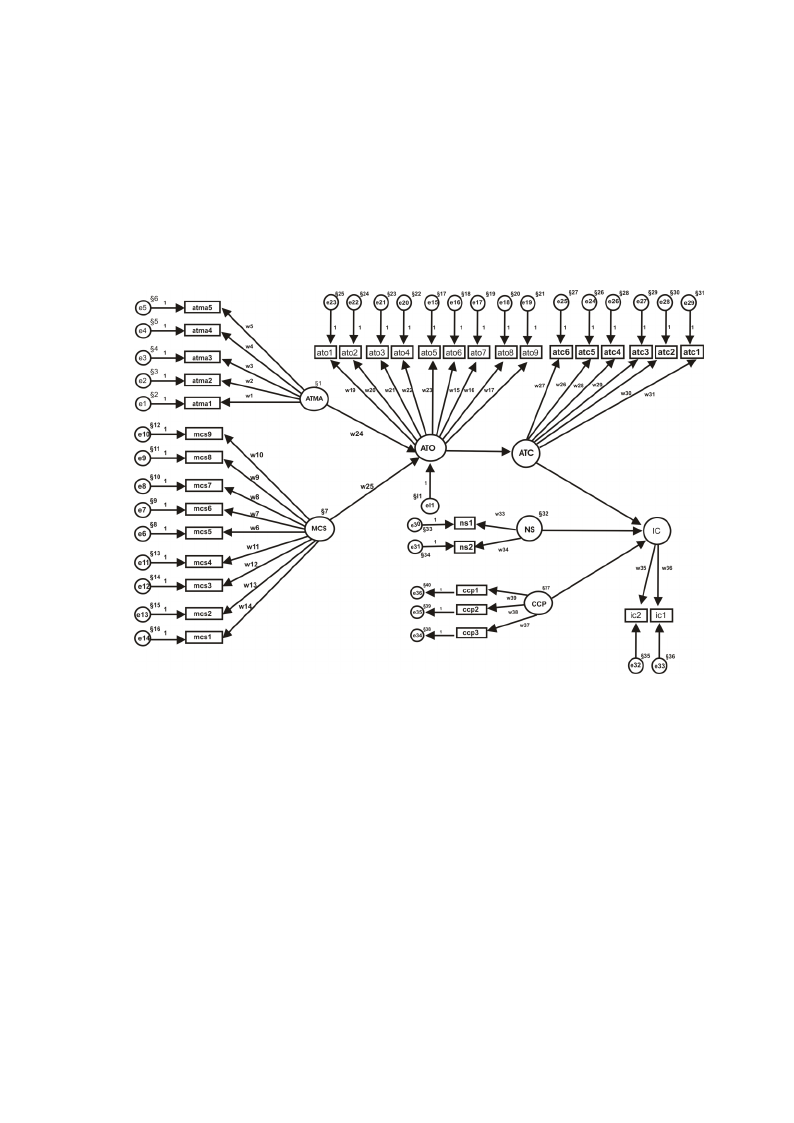
88
retilínea indica a relação causal direta de um construto a outro. Uma seta curvilínea (ou uma
linha sem as pontas das setas) entre construtos indica simplesmente uma correlação entre os
mesmos; e a seta retilínea com dois sentidos indica uma relação não recursiva ou recíproca
entre construtos (HAIR JR et al., 2005).
Figura 12 – Diagrama de caminhos do modelo 1 proposto.
Fonte: elaborado pelo autor.
Todos os construtos do diagrama podem ser colocados em uma de duas classes:
exógenos ou endógenos. Construtos exógenos são aqueles preditos por um ou mais
construtos. Construtos exógenos podem prever outros construtos endógenos, mas um
construto exógeno pode estar causalmente relacionado apenas com construtos endógenos.
Logo, diferença entre exógenos e endógenos é determinada pelo pesquisador, como é feito na
distinção entre variáveis independentes e dependentes na regressão (HAIR JR et al., 2005).
No diagrama apresentado, por exemplo, tem-se que os construtos ATMA (atitudes em relação
ao meio ambiente), MCS (motivações e crenças a cerca da saúde), NS (normas subjetivas) e
CCP (controle comportamental percebido) são exógenos, enquanto que ATO (atitudes em
relação aos orgânicos) e ATC (atitudes em relação à compra de orgânicos) são endógenos.
Cada construto endógeno é a variável dependente em uma equação separada.

89
Dessa forma, as variáveis preditoras são todas construtos nos extremos terminais
das setas retilíneas conduzindo até a variável endógena. Cada variável endógena pode ser
prevista por variáveis exógenas ou por outras endógenas (HAIR JR et al., 2005).
6.5 Índices de ajuste de modelos
Na modelagem de equações estruturais a avaliação do modelo proposto envolve:
1) a adequação dos parâmetros estimados; 2) a adequação do modelo em termos gerais. Para
verificar a adequação dos parâmetros estimados é necessário observar alguns pontos
indicativos: os parâmetros estimados devem apresentar sinal e tamanho corretos; as
estimativas devem ter amplitude admissível; as correlações não podem ser maiores que 1, pois
isso indicaria problemas de estimação, de amostra; variâncias negativas, e matrizes de
covariâncias e ou correlações que não são positivas definidas são indícios de que o modelo
está errado, ou a matriz de dados de entrada não traz informação suficiente (SILVA, 2006).
As estatísticas de ajuste do modelo (Goodness-of-fit Statistics) são os critérios
utilizados para a aceitação ou rejeição do modelo proposto. As medidas de ajuste absoluto
verificam em que medida o modelo proposto prediz a matriz de covariância observada. Neste
sentido, o teste Qui-quadrado (x²), comprova a probabilidade do modelo de se ajustar aos
dados. Já a razão x² /gl (graus de liberdade) é considerada um ajustamento subjetivo (relativo)
que relaciona a matriz de correlação observada e a proposta pelo modelo. Um valor, no caso,
elevado pode representar discrepâncias entre os dados e o modelo teórico testado, recomenda-
se que esta razão não exceda 5 (SILVA, 2006). Para análise deste indicador, é recomendável
ainda analisar o nível de significância (p-value) para se ter certeza de que as matrizes não são
estatisticamente diferentes.
Para avaliar esta significância, o teste estatístico utilizado é o chamado razão
crítica (CR - Critical Ratio). A estatística é obtida por meio da estimativa do parâmetro divida
pelo seu erro padrão, funcionando assim como a estatística z testando a hipótese de que a
estimativa é estatisticamente diferente de zero. Baseado no nível de significância 0,05, o teste
estatístico precisa ser, em módulo, maior que 1,96 para que a hipótese possa ser rejeitada. O
valor de x² também está correlacionado à normalidade multivariada (HOPPE, 2010).
Dentre os índices de aderência (SILVA, 2006; HAIR Jr et al, 2005) utilizados
nesta dissertação, tem-se:

90
CMIN: é o valor mínimo de discrepância (é o valor do qui-quadrado).
CMIN/DF: é a razão x² /graus de liberdade, que deve ser <5.
GFI: (Goodness-of-Fit Index); é a medida da quantidade relativa de variância e
covariância S que é conjuntamente explicada por ∑. O índice tem amplitude de zero a 1,
sendo que valores perto de 1 são indicativos de bom ajuste.
AGFI: (Adjusted Goodness-of-Fit Index); esse índice difere do GFI apenas pelo
fato de ser ajustado pelo número de graus de liberdade do modelo especificado. Ele penaliza
a inclusão adicional de um parâmetro e tende a ser maior conforme o aumento de tamanho da
amostra.
NFI: (Normed Fit Index); varia de zero a 1, e é derivado da comparação entre o
modelo hipotético e o modelo de independência. Valor acima > 0,90 indica bom ajuste do
modelo.
CFI: (Comparative Fit Index); como NFI apresenta uma certa tendência de
subestimar o ajuste em amostras pequenas, ele foi corrigido e criado o índice CFI para levar
em conta o tamanho da amostra. Valores de CFI perto de 1 indicam excelente ajuste (0 <CFI
<1).
RMSEA: (Root Mean Square Error of Approximation); um dos critérios mais
informativos com relação à modelagem em estruturas de covariâncias. O RMSEA leva em
conta o erro de aproximação na população. Valores menores que 0,05 indicam bom ajuste, e
valores maiores que 0,08 representam erros razoáveis na aproximação com a população.
Valores entre 0,08 e 0,10 indicam um ajuste medíocre, e maiores que 0,10, um ajuste pobre.
RMSEA de 0,06 pode, conforme afirma Silva (2006) ser um indicativo de bom ajuste entre o
modelo hipotético e os dados observados (estas classificações foram estabelecidas pela
literatura do assunto e em manuais do software AMOS em geral já que o RMSEA e o TLI
(Tucker-Lewis Index); também com valores entre zero e um, e valores próximos a 0,95 (para
amostras grandes) indicando bom ajuste) tendem a rejeitar modelos verdadeiros em função de
a amostra ser pequena.
Conforme resume o Quadro 13, (onde também constam os índices e seus valores
de referência), os índices são enquadrados na seguinte classificação: 1) índices de ajustamento
absoluto, que permite avaliar em que nível o modelo a priori reproduz corretamente os dados
coletados, ou seja, indica o ajuste geral do modelo; 2) índices de ajustamento comparativo (ou
incremental), que verificam a melhora do ajustamento comparando o modelo testado a um
modelo mais restritivo (o modelo base ou nulo), ou seja, compara o modelo proposto ou
modelo nulo (que é ponto de referência); e 3) índices de parcimônia, que comparam o ajusto
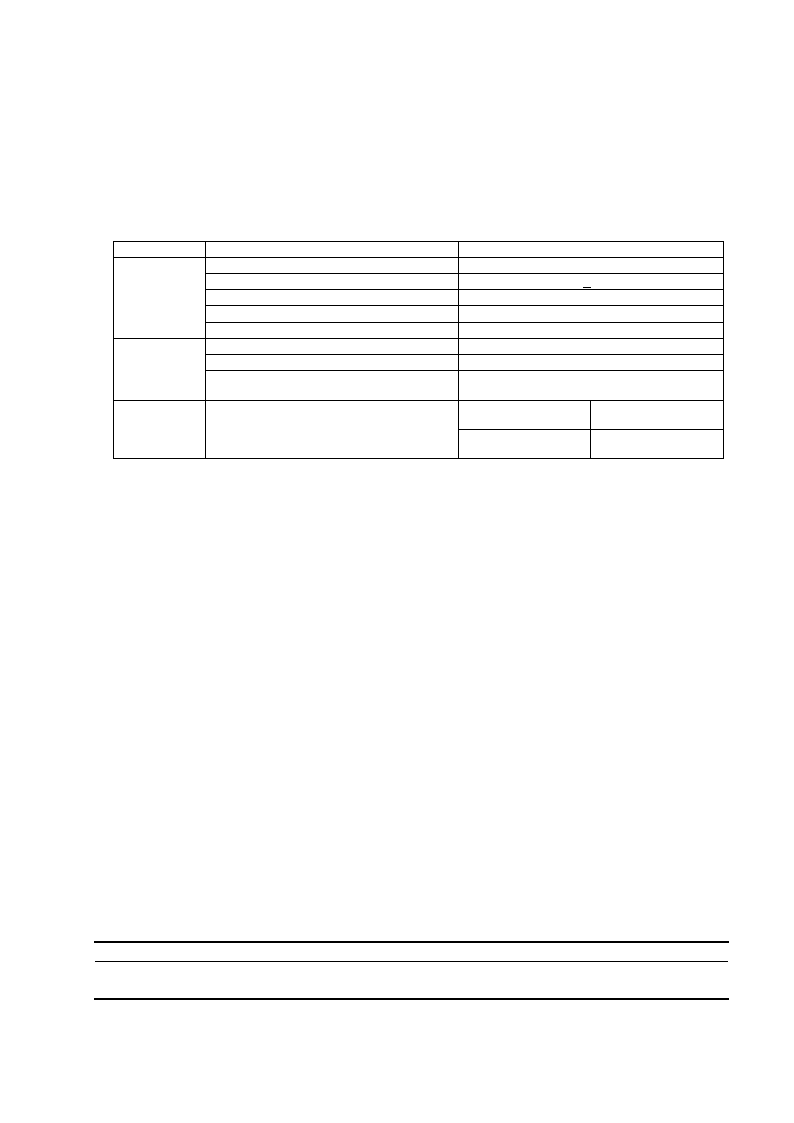
91
do modelo aos parâmetros estimados necessários para alcançar um nível específico de ajuste
e que evitam a superestimação (melhoria inadequada do grau de ajustamento do modelo em
virtude da adição exagerada de parâmetros a estimar) do modelo (HAIR JR et al., 2005).
Quadro 13 – Índices de adequabilidade de modelos.
Tipo
Índice
CMIM (Qui-Quadrado)
Medidas de
Graus de liberdade (DF)
ajuste
CMIN/DF (x²/GL)
absoluto
Goodness-of-Fit Index (GFI)
Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI)
Medidas de
Comparative Fit Index (CFI)
ajuste
Normed Fit Index (NFI)
comparativo
(incremental)
Tucker Lewis Index (TLI)
Medida de
ajuste
parcimonioso
Root Mean Square Error of Approximation
(RMSEA)
Valores de referência
Não definido
>1
<5
>0,90
>0,80
0,90
>0,90
>0,90
Boa adequação Adequação aceitável
0,00< RMSEA<0,05 0,05< RMSEA<0,08
Fonte: o autor elaborado a partir de Silva (2006), Hoppe (2010) e Hair Jr et al (2005).
Em resumo, tem-se que a qualidade dos resultados gerados a partir de um modelo
de equações estruturais depende da qualidade do ajustamento preliminar do modelo à base
dados. Tem-se também que o ajustamento do modelo geral pode ser testado por meio de uma
gama de índices (como RMSEA ou AGFI), embora não se possa afirmar que há um, dentre
estes, que resuma a adequação dos dados a hipóteses propostas; daí recomenda-se a utilização
de uma combinação de vários índices (SILVA, 2006; HAIR Jr et al, 2005).
Além da análise desses índices de ajuste, foram examinadas também a
confiabilidade e a variância extraída dos construtos no intuito de se acessar de forma mais
precisa a unidimensionalidade e a validade convergente de cada um deles.
6.5.1 Avaliação do ajuste do modelo inicialmente proposto (modelo 1)
Os índices estabelecidos com base no modelo geral inicial proposto na Figura 12
(da seção 6.4.1), o modelo 1, apresentado são apresentados na Tabela 7 a seguir.
Tabela 7 – Índices de adequação do modelo original (modelo 1).
Índice CMIN/DF RMSEA PCLOSE GFI AGFI
Referência
<5
0,05 a 0,08 >0,05 >0,90 >0,80
Pesquisa
1,91
0,08
0,00
0,76 0,72
Fonte: dados da pesquisa.
CFI TLI NFI
P
>0,80 >0,90 >0,90 0,05 a 0,10
0,74 0,72 0,59
0,00

92
Conforme se observa, embora o índice de RMSEA esteja adequado (0,08) aos
parâmetros desejados, no tangente às medidas de ajuste absoluto, o GFI apresenta valor (0,72)
abaixo dos padrões recomendados. No que se refere às medidas de ajuste incremental (NFI,
CFI e TLI), cuja função é comparar o modelo proposto ao modelo nulo, verifica-se também
uma não adequação pois os valores estão todos abaixo dos valores referência. A razão entre o
valor x² e os graus de liberdade deve ser menor do que 5. Está adequada, portanto, uma vez
que o valor verificado é 1,91, conforme observado na tabela, na coluna CMINDF. Verifica-se
ainda que o índice AGFI está valor (0,72) muito abaixo dos parâmetros recomendados.
O modelo proposto adaptado do Chen (2007) mostra-se, dessa forma, com
qualidade de ajuste geral pouco adequado à combinação de índices que o testaram, com a
amostra coletada nesta pesquisa. O modelo precisava ser reespecificado feito a fim de buscar-
se melhores ajustes.
6.6 Análise fatorial confirmatória
No tangente à modelagem de equações estruturais, tem-se a análise fatorial
confirmatória como o tipo de análise apropriado para a verificação da validade das variáveis
latentes do modelo de mensuração (HAIR et al., 2005). Esta técnica oferece informações
suficientes para a verificação apropriada da unidimensionalidade, da confiabilidade, da
validade convergente e da validade discriminante de cada um dos construtos (HAIR et al.,
2005). Neste ponto da análise serão validadas as escalas de medida dos construtos e serão
validadas as dimensões das variáveis latentes. Ressalte-se que, primeiro, a identificação do
modelo final será feita a partir destas análises fatoriais confirmatórias dos construtos
separadamente, para verificação de algum provável problema de ajuste e uma possível
reespecificação subseqüente; segundo, com base nas análises e na interpretação dos índices de
ajuste e modificação, os construtos serão reespecificados e, eventualmente, algumas variáveis
observáveis são extraídas e covariâncias inseridas, no intuito de tornar o construto ajustado e
adequado aos índices de referência.
6.6.1 Construtos “Atitudes em relação ao meio ambiente” e “Motivações e crenças ligadas à
saúde” (ATMA e MCS)
Efetuou-se a análise fatorial confirmatória para os construtos ATMA e MCS
agrupados. Foram excluídas do modelo as variáveis atma 3 (faço a coleta seletiva do meu
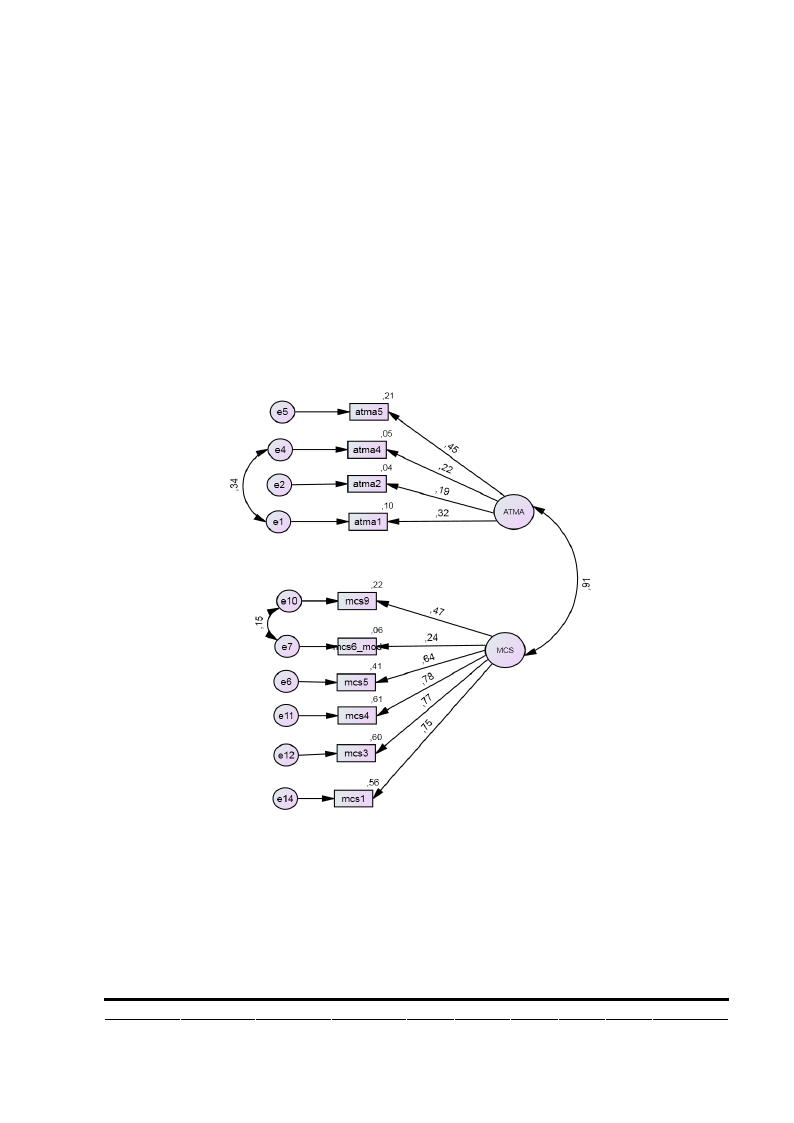
93
lixo), mcs2 (eu realmente não fico pensando o tempo todo se tudo o qu eu faço é saudável),
mcs7 (não fico o tempo todo me perguntando se as coisas que eu como são boas pra mim),
mcs8 (tenho a impressão que eu me sacrifico muito em prol da minha saúde) por
apresentarem, após a regressão, p value maior que 0,05 inadequado, como afirmam Hair et al.
(2005). O modelo final resultante para estes dois construtos – analisados em conjunto na
fatorial confirmatória por apresentarem correlação alta e por constituírem um construto de
segunda ordem que expressa implicitamente a soma das motivações por trás da compra de
orgânicos entre a amostra – pode ser visualizado na Figura 13.
Figura 13 –
gráfica dos
ATMA e MCS
Representação
construtos
Fonte: dados da pesquisa.
Seguem na Tabela 8 os resultados da analise fatorial confirmatória para os
construtos ATMA e MCS.
Tabela 8 – Índices de adequação dos construtos ATMA e MCS
Índice CMIN/DF RMSEA PCLOSE GFI AGFI
Referência
<5
0,05 a 0,08 >0,05 >0,90 >0,80
CFI TLI NFI
P
>0,80 >0,90 >0,90 0,05 a 0,10
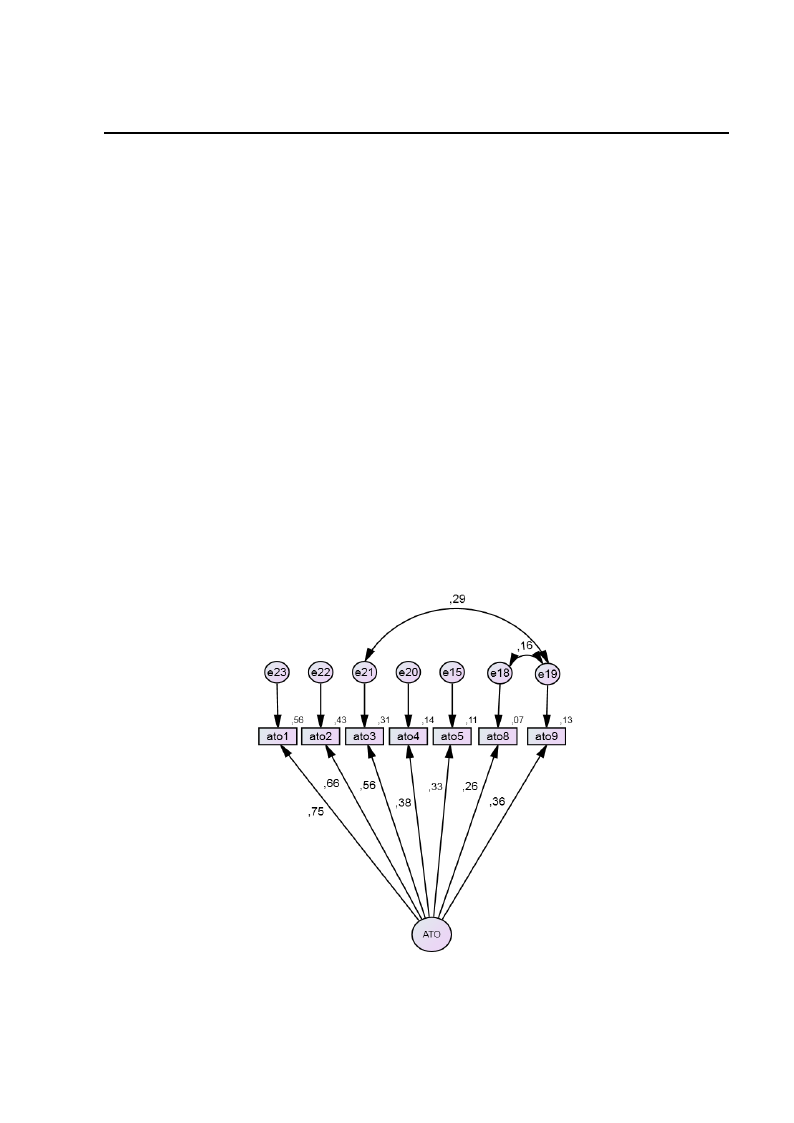
94
Pesquisa
1,57
0,05
Fonte: dados da pesquisa.
0,39
0,95 0,92 0,95 0,94 0,89
0,21
Observa-se que o GFI apresenta valor (0,95) dentro padrões recomendados. O
índice de RMSEA também está adequado aos parâmetros desejados, evidenciando que os
construtos se ajustam de forma aceitável. As medidas de ajuste incremental (NFI, CFI e TLI),
apresentam adequação, pois os valores estão todos acima dos valores referência. A razão entre
o valor x² e os graus de liberdade, que deve ser menor do que 5, se mostra adequada com o
valor verificado de 1,57. Verifica-se ainda que o índice AGFI também apresenta valor (0,92)
em conformidade com os parâmetros desejados. Os construtos ATMA e MCS, desta forma,
após as devidas extrações na análise confirmatória mostraram-se ajustados.
6.6.2 Construto “Atitudes em relação a alimentos orgânicos” (ATO)
O modelo representado na Figura 14 ilustra o construto ATO (atitudes em relação
aos alimentos orgânicos), bem como seus indicadores, após a fatorial confirmatória com
índices de ajuste satisfatórios.
Figura 14 – Representação gráfica do construto ATO.
Fonte: dados da pesquisa.
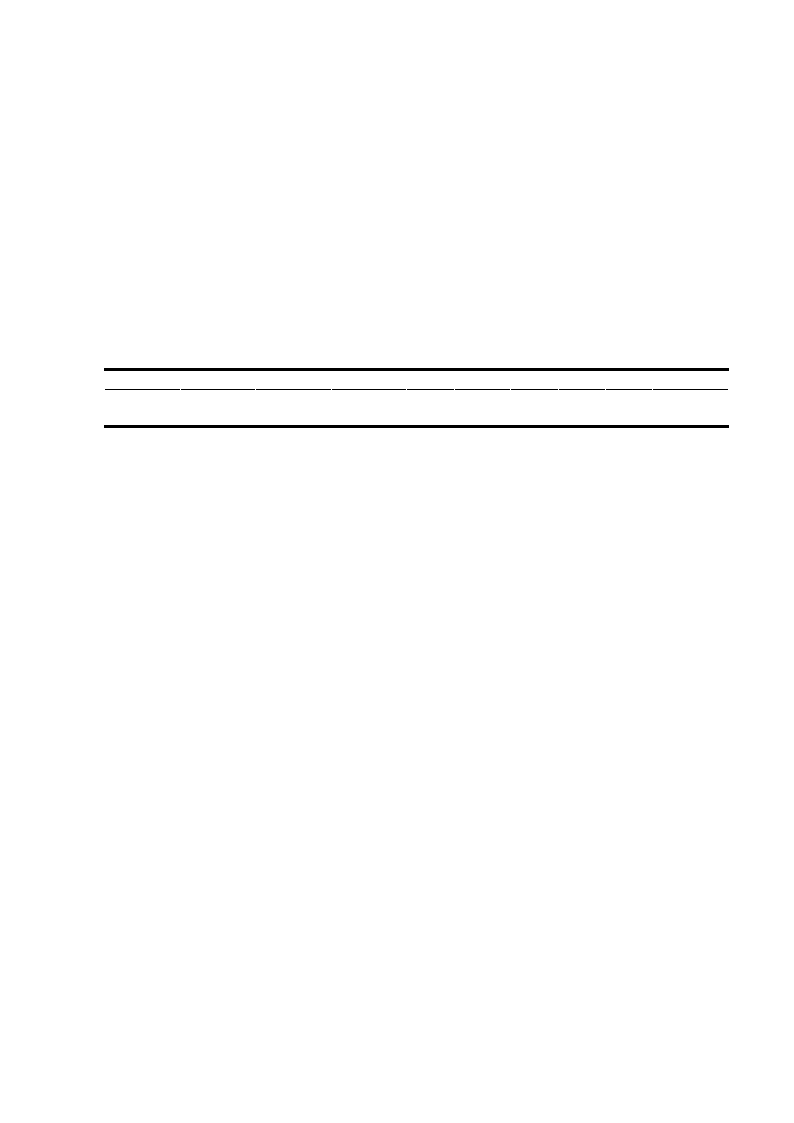
95
Para o construto ATO empreendeu-se diretamente uma análise fatorial
confirmatória. Os indicadores ato 6 (alimentos orgânicos são mais caros) e ato 7 (alimentos
orgânicos são mais bonitos) foram extraídos do modelo pois no teste t-value não
apresentaram grau de significância satisfatória. As escalas referentes aos itens ato 3
(alimentos orgânicos são uma fraude), ato 5 (alimentos orgânicos são piores que os alimentos
convencionais) e ato 9 (alimentos orgânicos são apenas moda) apresentaram caráter reverso e
foram invertidas. Rodou-se uma nova fatorial confirmatória e os resultados alcançados são
visualizados na Tabela 9 a seguir.
Tabela 9 – Índices de adequação do construto ATO.
Índice CMIN/DF RMSEA PCLOSE GFI
Referência
<5
0,05 a 0,08 >0,05 >0,90
Pesquisa
1,62
0,056
0,37
0,97
Fonte: dados da pesquisa.
AGFI
>0,80
0,93
CFI
>0,80
0,96
TLI
>0,90
0,93
NFI
>0,90
0,91
P
0,05 a 0,10
0,07
No que tange às medidas de ajuste absoluto, o GFI apresenta valor (0,97) dentro
padrões recomendados. O índice de RMSEA também está adequado aos parâmetros
desejados, evidenciando que os construtos se ajustam de forma aceitável. No que se refere às
medidas de ajuste incremental (NFI, CFI e TLI), verifica-se também uma completa adequação
pois os valores estão todos acima dos valores referencia. A razão entre o valor x² e os graus de
liberdade, mostrou-se adequada uma vez que o valor verificado é 1,62, conforme observado
na coluna CMINDF. Verifica-se ainda que o índice AGFI também apresenta valor (0,93) em
conformidade com os parâmetros desejados. O construto ATO, desta forma, após as devidas
extrações e adequações das escalas (inversão) mostrou-se ajustado.
6.6.3 Construto “Atitudes em relação à compra de FLV orgânicos” (ATC)
A Figura 15 ilustra o construto ATC (atitudes em relação à compra de FLV
orgânicos), bem como seus indicadores, após a fatorial confirmatória com índices de ajuste
satisfatórios.
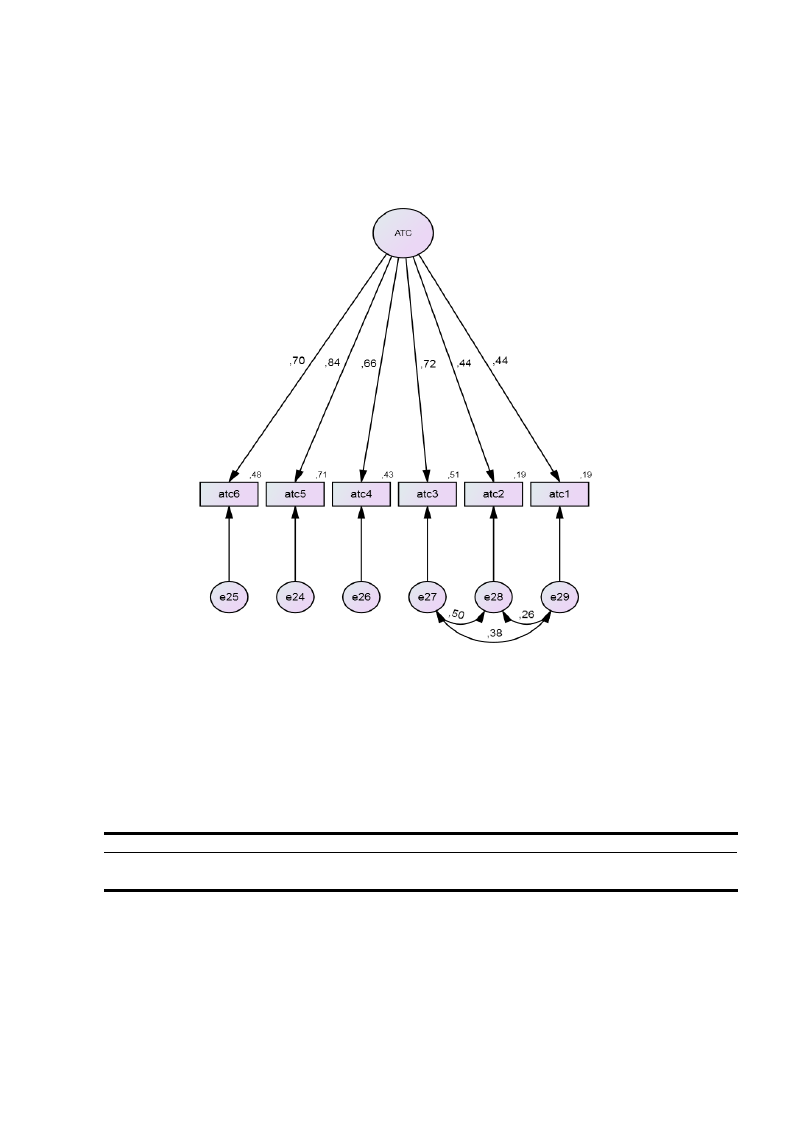
96
Figura 15 – Representação gráfica do construto ATC.
Fonte: dados da pesquisa.
O modelo proposto para o construto ATC mostrou-se adequado após a análise
fatorial confirmatória apresentando índices de ajustamento satisfatórios, conforme exposto na
Tabela 10 a seguir.
Tabela 10 – Índices de adequação do construto ATC.
Índice CMIN/DF RMSEA PCLOSE GFI
Referência
<5
0,05 a 0,08 >0,05 >0,90
Pesquisa
1,15
0,02
0,61
0,98
Fonte: dados da pesquisa.
AGFI
>0,80
0,96
CFI
>0,80
0,99
TLI
>0,90
0,99
NFI
>0,90
0,98
P
0,05 a 0,10
0,32
Observa-se que índice de RMSEA apresenta boa adequação (0,02) aos parâmetros
desejados, evidenciando que os construtos se ajustam de forma aceitável. No que se refere às
medidas de ajuste incremental (NFI, CFI e TLI), está diagnosticada ainda a completa
adequação, pois os valores estão todos acima dos valores referência. A razão entre o valor x² e
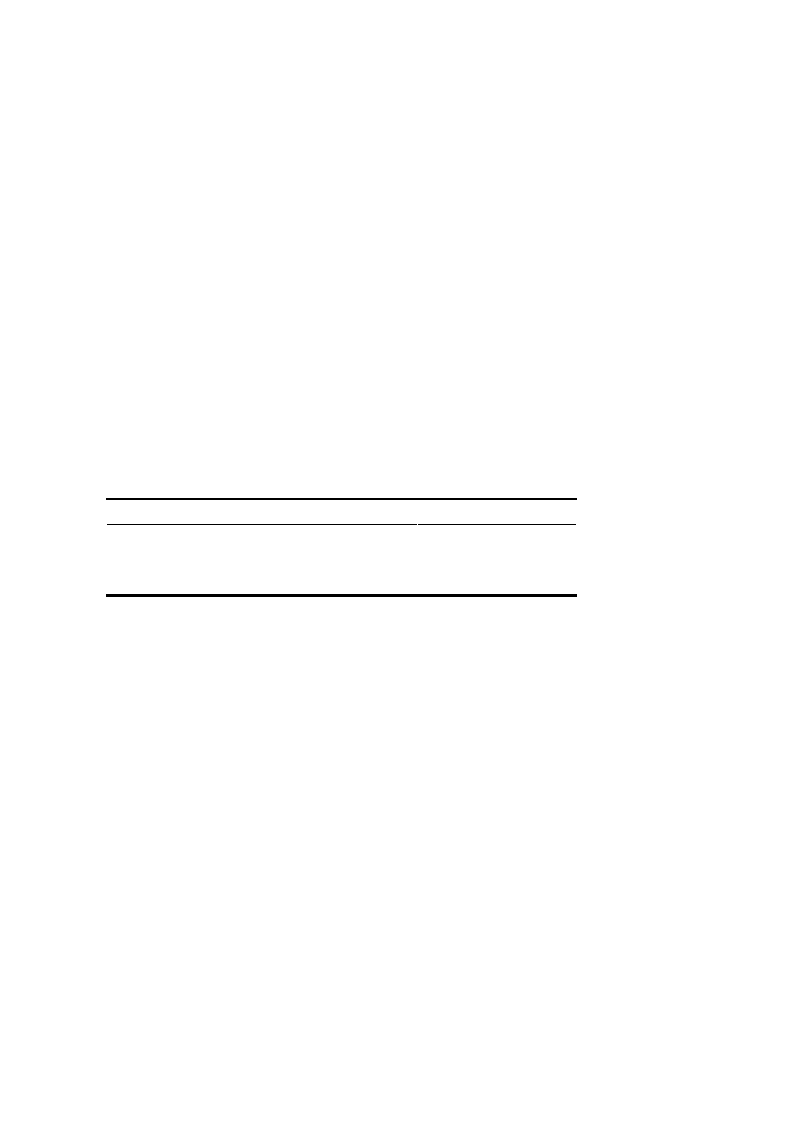
97
os graus de liberdade (CMINDF) mostrou-se adequada com seu valor de 1,15. O índice AGFI
apresenta valor (0,96) em conformidade com os parâmetros desejados. No tangente às
medidas de ajuste absoluto, o GFI apresentou valor (0,98) acima dos padrões recomendados.
O construto ATC, desta forma, na análise confirmatória, se mostrou ajustado.
6.6.4 Construtos normas subjetivas (NS), controle comportamental percebido (CCP) e
intenções comportamentais (IC).
Especificamente para os construtos cujo número de indicadores (variáveis
observáveis) eram inferiores a quatro, optou-se por seguir a orientação de Kalafatis et al.
(1999) e registrar a confiabilidade destes por meio do Alfa de Cronbach apenas. A tabela 11 a
seguir expõe os respectivos alfas de cada um dos construtos analisados nesta subseção.
Tabela 11 – Confiabilidade dos construtos NS, CCP e IC.
Construto
Normas subjetivas (NS)
Controle comportamental percebido (CCP)
Intenções comportamentais
Alfa de Cronbach
0,798
0,459
0,638
Fonte: dados da pesquisa.
Como se pode observar o construto normas subjetivas apresentou coeficiente alto
(0,79) o que representa uma boa confiabilidade da escala utilizada. O construto controle
comportamental percebido não apresentou um coeficiente adequado (0,45) conforme se
observa, os dados rodados revelaram, vale ressaltar, que não havia indicador que, se retirado,
elevasse a confiabilidade do construto. No caso do construto intenções comportamentais
percebe-se que o coeficiente Alfa de Cronbach está ligeiramente abaixo do adequado (0,63),
mas apresenta valor aceitável, de acordo com Hair Jr et al., (2005), para pesquisas
exploratórias.
6.6.5 Confiabilidade composta e variância extraída dos construtos
As medidas de cada um dos construtos rodados na fatorial confirmatória devem
agora ser avaliadas em relação a sua unidimensionalidade e a sua confiabilidade. De acordo
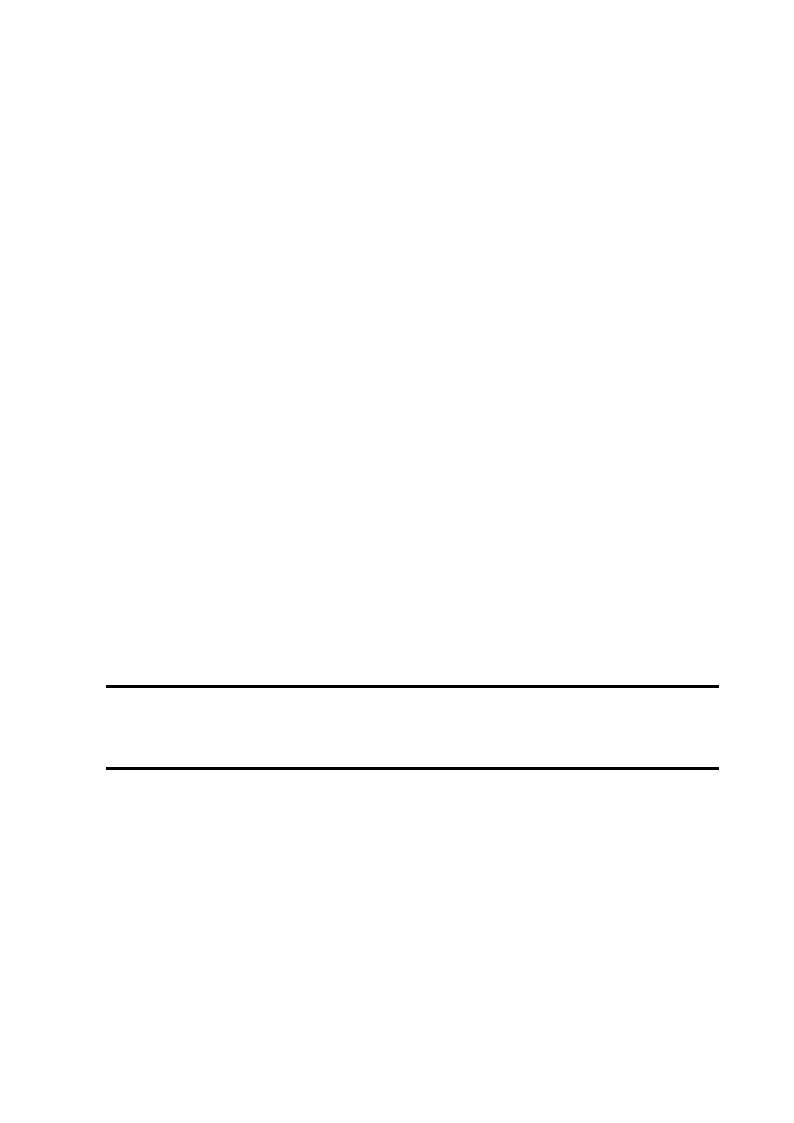
98
com Hair Jr et al. (2005), a unidimensionalidade é um pressuposto básico para a avaliação da
confiabilidade de uma escala e a sua falta representa freqüentemente uma falta de
especificação quanto a mensuração do modelo.
A confiabilidade diz respeito ao nível em que um conjunto de duas ou mais
variáveis são consistentes em suas medidas. Indicadores de construtos confiáveis são
altamente correlacionados, concluindo-se que todos eles estão medindo um mesmo construto.
Se a confiabilidade é baixa, isto mostra que os indicadores se tornam menos consistentes e
podem ser considerados como fracos indicadores do construto latente. Uma medida
complementar da confiabilidade é a medida da variância extraída. Ela reflete a quantidade
total de variância dos indicadores explicada pela variável latente. A variância extraída
significa a quantidade compartilhada ou a variância comum entre os indicadores (ou variáveis
manifestas) em relação a um construto (HAIR JR et al., 2005).
A diferença entre a confiabilidade composta do construto e a medida da variância
extraída é que nesta última as cargas padronizadas são elevadas ao quadrado antes de serem
somadas. Optando por seguir a orientação de Hair Jr et al. (2005), neste trabalho a
confiabilidade e a variância extraída foram acessadas separadamente para cada um dos
construtos submetidos a fatorial confirmatória. Para Hair Jr et al. (2005), valores iguais ou
superiores a 0,7 são sugeridos para se verificar a confiabilidade do construto e valores iguais
ou superiores a 0,5, para se verificar a variância extraída. Os resultados estão na Tabela 12.
Tabela 12 – Medidas de ajuste dos construtos
Construtos
Atitudes em relação ao meio ambiente e Motivações e crenças ligadas à saúde
Atitudes em relação aos alimentos orgânicos
Atitudes em relação a compra de FLV orgânicos
Fonte: dados da pesquisa.
Variância
extraída
0,68
0,40
0,38
Confiabilidade
composta
0,77
0,70
0,80
Observa-se na tabela 12 que apenas os construtos “atitudes em relação ao meio
ambiente e motivações e crenças ligadas à saúde” apresentaram ambos os índices dentro dos
padrões recomendados por Hair Jr et al (2005). Todos os três construtos apresentam índices
de confiabilidade composta satisfatórios, o que indica que eles possuem consistência interna.
Já no caso na variância extraída (que indica o poder de explicação das variáveis sobre o
construto) verifica-se que, no construto “atitudes em relação à compra de orgânicos” que o
valor está abaixo (0,38) do padrão esperado.
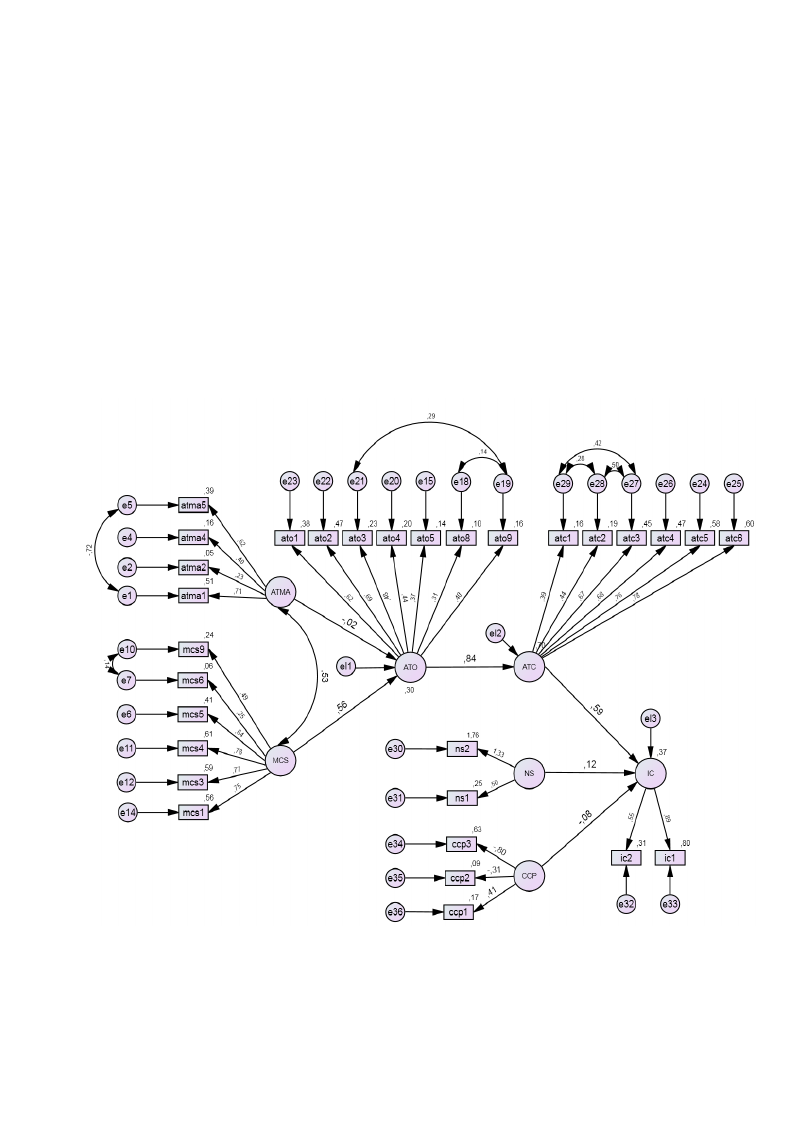
99
6.7 Avaliação do modelo 2 e do modelo final
A Figura 16 a seguir apresenta o modelo 2, com as estimativas dos parâmetros na
forma padronizada. Optou-se por especificar esse modelo intermediário em razão deste
apresentar todos os construtos inicialmente propostos tanto pela teoria que embasa esta
pesquisa, a TPB, como pelo framework de Chen (2007), que esta dissertação busca seguir.
Figura 16 – Representação gráfica do modelo 2.
Fonte: dados da pesquisa.
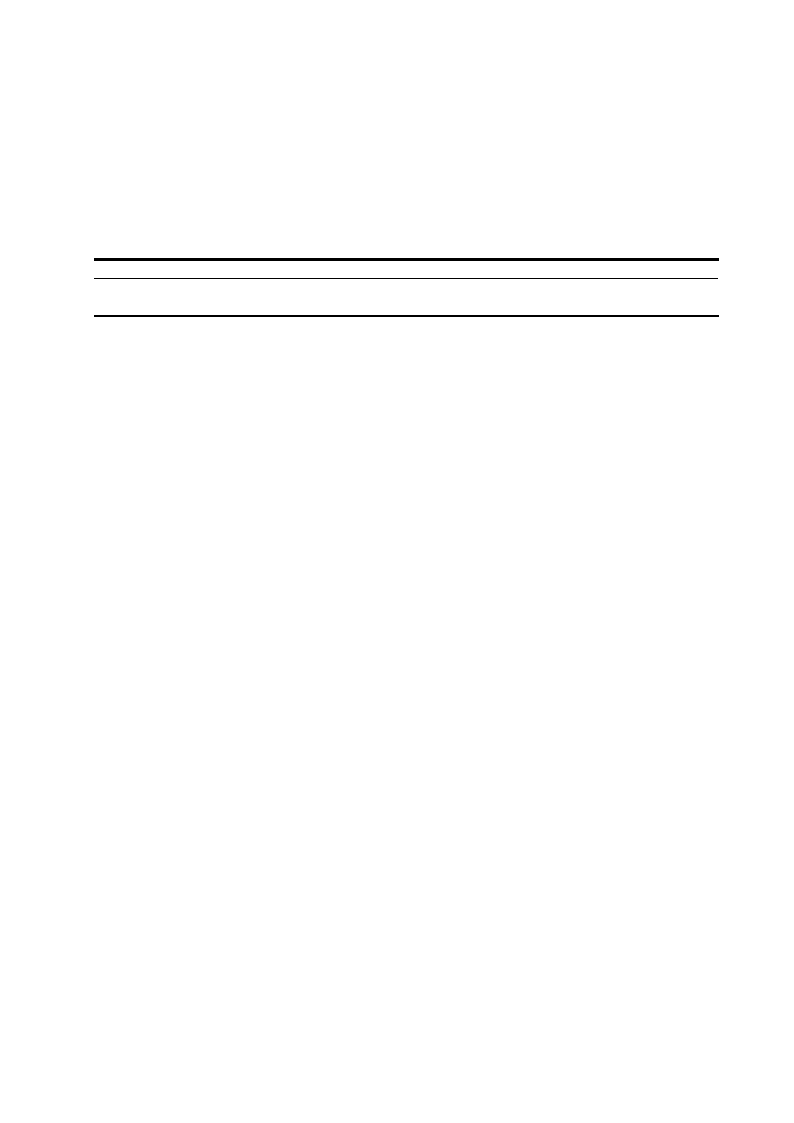
100
O modelo 2, da Figura 16, mostrou-se pouco adequado após a análise fatorial
confirmatória apresentando índices de ajustamento insatisfatórios, conforme exposto na
Tabela 13 a seguir.
Tabela 13 – Índices de adequação do Modelo 2.
Índice CMIN/DF RMSEA PCLOSE GFI
Referência
<5
0,05 a 0,08 >0,05 >0,90
Pesquisa
1,74
0,06
0,10
0,82
Fonte: dados da pesquisa.
AGFI
>0,80
0,78
CFI
>0,80
0,83
TLI
>0,90
0,81
NFI
>0,90
0,68
P
0,05 a 0,10
0,00
Verifica-se que o GFI apresenta valor (0,82) abaixo dos padrões recomendados. O
índice de RMSEA está adequado aos parâmetros desejados, evidenciando que os construtos se
ajustam de forma aceitável. Sobre as medidas de ajuste incremental (NFI, CFI e TLI), tem-se
que o único valor adequado foi o de CFI, que está (com 0,83) ligeiramente acima do valor de
referência. A razão entre o valor x² e os graus de liberdade (CMINDF) mostrou-se adequada
com seu valor de 1,74. O índice AGFI apresenta valor (0,78) ligeiramente abaixo dos
parâmetros desejados. O modelo, de uma maneira geral se ajusta irregularmente. Levando isso
em conta, descreve-se que existem outros critérios de avaliação importantes, como a análise
das estimativas dos parâmetros.
O método de estimação realizado na análise de equações estruturais foi o de
máxima verossimilhança. Este presume que as variáveis sejam contínuas. Como medida de
análise da significância de cada parâmetro especificado, adotou-se o teste de razão crítica ou
critical ratio (CR), obtido pela divisão da estimativa não-padronizada do parâmetro dividida
pelo seu erro padrão. Para ser considerado significativo, o teste precisa ser maior que |1,96|, a
um nível de significância de 0,05. Na tabela 14 a seguir, pode-se observar o CR; os resíduos
padronizados (SE); e os p-valores.
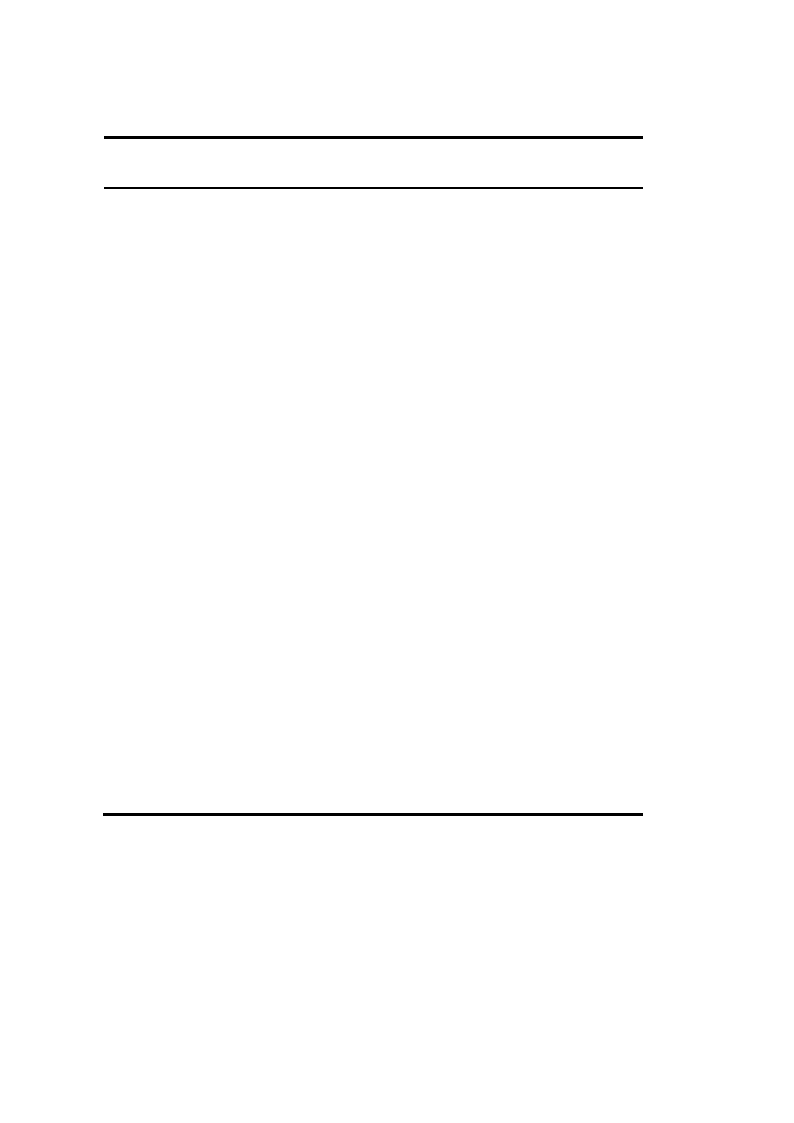
101
Tabela 14 – Pesos da regressão padronizados para o modelo 2.
Construto
ATO
<--- ATMA
ATO
<--- MCS
ATC
<--- ATO
IC
<--- ATC
IC
<--- NS
IC
<--- CCP
atma1
<--- ATMA
atma2
<--- ATMA
atma4
<--- ATMA
atma5
<--- ATMA
mcs5
<--- MCS
mcs6_mod <--- MCS
mcs9
<--- MCS
mcs4
<--- MCS
mcs3
<--- MCS
mcs1
<--- MCS
ato8
<--- ATO
ato9_mod <--- ATO
ato4
<--- ATO
ato5_mod <--- ATO
atc5
<--- ATC
atc6
<--- ATC
atc4
<--- ATC
atc3
<--- ATC
atc2
<--- ATC
atc1
<--- ATC
ns1
<--- NS
ic2
<--- IC
ic1
<--- IC
ccp2
<--- CCP
ccp1_mod <--- CCP
ato_3_mod <--- ATO
ato1
<--- ATO
ato2
<--- ATO
ns2
<--- NS
ccp3
<--- CCP
Fonte: dados da pesquisa.
*** p < 0,001 (significante)
Estimativa
-,011
,293
1,108
,920
,061
-,150
,951
,403
,536
1,014
,472
,543
,834
1,040
,857
,606
1,054
1,175
1,618
1,074
1,017
1,218
,886
1,421
1,289
1,000
,396
,935
1,000
-1,039
1,000
1,266
1,000
1,455
1,000
-2,791
Estimativas
padronizada
s
-,021
,562
,836
,593
,121
-,083
,714
,231
,399
,625
,643
,249
,485
,781
,767
,746
,313
,398
,443
,372
,759
,775
,683
,673
,439
,395
,501
,553
,894
-,306
,408
,479
,617
,688
1,328
-,796
S.E.
,053
,059
,250
,210
,071
,162
,180
,143
,116
,201
,050
,165
,124
,085
,072
,053
,282
,252
,320
,247
,194
,241
,178
,234
,265
,365
,174
,366
,222
,196
1,607
C.R.
P
-,210 ,834
4,972 ***
4,432 ***
4,383 ***
0,859 ,390
-,922 ,357
5,285 ***
2,811 ,005
4,637 ***
5,035 ***
9,437 ***
3,290 ,001
6,729 ***
12,248 ***
11,964 ***
11,475 ***
3,744 ***
4,662 ***
5,055 ***
4,345 ***
5,243 ***
5,052 ***
4,980 ***
6,085 ***
4,871 ***
1,086 ,277
5,375 ***
-2,842 ,004
5,706 ***
7,432 ***
-1,737 ,082
Para fins de avaliação do modelo 2, deve-se observar que a um nível de
significância de 0,05, alguns construtos estão correlacionados e outros não. Nem todas as
estimativas foram significantes pois alguns valores de C.R. não se enquadraram no parâmetro
desejado >|1,96|: os construtos ATMA, NS e CCP, mostraram-se com valores não
significantes. Isso indica que estes construtos, especificamente para esta pesquisa, não se

102
adequaram às hipóteses levantadas relativas a esses construtos, sugerindo assim, as suas
retiradas. Pode-se observar no Modelo 2 que o construto Atitudes em relação ao meio
ambiente não apenas não influencia positivamente as atitudes em relação aos alimentos
orgânicos como ainda tem peso negativo, rejeitando parcialmente a hipótese H1 desta
investigação. Ocorre situação similar com as normas subjetivas e com o controle
comportamental percebido que, ambos, não apresentam significativo impacto ou influencia
sobre as intenções de compra de FLV orgânicos, rejeitando as hipóteses H4 e H5 desta
investigação.
Desta forma, rodou-se mais uma vez o modelo; agora sem os construtos ATMA,
NS e CCP. O modelo proposto na fatorial confirmatória após a retirada destes três construtos
mostrou-se adequado conforme mostra a Figura 17, a seguir, que apresenta o modelo final,
com as estimativas dos parâmetros na forma padronizada. Esse foi melhor modelo encontrado
para o ajuste baseado na teoria do comportamento planejado ajustado ao modelo conceitual
proposto na investigação de Chen (2007).
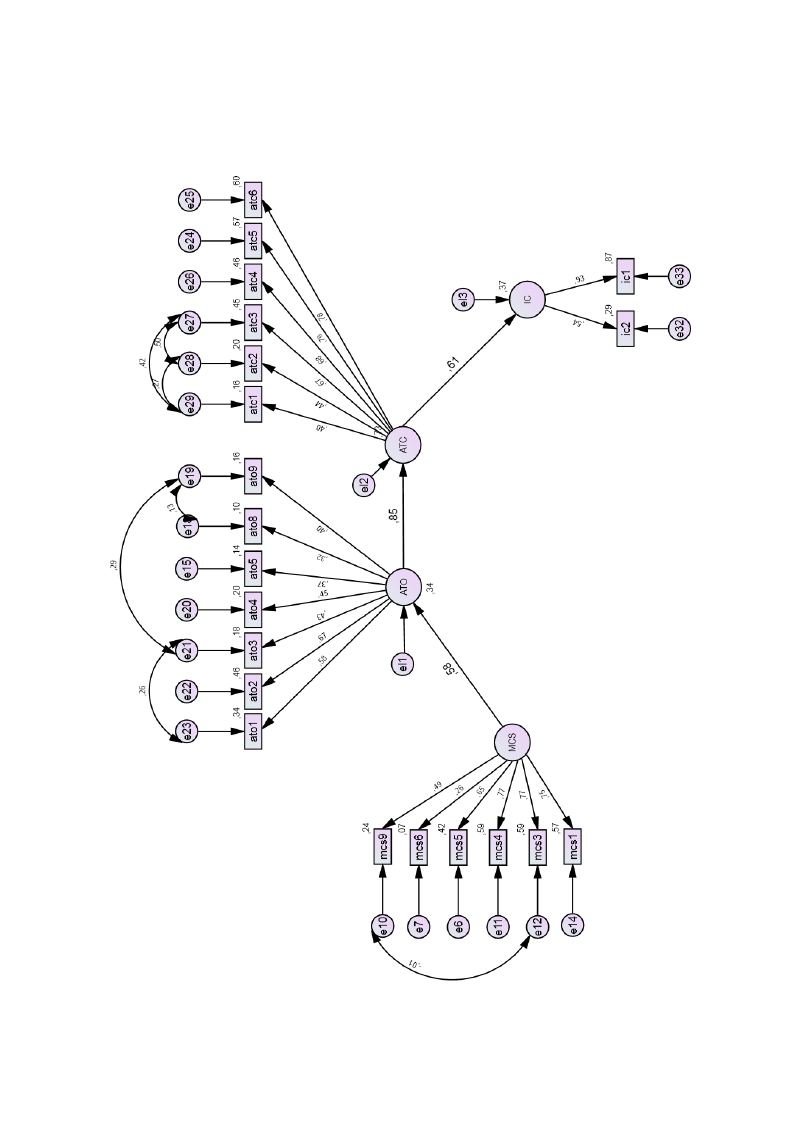
103
Figura 17 – Representação gráfica do Modelo Final.
Fonte: dados da pesquisa.

104
No modelo, tem-se que os indicadores do construto Motivações e Crenças ligadas
à Saúde (MCS) com maior peso são mcs3 (0,77), mcs4 (0,77) e mcs1 (0,75). Esses
indicadores representam respectivamente as afirmações “É importante para mim que a comida
que eu consumo diariamente seja nutritiva”, “É importante para mim que a comida que eu
consumo diariamente seja boa para minha pele, dentes e cabelo” e “É importante para mim
que a comida que eu consumo diariamente me mantenha saudável”, do questionário. O
indicador com menor peso para esse construto em questão foi o item mcs6 (0,26) onde tem-se
a seguinte afirmação: “tenho a impressão de que as outras pessoas prestam mais atenção a sua
saúde do que eu”.
No construto relativo às atitudes em relação aos alimentos orgânicos em geral
(ATO), observa-se, pela ordem decrescente de seu peso, os itens ato2 (0,67), ato1 (0,58), ato4
(0,45), ato3 (0,43), ato9 (0,40), ato5 (0,37) e ato8 (0,32). Estes itens expressaram as
afirmações de que os alimentos orgânicos em geral “têm qualidade superior”, “são mais
saudáveis”, “são mais gostosos”, “são uma fraude”, “são apenas moda”, “são piores que os
alimentos convencionais” e “não fazem mal”, respectivamente. Esses indicadores, portanto,
tiveram peso maior sob o construto.
Acerca do construto relativo à atitude sobre a compra de FLV orgânicos (ATC)
tem-se que os indicadores com maior peso sobre esse construto foram atc6 (0,78), atc5 (0,76)
e atc4 (0,68). Estes itens representam as afirmações “comprar FLV orgânicos ao invés dos
convencionais me faria sentir ... insatisfeito/satisfeito”, “comprar FLV orgânicos ao invés dos
convencionais seria ...tolice/sábio”, “comprar FLV orgânicos ao invés dos convencionais seria
...danoso/benéfico”, respectivamente; deve ser ressaltado que as escalas destes três itens
diferem das outras deste construto por serem de diferencial semântico. As variáveis
observáveis atc3 (0,67), atc2 (0,44) e atc1 (0,40) correspondem as afirmações “comprar FLV
orgânicos ao invés dos convencionais faria eu me sentir como se estivesse contribuindo para
algo melhor”, “comprar FLV orgânicos ao invés dos convencionais me faria sentir uma
pessoa melhor” e “comprar FLV orgânicos ao invés dos convencionais me faria sentir que
estou fazendo algo ‘politicamente correto’”, respectivamente.
O construto sobre intenções de compra (IC), com apenas dois itens, apresentou
relativo distanciamento entre seus coeficientes: o indicador com maior peso sobre as
intenções de compra foi o item ic1 (0,93) com a questão “eu planejo consumir FLV orgânicos
em breve” e o item ic2 “eu pretendo consumir FLV orgânicos nos próximos quinze dias” vem
em seguida com 0,54.
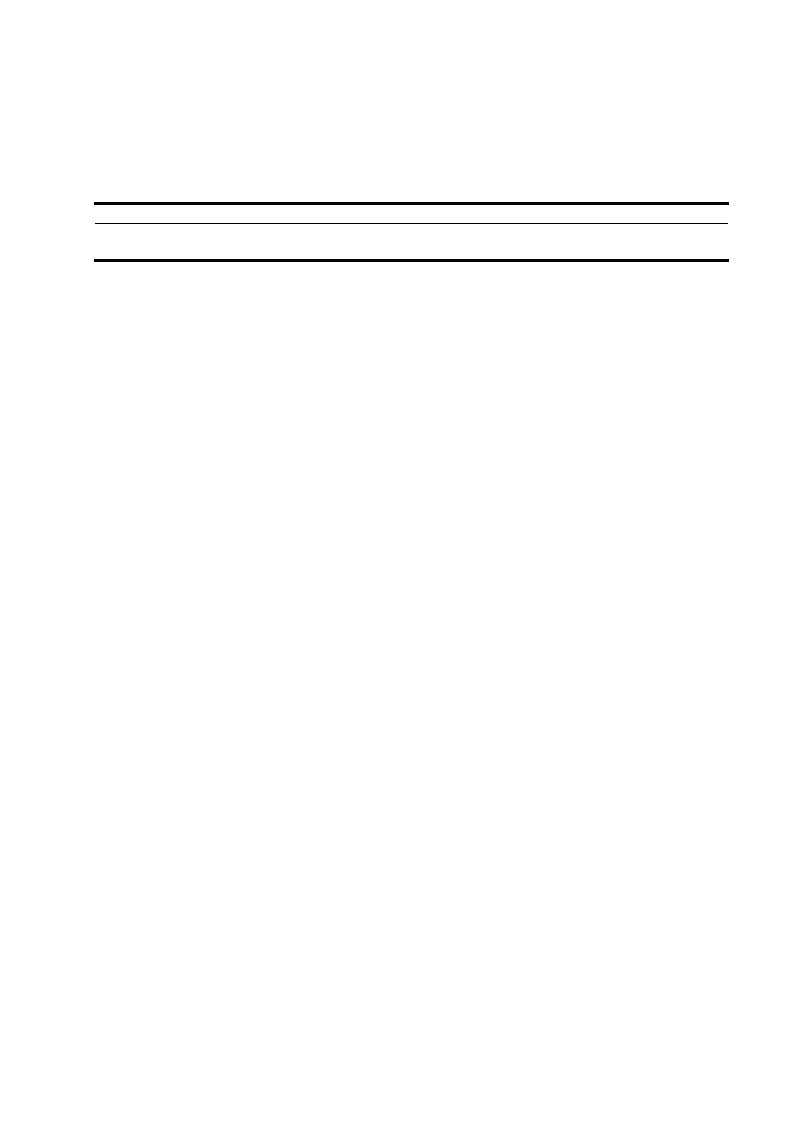
105
A tabela 15 apresenta os índices referentes ao ajuste deste modelo final alcançado.
Tabela 15 – Índices de adequação do modelo final.
Índice CMIN/DF RMSEA PCLOSE GFI
Referência
<5
0,05 a 0,08
>0,05 >0,90
Pesquisa
1,77
0,06
0,04
0,87
Fonte: dados da pesquisa.
AGFI
>0,80
0,83
CFI
>0,80
0,89
TLI
>0,90
0,88
NFI
>0,90
0,79
P
0,05 a 0,10
0,00
Conforme se observa, no tangente às medidas de ajuste absoluto, o GFI apresenta
valor (0,87) acima dos padrões recomendados. O índice de RMSEA está adequado aos
parâmetros desejados (1,77), evidenciando que os construtos se ajustam de forma adequada à
população em questão. No que se refere às medidas de ajuste incremental (NFI, CFI e TLI),
cuja função é comparar o modelo proposto ao modelo nulo, verifica-se também uma
adequação embora os valores de NFI (0,79) e TLI (0,88) estejam ligeiramente abaixo do
esperado. A razão entre o valor x² e os graus de liberdade, que deve ser menor do que 5, se
mostra adequada uma vez que o valor verificado é 1,76, conforme observado. Verifica-se
ainda que o índice AGFI também apresentou valor (0,83) dentro dos parâmetros
recomendados.
Observa-se neste modelo final que a atitude em relação aos alimentos orgânicos
em geral tem uma influência direta e muito elevada (0,85) sobre a atitude em relação à
compra de FLV orgânicos. As motivações e crenças ligadas à saúde têm impacto relevante,
embora menor (0,58) sobre as atitudes em relação aos alimentos orgânicos. As atitudes em
relação à compra de FLV orgânicos influenciam positivamente e de maneira ligeiramente
mais forte (0,61) as intenções de compra dos consumidores pesquisados. A hipótese H1 é
parcialmente aceita haja vista que o outro construto, relativo às atitudes em relação ao meio
ambiente, foi rejeitado; sendo apenas as hipóteses H2 e H3 desta dissertação confirmadas
(aceitas).
A análise das estimativas dos parâmetros, com os pesos das regressões deste
modelo 3 final, está representada na Tabela 16 a seguir.
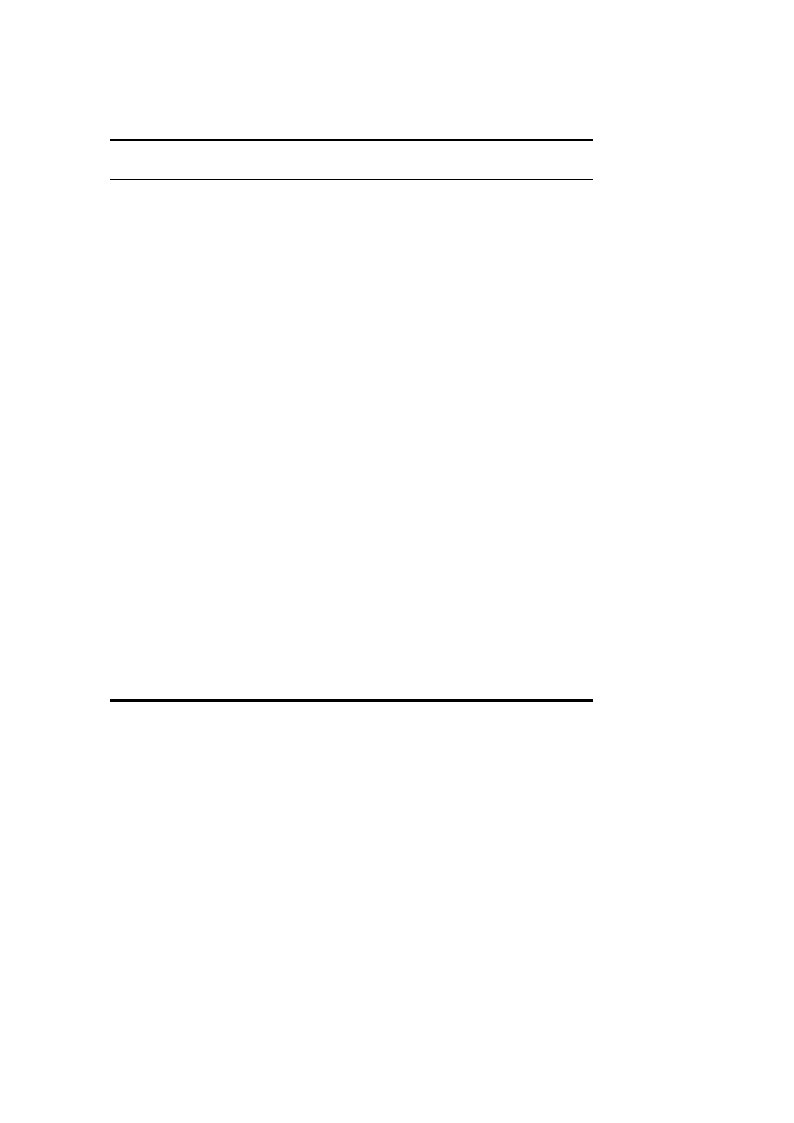
106
Tabela 16– Pesos da regressão padronizados para o modelo final.
Construto Estimativas
ATO
<--- MCS
ATC
<--- ATO
IC
<--- ATC
mcs5
<--- MCS
mcs6_mod <--- MCS
mcs9
<--- MCS
mcs4
<--- MCS
mcs3
<--- MCS
mcs1
<--- MCS
ato8
<--- ATO
ato9_mod <--- ATO
ato4
<--- ATO
ato5_mod <--- ATO
atc5
<--- ATC
atc6
<--- ATC
atc4
<--- ATC
atc3
<--- ATC
atc2
<--- ATC
atc1
<--- ATC
ic2
<--- IC
ic1
<--- IC
ato_3_mod <--- ATO
ato1
<--- ATO
ato2
<--- ATO
Fonte: dados da pesquisa.
*** p < 0,001 (significante)
,333
1,219
,999
,553
,649
,977
1,190
1,000
,711
1,144
1,256
1,743
1,139
1,000
1,205
,872
1,405
1,289
,994
,869
1,000
1,194
1,000
1,517
Estimativas
padronizadas
0,584
0,853
0,612
0,647
0,256
0,489
0,769
0,769
0,753
0,320
0,400
0,449
0,372
0,756
0,777
0,682
0,674
0,445
0,398
0,543
0,933
0,427
0,580
0,675
S.E. C.R. P
,059 5,647 ***
,188 6,483 ***
,137 7,273 ***
,065 8,516 ***
,193 3,355 ***
,151 6,455 ***
,115 10,369 ***
,070 10,138 ***
,304 3,759 ***
,273 4,596 ***
,350 4,985 ***
,268 4,252 ***
,120 10,050 ***
,095 9,211 ***
,150 9,340 ***
,219 5,877 ***
,188 5,287 ***
,174 4,980 ***
,214 5,577 ***
,215 7,044 ***
Verifica-se na coluna P que, neste modelo final, todos os construtos apresentam
significância desejada uma vez que os valores de C.R. estão bem acima do parâmetro de
referência que é > |1,96|. O modelo, portanto, se ajusta em combinações distintas de índices
de verificação de adequação.
Deve ser destacado ainda que as análises indicaram haver uma correlação entre
alguns indicadores do modelo geral (ato1 e ato3); (ato3 e ato9); (ato8 e ato9); (atc1 e atc2);
(atc2 e atc3); (atc1 e atc3). Desta maneira, uma melhora significativa ocorreria se uma
covariância entre os erros desses dois indicadores fosse acrescentada. A inserção dessas
covariâncias proporcionou um melhor ajuste do modelo final, com uma melhora significativa
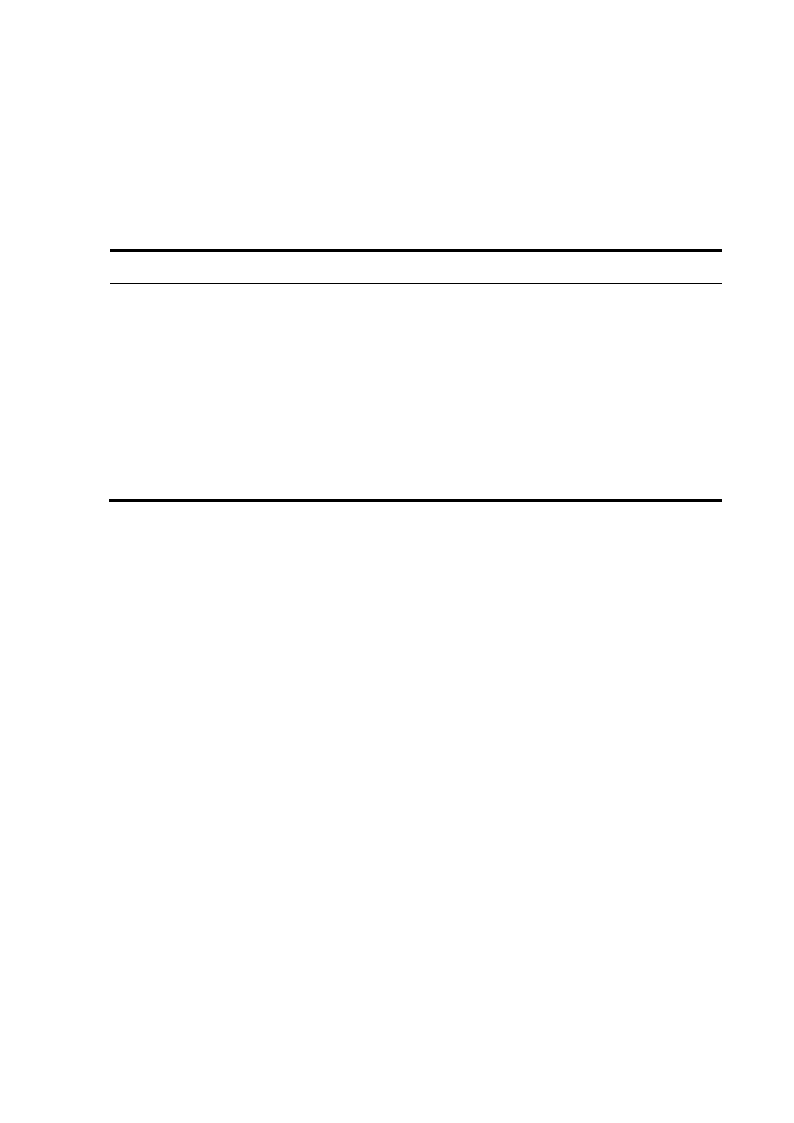
107
em seus índices de adequação, conforme foi observado na Tabela 15. Desta forma, tem-se que
o modelo final ajustado (Figura 17) rejeita algumas das hipóteses levantadas na dissertação e
aceita outras, conforme é visualizado no Tabela 17.
Tabela 17 – Hipóteses da dissertação e resultados alcançados.
Hipótese
Relação
Carga fatorial
padronizada
H1: A consciência ambiental e a busca por ATMA - ATO
saúde influenciam as atitudes em relação
aos orgânicos.
MCS - ATO
-
0,584
H2: As atitudes em relação aos orgânicos
influenciam as atitudes em relação à
compra de FLV orgânicos.
ATO - ATC
H3: As atitudes em relação à compra de
0,853
FLV orgânicos influenciam as intenções de
compra destes alimentos.
H4: As normas subjetivas influem as
intenções de compra de FLV orgânicos.
H5: O controle comportamental percebido
influencia as intenções de compra de FLV
orgânicos.
ATC - IC
NS - IC
CCP - IC
0,612
-
-
Fonte: dados da pesquisa.
Valores de t > |1,96| indicam parâmetros significativos (p<0,05)
T-value
-
(5,647)
(6,483)
(7,273)
-
-
Resultado
Rejeitada.
Aceita.
Aceita.
Aceita.
Rejeitada.
Rejeitada.
Como observado na Tabela 17, as hipóteses referentes às relações entre os
construtos ATMA – ATO; NS – IC e CCP – IC foram rejeitadas, uma vez que estas relações
foram excluídas quando do ajuste do modelo final apresentado. A relação MCS-ATO
apresentou carga fatorial satisfatória (0,58), enquanto as relações ATO-ATC e ATC- IC
apresentaram carga fatorial (0,85 e 0,61) mais elevadas, com parâmetros significativos.
6.7.1 Validade discriminante
A validade discriminante é o tipo de validade mais comumente usada para
confirmar a validade de construto. A análise da validade discriminante envolve a comparação
das correlações entre os construtos do modelo com um modelo teórico. Neste modelo teórico,
afirmam Anderson e Gerbin (1988), todas as correlações entre os construtos está determinada
como sendo de valor 1,00, o que permite realizar o teste da diferença do qui-quadrado. Para
realizar este teste, calcula-se a diferença entre os valores do qui-quadrado e a diferença dos
graus de liberdade para os dois modelos. Para determinar a significância estatística do teste da
diferença do qui-quadadro, analisa-se os valores da diferença do qui-quadrado e os valores
dos graus de liberdade numa tabela de qui-quadrado: valores estatisticamente significantes
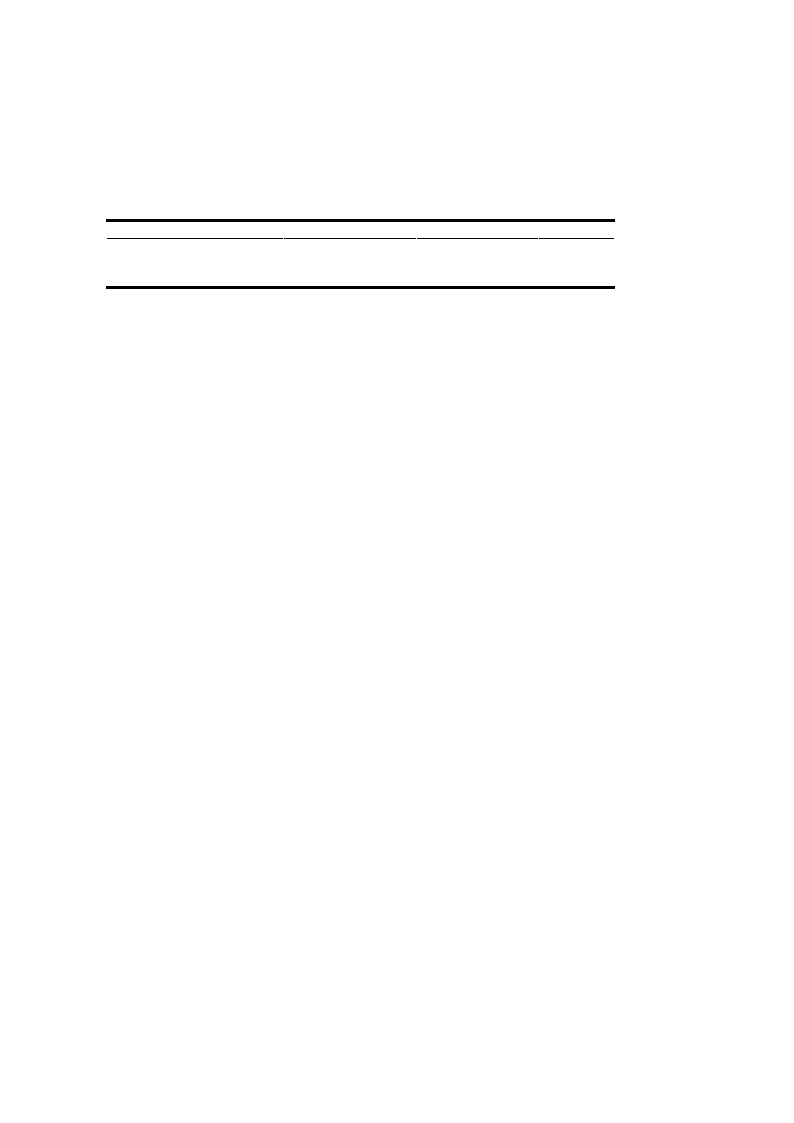
108
indicam a existência de validade discriminante (BAGOZZI; YI; PHILLIPS, 1991). A tabela
18apresenta, por fim, estes resultados.
Tabela 18 – Validade discriminante dos construtos.
Relação
MCS – ATO
ATO – ATC
ATC - IC
Fonte: dados da pesquisa.
Diferença de X2
46, 373
42,72
30, 123
Diferença de gl
1
1
1
P-value
0,000
0,000
0,000
Tem-se que resultados acima de 3,84 entre as diferenças de Qui-quadrado são
considerados estatisticamente significantes (LATTIN; CARROL; GREEN, 2011). A partir do
exposto, pode-se afirmar a validade discriminante para o modelo final.
6.8 Discussão dos resultados
Os resultados obtidos por meio da modelagem de equações estruturais aplicada ao
modelo proposto – formulado com base no modelo de Chen (2007) e tomando como marco
teórico a teoria do comportamento planejado (TPB) – revelam particularidades do mercado
local, que por vezes abrem contraponto às investigações apresentadas na revisão teórica desta
dissertação.
Muitas das variáveis originais que compunham o questionário tiveram que ser
retiradas para que o framework proposto fosse se adequando aos indicadores de ajustes
relevantes para a validação do modelo. O modelo conceitual original sugere que os
consumidores seriam influenciados por: 1) aspectos particulares de preocupação individual,
materializados pelo construto “motivações e crenças ligadas à saúde”; e 2) por uma
conscientização ambiental que estaria a priori diretamente ligada ao produto orgânico (que
carrega desde sua origem, uma verve de responsabilidades moral e ambiental que lhe é
intrínseca) materializada no construto atitudes em relação ao meio ambiente.
Desta primeira colocação originou-se a hipótese 1 deste estudo, que pressupunha
que ambos os fatores, o individual e o ecológico, carregariam em sua essência o poder de
influenciar as atitudes das pessoas em relação aos produtos orgânicos. Esta hipótese foi
parcialmente rejeitada uma vez que o ajuste do modelo sugere que a maior influência ocorre
somente por parte do “fator saúde” ou preocupação individual, corroborando com grande
parte das investigações relatadas na dissertação (ESSOUSSI; ZAHAF, 2009; KRISCHKEL;

109
TOMIELLO, 2009; VILAS BOAS; PIMENTA; SETTE, 2008; KRISCHKEL; TOMIELLO,
2009; MAGNUSSON et al., 2003). Guillon e Willequet (2003 apud GUIVANT, 2003)
“polarizaram” os consumidores de orgânicos em ego-trip, indivíduos que buscam se preservar
e se destacar em termos de estética, autoconfiança e saúde; do outro lado, em ecológico-trip
representa o indivíduo ligado ao meio natural e traduz-se em um consumo sistemático de
produtos verdes. Dessa forma, os resultados sugerem que a amostra pesquisada se enquadra
no perfil ego-trip.
É curioso ressaltar que no estudo de Chen (2007), em Taiwan, as motivações
ligadas à saúde, contrariando a maioria dos estudos, revelaram-se não significativas e que as
motivações ligadas ao meio ambiente é que contribuem para atitudes favoráveis aos
orgânicos. Em nossa pesquisa, o construto que carregava as variáveis relativas ao pensamento
de correção ambiental mostrou-se não apenas fraco como negativo. As atitudes relativas ao
meio ambiente não provocam efeito sobre as atitudes relativas ao alimento orgânico no
modelo ajustado. Assim, as questões ligadas à correção ambiental; apesar dos altos níveis de
atitudes e intenções em prol de um bem-estar ecológico serem registrados em pesquisas, não
têm necessariamente influenciado na mesma intensidade ações pró-ambientais (DUNLAP,
SCARCE, 1991; TARRANT, CORDELLE, 1997).
O construto relativo às atitudes em relação aos alimentos orgânicos em geral, por
sua vez, revelou forte poder de influência sobre as atitudes relativas à compra dos alimentos
orgânicos enquadrados na categoria frutas, verduras e legumes, o que valida, desta forma, a
hipótese 2 proposta. A categoria FLV é a que mais caracteriza este alimento junto à grande
parte das pessoas (ARVOLA et al., 2008). A aceitação desta hipótese vai ao encontro dos
muitos trabalhos que registram as atitudes favoráveis para com os orgânicos, embora grande
parte das crenças declaradas acerca desses alimentos seja de natureza intuitiva (SAHER;
LINDERMAN; ULLA-KAISA, 2006). Os resultados da pesquisa reafirmam ainda a crença de
que os alimentos orgânicos são mais saudáveis (WANDEL; BUGGE, 1997) bem como a
influencia disso sobre a compra desses alimentos, pois é orientada por esses atributos e pela
crença de que os orgânicos contêm mais nutrientes do que os alimentos convencionais
(ANNETT et al., 2008; MAGNUSSUM et al., 2003). A hipótese 3 da pesquisa sugere que as
atitudes em relação compra de FLV orgânicos influenciam positivamente a intenção de
compra destes produtos e o modelo final mostrou que esta influência existe, tornando válida a
hipótese além de estar em consonância com pesquisa já realizadas (CHEN, 2007;
ZAMBERLAN, BÜTTENBENDER; SPAREMBERGER, 2006) .

110
A teoria do comportamento planejado presume que mais dois elementos, além das
atitudes, influenciam as intenções de compra dos consumidores: as normas subjetivas
(sociais) e o controle comportamental percebido. A primeira expressa o “peso” da vigília
social sobre nossas ações e sua influência sobre nós (levaríamos em conta o que os outros
pensam sobre nossas ações). O segundo representa a percepção que o indivíduo tem do quão
fácil (ou difícil) será efetuar determinada ação, daí que o quão mais fácil (ou difícil) ele crer
que será empreender dada ação, maior (ou menor) será, em tese, sua intenção de agir de fato
(AJZEN, 2008). No entanto, estes dois construtos não se adaptaram ao modelo e foram
retirados, assim como no modelo final ajustado da investigação de Hoppe (2010) foi excluído
o construto relativo às normas subjetivas. Rejeitou-se, portanto, as hipóteses 4 e 5 da
dissertação: o ajuste do modelo rejeita as hipóteses de que as normas subjetivas e o controle
comportamental percebido impactam sobre a intenção de compra dos orgânicos.
Para a rejeição da hipótese relativa às normas subjetivas (hipótese 4) deve-se levar
em conta estudos que revelam que a avaliação afetiva que os consumidores fazem de si
mesmos tem peso elevado e acabam por reduzir a importância de eventuais barreiras no
momento da escolha (DEAN; RAATS; SHEPHERD, 2008). Além disso, afirmar para si
mesmo que a compra de orgânicos é algo positivo já é esperado uma vez que foram
entrevistados os consumidores no momento da compra, além disso, Aertsens et al. (2009) já
haviam constatado que as pessoas passam a confiar mais em seus próprios sentimentos
(componente afetivo) em relação ao orgânicos quando surgem incertezas em relação a estes.
Para a rejeição da hipótese relativa ao controle percebido (hipótese 5) é possível que, uma vez
que foram entrevistados apenas consumidores destes produtos nos pontos de venda, já se
tenha uma percepção de que, ao menos para os respondentes, a compra em si já não seja vista
com grandes dificuldades – apesar de registrada alta concordância de que este alimento é
mais caro, como atestou Zakowska-Biemans (2011) e Zamberlan, Büttenbender e
Sparemberger (2006) – até porque, como sugerem os dados apresentados na revisão da
literatura, o mercado local está, apesar das dificuldades (OLIVEIRA, 2011), expandindo com
rigor uma vez que a demanda é crescente e o varejo caminha em direção a maturidade
(SILVA, 2011).
As particularidades dos resultados aqui analisados devem tomar como previstas
certas discrepâncias em relação ao resultado de pesquisas realizadas em outras culturas,
inclusive a de Chen (2007), como bem atestaram Zakowska-Biemans (2011) e Essoussi e
Zahaf (2009) quando afirmam que diferenças culturais alteram a hierarquia de motivos para o
consumo de orgânicos.

111
7. CONCLUSÕES
Esta dissertação buscou investigar a existência de relações entre elementos ligados
ao meio ambiente e à saúde sobre as intenções de compra do consumidor de frutas, legumes e
verduras (FLV) orgânicos no mercado de Fortaleza – CE. Para tal fim, foi utilizada a
modelagem de equações estruturais como técnica estatística principal e a teoria do
comportamento planejado como modelo teórico. Este modelo sugere o condicionamento das
intenções comportamentais às atitudes em relação ao comportamento, às normas subjetivas e
ao controle percebido pelo indivíduo para empreender dada ação. Nesta seção serão
apresentadas as conclusões subjacentes às análises efetuadas na investigação, comparando os
resultados com os objetivos propostos.
7.1 Considerações gerais
No tocante a amostra investigada, revelou-se entre os pesquisados uma
predominância de pessoas do sexo feminino. Tal dado corrobora com outras investigações que
apresentam esse gênero como o predominante. A maior parcela dos entrevistados declarou ter
escolaridade em nível superior, e, dentre estes, o número de pós-graduados também
apresentou nível significativo. A renda familiar também se revelou elevada com a maioria dos
entrevistados alocados entre os que a declaram acima de 3.000 reais mensais. A grande parte
dos entrevistados é casada. No tangente ao número de pessoas morando na residência do
entrevistado, a maioria declarou três pessoas; apenas 7% dos entrevistados moram sozinhos.
Em relação à compra dos orgânicos, os supermercados, em sintonia com as
pesquisas apresentadas na dissertação, revelaram-se como o ponto de venda principal. O
mercado local, apesar da solidez da proposta das feiras agroecológicas, ainda é carente de
pontos de venda extra aos supermercados. Alguns consumidores, inclusive no pré-teste
declararam informalmente nem saber da existência das feiras. Ainda em relação à compra,
constatou-se um ligeiro equilíbrio entre os respondentes que declaram comprar semanalmente
e aqueles que declaram comprar apenas de vez em quando. Os que compram diariamente
representam o menor percentual do total de entrevistados. Este dado, vale lembrar, está
associado à compra de frutas, verduras e legumes.
Os resultados obtidos por meio das análises fatoriais confirmatórias e da
modelagem de equações estruturais foram orientados e descritos de forma a responder a
pergunta da pesquisa para validar (ou rejeitar) as hipóteses levantadas previamente na
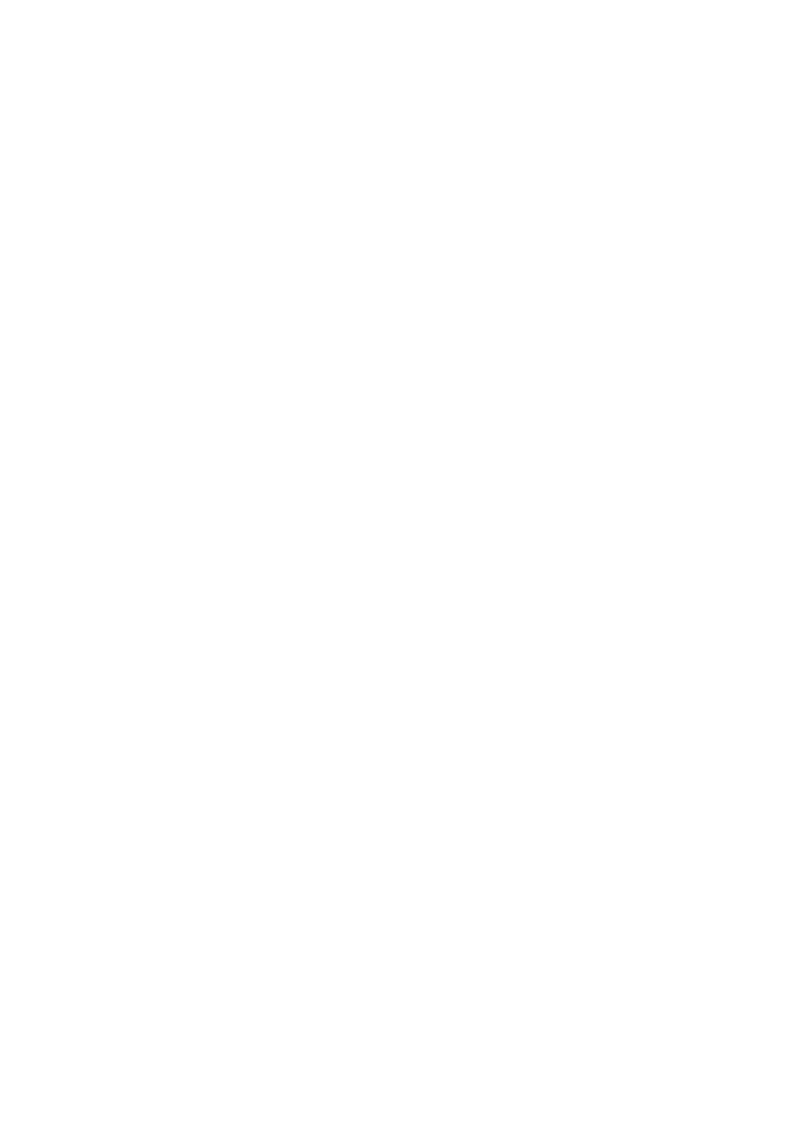
112
investigação. Optou-se por utilizar framework validado em pesquisa realizada por Chen
(2007) ligeiramente adaptado. O framework original buscava relacionar os impactos de
diversos fatores sobre as atitudes dos consumidores em relação aos orgânicos. Optou-se, nesta
pesquisa, por restringí-los a apenas dois: os construtos ligados à correção ambiental e à busca
por saúde (mais individualista, para fins de pesquisa). Estes dois elementos, tomados como
construtos na pesquisa, são os que mais alimentam as investigações que buscam entender o
que motiva o indivíduo a consumir orgânicos; dois termos, inclusive, já tinham sido forjados
para denominar os consumidores que buscam orgânicos por pensarem na própria saúde e por
serem orientados para contribuir para o meio ambiente, ego-trip e ecológico-trip,
respectivamente.
Os dois construtos, consciência ambiental e busca por saúde alimentaram nessa
pesquisa a teoria do comportamento planejado (TPB) na medida em que as hipóteses
formuladas buscaram relacionar suas relações de influencia.
Constatou-se, ao final da análise do modelo geral proposto (que representa todas
essas relações/conexões), que as atitudes da amostra em relação aos orgânicos em geral não
sofrem influência da consciência ambiental. Em contrapartida, as causas ligadas à busca por
saúde, beleza e qualidade de vida influenciam. Isso corrobora com a grande maioria das
pesquisas relatadas nas seções teóricas desta dissertação; e curiosamente se opõe aos
resultados de Chen (2007) – vale ressaltar que este autor relata que sua pesquisa representa o
contra fluxo dos resultados normalmente divulgados em outras investigações. O objetivo
específico 1 desta dissertação foi, assim, cumprido ao diagnosticar que os consumidores
entrevistados são orientados apenas por um fator, o individual, ligado à própria saúde.
As atitudes em relação à compra de FLV orgânicos e estas em relação às
intenções de compras revelaram-se relacionadas na medida em que a primeira influencia
positivamente a segunda, atestando a validade das hipóteses que lhe foram associadas, e
respondendo aos objetivos específicos 2 e 3 da dissertação. Os alimentos orgânicos são
percebidos pela amostra como mais saudáveis e superiores que os seus equivalentes
convencionais. Houve elevada discordância quanto à afirmativa de que eles seriam uma
fraude ou piores que os convencionais. Porém, houve consonância no tocante ao preço dos
alimentos orgânicos, tidos como elevados.
O modelo de Chen (2007) e a própria teoria do comportamento planejado sugerem
que as atitudes, as normas subjetivas e o controle percebido do comportamento influenciam o
consumo de produtos orgânicos. Entretanto, as análises realizadas neste estudo mostram que
os construtos das normas subjetivas e do controle comportamental percebido não se sustentam

113
no contexto local, o que responde aos objetivos específicos 4 e 5 da nossa investigação. Isso
sugere que eventuais barreiras à compra destes alimentos não implicam necessariamente na
não compra, ou mesmo que facilidades impliquem na compra. Sugere ainda que o consumo
de orgânicos representa, no modelo final apresentado, uma ação desprendida de influências
sociais externas como a opinião de pessoas próximas ou importantes para os respondentes.
Sobre este fato, é importante destacar que boa parte da literatura sobre comportamento do
consumidor sempre abre uma ressalva ao fato de que normalmente as pessoas tendem a
creditar a si próprias o julgamento decisivo da ação de consumo, como se fosse relativamente
difícil declarar que empreendemos ações ou deixamos de fazer algo porque fomos
influenciados por outra(s) pessoa(s).
Responde-se, portanto, a pergunta proposta da pesquisa – de que forma os
aspectos relativos à consciência ambiental e à busca por saúde influenciam as atitudes e
intenções de compra do consumidor de alimentos orgânicos? – da seguinte forma: tem-se que
os aspectos relativos à consciência ambiental não influenciaram diretamente as intenções de
compra de orgânicos na amostra pesquisada uma vez que não se estabeleceu relação entre
esse construto com os alimentos orgânicos em geral, ao passo que as questões ligadas a
fatores individuais como saúde, bem estar, beleza, qualidade de vida (itens associados a esse
construto) revelaram influenciar essas intenções.
7.2 Limitações da pesquisa
Não obstante a preocupação com o rigor metodológico empregado neste estudo é
importante ressaltar que algumas limitações lhe foram inerentes. O instrumento de coleta
adotado na pesquisa, por exemplo, é originário de fontes diversas, embora todos voltados para
o mesmo fim. Ainda que as pesquisas que alimentam esta dissertação também, em sua
maioria, tenham utilizado a compilação de questões para formarem as suas próprias, deve ser
levado em conta que contextos culturais diversos podem implicar no não ajustamento de itens
específicos em contextos particulares, posteriormente, o que ocorreu nesta investigação.
Tempo e limitações de recursos associados à saturação de respondentes em tempo
hábil, nos pontos de pesquisa, restringiram a amostra a um número mínimo necessário para
que os dados fossem rodados de maneira consistente.
O pré-teste, mesmo ajudando na concepção e operacionalização da pesquisa de
campo, deve constar como elemento limitador: uma vez que nesta etapa foram entrevistadas
somente pessoas com nível de escolaridade superior (professores), crê-se na possibilidade de

114
graus distintos de compreensão das escalas apresentadas para os respondentes em geral na
etapa seguinte, a da ida a campo. O mercado local deve ser considerado uma limitação na
medida em que resultados aqui apresentados não podem ser generalizados. Por fim, as
pesquisas com consumidores in loco devem levar em conta o fato de que estes (e suas
respostas) estão sujeitos a variações de humor, pela pressa em responder, pelo ambiente e pelo
próprio fato de se estar sendo pesquisado.
7.3 Implicações da pesquisa e direcionamentos
A dissertação apresenta implicações e reflexões tanto acadêmicas como
gerenciais. As contribuições acadêmicas envolvem: primeiro, o teste empírico de um modelo
teórico já estabelecido na literatura pertinente ao comportamento do consumidor; segundo, o
fato de a execução analítica ter utilizado uma técnica que ganha destaque em investigações
tanto nacionais como internacionais – a modelagem de equações estruturais – e que ainda
suscita discussões quanto à complexidade de seu uso; por último, a pesquisa buscou
compreender um tipo específico e incipiente de consumidor ainda pouco explorado na
literatura acadêmica nacional. Sob o ponto de vista gerencial, as contribuições que este estudo
fazem submergir envolvem o suporte na compreensão das variáveis determinantes do
comportamento de um mercado ainda considerado novo e, portanto, passível de expansão e
lucro econômico. Sugere, assim, aos agentes da cadeia produtiva, uma base para a
formulação, escolha e implementação de estratégias adequadas ao mercado local, dando
subsídios para que estes agentes (agricultores, fabricantes e varejistas) construam valor sobre
esses produtos direcionando esforços, inclusive de comunicação e de política de preços,
voltados para o que tem valor percebido para os consumidores.
O caráter multidisciplinar e contemporâneo característicos do consumo aqui
pesquisado sugere reflexões que vão além do consumo saudável, pois acaba por abranger, de
uma forma ou de outra, todo um sistema integrado, inclusive natural, político e social. Sugere-
se para pesquisas futuras a introdução de outras variáveis que possam influenciar direta ou
indiretamente o comportamento do consumidor frente aos produtos orgânicos.

115
REFERÊNCIAS
AERTSENS, J.; VERBEKE, W.; MONDELAERS, K.; HUYLENBROECK, Guido Van.
Personal determinants of organic food consumption: a review. British Food Journal. v. 111,
n. 10, pp. 1140-1167, 2009.
AJZEN, I. Consumer attitudes and behavior. In: HAUGTVEDT, C. P.; HERR, P. M.;
CARDES, F. R. (Eds.). Handbook of consumer psychology. New York: Lawrence Erlbaum
Associates, 2008. Cap. 20.
______. Nature and operation of attitudes. Annu. Rev. Psychol, v. 52, p. 27-58, 2001.
______. TPB diagram. 2006. Disponível em:
<www.people.umass.edu/aizen/tpb.diag.html#null-link>. Acesso em: 10 abr. 2011.
______. The theory of planned behavior. Organizational behavior and the human decision
process, v. 50, p. 179-211, 1991.
ALVES, L. Mapa Incentiva Produção de Orgânicos, 2010. Disponível em:
<http://www.prefiraorganicos.com.br/noticias/mapa-incentiva-producao-de-organicos-.aspx>.
Acesso em 29 fev.2011.
ALI, A.; KHAN, A. A.; AHMED, I. Determinants of Pakistani Consumers Green Purchase
Behavior: Some Insights from a Developing Country. International Journal of Business
and Social Science, v. 2, n. 3, p. 217-226, 2011.
ANDERSON, J.C.; GERBING, D.W. Structural equation modeling: A review and
recommended two-step approach. Psychological Bulletin, v.103, p. 411-423, 1988.
ANNETT, L.E.; MURALIDHARAN, V.; BOXALL, P.C.; CASH, S.B.; WISMER, W.V.
Influence of Health and Environmental Information on Hedonic Evaluation of Organic and
Conventional Bread. Journal of Food Science. v. 73, n. 4, 2008.
ARMITAGE, C. J., CHRISTIAN, J. From attitudes to behaviour: basic and applied research
on the Theory of Planned Behaviour. Current Psychology: Developmental, Learning,
Personality, Social, v. 22, n.3, p. 187-195, 2003.
ARVOLA, A.; VASSALLO, M.; DEAN, M.; LAMPILA, P.; SABA, A.; LAHTEENMAKI,
L.; SHEPHERD, R. Predicting intentions to purchase organic food: the role of affective and
moral attitudes in the theory of planned behaviour, Appetite, v. 50, pp. 443-454, 2008.
BADUE, A. F. B. A Inserção de hortaliças e frutas orgânicas na merenda escolar: as
potencialidades da participação e as representações sociais de agricultores de Parelhos/SP.
2007. 265 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2007.
BAGOZZI, R.P, YI, Y.; PHILLIPS, L.W. Assessing construct validity in organizational
research. Administrative Science Quarterly, 36, 421-458, 1991.

116
BAKER, S.; THOMPSON, K.E.; ELGENKEN, J.; HUNTLEY, K. Mapping the values
driving organic choice – Germany vs UK. European Journal of Marketing. v. 38, n. 8, pp.
995- 1012, 2004.
BARBOSA, L. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004.
BARCELLOS, M. D. ; AGUIAR, L. K.; FERREIRA, G.C.; VIEIRA, L.M. Willingness to
Try Innovative Food Products: a Comparison between British and Brazilian Consumers.
BAR- Brazilian Administration Review, Curitiba, v. 6, n. 1, art. 4, p. 50-61, Jan./Mar. 2009.
BASSILI, J.N.; ROY, J-P. On the representation of strong and weak attitudes about policy in
memory. Political Psychology. vol.19, pp. 669–681, 1998.
BAUDRILLARD, J. A Sociedade de Consumo. Lisboa: Ed. Edições 70, 2006.
BECKER, M. H.; MAIMAN, L. A.; KIRSCHT, J. P.; HAEFNER, D. P.; DRACHMAN, R.
H. The health belief model and prediction of dietary compliance: a field experiment. Journal
of Health and Social Behavior. v. 18, n. 4, pp. 348-66, 1977.
BEDANTE, G. N. A influência da consciência ambiental e das atitudes em relação ao
consumo sustentável na intenção de compra de produtos ecologicamente embalados.
2004. 159 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa
de Pós-Graduação em Administração, 2004.
BHATE, S.; LAWLER, K. Environmentally friendly products: Factors that influence their
adoption. Technovation, v. 17, n. 8, p. 457-465, 1997.
BLACKWELL, R. D.; MINIARD, P. W.; ENGEL, J. F. Comportamento do Consumidor.
São Paulo: Cengage Learning, 2009.
BRASIL. Lei nº 10831, de 23 de dezembro de 2003. Diário Oficial da República
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 dez. 2003. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10. 831.htm>. Acesso em 3 mar. 2011.
______. Decreto nº 6.323, de 27 de dezembro de 2007. Regulamenta a Lei nº 10.831, de 23 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica, e dá outras providências. Diário
Oficial da União, Brasília, 27 dez. 2007. Disponível em:
<http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do>. Acesso em:
10mar. 2011.
______. Portaria MAPA nº 104, de 16 de fevereiro de 2009. Diário Oficial da União, Poder
Executivo, Brasília, DF, 18 fev. 2009. Seção 1, p. 7. Disponível em:
<www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=7&data=18/02/2009>.
Acesso em: 10 mai. 2011.
______. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Coordenação de Agroecologia.
Mecanismos de controle para a garantia da qualidade orgânica. Brasília: MAPA/ACS,
2008a. 56 p.

117
______. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Desenvolvimento
Agropecuário e Cooperativismo. Controle social na venda direta ao consumidor de
produtos orgânicos sem certificação. Brasília: MAPA/ACS, 2008b. 24 p.
______. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Desenvolvimento
Agropecuário e Cooperativismo. Produtos orgânicos: sistemas participativos de garantia.
Brasília: MAPA/ACS, 2008c. 44 p.
BRINKMANN, J. Looking at Consumer Behavior in a Moral Perspective? Journal of
Business Ethics, v. 51, pp. 129-141, 2004.
BRITO, V. Semana de orgânicos foca a identificação dos produtos. Agência Sebrae de
Notícias. 05/11.
Disponível em: <http://www.agenciasebrae.com.br/noticia/11941390/agronegocios/semana-
de-organicos-foca-a-identificacao-dos-produtos/ >. Acesso em: 02 ago. 2011.
CACCIOPO, J. T.; GARDNET, M. P.; BERNSTON, G.G. The affect system has parallel
integrative processing components: Form follows function. Journal of Personality and
Social Psychology. v.76, p.839-855, 1999.
CAHILL, S.; MORLEY, K.; POWELL, D. A. Coverage of organic agriculture in north
America newspapers- media: linking food safety, the environment, human health and organic
agriculture. British Food Journal, v. 112, n. 7, pp. 710-722, 2010.
CAVALCANTE, A. Vendas de orgânicos crescem até 40% por ano no Estado. Diário do
Nordeste Online. Ed.: Fortal. Novembro de 2010.
Disponível em: < http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=885628>. Acesso
em: 2 fev. 2011.
CESCHIM, G. Comportamento inovador entre consumidores de produtos orgânicos.
2008. 280 f. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Programa
de Pós-Graduação em Administração, 2008.
CHEN, M. F. Consumer attitudes and purchase intentions in relation to organic foods in
Taiwan: moderating effects of food-related personality traits. Food Quality and Preference.
v. 18 n. 7, pp. 1008-1021, 2007.
_______. Attitude toward organic foods among Taiwanese as related to health consciousness,
environmental attitudes, and the mediating effects of a healthy lifestyle. British Food
Journal. v. 111, n. 2, pp. 165-178, 2009.
CHRYSSOHOIDIS, G; KRYSTALLIS, A. Organic consumers’ personal values research:
testing and validating the list of values (LOV) scale and implementing a value-based
segmentation task. Food Quality and Preference, v. 16, n. 7, pp. 585-99, 2005.
COOPER, D.R.; SCHINDLER, P.S. Métodos de pesquisa em administração. 10.ed. Porto
Alegre: Bookman, 2011.

118
COSTA, F.J.; LIMA, M.C.; MONTEFUSCO, D. Compromisso, Satisfação e Identificação
como Antecedentes do Comportamento de Boca a Boca: Uma Análise junto a Consumidores
de Alimentos Orgânicos. In: III Encontro de Marketing. Anais…Curitiba: ANPAD, 2008.
DEAN, M.; RAATS, M. M.; SHEPHERD, R. Moral concerns and consumer choice of fresh
and processed organic foods. Journal of Applied Social Psychology. v. 38, n. 8, p. 2088-
2107, 2008.
DIAS, R. Marketing ambiental: ética, responsabilidade social e competitividade nos
negócios. São Paulo: atlas, 2009.
DI NALLO, E. Meeting points. São Paulo: Cobra Editora e Marketing, 1999.
DUNLAP, R. E; SCARCE, R. The Polls-Poll Trends: Environmental Problems and
Protection. Public Opinion Quarterly, v. 55, p. 651-672, 1991.
ENGEL, J. F., BLACKWELL, R. D., MINIARD, P. W. Comportamento do consumidor.
Rio de Janeiro: LTC, 2000.
ESSOUSSI, L.H.; ZAHAF, M. Exploring the decision-making process of Canadian organic
food consumers: motivations and trust issues. Qualitative Market Research: an
international Journal, v.12, n.4, pp. 443-459, 2009.
FEATHERSTONE, M. Cultura de consumo e pós-modernismo. São Paulo: Studio Nobel,
1995.
FIGUEIREDO FILHO, D.; SILVA JR, J.A. Visão além do alcance: uma introdução à análise
fatorial. Opinião pública, Campinas, vol. 16, nº 1, p. 160-185, 2010.
FISHBEIN, M.; AJZEN, I. Belief, attitude, intention and behavior: an introduction to
theory and research. Reading, Massachussets: Adison-Wesley, 1975. Disponível em:
www.people.umass.edu/aizen/f&a1975.html>. Acesso em: 30 mai. 2011.
_______; _______. Attitudinal and normative variables as predictors of specific behaviors.
Journal of Personality and Social Psychology. vol. 27, n. 1, pp. 41-57, 1973.
FLORES, M. Produção de orgânicos deve crescer 40% em 2011. Agência Sebrae de
Notícias. 06/11. Disponível em:
<http://www.agenciasebrae.com.br/noticia/11962062/agronegocios/producao-de-organicos-
deve-crescer-40-em-2011/>. Acesso em: 02 ago. 2011.
FOTOPOULOS, C.; KRYSTALLIS, A. Organic product avoidance: reasons for rejection and
potential buyers identification in a countrywide survey. British Food Journal, v. 104, n.9,
pp. 730-65, 2002.
FOXALL, G. R. The Psychological Basis of Marketing. In: Marketing Theory – A Student
Text, London: Thomson Learning, 2000, p. 86-101.

119
FREIRE, R. S.; PELEGRINI, R.; KUBOTA, L. T.; DURÁN, N.; PERALTA-ZAMORA, P.
Novas tendências para o tratamento de resíduos industriais contendo espécies organocloradas.
Química Nova, vol. 23, n. 4, jul/ago 2000. Disponível em:
<http://quimicanova.sbq.org.br/qn/qnol/2000/vol23n4/v23_n4_%2812%29.pdf>. Acesso em:
09 nov. 2010.
GANDRA, A. Orgânicos tentam novos mercados em feira no RJ. Sustentabilidade.
23/03/2010. Disponível em:< http://exame.abril.com.br/economia/meio-ambiente-e-
energia/noticias/organicos-tentam-novos-mercados-feira-rj-542574>. Acesso em: 1 mar.2011.
GERBING, D. W.; ANDERSON, J. C. An updated paradigm for scale development
incorporating unidimensionality and its assessment. Journal of Marketing Research, v.25,
p.186-192, 1988.
GIL, J.M.; GRACIA, A.; SANCHEZ, M. Market segmentation and willingness to pay for
organic products in Spain. International Food and Agribusiness Management Review, v.
3, pp. 207-26, 2000
GRUPO DE CONSUMIDORES RESPONSÁVEIS DO BENFICA. 1º ano de Feira
Agroecológica. 2011.
Disponível em: < http://consumidoresresponsaveis.blogspot.com/2011_03_01_archive.html>.
Acesso em: jun. 2011.
GUILLON, F.; WILLEQUET, F. Les aliments santé: marché porteur ou bulle marketing? In:
Déméter 2003. Economie et strategies agricoles. Agriculture et Alimentation. Paris: Armand
Colin, 2003. In: GUIVANT, J. S. Os supermercados na oferta de alimentos orgânicos:
apelando ao estilo de vida ego-trip. Ambiente & sociedade. Campinas, Unicamp. v.6, n.2,
pp.63 - 82, 2003.
GUIVANT, J. S. Os supermercados na oferta de alimentos orgânicos: apelando ao estilo de
vida ego-trip. Ambiente & sociedade. Campinas, Unicamp. v.6, n.2, pp.63-82, 2003.
______; TOMIELLO, N. Ambivalência na comunicação das estratégias de sustentabilidade:
uma análise da cadeia de valor da Wal-Mart na perspectiva global, nacional e local.
Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas, v. 9, n. 95, p. 55-78, 2008.
HAIR JR, J. F.; WOLFINBARGER, M. F.; ORTINAU, D. J.; BUSH, R. P. Fundamentos de
pesquisa de marketing. Porto Alegre: Bookman, 2010.
_______; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L.; BLACK, W. C. Análise multivariada de
dados. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.
HANSEN, T.; MUKHERJEE, A.; THOMSEN, T. U. Anxiety and search during food choice:
the moderating role of attitude towards nutritional claims. Journal of Consumer Marketing.
v. 28, n.3 , pp. 178–186, 2011.
HARPER, G.; MAKATOUNI, A. Consumer perception of organic food production and farm
animal welfare, British Food Journal, v. 104, n. 3-4-5, pp. 287-99, 2002.

120
HAYES, D.; ROSS, C. E. Concern with Appearance, Health Beliefs, and Eating Habits.
Journal of Health and Social Behavior, v. 28, pp.120-130, 1987.
HOLBROOK, M. B. What is Consumer Research? Journal of Consumer Research, v.14,
p.128-132, 1987.
HOPPE, A. Comportamento do Consumidor de produtos orgânicos em Porto Alegre em
dois canais de distribuição. 2010. 130 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade do Vale do
Rio dos Sinos, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2010.
HOWARD, A. Um testamento agrícola. São Paulo: Expressão Popular, 2007.
INTERNATIONAL FEDERATION OF ORGANIC AGRICULTURE MOVEMENTS
(IFOAM), (2009). Global statistics of the Organic Market. Disponivel em:
http://www.envedu.gr/Documents/Global%20statistics%20of%20the%20Organic%20Market.
pdf. Acesso em: jan. 2011.
INSTITUTO BIODINÂMICO. 2011.Disponível em:
<http://www.ibd.com.br/Certificacao_Default.aspx?categoria=INFOAM&ling=PORTU>.
Acesso em: 8 ago. 2011.
JACKSON, T. Live better by consuming less: is there a double dividend in sustainable
consumption. Journal of Industrial Ecology, v. 9, n 1-2, p. 19-36, 2005.
JANSSON, J.; MARELL, A.; NORDLUND, A. Green consumer behavior: determinants of
curtailment and eco-innovation adoption. Journal of Consumer Marketing. v. 27, n. 4, pp.
358-370, 2010.
JIMÉNEZ, J. B.; LORENTE, J. J. C. Environmental performance as an operations objective.
International Journal of Operations & Production Management, v. 21, n. 12, 2001.
JONES, P.; CLARKE-HILL, C.; SHEARS, P.; HILLIER, D. Case study - Retailing organic
foods, British Food Journal, v. 103, n. 5, pp. 358-365, 2001.
KALAFATIS, S. P.; POLLARD, M; EAST, R.; TSOGAS, M.H. Green marketing and
Ajzens’s theory of planned behaviour: a cross-market examination. Journal of Consumer
Marketing. v. 16, n. 5, pp. 441-460, 1999.
KEMP, E.; KOPP, S.W. Emotion regulation consumption: when feeling better is the aim.
Journal of Consumer Behaviour, v. 10, pp. 1–7, 2011.
KERLINGER, F. N. Foundations of behavioral research. New York : Holt, Rinehart and
Winston, Inc. 1964.
KIM, H. Y.; CHUNG, J-E. Consumer purchase intention for organic personal care products.
Journal of Consumer Marketing. v. 28, n. 1, pp. 40-47, 2011.

121
KRISCHKEL, P. J.; TOMIELLO, N. O comportamento de compra dos consumidores de
alimentos orgânicos: um estudo exploratório. Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em
Ciências Humanas, Florianópolis, v. 10, n. 96, p. 27-43, 2009.
KUMAR, A.; DILLON, W. R. Some further remarks on measurement-structure interaction
and the unidimensionality of constructs. Journal of Marketing Research, v. 24, p.438-444,
1987.
LACERDA, T. S. Teorias da ação e o comportamento do consumidor: alternativas e
contribuições aos modelos de Fishbein e Ajzen. In: ENCONTRO NACIONAL DOS
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 31, 2007, Rio de Janeiro,
Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2007.
LATTIN, J.M.; CARROL, D.; GREEN, P. E. Análise de dados multivariados. São Paulo:
Cengage Learning, 2011.
LOCKIE, S.; LYONS, K.; LAWRENCE, G.; MUMMERY, K. Eating ‘green’ motivations
behind organic food consumption in Australia. Sociologia Ruralis. v. 42 n. 1, pp. 23-40,
2002.
MAGKOS, F.; ARVANITI, F.; ZAMPELAS; A. Organic Food: buying more safety or just
peace of mind? A critical review of the literature. Critical Reviews in Food Science and
Nutrition, v. 46, pp. 23–56, 2006.
MAGNUSSON, M. K.; ARVOLA, A.; KOIVISTO HURSTI, U-K.; ABERG, L.; SJÖDÉN,
P.-O. Choice of organic foods is related to perceived consequences for human health and to
environmentally friendly behaviour. Appetite, v. 40, pp. 109–117, 2003.
MAHÉ, T. Are stated preferences confirmed by purchasing behaviours? The case of fair
trade-certified bananas in Switzerland. Journal of Business Ethics. v. 92, Supplement 2, pp.
301-315, 2010.
MALHOTRA, N. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 6.ed. Porto Alegre:
Bookman, 2012.
MARSDEN, D. Deconstructing consumer behaviour: theory and practice. Journal of
Consumer Behaviour. v.1, n. 1, pp. 9-21, 2001.
MATIAS, B. Brasil pode ser porta de entrada de orgânicos. 07/11. Agência Sebrae de
notícias.
Disponível em: http://www.agenciasebrae.com.br/noticia/12147288/agronegocios/brasil-
pode-ser-porta-de-entrada-de-organicos/>. Acesso em 01 ago. 2011.
MATHUR, A. Examining Trying as a Mediator and Control as a Moderator of Intention-
Behavior Relationship. Psychology & Marketing, v. 15, n. 3, p. 241-259,1998.

122
MATIAS, B. Sebrae investirá R$ 27 mi na cadeia de orgânicos até 2013. Disponível em:
http://exame.abril.com.br/pme/noticias/sebrae-investira-r-27-mi-na-cadeia-de-organicos-ate-
2013 . Acesso em: 25 fev.2011.
MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing: metodologia, planejamento. 6.ed. São Paulo: Atlas,
2005.
MORO, E. J. . Análise das estratégias desempenhadas pelo setor supermercadista no Brasil
para a venda de FLV orgânicos. Revista Tecnologia e Sociedade, v. 5, p. 103-125, 2008.
MOWEN, J. C.; MINOR, M. S. Comportamento do consumidor. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2003.
MOURA, L. R. C.; MOTEIRO, E. R.; MOURA, L. E. L.; CUNHA, N. R. S. A percepção
dos atributos dos alimentos orgânicos por parte dos consumidores. Revista eletrônica de
Gestão de Negócios, v. 6, n. 2, abr.-jun./2010. Disponível em: <
http://www.unisantos.br/mestrado/gestao/egesta/artigos/218.pdf>. Acesso em: 09. Jul. 2011.
MOSTAFA, M. M. Antecedents of Egyptian Consumers' Green Purchase Intentions. Journal
of International Consumer Marketing, v. 19, n. 2, p. 97-126, 2006.
NIGGLI, U. New logo selected for all EU organic products. Disponível em:
<http://www.fibl.org/en/service-en/news-archive/news/article/new-logo-selected-for-all-eu-
organic-products.html> 2010. Acesso em: 15 ago. 2011.
NOSSO FUTURO COMUM/Comissão Municipal sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1991.
OLIVEIRA, R. S. Análise da estrutura dos canais de distribuição de produtos orgânicos e
de comércio justo em Fortaleza/CE. 2011. 105 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade
Federal do Ceará, Fortaleza, 2011
OPINIÃO DO ESPECIALISTA. Diário do Nordeste Online. Nov. 2010. Disponível em:
< http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=885628>. Acesso em: 2.fev. 2011.
ORMOND, J. G. P.; PAULA, S. R. L. de; FAVERET FILHO, P.; ROCHA, L. T. M. da.
Agricultura orgânica: quando o passado é futuro. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 15, p.
3-34, 2002. Disponível em: <www.bndes.gov.br/conhecimento/bnset/set1501.pdf>. Acesso
em: 06 mai. 2011.
ÖZCELIK, A. Ö.; UÇAR, A. Turkish academic staffs' perception of organic foods. British
Food Journal. v. 110, n. 9, pp. 948 - 960, 2008.
PADEL, S.; FOSTER, C. Exploring the gap between attitudes and behaviour - understanding
why consumers buy or do not buy organic food. British Food Journal. v. 107, n. 8, pp. 606-
25, 2005.
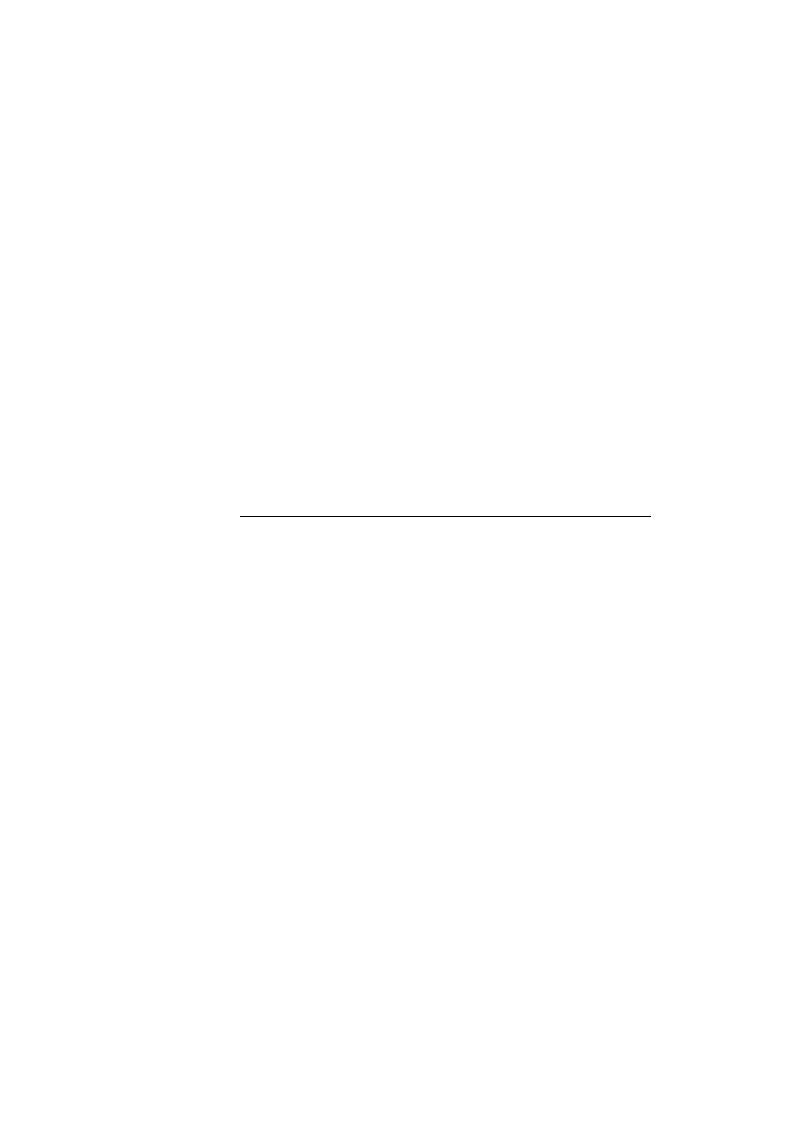
123
PERIN, M. G. A relação entre orientação para mercado, aprendizagem organizacional e
performance. Porto Alegre. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em
Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002.
PINTO, M. R; LARA. J. E. O que se publica sobre comportamento do consumidor no Brasil,
afinal? Revista de Administração da UFSM, Santa Maria, v. I, n. 1, p. 85-100, jan./abr.
2008.
_______. A Teoria do Comportamento Planejado (TCP) e o Índice de Disposição de Adoção
de Produtos e Serviços Baseados em Tecnologia (TRI): Uma Interface Possível? Revista
Gestão & Tecnologia, Pedro Leopoldo, v. 7, n. 2, p. 1-13, ago./dez. 2007.
PLANETA ORGÂNICO. Quem certifica. Disponível em: www.planetaorganico.com.br>.
Acesso em: 8 ago. 2011.
PORTILHO, F.; CASTANEDA, M.; CASTRO, I.R.R. A alimentação no contexto
contemporâneo: consumo, ação política e sustentabilidade. Ciência e Saúde Coletiva, v. 16,
n.1, pp. 99-106, 2011.
PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS NÃO ATENDE À DEMANDA DE CONSUMO. Diário do
Nordeste Online. Regional. 18 jul. 2011.
Disponível em: < http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1012724>. Acesso
em: ago. 2011.
RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3.ed. São Paulo: atlas, 2009.
RIEFER, A.; HAMM, U. Organic food consumption in families with juvenile children.
British Food Journal. v. 113, n. 6, pp. 797-808, 2011.
RITSCHEL, E. Empresários destacam oportunidades em feira de orgânicos. 07/11. Agência
Sebrae de Notícias. Disponível em:
<http://www.agenciasebrae.com.br/noticia/12089744/ultimas-noticias/empresarios-destacam-
oportunidades-em-feira-de-organicos/>. Acesso em: 02 ago. 2011.
ROBLES JUNIOR, A.; BONELLI, V. V. Gestão da Qualidade e do meio ambiente:
enfoque econômico, financeiro e patrimonial. São Paulo: Atlas, 2006.
RODRIGUES, R. R.; CARLOS, C. DE C.; MENDONÇA, P. S. M.; CORREA, S. R. A.
Atitudes e fatores que influenciam o consumo de produtos orgânicos no varejo. REMark -
Revista Brasileira de Marketing, São Paulo, v. 8, n. 1, p 164-186, jan./jun. 2009.
ROUSSEAU, F. M.; SITKIN, S. B. ; BURT, R. S. ; CAMERER, C. Not so different after all:
a cross-discipline view of trust. The Academy of Management Review, v. 23, p. 393-404,
1998.
SABA, A.; MESSINA, F. Attitudes towards organic foods and risk/benefit perception
associated with pesticides. Food Quality and Preference. v. 14, pp. 637- 645, 2003.
SAHER, M.; LINDERMAN, M.; ULLA-KAISA, K. H. Attitudes towards genetically
modified and organic foods. Appetite. v.46, pp. 324-331, 2006.

124
SALES, I. Novas regras para orgânicos. 26.01.2011. Disponível em: <
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=923134>. Acesso em 8 mar. 2011.
SANTOS, D. O.; VEIGA, R. T.; MOURA, L. R. C. Teoria do comportamento planejado
decomposto: determinantes de utilização do Serviço Mobile Banking. Organizações em
contexto, Ano 6, n. 12, julho-dezembro, 2010.
SCHIFFERSTEIN, H. N. J.; OUDE OPHUIS, P. A. M. Health-related determinants of
organic food consumption in The Netherlands. Food Quality and Preference, v. 9, pp. 119-
33, 1998.
SETH, J.N; MITTAL, B.; NEWMAN, B. I. Comportamento do cliente: indo além do
comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas, 2001. 795 p.
_______; GARDNER, D. M.; GARRETT, D. E. Marketing theory: evolution and
evaluation. New York: John Wiley & Sons, 1988.
SHAHARUDIN, M. R.; MANSOR, J. W.; ELIAS, S. J. Purchase Intention of Organic Food;
Perceived Value Overview. Canadian Social Science. v. 6, n. 1, pp. 70-79, 2010.
SILVA, J. S. Modelagem de Equações Estruturais: apresentação de uma metodologia.
2006. 105 f. Dissertação (Mestrado) em Engenharia de Produção - Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Produção, UFRGS, Porto Alegre, 2006.
SILVA FILHO, J. C. L. Medindo uma Nova Percepção do Meio Ambiente: a Escala do Novo
Paradigma Ecológico. Educação Ambiental em Ação, v. 21, p. 505, 2007.
SOLOMON, M. Comportamento do consumidor: comprando, possuindo e sendo. 9. ed.
Porto Alegre: Bookman, 2011.
SOUSA, A. A.; LIMA FILHO, D. O. ; ARAUJO, G. C . Perfil do consumidor de alimentos
orientado para saúde no Brasil. In: XXXI EnANPAD - Encontro da ANPAD, 2007,
Anais...Rio de Janeiro. XXXI EnANPAD - Encontro da ANPAD. Rio de Janeiro, 2007. v.
XXXI.
SPARKS, P.; GUTHRIE, C. A.; SHEPHERD, R. The dimension structure of the ‘‘perceived
behavioral control” construct. Journal of Applied Social Psychology, v. 27, pp. 418–440,
1997.
STERN, P.C. Toward a coherent theory of environmentally significant behavior. Journal of
Social Issues, v. 56, n. 3, pp. 407- 424, 2000.
TARRANT, M.; CORDELL, K. The effects of respondent characteristics on environmental
attitude-behavior correspondence. The Journal of Environmental Education, v. 29, p. 618-
637, 1997.

125
THØGERSEN, J. Predicting consumer choices of organic food: results from the CONDOR
project. In: JOINT ORGANIC CONGRESS, 2006, Odense, Denmark. Anais eletrônicos...
Odense: JOC, 2006. Disponível em:
<http://orgprints.org/8068/01/Predicting_consumer_choices-CONDOR.pdf>. Acesso em: 09.
set. 2011.
TOMIELLO, N.; KRISCHKE, P. O comportamento de compra dos consumidores de
alimentos orgânicos: um estudo exploratório. Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em
Ciências Humanas, v. 10, n. 96, p. 27-43, 2009.
TSAKIRIDOU, E.; BOUTSOUKI, C.; ZOTOS, Y.; MATTAS, K. Attitudes and behavior
towards organic products: an exploratory study. International Journal of Retail &
Distribution Management, v. 36, n. 2, pp. 158-175, 2008.
VARIAN, H. R. Microeconomia: princípios básicos. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 12. ed. São Paulo:
Atlas, 2010.
VIEIRA, P. R. C. O consumidor sob a ótica sócio-psicológica: avaliação de modelo
comportamental com equações estruturais. Perspectivas Contemporâneas, v. 2, p. 1-20,
2007.
VIEIRA, L. M. O impacto das normas alimentares públicas e privadas na coordenação da
cadeia da carne bovina: um estudo exploratório. RAUSP – Revista de Administração, São
Paulo, v.41, n. 1, p. 69-80, 2006.
VILAS BOAS, L. H. B; PIMENTA, Márcio L.; SETTE, Ricardo de S. Percepções no
consumo de alimentos orgânicos em supermercados: a influência de valores individuais como
determinante de compra. Organizações Rurais & Agroindustriais, Lavras, v. 10, n. 2, pp.
264-278, 2008.
WANDEL, M.; BUGGE, A. Environmental concern in consumer evaluation of food quality.
Food Quality and Preference. v. 8, n. 1, pp. 19-26, 1997.
WEBSTER JR., F.E. Determining the characteristics of the socially conscious consumer.
Journal of Consumer Research, v. 2, n. 3, p. 188-196, 1975.
WIER, M.; CALVERLEY, C. Market potential for organic food in europe. British Food
Journal, v. 104, n. 1, pp. 45-62, 2002.
WILLER, H.; KILCHER, L. (org.).The World of Organic Agriculture. Statistics and
Emerging Trends: IFOAM, Bonn, & FiBL, Frick , 2011.
WILSON, T.D.; LINDSEY, S.; SCHOOLER, T.Y. A model of dual attitudes. Psychol. Rev.
vol. 107, p. 101- 126, 2000.
WINTER, C. K.; DAVIS, S. F. Organic Foods. Journal of Food Science, v. 71, n.9, pp. 117-
124, 2006.

126
ZAKOWSKA-BIEMANS, S. Polish consumer food choices and beliefs about organic food.
British Food Journal. v.113, n. 1, pp. 122-137, 2011.
ZANOLI, R.; NASPETTI, S. Consumer motivations in the purchase of organic food – a
means-end approach. British Food Journal, v. 104, n. 8, pp. 643-53, 2004.
ZAMBERLAN, L.; BÜTTENBENDER, P. L.; SPAREMBERGER, A. O Comportamento
do Consumidor de Produtos Orgânicos e Seus Impactos nas Estratégias de Marketing.
In: ENCONTRO DA ANPAD, 30, 2006, Salvador, Brasil. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD,
2006.
ZHAO, X.; CHAMBERS IV, E.; MATTA, Z.; LOUGHIN, T. M.; CAREY, E. E. Consumer
Sensory Analysis of Organically and Conventionally Grown Vegetables. Journal of food
science. v. 72, n. 2, 2007.

127
APÊNDICE A
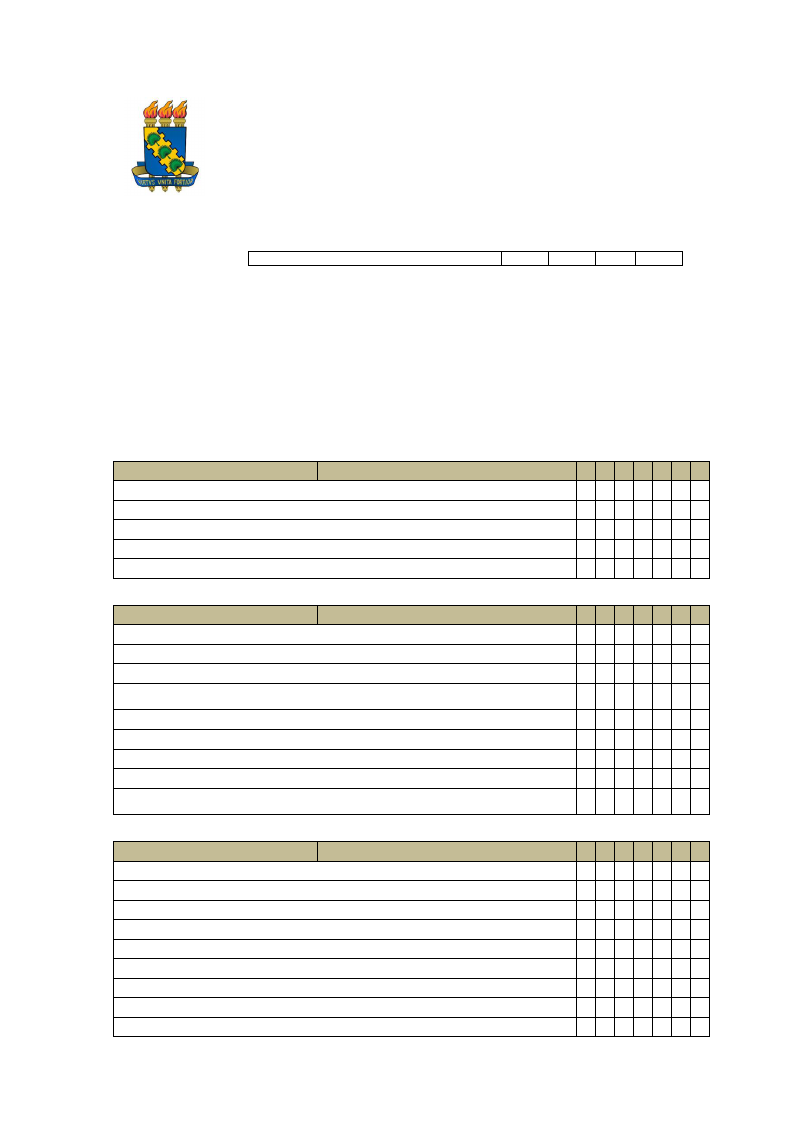
128
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E CONTABILIDADE
MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA - MAAC
QUESTIONÁRIO
Questão-Filtro
O (a) senhor(a) consome alimentos orgânicos?
Sim
Não
Este questionário faz parte uma dissertação de mestrado da Universidade Federal do Ceará. O objetivo da pesquisa envolve
descobrir um pouco mais sobre o consumidor de alimentos orgânicos de nossa cidade. Agradecemos, desde já, a sua colaboração e
atenção para com o nosso trabalho.
O questionário é composto por 09 (nove) blocos, e respondê-lo tomará apenas alguns minutos do seu tempo. Não será
necessário identificar-se. Por gentileza, responda-o até o final. Informamos que as respostas serão analisadas conjuntamente com as de
outros respondentes, sendo descartado o uso das informações fornecidas aqui para outros fins que não acadêmicos.
*****
Por favor, indique a resposta que melhor expressa o quanto você discorda ou concorda com cada afirmação a seguir. Não há
respostas certas ou erradas, queremos apenas saber a sua opinião.
BLOCO 1
1 = discordo totalmente
7= concordo totalmente
1. O desenvolvimento atual está destruindo o meio ambiente.
2. Prefiro consumir produtos reciclados.
3. Faço a coleta seletiva do meu lixo.
4. A menos que façamos algo, os danos ambientais serão irreversíveis.
5. Pratico ações de preservação ambiental.
1234567
BLOCO 2
1 = discordo totalmente
7= concordo totalmente
1. É importante para mim que a comida que eu consumo diariamente me mantenha saudável.
2. Eu realmente não fico pensando o tempo todo se tudo o que eu faço é saudável.
3. É importante para mim que a comida que eu consumo diariamente seja nutritiva.
4. É importante para mim que a comida que eu consumo diariamente seja boa para minha pele,
dentes, cabelo.
5. Acredito que seja importante saber bem como se alimentar de maneira saudável.
6. Tenho a impressão de que as outras pessoas prestam mais atenção à sua saúde do que eu.
7. Não fico o tempo todo me perguntando se as coisas que eu como são boas pra mim.
8. Tenho a impressão que eu me sacrifico muito em prol da minha saúde.
9. Estou preparado para abdicar de muitas coisas e me alimentar da maneira mais saudável
possivel.
1234567
BLOCO 3
1 = discordo totalmente
7= concordo totalmente
1. Alimentos orgânicos são mais saudáveis.
2. Alimentos orgânicos têm qualidade superior.
3. Alimentos orgânicos são uma fraude.
4. Alimentos orgânicos são mais gostosos.
5. Alimentos orgânicos são piores que os alimentos convencionais.
6. Alimentos orgânicos são mais caros.
7. Alimentos orgânicos são mais bonitos
8. Alimentos orgânicos não fazem mal.
9. Alimentos orgânicos são apenas moda.
1234567
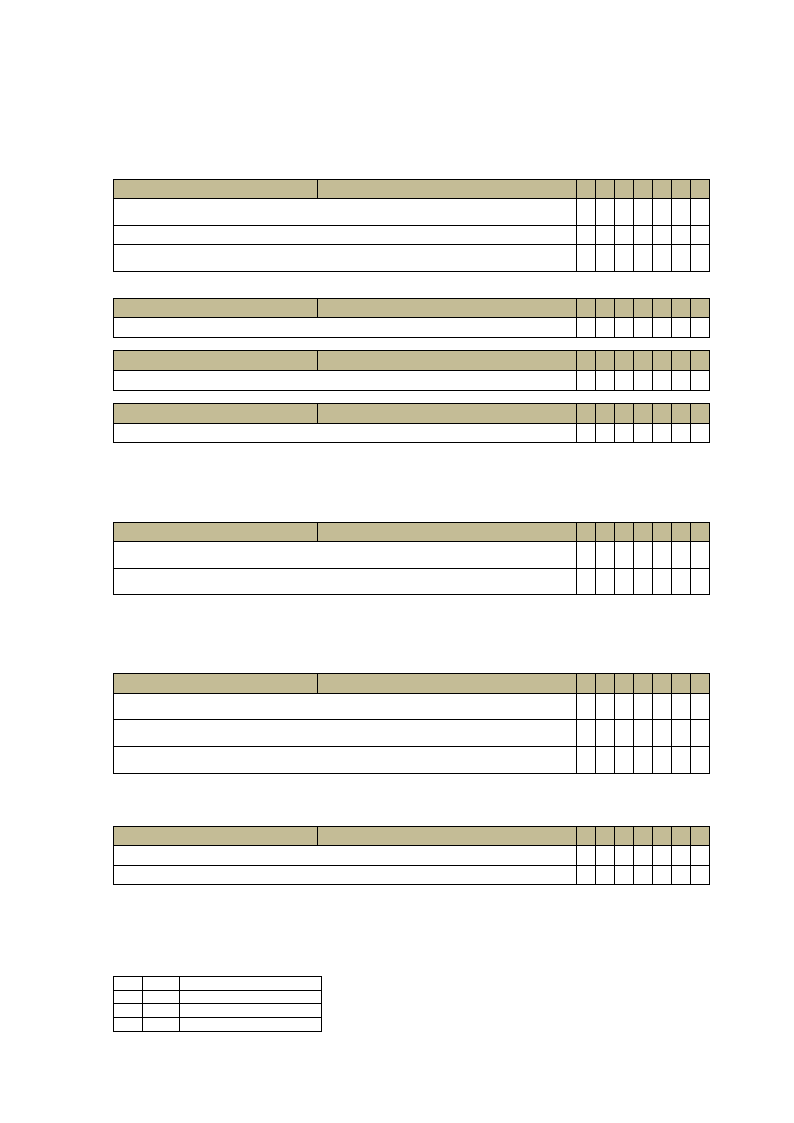
129
Indique a resposta que melhor expressa sua opinião com cada afirmação a seguir. Lembramos que não há respostas certas ou erradas,
queremos apenas saber a sua opinião. IMPORTANTE: a sigla "FLV", nas afirmações que seguem nesta página, refere-se às Frutas,
Legumes e Verduras.
BLOCO 4
1.
2.
3.
1 = discordo totalmente
7= concordo totalmente
Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais me faria sentir que estou fazendo algo
“politicamente correto”.
Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais me faria sentir uma pessoa melhor.
Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais faria eu me sentir como se estivesse
contribuindo para algo melhor.
1234567
1 = danoso
7= benéfico
4. Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais seria...
1 = tolice
7= sábio
5. Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais seria...
1 = insatisfeito
7= satisfeito
6. Comprar FLV orgânicas ao invés dos convencionais me faria sentir...
1234567
1234567
1234567
BLOCO 5
Indique a opção que, em sua opinião, melhor preenche as afirmações abaixo.
1 = definitivamente evitar
7= definitivamente comprar
1. A maioria das pessoas que são importantes para mim acham que eu
deveria__________________ alimentos orgânicos.
2. Grande parte das pessoas próximas a mim acham que eu deveria _________________
alimentos orgânicos.
1234567
BLOCO 6
Indique a resposta que melhor expressa o quanto você discorda ou concorda com cada afirmação a seguir.
1 = discordo totalmente
7= concordo totalmente
1. Se frutas, legumes e verduras orgânicos estiverem disponíveis para compra, nada me
impediria de comprá-los, caso eu quisesse.
2. Eu tenho total controle sobre uma eventual compra de frutas, legumes e verduras
orgânicos.
3. Se eu quisesse, eu poderia facilmente comprar frutas, legumes e verduras orgânicas ao
invés dos convencionais.
1234567
BLOCO 7
1 = absolutamente não
7= absolutamente sim
1. Eu planejo consumir FLV orgânicos em breve.
2. Eu pretendo comprar FLV orgânicos nos próximos quinze dias.
1234567
BLOCO 8
Dentre as alternativas abaixo, escolha a que melhor descreve a freqüência com que você compra frutas, legumes e verduras (FLV)
orgânicos.
1.
Diariamente
2.
Semanalmente
3.
De vez em quando
4.
Raramente
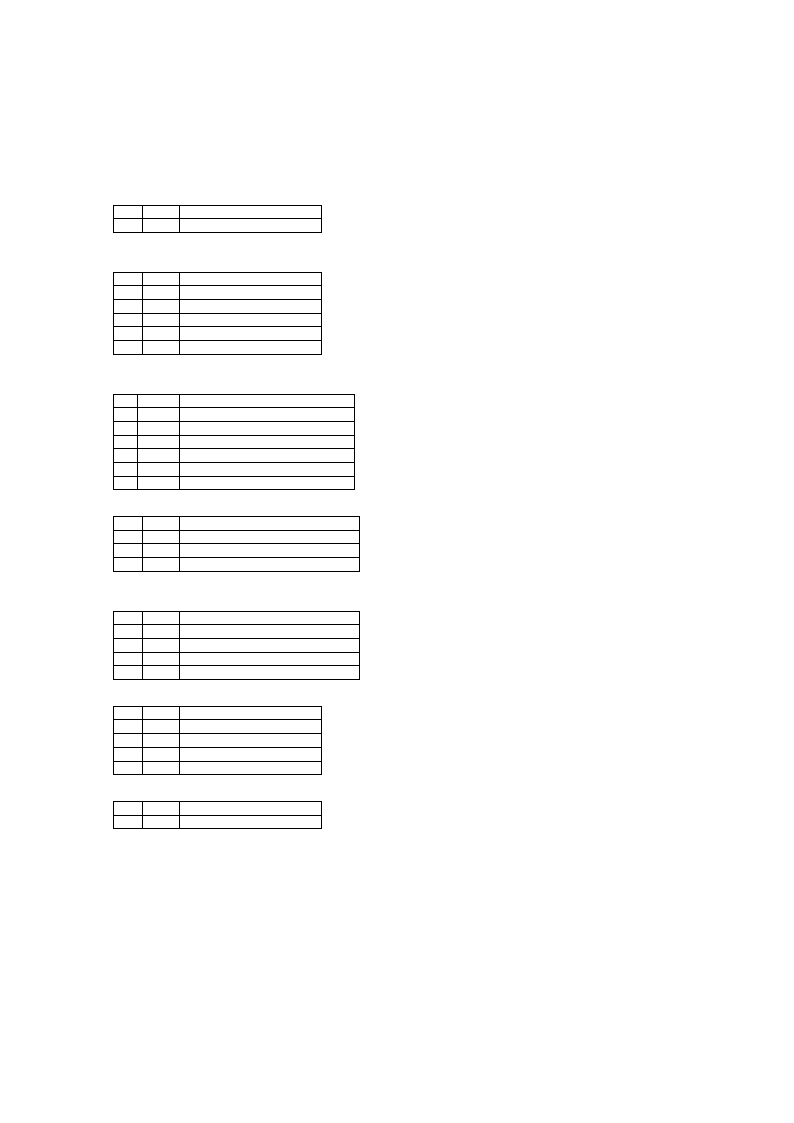
130
BLOCO 9
Este é o último bloco do questionário. Suas respostas nos ajudarão a generalizar corretamente os resultados desta pesquisa. Lembramos
que suas respostas serão tratadas com sigilo e processadas conjuntamente com as de outros respondentes, logo, os dados não serão
utilizados individualmente.
1. Qual o seu Sexo?
1.
Feminino
2.
Masculino
2. Qual a sua idade atual?
1.
18 a 25
2.
26 a 35
3.
36 a 45
4.
46 a 55
5.
56 a 65
6.
Mais de 65
3. Qual das categorias abaixo representa o seu grau de escolaridade atual?
1.
Fundamental
2.
Fundamental incompleto
3.
Ensino Médio
4.
Ensino Médio incompleto
5.
Superior
6.
Superior incompleto
7.
Pós-graduação
4.Qual o seu estado civil?
1.
Solteiro (a)
2.
Casado (a)
3.
Separado ou divorciado (a)
4.
Viúvo (a)
5. Quais das categorias abaixo incluem a sua renda familiar mensal?
1.
Até 1.000, 00
2.
De 1.001, 00 a 3.000,00
3.
De 3.001,00 a 5.000,00
4.
De 5.001,00 a 7.000,00
5.
Mais de 7.001,00
6. Quantas pessoas, incluindo você, moram na sua residência?
1.
1 pessoa
2.
2 pessoas
3.
3 pessoas
4.
4 pessoas
5.
Mais de 4 pessoas
7. Local onde compra frutas, legumes e verduras orgânicos:
1.
Feira Agroecológica
2.
Supermercado
Obrigado por sua participação!
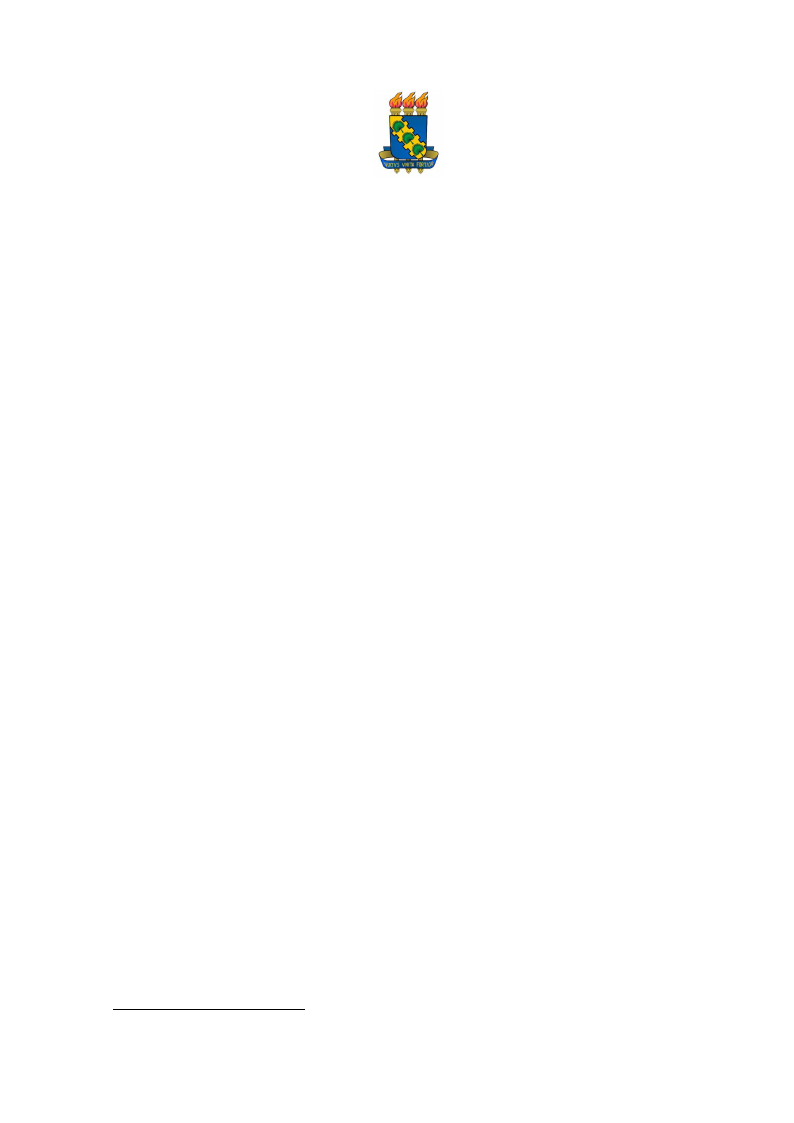
131
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE E
SECRETARIADO EXECUTIVO
MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA – MAAC
Venho por intermédio desta, apresentar Edmilson Pinto de Albuquerque Júnior, aluno do
Curso de Mestrado Acadêmico em Administração e Controladoria, da linha de pesquisa
“Organizações, Estratégia e Sustentabilidade”, matriculado no Programa de Pós-Graduação em
Administração e Controladoria da Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e
Secretariado Executivo (FEAAC) da Universidade Federal do Ceará, sendo por mim orientado.
O aluno está realizando a pesquisa “O Comportamento do Consumidor de Alimentos
Orgânicos em Fortaleza - CE”, que tem por objetivo: investigar traços comportamentais
predominantes do consumidor de alimentos orgânicos em Fortaleza - CE. A fim de darmos
prosseguimento à mesma, solicitamos a esta organização autorização no sentido de que possa ser dado
início a etapa de pesquisa de campo, que inclui a aplicação de questionário com o público consumidor
de frutas, legumes e verduras orgânicas de seu supermercado.
A aplicação, com sua autorização concedida, dar-se-á entre os dias 23 de janeiro e 10 de
fevereiro de 2012. Os questionários serão aplicados por pesquisadores treinados, membros da
“INOVA – Inteligência em Negócios”, organização jurídica composta por alunos da Universidade
Federal do Ceará.
Desta forma, aguardamos contato para o mais breve possível, nos telefones2 abaixo
descriminados, deixando registrados desde já nossos sinceros sentimentos de estima e consideração.
Fortaleza, 18 de janeiro de 2012
_______________________________________________
Prof. Dr. José Carlos Lázaro da Silva Filho
Professor no Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria (PPAC- UFC)
Av. da Universidade 2431, Benfica, Fortaleza, CE 60020-180
2 Edmilson Albuquerque Júnior: (85) 9993 3314.
Prof. Dr. José Carlos Lázaro da Silva Filho: (85) 9618 6229.
