
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE (PPGC)
MESTRADO ACADÊMICO
ANDERSON RODRIGO QUOOS
STAKEHOLDERS PRIORITÁRIOS E A ECOLOGIA PROFUNDA: AS
CONTRADIÇÕES REVELADAS PELAS DIVULGAÇÕES AMBIENTAIS NOS
RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE
CASCAVEL-PR.
2021

Anderson Rodrigo Quoos
STAKEHOLDERS PRIORITÁRIOS E A ECOLOGIA PROFUNDA: AS
CONTRADIÇÕES REVELADAS PELAS DIVULGAÇÕES AMBIENTAIS NOS
RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE
Dissertação apresentada ao Programa de Pós
Graduação em Contabilidade (PPGC) da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
como requisito parcial para obtenção do grau de
Mestre em Contabilidade.
Linha de Pesquisa: Contabilidade Financeira e
Finanças.
Orientador: Professor Doutor. Aládio Zanchet.
CASCAVEL-PR.
2021
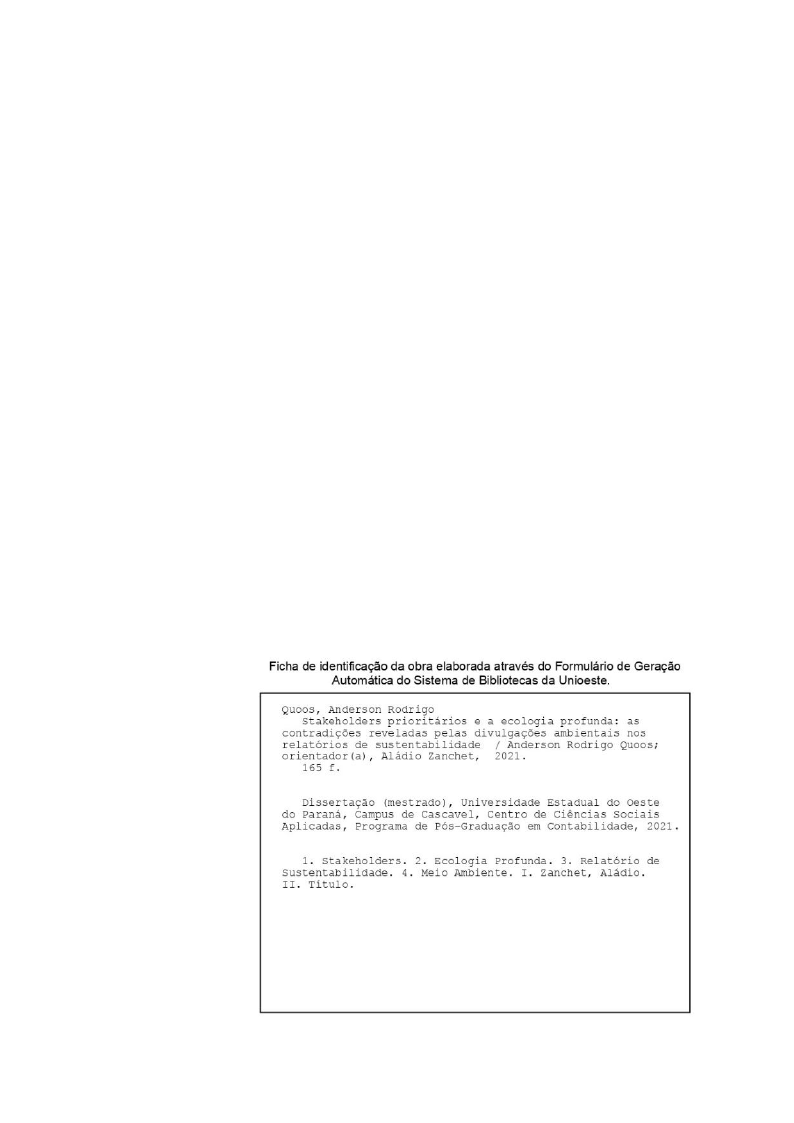

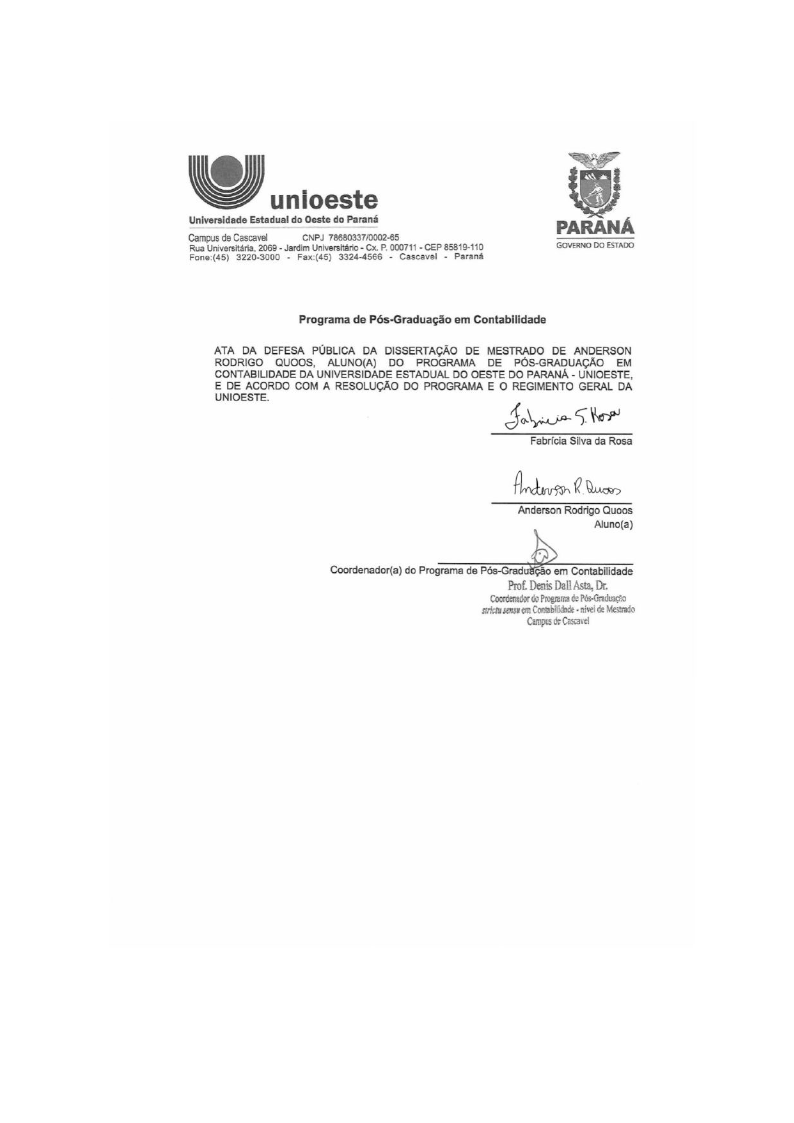

Dedico essa dissertação a Deus primeiramente,
por ter me proporcionado esta oportunidade e à
minha esposa e família, por terem me apoiado
incondicionalmente.
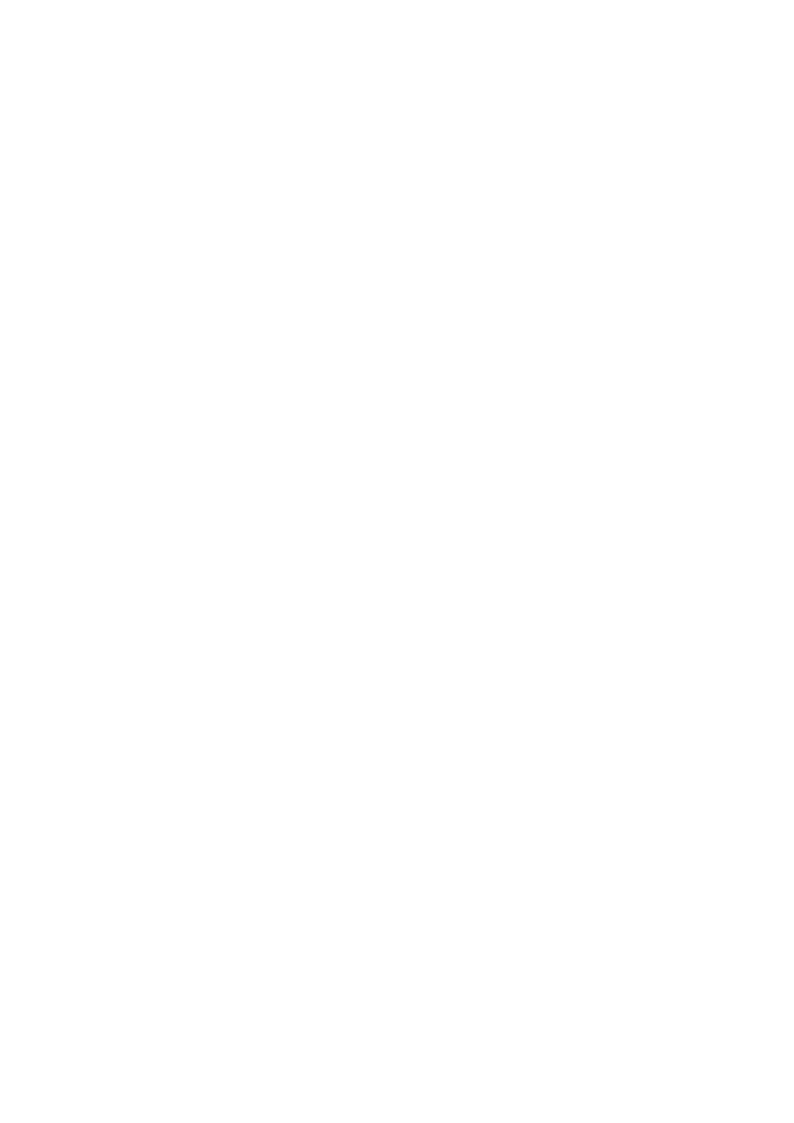
AGRADECIMENTOS
A Deus, por ter me oportunizado uma vida repleta de aprendizados, por ter me protegido
durante as viagens e sempre dando-me força, para enfrentar os desafios que surgiram pelo
caminho. MUITO OBRIGADO SENHOR!!
À minha esposa, por sempre estar me esperando no retorno das aulas, com aquele sorriso que
somente ela tem e pela compreensão durante este período.
Aos meus familiares e em especial aos meus pais, que sempre me apoiaram nas decisões
tomadas.
Ao professor Aládio Zanchet, meu orientador, pelas orientações com o objetivo de
desenvolver meu trabalho, para que pudéssemos, juntos, chegar até aqui.
Aos membros da minha banca, professor Martin Airton Wissmann e a professora Fabricia
Silva da Rosa, meu agradecimento pelas sugestões enriquecedoras, buscando tornar o
trabalho melhor.
Aos demais professores e colegas, que tive o prazer de conhecer durante o mestrado, em
especial aos coordenadores durante o período, professora Delci e professor Denis.
E, finalmente, a todos que contribuíram de alguma forma, para que eu pudesse chegar até
aqui.
Muito obrigado!

Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na centésima
tentativa eu consegui, nunca desista de seus
objetivos, mesmo que esses pareçam
impossíveis, a próxima tentativa pode ser a
vitoriosa.
(Albert Einstein)

RESUMO
Quoos, A. R. (2021) Stakeholders Prioritários e a Ecologia Profunda: as contradições
reveladas pelas divulgações ambientais nos relatórios de sustentabilidade. Dissertação de
Mestrado, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil.
A questão dos stakeholders (partes interessadas), constitui uma temática relevante nos
estudos organizacionais, porque segundo Freeman (1984), os interesses e as reinvindicações
das partes interessadas, devem ser levados em consideração, no processo de tomada de
decisão. Neste contexto, as empresas são cobradas para divulgar informações sobre o que
estão realizando, não apenas para os investidores, mas também para todas as partes
interessadas, que de alguma forma são afetadas ou afetam as atividades exercidas. Um tópico
considerado importante por todos os públicos de interesse, são as questões ambientais, que
estão cada vez mais se tornando o foco do mundo, em diferentes níveis. Também, neste
contexto, Naess (1973), propôs o termo Deep Ecology (Ecologia Profunda), em que dividiu
os movimentos relacionados ao meio ambiente, entre uma abordagem superficial e profunda,
sendo o termo superficial aplicado quando as práticas são defendidas, porque a natureza tem
valor para o ser humano e o movimento profundo a considera com valor intrínseco. Nesse
contexto, esta pesquisa foi realizada com o objetivo de analisar de que maneira as divulgações
sobre meio ambiente podem revelar as contradições entre os stakeholders prioritários e as
filosofias ecológicas, contidas nos relatórios de sustentabilidade. Em relação a metodologia,
quanto ao problema, se classifica como qualitativa, quanto ao objetivo, é classificada como
descritiva e quanto aos procedimentos, classifica-se como documental. Para a análise
documental, foram utilizados 18 relatórios de sustentabilidade, em que foi aplicado o modelo
de saliência dos stakeholders prioritários, proposto por Mitchell et al. (1997), a identificação
por meio das palavras-chave, do estudo de Boaventura et al. (2017) e a classificação das
práticas relacionadas ao meio ambiente, por meio do paradigma superficial/raso,
intermediário e profundo. As empresas selecionadas, possuem atividades consideradas de
alto impacto ambiental, segundo a Lei 6.938/81 e são organizações consideradas elegíveis
pelo ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial), por apresentarem compromissos
relacionados ao meio ambiente. Os resultados demonstraram, que as divulgações ambientais
priorizam os stakeholders, Governo e Comunidade e não focam em práticas ambientais
profundas, revelando a contradição existente entre eles. Ambos os grupos, possuem os
atributos de poder, legitimidade e urgência, fato este que classifica-os como públicos de

interesse definitivos. Outros grupos de interesse, como clientes, funcionários, fornecedores,
investidores, concorrentes e ONGs, também foram identificados, porém segundo o modelo
utilizado, não foi possível perceber os atributos, para serem considerados prioritários. Em
relação aos paradigmas ambientais, as divulgações apresentaram uma priorização por
práticas relacionadas a ecologia superficial, buscando sempre os interesses internos da
empresa ou dos seus stakeholders, quando realizava alguma prática relacionada ao meio
ambiente. Em seguida, a ecologia intermediária foi identificada como segunda mais utilizada,
pois outras práticas tinham como foco o meio ambiente, porém ainda ligadas aos interesses
da empresa/stakeholders. Por fim, a ecologia profunda se apresentou como menos abordada,
tendo apenas algumas práticas isoladas, que consideram a natureza com valor intrínseco, não
dependendo da utilidade empregada a ela. A partir destas constatações, foi possível
identificar que as empresas apesentam contradições, em relação as divulgações sobre práticas
ambientais, pois suas ações são influenciadas por públicos de interesse e não voltadas à
ecologia profunda, que se preocupa com a natureza, por seu valor em si.
Palavras-chave: Stakeholders. Ecologia Profunda. Relatório de Sustentabilidade. Meio
Ambiente.

ABSTRACT
Quoos, A. R. (2021). Priority Stakeholders and Deep Ecology: the contradictions revealed
by environmental disclosures in sustainability reports. Master's dissertation, Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (State University of Western Paraná), Cascavel, PR, Brazil.
The issue of stakeholders is a relevant theme in organizational studies, because according to
Freeman (1984), the interests and claims of stakeholders must be taken into account in the
decision-making process. In this context, companies are charged to disclose information
about what they are doing, not only to investors, but also to all stakeholders, who in some
way are affected or affect the activities performed. A topic considered important by all
stakeholders is environmental issues, which are increasingly becoming the focus of the
world, at different levels. Also, in this context, Naess (1973) proposed the term Deep
Ecology, in which she divided the movements related to the environment, between a
superficial and deep approach, being the superficial term applied when the practices are
defended, because nature has value for the human being and the deep movement considers it
with intrinsic value. In this context, this research was conducted with the objective of
analyzing how environmental disclosures can reveal the contradictions between priority
stakeholders and ecological philosophies contained in sustainability reports. In relation to
methodology, in relation to the problem, it is classified as qualitative, in relation to the
objective, it is classified as descriptive and in relation to procedures, it is classified as
documental. For the documentary analysis, 18 sustainability reports were used, in which the
model of priority stakeholders, proposed by Mitchell et al. (1997), was applied, the
identification through key words, of the study by Boaventura et al. (2017) and the
classification of practices related to the environment, through the superficial/raso,
intermediate and deep paradigm. The selected companies have activities considered of high
environmental impact, according to Law 6.938/81 and are organizations considered eligible
by ISE (Corporate Sustainability Index), for presenting commitments related to the
environment. The results showed that the environmental disclosures prioritize the
stakeholders, Government and Community and do not focus on deep environmental
practices, revealing the contradiction between them. Both groups have the attributes of
power, legitimacy and urgency, a fact that classifies them as definitive audiences of interest.
Other interest groups, such as clients, employees, suppliers, investors, competitors and
NGOs, were also identified, but according to the model used, it was not possible to perceive

the attributes, to be considered priority. In relation to environmental paradigms, the
disclosures presented a prioritization by practices related to superficial ecology, always
seeking the internal interests of the company or its stakeholders, when performing some
practice related to the environment. Then, the intermediate ecology was identified as the
second most used, because other practices focused on the environment, but still linked to the
interests of the company/stakeholders. Finally, deep ecology presented itself as less
addressed, having only some isolated practices, which consider nature with intrinsic value,
not depending on the utility employed to it. From these findings, it was possible to identify
that the companies present contradictions, in relation to the disclosures about environmental
practices, because their actions are influenced by audiences of interest and not focused on
deep ecology, which is concerned with nature, for its value itself.
Keywords: Stakeholders. Deep Ecology. Sustainability Report. Environment.

ASG
B3
BNDES
CERES
FASB
GRI
GU
IIRC
ISE
NOX
ONG
ONU
PNUMA
PP
RI
RSC
SEC
SOX
TBL
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
Ambiental, Social e Governança
Bolsa de Valores Oficial do Brasil
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Coalition for Environmentally Responsible Economies
Financial Accounting Standards Board
Global Reporting Initiative
Grau de Utilização
International Integrated Reporting Council
Índice de Sustentabilidade Empresarial
Óxidos de Nitrogênio
Organizações não governamentais
Organização das Nações Unidas
Programa das Nações Unidas Para O Meio Ambiente
Potencial de Poluição
Relato Integrado
Responsabilidade Social Corporativa
Securities and Exchange Commission’s
Óxidos de Enxofre
Triple Botton Line

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Razões pelas quais as divulgações ambientais ocorrem...................................... 41
Tabela 2 - Características da Ecologia Profunda.................................................................. 56
Tabela 3 - Plataforma da ecologia Profunda. ....................................................................... 69
Tabela 4 - Setores de atividade e o impacto ambiental. ....................................................... 76
Tabela 5 - Setores de atividade de alto impacto ambiental. ................................................. 76
Tabela 6 - Lista das empresas que pertencem a amostra...................................................... 77
Tabela 7 - Constructo da Pesquisa........................................................................................ 78
Tabela 8 - Fases da análise de conteúdo de Bardin. ............................................................. 80
Tabela 9 - Definição dos Atributos da saliência dos Stakeholders. ..................................... 80
Tabela 10 - Palavras-chave para identificar a saliência dos Stakeholders. .......................... 81
Tabela 11 - Definição dos Atributos das ecologias ambientais............................................ 84
Tabela 12 - Fases da análise dos dados. ............................................................................... 85
Tabela 13 - Características e atuação das empresas analisadas............................................ 88
Tabela 14 - Dados quantitativos relacionados aos Relatórios de Sustentabilidade.............. 91
Tabela 15 - Temas materiais relacionados ao Meio Ambiente. ........................................... 98
Tabela 16 - Stakeholders identificados nas divulgações relacionadas ao Meio Ambiente.101
Tabela 17 - Divulgações relacionando o Governo com o Meio Ambiente. ....................... 104
Tabela 18 - Divulgações adicionais sobre a relação Governo-Meio Ambiente. ................ 107
Tabela 19 - Divulgações relacionando a Comunidade com o Meio Ambiente. ................. 108
Tabela 20 - Divulgações adicionais sobre a relação Comunidade-Meio Ambiente........... 110
Tabela 21 - Divulgações sobre a relação Clientes-Meio Ambiente. .................................. 111
Tabela 22 - Divulgações sobre a relação Funcionários-Meio Ambiente............................ 112
Tabela 23 - Divulgação sobre a relação Investidores-Meio Ambiente. ............................. 113
Tabela 24 - Quantidade de observações relacionadas às filosofias ecológicas. ................. 114
Tabela 25 - Tópicos relacionados com a ecologia Superficial/Rasa. ................................. 115

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 - Partes Interessadas primárias. .............................................................................. 29
Figura 2 - Partes Interessadas secundárias. .......................................................................... 29
Figura 3 – Características das classes dos stakeholders. ...................................................... 33
Figura 4 – Grupos das classes dos stakeholders. .................................................................. 34
Figura 5 - Classes dos stakeholders. ..................................................................................... 35
Figura 6 - Divulgações Ambientais. ..................................................................................... 45
Figura 7 - Paradigmas Ambientais. ...................................................................................... 60
Figura 8 - Leis ecológicas propostas por Barry Commoner................................................. 64
Figura 9 - Características do Ecocentrismo. ......................................................................... 68
Figura 10 - Paradigmas Ambientais com as principais práticas. .......................................... 71
Figura 11 - Seleção da Amostra. .......................................................................................... 74
Figura 12 - Mapa mundi com os países que contêm instalação das empresas analisadas.... 91
Figura 13 - Fala inicial dos Relatórios de Sustentabilidade relacionada com os Stakeholders.
.............................................................................................................................................. 94
Figura 14 - Divulgação inicial sobre a relação entre Stakeholders e Meio Ambiente. ........ 96
Figura 15 - Stakeholders consultados na Suzano S.A. ......................................................... 98
Figura 16 - Destaques de divulgações ambientais relacionadas aos Stakeholders............. 103
Figura 17 - Divulgações relacionadas com o meio ambiente sendo considerado como
instrumento das empresas. .................................................................................................. 116
Figura 18 - Divulgações relacionadas com o meio ambiente e reciclagem........................ 118
Figura 19 - Divulgações relacionadas com o meio ambiente e a saúde e bem-estar.......... 120
Figura 20 - Divulgações relacionadas com o Meio ambiente e a administração de recursos.
............................................................................................................................................ 122
Figura 21 - Divulgações relacionadas com o meio ambiente e a dependência da tecnologia.
............................................................................................................................................ 124
Figura 22 - Divulgações relacionadas com a Ecologia Intermediária. ............................... 127
Figura 23 - Divulgações relacionadas com a Ecologia Profunda....................................... 129
Figura 24 - Relação entre os stakeholders e os paradigmas ambientais. ............................ 132
Figura 25 - Divulgações relacionadas a ecologia superficial/rasa, Governo e Comunidade.
............................................................................................................................................ 135
Figura 26 - Divulgações relacionadas a ecologia superficial/rasa e comunidade com foco no
bem-estar. ........................................................................................................................... 136

Figura 27 - Divulgações relacionadas a ecologia intermediária, governo, comunidade e Meio
Ambiente. ........................................................................................................................... 138
Figura 28 - Divulgações relacionadas a ecologia profunda e o stakeholder Meio Ambiente.
............................................................................................................................................ 139

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO.............................................................................................................. 19
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA ....................................................................................... 21
1.2 OBJETIVOS .................................................................................................................. 24
1.2.1 Geral ........................................................................................................................24
1.2.2 Específicos .................................................................................................................. 24
1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO ................................................ 25
1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO ............................................................................. 26
2 REFERÊNCIAL TEÓRICO ........................................................................................ 28
2.1 TEORIA DO STAKEHOLDER...................................................................................... 28
2.2 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS ............................................... 37
2.3 FILOSOFIAS ECOLÓGICAS....................................................................................... 51
3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA ................................................... 73
3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA ............................................................................. 73
3.2 UNIDADE DE ANÁLISE, POPULAÇÃO E AMOSTRA ........................................... 74
3.3 CONSTRUCTO DA PESQUISA E PROCEDIMENTOS E ANÁLISE E COLETA DOS
DADOS ................................................................................................................................78
3.4 LIMITAÇÕES DOS MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA ............................... 86
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS.......................................................... 88
4.1 APRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS E DOS RELATÓRIOS.................................... 88
4.2 RELAÇÃO DOS STAKEHOLDERS COM O MEIO AMBIENTE ............................... 92
4.3 IDENTIFICAÇÃO DA PRIORIZAÇÃO DOS STAKEHOLDERS .............................. 99
4.3.1 Governo ..................................................................................................................... 104
4.3.2 Comunidade............................................................................................................... 108
4.3.3 Outros Stakeholders................................................................................................... 111
4.4 ECOLOGIA SUPERFICIAL/RASA, INTERMEDIÁRIA E PROFUNDA ............... 113
4.4.1 Ecologia Superficial/Rasa.......................................................................................... 114
4.4.2 Ecologia Intermediária .............................................................................................. 125

4.4.3 Ecologia Profunda ..................................................................................................... 128
4.5 ANÁLISE COMPARATIVA DA PRIORIZAÇÃO DOS STAKEHOLDERS E AS
ECOLÓGICAS PROFUNDAS, INTERMEDIÁRIAS E SUPERFICIAIS ....................... 131
5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................... 142
6 REFERÊNCIAS........................................................................................................... 145
ANEXO – DECLARAÇÃO DE REVISÃO DE PORTUGUÊS E NORMAS………..164

1 INTRODUÇÃO
No campo dos estudos organizacionais, uma das correntes teóricas que têm sido
empregadas é a Teoria do Stakeholder. Um aspecto central dessa teoria, é o de que os
interesses e as reinvindicações das partes interessadas, devem ser levados em consideração
no processo de tomada de decisão nas organizações (Freeman, 1984). A Teoria do
Stakeholder (partes interessadas), teve início a partir da obra de Freeman de 1984 (Pucheta-
Martínez & López-Zamora, 2018).
Stakeholders, são todos aqueles que reivindicam ou possuem propriedade, interesses
e direitos, tanto no presente, como no passado e no futuro, relacionados a uma determinada
organização (Clarkson, 1995). As partes interessadas, podem afetar ou serem afetadas pelas
atividades de determinada empresa, podendo ser funcionários, fornecedores, credores,
consumidores, acionistas e sociedade em geral, que podem possuir os mais diversos
interesses (Barbu, Dumontier, Feleagǎ, & Feleagǎ, 2014; Yekini & Wang, 2018). Ainda de
acordo com Carroll (1999), Fragouli e Yengbalang (2015) e Yekini e Wang (2018), os
stakeholders podem ser representados por indivíduos ou por um determinado grupo de
pessoas, que de alguma maneira interferem nas práticas, decisões, políticas, ações e objetivos
da empresa.
Nesse contexto, as organizações são cobradas para reportar o que estão realizando,
não apenas para os investidores, mas também para os demais stakeholders, que de alguma
forma são afetados pelas atividades exercidas (Gray et al., 1996, apud Alipour, Ghanbari,
Jamshidinavid, & Taherabadi, 2019). Segundo Liao, Luo e Tang (2014), a Teoria do
Stakeholder indica que as organizações concentram suas divulgações, em determinadas
partes interessadas e, com foco nelas, procuram fornecer informações com qualidade e de
forma clara. Nesse mesmo sentido, Ali Meftah Gerged, Al-Haddad e Al-Hajri (2020), relatam
que pensando nas partes interessadas, as organizações divulgam informações mais precisas.
As empresas, de forma geral, estão preocupadas em manter a reputação em relação a
todos os stakeholders e assim, reportam voluntariamente suas informações ambientais
(Pucheta-Martínez & López-Zamora, 2018). Para atender as demandas ambientais das partes
interessadas, as organizações desenvolvem estratégias, prestam atenção e mudam seus
comportamentos, como resposta às pressões ambientais de diferentes stakeholders (Aragon-
Correa & Sharma, 2003; Wang, Li & Qi, 2020). Este público, por sua vez, possui um papel
fundamental na tomada de decisão das empresas e está amplamente envolvido em várias
19

questões ambientais (Buysse & Verbeke, 2003; Hummels & Timmer, 2004; Konrad, Steurer,
Langer, & Martinuzzi, 2006; Wolf, 2014; Lee, Kim, & Kim, 2016). As questões relacionadas
ao meio ambiente, estão cada vez mais se tornando o foco do mundo em diferentes níveis, e
consequentemente, a responsabilidade ambiental e social das organizações, vem ganhando
mais espaço e tornando-se um importante fator para os negócios, para o governo e a
comunidade (Rupley, Brown, & Marshall, 2012).
Contradições, no entanto, podem emergir desse contexto. O conceito do Triple
Bottom Line (TBL), por exemplo, que está alicerçado no argumento de que as empresas
devem considerar um equilíbrio entre as esferas ambiental, social e econômica, para atingir
a sustentabilidade (Elkington, 1997), é criticado por autores como Adams (2006). O referido
autor, que pauta seus argumentos na observação de que a degradação do meio ambiente
continua acontecendo, embora a ideia de responsabilidade socioambiental tenha sido
incorporada pelas organizações, indica que na prática, normalmente ocorre uma relação
assimétrica entre as três dimensões, com uma inevitável prevalência da esfera econômica.
Para a redução dos impactos negativos sobre as condições de vida na terra, requer-se mais
do que qualquer programa político já proposto, pois são necessárias mudanças significativas
em países ricos e pobres, devendo ter como objetivos a proteção do planeta, das suas riquezas
e da diversidade de vida (Braga, 2008; Magalhaes, 2011).
Buscando compreender esse contexto, em 1973 Arne Naess propôs o termo Deep
Ecology (Ecologia Profunda), que trouxe a abordagem inicial da questão ambiental,
dividindo-a em uma abordagem superficial ou rasa, e outra profunda (Hoefel, 1999). O termo
“profundo”, é utilizado para a perspectiva que considera a natureza com valor intrínseco,
colocando os interesses das pessoas em segundo plano, já o termo “superficial”, é utilizado
quando defendem a preservação da biosfera, com o argumento de que a mesma possui valor
para o ser humano (Naess, 1973).
Ecologistas profundos, como Jacob (1994), argumentam que as principais
perspectivas sobre o meio ambiente são superficiais, voltadas para o controle da poluição e
da degradação dos recursos, tendo como foco o ser humano. Essas perspectivas, de acordo
com o autor, são incompatíveis com as mudanças necessárias para enfrentar a crise ambiental.
Para Schuler, Rasche, Etzion e Newton (2017), as orientações sobre o meio ambiente podem
variar entre uma perspectiva instrumental, que valoriza o meio ambiente em razão de
interesses humanos, até uma abordagem que emprega valor intrínseco à natureza, como um
fim em si.
20

A distinção entre valor instrumental e intrínseco, pode ser observada em programas
de sustentabilidade em empresas, em que o objetivo principal é maximizar a forma utilizada
para a sociedade e para si mesmas. Do ponto de vista da perspectiva instrumental, a
sustentabilidade é almejada, pois aumenta o bem-estar social e quando aplicada no contexto
empresarial (Responsabilidade Social Corporativa, por exemplo), aumenta a riqueza dos
investidores. Contudo, a perspectiva de valor intrínseco, argumenta que a sustentabilidade
tem valor em si mesma, pois o valor intrínseco dela não é condicional a algo (bem-estar ou
lucro, por exemplo) (Schuler, Rasche, Etzion, & Newton, 2017).
As perspectivas superficiais, são caracterizadas pela ênfase em abordar os princípios
ecológicos, para garantir o gerenciamento do meio ambiente para o benefício humano. Já as
perspectivas profundas da ecologia, culpam a natureza antropocêntrica do desenvolvimento
e buscam uma visão ecológica alternativa, que vê o ser humano como parte do sistema
ambiental, não como um ser superior (Jacob, 1994).
Com as perspectivas da Teoria do Stakeholder e da Ecologia Profunda, as empresas
são pressionadas e devem optar por determinadas práticas, relacionadas ao meio ambiente,
podendo levar em consideração um determinado stakeholder, ou praticar atividades
relacionadas a manutenção do meio ambiente, porque ela entende a importância que o mesmo
possui.
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA
Segundo a Teoria do Stakeholder, as partes interessadas podem ser divididas entre
primárias e secundárias. Como stakeholders primários, são considerados os acionistas, os
funcionários, os fornecedores, os compradores e a comunidade, pois eles possuem
participação contínua nas atividades da organização. Sem a organização, esses stakeholders
não sobrevivem. Já os stakeholders secundários, podem ser representados pelo governo,
pelos concorrentes, pela mídia, pela proteção ao consumidor e por outros grupos de interesse,
que não possuem uma ligação direta com as atividades da empresa (Clarkson, 1995).
A pressão que as partes interessadas (primárias e secundárias) exercem sobre a
organização, afeta diretamente a sua reputação e a relação que ela busca preservar com os
investidores (Deegan, 2002; Odera, Scott, & Gow, 2016). Essas pressões podem explicar boa
parte dos fatores que influenciam a divulgação ambiental, pois as empresas buscam ações
voluntárias, para mostrar as atividades ambientais e assim estruturar uma imagem ecológica
21

(Neu et al., 1998; Cormier & Magnan, 1999; Lee & Hutchison, 2005; Hassan & Ibrahim,
2012).
Para Baalouch et al. (2019), as empresas buscam se concentrar nas partes interessadas
que possuem mais intensidade e poder, sobre suas atividades. Assim, a organização pode
priorizar determinado público, dependendo da pressão que ele exerce nas atividades (Phillips,
2003). Mitchell, Agle e Wood (1997), partindo da premissa de que as partes interessadas
podem exercer pressões distintas sobre as empresas, formularam o modelo de saliência de
stakeholders, no qual propõem uma escala que permite classificar o grau de prioridade das
reivindicações das partes interessadas, atribuído pelos gestores.
Segundo Mitchell et al. (1997), os stakeholders podem ser identificados por
apresentarem uma, duas ou até as três características mutuamente, sendo: Poder (parte
interessada consegue influenciar a empresa); Legitimidade (parte interessada é legítima
perante a empresa); e Urgência (parte interessada tem reinvindicações urgentes sobre a
empresa). Para os autores, se o gestor identificar estes três atributos em determinada parte
interessada, ela se torna o foco da organização (Mitchell et al., 1997).
Considerando as pressões decorrentes das questões ambientais, as partes interessadas
tendem a pressionar as empresas a adotarem uma posição de responsabilidade ambiental.
Como resposta, a divulgação de relatórios ambientais visando mostrar o que as empresas
estão fazendo para preservar a natureza, tem sido um caminho adotado (Berthelot, Cormier,
& Magnan, 2003; Kolk, 2003).
Neste contexto de divulgações e preservação ambiental, a ecologia profunda de Naess
(1973), foi reestruturada por Richard Sylvan, em 1985. Essa reestruturação, consistiu em
propor que não existe apenas a ecologia superficial e profunda, mas sim três esferas, sendo a
terceira uma ecologia intermediária, que apresenta aspectos relacionados tanto a ecologia
profunda quando a ecologia rasa1 (Sylvan, 1985a, 1985b). Assim, a estrutura das filosofias
ecológicas é dividida entre: (i) fortes paradigmas antropocêntricos (rasos) relacionado com a
conservação de recursos, bem-estar humano e valor estético do meio ambiente; (ii)
paradigmas antropocêntricos (intermediários) que reconhecem o valor intrínseco de alguns
elementos da natureza, mas atribuem maior valor aos seres humanos e; (iii) paradigmas
ecocêntricos (profundos), que atribuem valor intrínseco à biodiversidade (Sylvan, 1985a,
1985b).
1 O termo ecologia superficial e ecologia rasa possuem o mesmo significado neste estudo e esta diferenciação
ocorre devido as opções e atualizações da lente teórica no decorrer dos anos pelos autores.
22

Questões ambientais têm sido uma das maiores preocupações de algumas
organizações, por serem criticadas em relação ao seu impacto negativo no meio ambiente.
Nesse sentido, é prudente que essas empresas se interessem em mostrar à sociedade, que
estão engajadas em preservar o bem-estar da maioria (Pucheta-Martínez & Gallego-Álvarez,
2019). No Brasil, com a criação do ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial) pela B3
(bolsa de valores oficial do Brasil), as entidades podem mostrar seu engajamento com
atividades relacionadas ao meio ambiente, assumindo um compromisso em ter o seu nome
incluído, em que se comprometem a manter uma performance relacionada com a
sustentabilidade corporativa, baseada no equilíbrio ambiental, governança corporativa,
eficiência econômica e justiça social.
A divulgação ambiental, tem sido extensivamente examinada na literatura e assim,
diferentes perspectivas foram aplicadas (Gaia & Jones, 2017). A literatura anterior analisou
com profundidade e utilizou uma diversidade de teorias para tentar compreender a divulgação
ambiental (Hassan & Ibrahim, 2012; Aragon-Correa, J. Alberto. Markus, Alfred. Hurtado-
Torres, 2016), porém a maior parte dos estudos se concentrou na quantidade e qualidade de
divulgação (Ismail, Abdul Rahman, & Hezabr, 2018) e pouca atenção foi dada aos
significados filosóficos e éticos, que servem de base para a comunicação organizacional e a
responsabilidade, principalmente utilizando métodos qualitativos e interpretativos (Tregidga,
Milne & Lehman, 2012). Pesquisas recentes estão buscando compreender as práticas de
divulgação ambiental, por meio da captura das divulgações em relatórios anuais (Ahmadi &
Bouri, 2017).
Nossa (2002), constatou que o disclosure de informações ambientais diverge entre as
empresas, com relação ao seu tamanho, semelhante aos achados de Costa (2006). Rover
(2009), verificou que as divulgações voluntárias se enquadram na categoria políticas
ambientais e a subcategoria declaração das políticas atuais e futuras, foram as mais
evidenciadas.
Godoi (2011), teve como resultado que o disclosure tem predominância de sentenças
ambientais declarativas e de informações boas para a imagem. Santos (2016), mostrou um
nível de significância para o tamanho da empresa, a rentabilidade, a internacionalização e o
relatório de sustentabilidade, como fatores explicativos da evidenciação de informações
ambientais.
Borçato (2017), verificou que os Relatos Integrados estão sendo utilizados como
mecanismo de gerenciamento de legitimidade social. Já Amorim (2018), concluiu que as
23

características endógenas da empresa, determinam o nível de divulgação ambiental, e ainda,
que as características externas também conseguem influenciar, porém com menor
intensidade.
Buscando contribuir com essa discussão, este estudo busca analisar, sob a lente da
Teoria do Stakeholder, desenvolvida inicialmente por Freeman (1984), e dos paradigmas
ambientais propostos por Naess (1973) e atualizados posteriormente por autores apresentados
no referencial teórico deste trabalho, as divulgações relacionadas ao meio ambiente presentes
em relatórios de sustentabilidade, visando identificar os stakeholders prioritários e as
filosofias ecológicas presentes nessas divulgações.
Diante disso, apresenta-se a questão de pesquisa que orienta este estudo: De que
maneira as divulgações sobre meio ambiente podem revelar as contradições entre os
stakeholders prioritários e as filosofias ecológicas, contidas nos relatórios de
sustentabilidade?
1.2 OBJETIVOS
Com base no problema de pesquisa, estabelece-se o objetivo geral deste estudo, bem
como seus objetivos específicos, que são descritos a seguir.
1.2.1 Geral
O objetivo geral é analisar de que maneira as divulgações sobre meio ambiente podem
revelar as contradições entre os stakeholders prioritários e as filosofias ecológicas, contidas
nos relatórios de sustentabilidade.
1.2.2 Específicos
Para responder à questão de pesquisa e alcançar o objetivo geral proposto,
estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos:
a) Mapear quais stakeholders são prioritários nas divulgações sobre o meio ambiente;
b) Identificar as divulgações sobre o meio ambiente de acordo com as suposições das
filosofias ecológicas superficiais/rasas, intermediárias e profundas;
24

c) Comparar as filosofias ecológicas e a priorização dos stakeholders identificadas
nas divulgações ambientais, para verificar as contradições.
1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO
Conforme exposto, o problema de pesquisa apresenta-se em um cenário em que as
mudanças climáticas e o aquecimento global são um desafio que todos precisam enfrentar,
pois este problema afetará o futuro do planeta e isso faz com que o foco na preservação
ambiental torne-se a preocupação do público (Nor, Bahari, Adnan, Kamal, & Ali, 2016).
Surgindo assim o interesse, por parte das empresas com alto impacto ambiental listadas na
B3 e no ISE, sendo que será possível demonstrar as informações divulgadas voluntariamente,
em seus Relatórios de Sustentabilidade e como essa divulgação contribui para revelar as
contradições entre a priorização dos stakeholders e as filosofias ecológicas.
O relatório Planeta Vivo 2018, publicado pelo Word Wide Fund for Nature (WWF,
2018, p. 25), afirma que “os declínios da biodiversidade continuaram apesar dos repetidos
compromissos de política destinados a retardar ou deter a taxa de perda”.
As empresas são criticadas por serem as causadoras de boa parte destes problemas,
como esgotamento de recursos naturais, produção de resíduos e responsabilidade corporativa
atrasada, sendo que os investidores e outras partes interessadas, estão pressionando as
mesmas para que sejam mais responsáveis pelos impactos de suas atividades e sobre decisões
relacionadas ao meio ambiente, bem como para que adotem práticas de desenvolvimento
mais sustentável (Braam, De Weerd, Hauck, & Huijbregts, 2016).
Um dos resultados do desenvolvimento industrial, foi o crescente vínculo entre
economia, ética e política, bem como uma interação entre assuntos da economia com valores
morais e sociais. Como resultados, os gerentes das organizações não se preocupam apenas
com maiores lucros, mas também com as questões ambientais, éticas, raciais e sociais
(Alipour, et al., 2019). As organizações estão prestando atenção na divulgação de
informações ambientais devido aos vários benefícios associados a ela (Pucheta-Martínez &
Gallego-Álvarez, 2019).
Ao mesmo tempo, em consequência das pressões públicas, as empresas começaram
a publicar informações sobre desempenho ambiental em relatórios de sustentabilidade, em
que são feitas divulgações voluntárias sobre vários temas ambientais, como consumo de
energia e água, emissão de gases causadores do efeito estufa, produção de resíduos, entre
outros (Braam et al., 2016).
25

O objetivo da empresa deve ser criar valor compartilhado, não apenas o lucro em si e
após a incorporação desta consciência na organização, a inovação e crescimento da
produtividade afetarão a economia global, remodelando a relação com a sociedade,
legitimando assim os negócios novamente (Porter & Kramer, 2011).
Neste sentido, uma iniciativa que leva em consideração a ecologia profunda,
intermediária e rasa e a relevância que os stakeholders podem assumir nas práticas
relacionadas ao meio ambiente, justificaria a análise do ponto de vista da Teoria do
Stakeholder e da Filosofia Ecológica, como é proposto neste trabalho, e através de um
enfoque detalhado e qualitativo, por meio de uma análise do conteúdo documental nos
relatórios de sustentabilidade, pode contribuir teoricamente na avaliação de um fenômeno
social por meio de investigação empírica.
Para Baard (2015), a ecologia profunda pode oferecer uma perspectiva valiosa sobre
as questões ambientais, pois alguns dos seus fundamentos são altamente relevantes para o
discurso atual.
Neste contexto, identificar iniciativas voltadas à ecologia profunda, poderá
proporcionar um caminho de transformação do paradigma ambiental relacionado à gestão do
meio ambiente, diferenciando algumas empresas das demais e servindo de exemplo para que
outras possam seguir. Ainda, levando em consideração a identificação dos stakeholders
prioritários, os resultados poderão contribuir na verificação e ajuste no foco das empresas,
principalmente devido a não efetividade apontada por estudos, na preservação do meio
ambiente.
Os achados podem contribuir ainda, para o desenvolvimento tanto das organizações
estudadas, quanto da sociedade, especialmente por desenvolver uma reflexão de cunho
teórico e prático, sobre o papel social dessas empresas com o meio ambiente.
Ele se justifica também pelas contribuições que pode auferir ao conhecimento
científico contábil e prático, em relação à utilização dos relatórios de sustentabilidade, como
mecanismo de divulgação de informações ambientais pelas organizações, sob a ótica da
Teoria do Stakeholder e da perspectiva da filosofia ecológica.
1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
A dissertação está organizada em cinco capítulos. O primeiro capítulo, compreende
esta introdução que a partir de uma breve contextualização da Teoria do Stakeholder, das
filosofias ecológicas e do contexto ambiental em que as empresas estão inseridas, buscou
26

mostrar a importância do meio ambiente nas práticas organizacionais. Na sequência,
apresenta-se a questão de pesquisa, que norteia este estudo, o objetivo geral e os objetivos
específicos, acompanhados da justificativa e das contribuições para as organizações e para o
desenvolvimento do conhecimento científico contábil.
No capítulo 2, tem-se o referencial teórico, em que são abordados os tópicos
relacionados a Teoria do Stakeholder, proposta por Freeman (1984), sobre a divulgação de
informações ambientais que as empresas realizam em relatórios de sustentabilidade, as
filosofias ecológicas, que podem ser diferenciadas em rasas, intermediárias e profundas,
propostas inicialmente por Naess (1973), a responsabilidade social corporativa, que as
empresas são pressionadas a praticar devido aos impactos ambientais, padrões internacionais
de divulgação ambiental que orientam o preparo e divulgação de informações, para as partes
interessadas e ainda, experiências similares no Brasil e no mundo, relacionadas a divulgação
de informações ambientais, priorização de stakeholders e filosofias ecológicas.
Os procedimentos metodológicos utilizados, estão apresentados no capítulo 3, o qual
está dividido por subcapítulos para melhor compreensão e traz o delineamento da pesquisa
de forma detalhada, a unidade de análise, a população e amostra, o constructo da pesquisa,
os procedimentos de coleta de dados, os procedimentos e análise dos dados e por fim,
apresentam-se as limitações dos métodos e técnicas desta pesquisa.
No capítulo 4, detalha-se a apresentação e análise dos dados, que darão embasamento
para responder a questão de pesquisa e os objetivos. Por fim, no capítulo 5 serão relatadas as
conclusões e os resultados alcançados, as limitações e as sugestões para trabalhos futuros.
27

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO
Este capítulo, expõe o referencial teórico utilizado no trabalho. Realizou-se um
reconhecimento sobre a Teoria do Stakeholder, Divulgação de Informações Ambientais e
sobre as Filosofias Ecológicas.
2.1 TEORIA DO STAKEHOLDER
A Teoria do Stakeholder, desenvolvida por Freeman (1984), afirma que os interesses
daqueles que afetam ou serão afetados pela atividade da empresa, devem ser levados em
consideração nas estratégias que a organização adotar, sendo que estes podem ser credores,
consumidores, acionistas, funcionários, fornecedores e sociedade em geral, que são, portanto,
considerados como partes interessadas das atividades ambientais e sociais da empresa
(Elijido-Ten, 2011; Yekini & Wang, 2018). A mesma teoria, define as partes interessadas
como “forças poderosas” na dinâmica social (Belal, 2002). Vale ressaltar que existem
diferenças entre os grupos de interesse, em que alguns são mais poderosos que outros
(Yekini, 2012).
A Teoria do Stakeholder, indica que as organizações concentram a sua
responsabilidade em determinado público de interesse e assim, provavelmente, fornecerão
informações ambientais de qualidade e claras (Liao et al., 2014). As empresas precisam
prestar contas, não apenas aos investidores, mas também a todas as partes interessadas que
são afetadas pelas suas atividades (Gray et al., 1996 apud Alipour et al., 2019).
As partes interessadas, são os indivíduos que possuem ou reivindicam propriedade,
direitos ou interesses, tanto referente ao passado, como presente e também do futuro
(Clarkson, 1995). Define-se também como um indivíduo ou um grupo de pessoas, que pode
ser afetado ou afetar as ações, objetivos, práticas, políticas ou decisões da empresa (Carroll,
1999; Fragouli & Yengbalang, 2015; Yekini & Wang, 2018).
As partes interessadas, podem ser divididas em dois grupos, tendo como diferença
entre os dois, o grau variado que os mesmos podem afetar ou serem afetados pela existência
e atividades da empresa (Ismail et al., 2018), que pode ser observado na Figura 1.
28
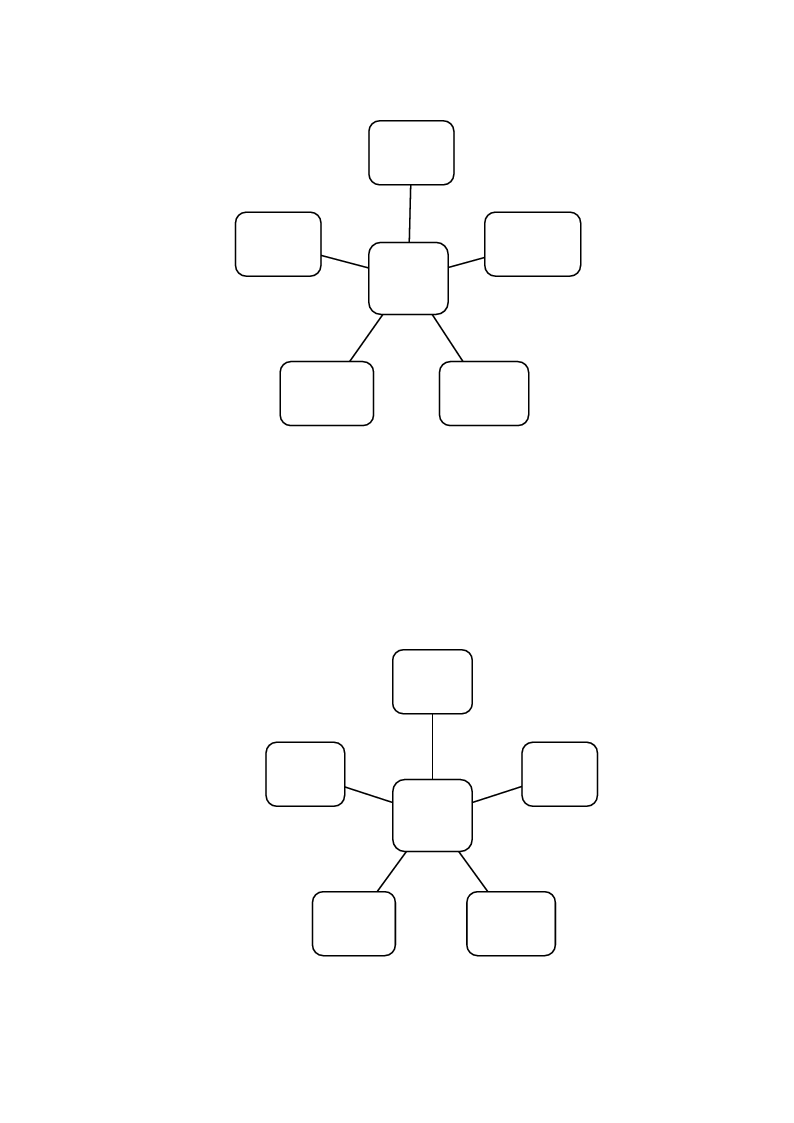
Comunidade
Compradores
Empresa
Funcionários
Fornecedores
Acionistas
Figura 1 - Partes Interessadas primárias.
Fonte: Adaptado de Freeman, Harrison, Wicks (2007) apud Mascena (2013).
Conforme a Figura 1, são considerados stakeholders primários, os acionistas, os
fornecedores, os compradores, a comunidade e os funcionários, ou seja, aqueles que possuem
participação contínua nas atividades da empresa e que não conseguem sobreviver sem as
relações que os ligam (Clarkson, 1995), ou ainda, segundo Freeman, Harrison, Wicks,
Parmar e De Colle (2010), aqueles considerados estratégicos.
Governo
Proteção ao
consumidor
Empresa
Mídia
Grupos de
Interesse
Concorrentes
Figura 2 - Partes Interessadas secundárias.
Fonte: Adaptado de Freeman, Harrison, Wicks (2007) apud Mascena (2013).
29

Segundo a Figura 2, os stakeholders secundários são representados pelo governo,
mídia, concorrentes, grupos de interesse e proteção ao consumidor, que são grupos afetados
pelas atividades da corporação, mas não dependem diretamente desta relação para sua
sobrevivência (Clarkson, 1995), ou ainda, conforme Freeman et al. (2010), aqueles levados
em consideração devido a valores morais. As partes interessadas secundárias, têm pouco ou
nenhum poder direto sobre a empresa (Ismail et al., 2018).
Com base na visão da Teoria do Stakeholder, a empresa não deve se preocupar apenas
com a parte econômica e focar somente na maximização de riqueza dos proprietários ou
investidores (Ismail et al., 2018). Em vez disso, a organização precisa considerar todos os
públicos de interesse que afetam ou são afetados pelas suas atividades, abordando assim as
partes interessadas primárias e secundárias (Mellahi & Wood, 2003).
A influência das partes interessadas, afeta diretamente as empresas e isso pode ser
significativo, em relação a reputação e a relação com os investidores (Deegan, 2002; Odera
et al., 2016). Portanto, as organizações devem considerar todos os direitos da comunidade
em geral, não apenas preocupar-se com os investidores, acionistas ou parceiros (Neu et al.,
1998).
Vale ressaltar que as expectativas das partes interessadas e as pressões regulatórias,
são os principais fatores para a divulgação ambiental, mas também que as empresas adotam
ações voluntárias, para divulgar registros ambientais e assim construir suas “credenciais
ecológicas” (Neu et al., 1998; Cormier & Magnan, 1999; Lee & Hutchison, 2005; Hassan &
Ibrahim, 2012).
As partes interessadas, exigem que as empresas se comportem de maneira ecológica
(Cerin, 2002; Berthelot & Magnan, 2003; Moneva & Ortas, 2010), e, assim, as mesmas
tendem a aumentar o nível de divulgação de informações ambientais, na busca de agregar
valor (Gamble, Hsu, Kite e Radtke, 1995 apud Pucheta-Martínez & Gallego-Álvarez, 2019).
Quando uma empresa não opera dentro dos padrões considerados apropriados pela sociedade,
a comunidade em geral pode buscar revogar os direitos desta atividade (Deegan & Rankin,
1997). Por conseguinte, as organizações buscam divulgar informações sociais e ambientais,
para legitimar sua imagem perante a sociedade (Deegan, 2002).
Uma empresa que possui visão voltada para as partes interessadas, inclui nas suas
decisões, as questões ambientais, culturais e sociais, que estão de acordo com a estratégia
global, que não são observadas por outras perspectivas, como visões baseadas em recursos
ou custos de transação (Devinney, Mcgahan, & Zollo, 2013). Para minimizar as
30

preocupações dos fornecedores, o envolvimento das partes interessadas nos processos
ambientais é essencial (Plaza-Úbeda, De Burgos-Jiménez, & Carmona-Moreno, 2010).
A Teoria do Stakeholder, possui a estrutura adequada para apoiar estratégias
ambientais, porque existem diversas pressões das partes interessadas (Chakrabarty & Wang,
2012; Lewis, Walls, & Dowell, 2014). Este público, leva em consideração as informações
relacionadas a atuação da empresa, em relação aos cuidados com o meio ambiente, para a
tomada de decisão (Blacconiere & Patten, 1994; Blacconiere & Northcut, 1997; Richardson
& Welker, 2001; Reverte, 2009) analisando portanto, aspectos sociais e ambientais, não
apenas os lucros que a empresa está acumulando (Gray, Kouhy, & Lavers, 1995a).
Isso mostra que empresas ambientalmente responsáveis, buscam divulgar informação
verídicas, para atender as expectativas das partes interessadas (Gerged et al., 2020). Os
gerentes buscam não se envolver em práticas que não sejam aceitas pela sociedade, buscando
mostrar uma imagem de empresa adequada às normas ambientais, para evitar possíveis
conflitos (Kim, Park, & Wier, 2012).
Com base nesta teoria, espera-se que as empresas se envolvam em atividades que
beneficiam as partes interessadas (Boesso & Kumar, 2007). Ela pode ser diferenciada ente o
ramo normativo, gerencial e ético (Deegan, 2002), sendo que o primeiro valoriza os direitos
iguais a todas as partes interessadas (Gray, Kouhy, & Lavers, 1995b), o segundo enfatiza a
preocupação com o gerenciamento das partes interessadas (Ullmann, 1985; Odera et al.,
2016). Por último, o ramo ético espera que empresas tenham uma postura ética e divulguem
todas as informações aos stakeholders (Odera et al., 2016)
A Teoria do Stakeholder, busca entender a intensidade e as preferências das partes
interessadas e assim as organizações buscam se concentrar nos interesses deles para poder
corresponder às expectativas (Baalouch et al., 2019). Partindo-se destes pressupostos,
informações ambientais serão divulgadas com alta qualidade, para que as expectativas sejam
atendidas (Liao et al., 2014).
A Teoria busca identificar a relação existente entre os comportamentos da empresa e
seu impacto sobre seus stakeholders, tomando conhecimento do ambiente que a organização
está inserida, identificando os clientes, fornecedores, funcionários e outros segmentos que
possuem alguma relação direta ou indireta, pois a mesma reconhece a dependência para sua
sobrevivência e assim pode fornecer informações por meio de divulgações sociais e
ambientais voluntárias, para obter apoio e aprovação das partes interessadas (Ofoegbu,
Odoemelam, & Okafor, 2018).
31

2.1.1 Priorização e Saliência dos Stakeholders
Phillips (2003) argumenta que a Teoria do Stakeholder aborda como os gestores
alocam tempo, recursos escassos, capacidade e atenção entre as partes interessadas, em que
busca mostrar como eles priorizam determinados interesses de alguns stakeholders, podendo
esta situação ser observada de duas perspectivas, sendo a primeira relacionada a importância
que o gestor atribui a determinado stakeholder e a segunda pode ser compreendida como a
alocação de recursos, para o atendimento dos interesses das partes interessadas.
Os stakeholders focados na primeira perspectiva, que será utilizada neste estudo, são
considerados como mais importantes e consequentemente, recebem maior atenção por parte
da gestão. Para identificá-los, segundo características apresentadas nesta perspectiva,
utilizou-se o modelo de saliência de stakeholders, proposto por Mitchell et al. (1997), que
estabeleceu graus em que os gestores priorizam as reivindicações das partes interessadas.
Segundo Oates (2013), o referido modelo é amplamente reconhecido como uma das mais
influentes contribuições para a Teoria do Stakeholder. Segundo Mitchell et al. (1997, p. 854):
Veremos as partes interessadas identificadas como primárias ou secundárias ou
proprietárias de ativos menos tangíveis; como atores ou aqueles que agiram; como
aqueles que existem em um relacionamento voluntário ou involuntário com a
empresa; detentores de direitos, contratados ou requerentes morais; como provedores
de recursos ou dependentes da empresa; tomadores de risco ou influenciadores; e
como diretores legais a quem os gerentes de agentes assumem um dever fiduciário
(Tradução Livre).2
A Teoria do Stakeholder revisada por Mitchell et al. (1997), propõe diversos sinais
para a identificação das partes interessadas com o objetivo de diferenciar quem são partes
interessadas das que não são, para assim verificar quem realmente os gerentes prestam
atenção. Para isso, os autores propõem que os stakeholders podem ser identificados por
apresentarem uma, duas ou até as três características mutuamente, conforme segue:
2 We will see stakeholders identified as primary or secondary or owners of less tangible assets; as actors or
those acted upon; as those existing in a voluntary or an involuntary relationship with the firm; as rights-holders,
contractors, or moral claimants; as resource providers to or dependents of the firm; as risk-takers or
influencers; and as legal principals to whom agent-managers bear a fiduciary duty.
32
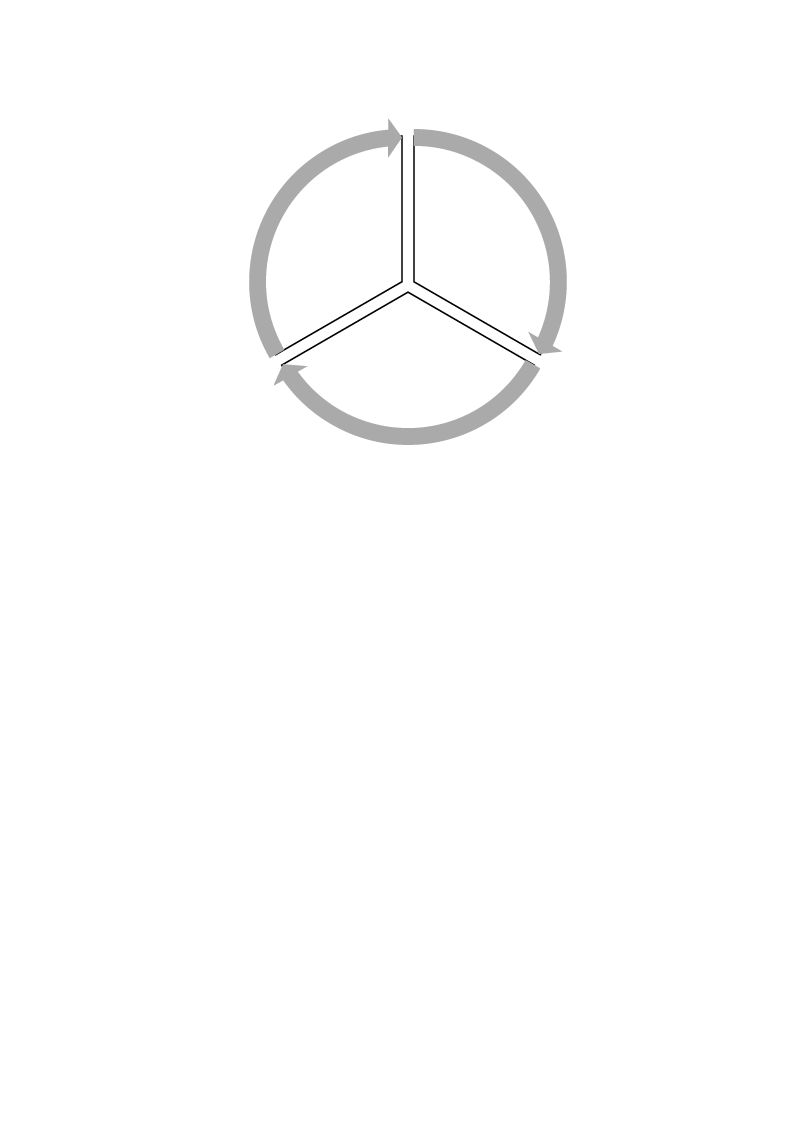
URGÊNCIA:
Parte Interessada
tem reinvidicações
urgentes sobre a
empresa.
PODER: Parte
Interessada
consegue
influenciar a
empresa.
LEGITIMIDADE: Parte
Interessada é legitima
perante a empresa.
Figura 3 – Características das classes dos stakeholders.
Fonte: Adaptado de Mitchell et al. (1997).
Conforme os atributos apresentados na Figura 3, os gerentes podem prestar atenção
em determinados aspectos de alguma das partes interessadas, para conseguir atingir
determinados fins (Mitchell et al., 1997).
O atributo Poder, pode ser explicado pelo conceito proposto por Dahl (1957), da
seguinte maneira: “um relacionamento entre atores sociais em que um ator social, A, pode
convencer outro ator social, B, a fazer algo que B não teria feito” (Mitchell et al., 1997, p.
865). O poder utilizado em um cenário organizacional, pode ser observado por recursos
usando o poder como: “poder coercitivo, baseado nos recursos físicos da força, violência ou
restrição; poder político, baseado em recursos materiais ou financeiros; e poder normativo e
baseado em recursos simbólicos” (Etzioni, 1964 apud Mitchell et al., 1997, p. 865).
O atributo Legitimidade, que está relacionado a legitimação perante às partes
interessadas e segundo Suchman (1995), apresenta-se a seguinte definição de legitimidade:
é ampla e reconhece a natureza avaliativa, cognitiva e socialmente construída da
legitimidade. Ele define legitimidade como "uma percepção generalizada ou
suposição de que as ações de uma entidade são desejáveis ou apropriadas dentro de
algum sistema socialmente construído de normas, valores, crenças e definições"
(Suchman, 1995 apud Mitchell et al., 1997, p. 866).
O atributo de legitimidade, é um bem social desejável, que pode ser negociado e
definido de diversas maneiras e níveis da organização social (Mitchell et al., 1997).
33
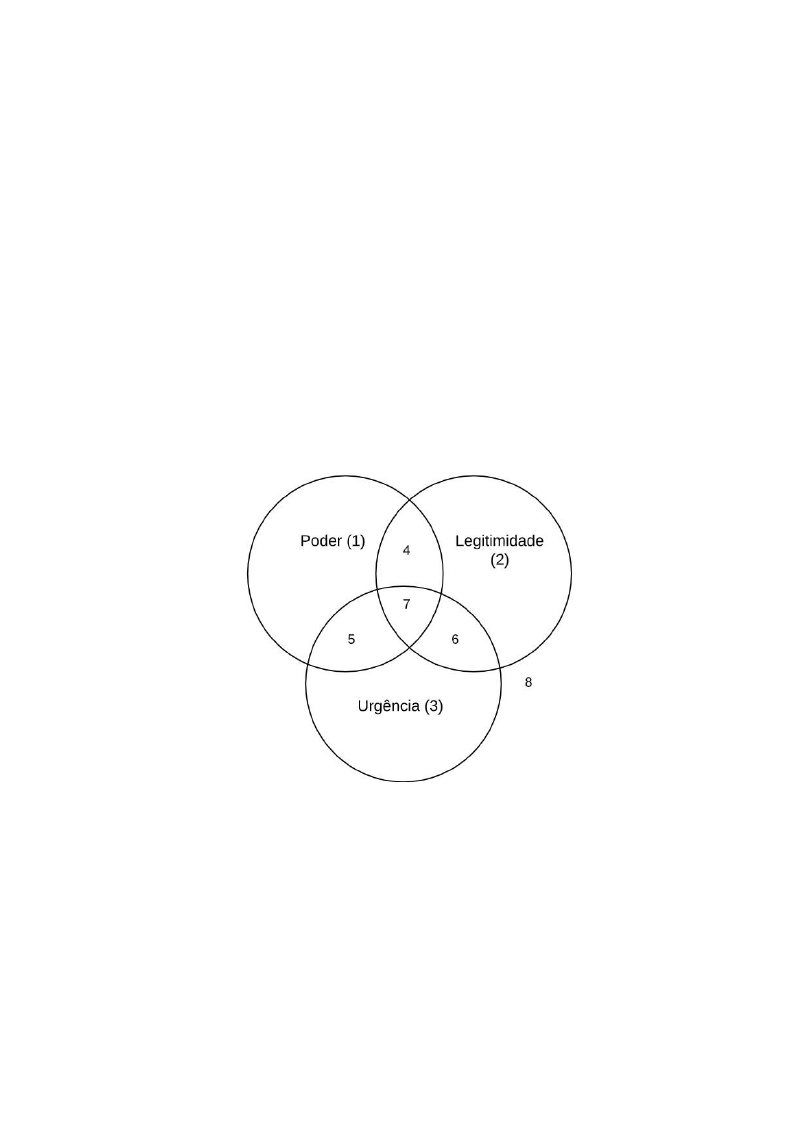
O último atributo, de Urgência, é definido como “o grau em que as reivindicações dos
stakeholders exigem atenção imediata” (Mitchell et al., 1997, p. 867) e ela existe quando a
exigência tem um prazo mensurável e definido para o gestor atender a demanda e quando
uma relação é importante ou crucial para a parte interessada, sendo mensurada pelo grau de
importância (Mitchell et al., 1997).
Com base nos argumentos de Mitchell et al. (1997), busca-se descobrir quem
realmente importa para as organizações, baseando-se em premissas como: os gerentes
buscam alcançar determinadas partes interessadas para atender os seus próprios interesses, a
sua percepção dita a relevância dos stakeholders e as várias partes interessadas podem ser
diferenciadas por três atributos: poder, legitimidade e urgência.
Com as três classes definidas, podem surgir sete tipos de categorias, sendo três com
apenas um atributo, três com dois atributos e uma com todos os atributos (Mitchell et al.,
1997), conforme a Figura 4:
Figura 4 – Grupos das classes dos stakeholders.
Fonte: Adaptado de Mitchell et al. (1997).
Mitchell et al. (1997), afirma que a relevância das partes interessadas está
positivamente relacionada ao número cumulativo de atributos - poder, legitimidade e
urgência – percebidos pelos gerentes. Os grupos de baixa saliência (1, 2 e 3), são
denominados de latentes, pois cada um apresenta apenas um dos atributos; os moderadamente
salientes (4, 5 e 6), são definidos como expectantes, pois apresentam dois atributos e são
identificados como stakeholders que esperam algo da organização; e a parte que apresentar
34
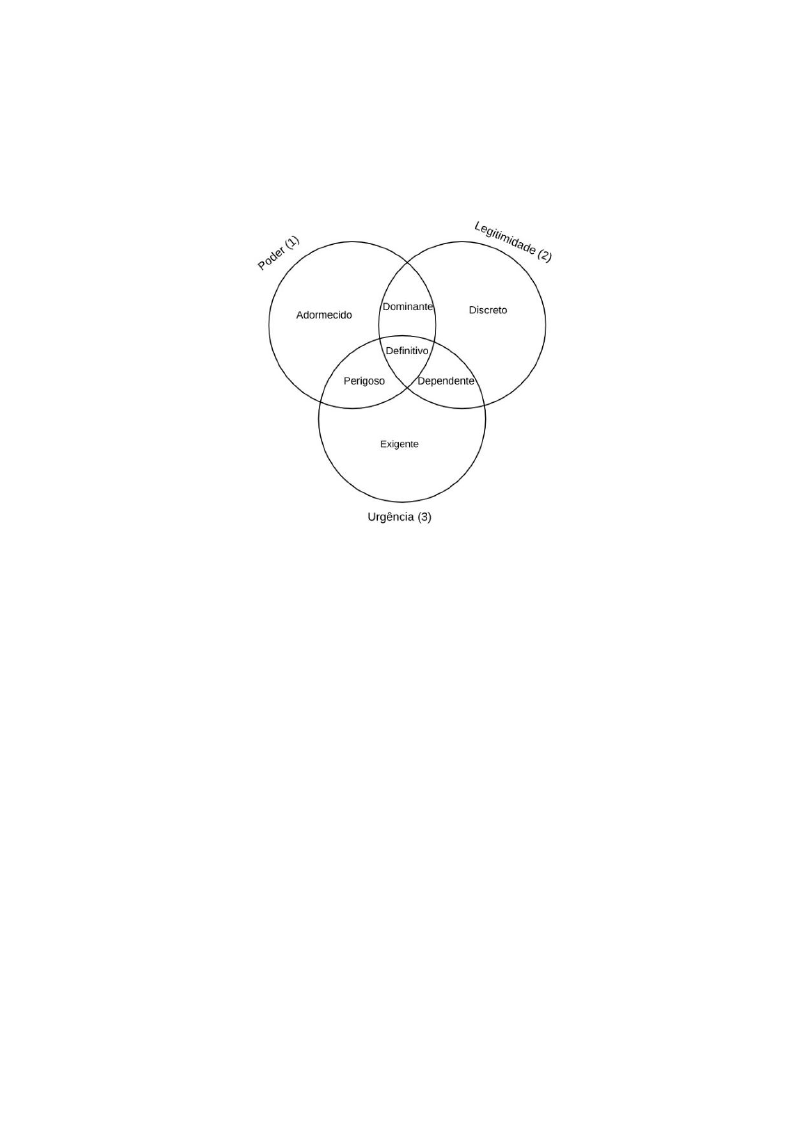
os três atributos, será definida altamente saliente que estará classificada no campo (7). Por
fim, indivíduos ou entidades que não possuem nenhum dos atributos, são denominados não-
acionistas ou potenciais partes interessadas são classificadas como (8).
Figura 5 - Classes dos stakeholders.
Fonte: Adaptado de Mitchell et al. (1997).
Conforme a Figura 5, as partes interessadas latentes são aquelas que possuem apenas
um dos três atributos, que inclui os adormecidos, os discretos e os exigentes, já os
expectantes, são os que possuem ao mesmo tempo dois atributos, sendo classificados nesta
categoria os dominantes, os dependentes e os perigosos, e por último o definitivo, que
apresenta os três atributos (Mitchell et al., 1997).
As partes interessadas latentes, normalmente não são gerenciadas pelos gestores, por
não possuírem relevância nas escolhas da organização e em contrapartida, estas partes
interessadas podem não prestar atenção ou nem mesmo reconhecerem a empresa (Mitchell
et al., 1997).
Neste grupo de latentes, tem-se os Adormecidos, que possuem apenas o atributo de
poder, que permite impor sua vontade na empresa, mas como não possuem legitimidade ou
urgência, seu poder permanece sem uso. Os Discretos possuem o atributo da legitimidade,
mas não tem o poder e a urgência para influenciar a empresa, sendo uma característica
importante deste grupo, o fato de receberem a responsabilidade social corporativa e por fim
o último dos latentes, são os exigentes, que possuem o atributo de urgência, mão não possuem
poder e legitimidade e por isso são descritos como “os mosquitos zumbindo nos ouvidos”,
35

ou seja, fazem barulho mas não conseguem realizar mudanças significativas (Mitchell et al.,
1997).
O segundo grupo, é composto pelos que possuem saliência moderada, classificados
como expectantes, vistos como “esperando algo”, pois possuem dois dos três atributos -
poder, legitimidade e urgência – assim, os mesmos exercem função ativa nos seus interesses
como stakeholders (Mitchell et al., 1997).
Os Dominantes são poderosos e legítimos perante a empresa, tendo capacidade para
exigir reinvindicações autênticas e também, para atuar e tomar decisões sobre as mesmas,
nas relações com a organização. Como exemplo, tem-se os conselhos de administração que
geralmente são compostos por stakeholders prioritários e conforme o autor, relatórios anuais
e de responsabilidade ambiental e social, são elaborados focando muitas vezes neste grupo.
(Mitchell et al., 1997).
Os Dependentes possuem os atributos de legitimidade e urgência, pois estes
dependem de outras partes interessadas, que possuem o poder necessário para realizarem a
sua vontade, podendo ser enquadrados neste grupo os mamíferos marinhos, as aves e até o
próprio ambiente natural (Mitchell et al., 1997).
Os Perigosos possuem os atributos de urgência e poder, porém lhe falta a
legitimidade, sendo caracterizados por possuírem coerção e violência, tornando-os assim
“perigosos” (Mitchell et al., 1997). Por último, os classificados como definitivos possuem
alta relevância, onde os três atributos - poder, legitimidade e urgência - são percebidos pelos
gerentes como presentes.
Em relação as pesquisas relacionadas, alguns estudos propuseram algumas analises
com o foco nas partes interessadas e também relacionadas com o meio ambiente e a
Responsabilidade Social Corporativa, conforme descrito na sequência.
Mascena (2013), teve como objetivo identificar a priorização dos stakeholders em
empresas brasileiras e sua relação com a indústria. A amostra foi composta por 90 empresas
que divulgam relatórios anuais, que adotavam o modelo GRI. Os resultados mostraram que
existe uma hierarquia na priorização dos stakeholders e há indícios de que a indústria
influencia o nível de atendimento dos interesses das partes interessadas.
O trabalho de Rodrigue (2014), buscou identificar a dinâmica informacional em
relação a gestão ambiental corporativa, que ocorre entre a empresa e os seus stakeholders.
Para isso, foi realizado um estudo de caso, que buscou contrastar as informações ambientais
divulgadas pela empresa e as mesmas informações divulgadas por quatro partes interessadas,
36

a saber, governo, comunidade, organizações não-governamentais ambientais e investidores.
Como resultados, o estudo identificou que existem múltiplos padrões relacionados à
dinâmica de divulgação ambiental, em que encontraram informações correspondentes e
também divergências entre as divulgações, e esta divergência pode estar ligada ao nível de
interação das partes interessadas, em que stakeholders mais envolvidos tendem a ser
semelhantes nas divulgações, em comparação com as divulgadas pela empresa.
Lopes (2015), tinha como objetivo investigar como a RSC na perspectiva dos
stakeholders, pode influenciar as decisões das organizações, no que diz respeito aos
desempenhos da sua função social. Para isso, utilizou a Teoria do Stakeholder e a Teoria da
RSC, para analisar um estudo de caso. Como conclusão, a autora constatou que
independentemente de a parte interessada ser primária ou secundária, ambas exercem um
papel importante nas políticas relacionadas a RSC e os que apresentam mais saliência, são
os que mais influenciam as práticas. Dentre todos os stakeholders, os colaboradores
apresentaram mais influência sobre as ações de RSC.
Morrison, Wilmshurst e Shimeld (2016), tinham como objetivo explorar se existia
diferença entre as abordagens éticas de uma empresa, em comparação com os stakeholders,
em relação as questões ambientais, identificadas principalmente em relatórios ambientais
corporativos. Foi adotado a análise do discurso, para explorar as narrativas relacionadas ao
meio ambiente nos relatórios de sustentabilidade, em comparação com as respostas de uma
amostra de stakeholders da empresa, usando três ramos da ética ambiental: utilitarismo,
deontologia e ética da virtude. Como resultados, os autores concluíram que as abordagens
éticas nos relatórios da empresa do estudo de caso, foram fundamentadas no utilitarismo e na
deontologia, em contraste com uma abordagem ética da virtude, expressa por stakeholders
externos. Com o tópico da Teoria do Stakeholder finalizado, parte-se para as questões
relacionadas com a divulgação de informações ambientais por parte das empresas.
2.2 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS
Vários termos são utilizados na literatura contábil, para se referir a práticas de
divulgação social e ambiental e que ultrapassam a esfera financeira, como responsabilidade
social corporativa, divulgação social e ambiental e práticas éticas, que buscam refletir sobre
os esforços para a prestação de contas das empresas aos seus stakeholders (partes
interessadas). Sendo assim, a divulgação ambiental é o processo de comunicação dos efeitos
37

ambientais da organização aos investidores, além dos dados financeiros, e isso ocorre a partir
do pressuposto de que as empresas têm responsabilidade em criar valor a seus acionistas
(Ahmadi & Bouri, 2017).
Nas décadas de 1960 e 1970, os relatórios financeiros foram atualizados, para
comunicar aos stakeholders as informações ambientais (Deegan & Rankin, 1997), porém as
primeiras divulgações produzidas formalmente por empresas, são datadas dos anos 80
(Ingram & Frazier, 1980), sendo que os investidores começaram a dar importância a esses
dados a partir dos anos 90 (Epstein & Freedman, 1994; Deegan & Rankin, 1997; De Villiers
& Van Staden, 2010).
Devido ao aumento da importância atribuída às questões ambientais e a necessidade
de se divulgar para as partes interessadas, as empresas tendem a divulgar voluntariamente
informações relacionadas aos impactos e, portanto, questões ambientais foram sendo
institucionalizadas nos relatórios contábeis (Cormier & Magnan, 2007).
Vale ressaltar também, que a extensão e conteúdos divulgados variam conforme o
contexto institucional, o tempo, o setor de atuação e a empresa (Gray, Javad, Power, &
Sinclair, 2001; Cormier & Magnan, 2007). O setor em que as organizações operam e o país
onde estão instaladas, pode ter um impacto indireto nas divulgações ambientais (Freedman
& Jaggi, 2005).
Outro fator que pode influenciar a divulgação ambiental é a cultura do país, pois a
mesma tem implicações importantes na ética, na responsabilidade social corporativa, na
cultura organizacional e nas práticas gerenciais (Pucheta-Martínez & Gallego-Álvarez,
2019), e assim a estrutura cultural afeta o comportamento das pessoas (Williamson, 2000) e
gera diferentes estratégias organizacionais (Scott, 2008).
A divulgação ambiental, pode ser definida como prestação de contas (Ismail et al.,
2018; Alipour et al., 2019; Abdullah, Hamzah, Ali, Tseng, & Brander, 2020). É a preparação
e captura das informações ambientais para informar aos stakeholders (Deegan, 2017).
É a divulgação do impacto que as atividades da organização causam no ambiente
físico ou natural em que estão instaladas (Wilmshurst & Frostr, 2000; Buhr & Freedman,
2001; Deegan, 2017; Alipour et al., 2019). Divulga como as empresas gerenciam as
obrigações ambientais (Cormier, Gordon, & Magnan, 2004; Rahaman, Lawrence, & Roper,
2004; Hasseldine, Salama, & Toms, 2005; De Villiers & Van Staden, 2006).
Divulgação ambiental engloba informações qualitativas e quantitativas, que
mensuram o impacto ambiental das atividades realizadas pela empresa (Buhr & Freedman,
38

2001; Burritt, 2002). Divulgação de informações relacionadas ao desempenho e atividade de
uma organização e suas implicações financeiras (Wang & Bernell, 2013).
A divulgação ambiental ocorre quando as empresas divulgam o impacto provocado
pelas suas atividades ao meio ambiente (Rosa, Ensslin, Ensslin, & Lunkes, 2012). A
divulgação ambiental, segundo Lu & Abeysekera (2014), pode ser considerada como um
diálogo entre a empresa e os seus stakeholders que possuem algum interesse pelas atividades
socioambientais corporativas, em que a organização busca demonstrar o cumprimento da
responsabilidade social corporativa (RSC).
Segundo Sheehy (2015), a definição de RSC é complicada e complexa, por causa do
contexto dos problemas e por sua natureza, pois a ecologia, a sociedade e o sistema
econômico, são sistemas complexos e a RSC está envolvida com cada uma destas esferas.
A RSC pode ser definida como uma forma de autorregulação organizacional, que
pode ser adotada por empresas, para serem reconhecidas como sustentáveis, por terem uma
cidadania corporativa, consciência corporativa ou ainda, como organizações responsáveis, e
estão ligadas a questões relacionadas à comunidade, filantropia, relações de mercado,
atividade de bem-estar, governança corporativa, conformidade legal, sustentabilidade
ambiental e direito dos trabalhadores (Sheehy, 2015). A responsabilidade social corporativa
acontece, quando a organização se envolve em atividades relacionadas ao social e ambiental,
que vão além do que a Lei exige (Siegel & Vitaliano, 2007).
RSC pode ser também caracterizada como um sacrifício dos lucros, em que os
acionistas destinam parte dos investimentos futuros, para melhorar a responsabilidade social
(Sheehy, 2015). Ela pode ser considerada uma mudança de foco, em que ocorre o
gerenciamento interno, para aprimorar as relações sociais e de partes interessadas, ou
melhorar algum outro aspecto de desempenho organizacional, que pode ser representado pela
adoção de determinados códigos de conduta, ou adoção de padrões explícitos, como ISO
26000, International Integrated Reporting Council (IIRC) e o Global Reporting Initiative
(GRI), ou ainda, padrões da ONU (Organização das Nações Unidas) (Sheehy, 2015).
Empresas que adotam a RSC, podem conquistar a lealdade dos consumidores
existentes, bem como atrair novos clientes, mantendo assim o crescimento e criando novos
produtos, com componentes que beneficiam o meio ambiente e a sociedade (Porter &
Kramer, 2011). Supõe-se que as empresas socialmente responsáveis antecipam seus
benefícios, como a cobrança de preços superiores por seus produtos e ainda, utilizam-se da
39

RSC, para recrutar e reter trabalhadores de alta qualidade (Gamerschlag, Möller, &
Verbeeten, 2011).
A RSC está intimamente ligada ao desenvolvimento sustentável, quer dizer, as
atividades da empresa, não podem impactar negativamente o meio ambiente e a sociedade
(Irigaray, Vergara, & Santos, 2013). Com os custos superiores, espera-se que a empresa
alcance status mais altos de empresa socialmente responsável (Siegel & Vitaliano, 2007).
Os principais motivos para as empresas divulgarem informações ambientais, está
relacionado com o objetivo de aumentar a legitimidade perante as partes interessadas, ou
seja, buscar aprovação da sociedade (Rahaman et al., 2004; Clarkson, Li, Richardson, &
Vasvari, 2008; Spence, Husillos, & Correa-Ruiz, 2010; Deegan & Shelly, 2014; Plumlee,
Brown, Hayes, & Marshall, 2015; Deegan, 2017; Delgado-Márquez, Pedauga, & Cordón-
Pozo, 2017).
Também esta relacionada com criar uma imagem positiva da organização (Plumlee
et al., 2015), mostrar os impactos positivos e consequentemente diminuir as percepções
negativas (Alipour et al., 2019), gerenciar as expectativas das partes interessadas (Neu et al.,
1998; Delgado-Márquez et al., 2017).
Demanda regulatória pode ser outro motivo para a divulgação (Murdifin et al., 2019),
porque o meio ambiente é um recurso não renovável, pressões das partes interessadas,
pressões sociais e políticas (Cho & Patten, 2007), foco da sociedade (Dennis, 2002),
aumentar a fidelidade dos clientes e assim gerando vantagem competitiva, menos batalhas
legais e menos legislação imposta pelo governo (Elijido-Ten, Kloot, & Clarkson, 2010).
As organizações podem divulgar informações ambientais para aumentar sua
lucratividade, fomentar uma imagem favorável e melhorar seu desempenho (Hsu, 2012; Ge
& Liu, 2015).
As empresas sofrem pressões em relação aos impactos provocados ao meio ambiente
por conta das suas atividades, sendo que estas podem ser divididas em dois grupos: o
primeiro, caracterizado por pressões regulamentadas por políticas globais, regulamento
governamental, direito ambiental, instituições ambientais e medição fiscal, e o segundo está
relacionado a pressões exercidas pelo mercado, como concorrentes, investidores, acionistas
e partes interessadas (Murdifin et al., 2019).
Pesquisas anteriores, podem ser enquadradas em dois campos distintos relacionados
as determinantes para a divulgação ambiental, sendo a primeira relacionada a lógica
econômica, quer dizer, a decisão da divulgação ambiental está relacionada com o objetivo de
40
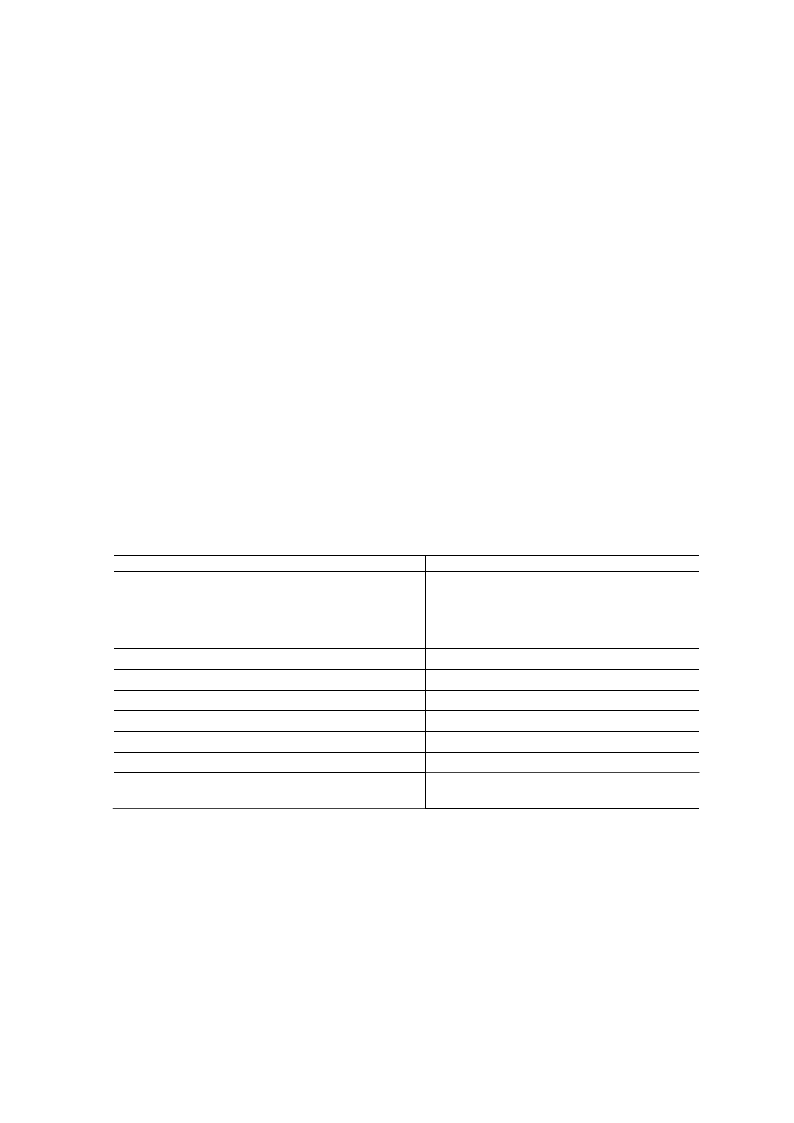
satisfazer às necessidades dos seus acionistas, que exigem saber quais atividades impactam
o meio ambiente, para avaliar se isso afetará ou comprometerá os fluxos de caixa futuro. Por
outro lado, na perspectiva da legitimidade, as empresas procuram divulgar informações
ambientais que atendem às necessidades dos investidores (parte financeira interessada) e
outros stakeholders, que têm por objetivo verificar os impactos causados ao meio ambiente
(Cormier & Magnan, 2015).
A teoria econômica sugere que os investidores atuais e em potencial, exigem
divulgação de informações ambientais relevantes, para a tomada de decisão do investimento
e em resposta, as empresas avaliam o custo-benefício dessa divulgação (Tadros & Magnan,
2019).
Quando ocorre a ausência de informações, os investidores coletam dados privados,
aumentando o custo da negociação. Por outro lado, se a empresa disponibilizar as
informações ambientais, a mesma se beneficia com a redução do custo para coleta das
informações (Diamond, 1985; Botosan, 1997).
As motivações relacionadas a divulgação ambiental podem ser resumidas na Tabela
1.
Motivação
Aumentar a legitimidade perante as partes interessadas.
Autores
Rahaman et al. (2004); Clarkson et al. (2008);
Spence, Husillos e Correa-Ruiz (2010); Deegan e
Shelly (2014); Cormier e Magnan (2015);
Plumlee et al. (2015); Deegan (2017); Delgado-
Márquez, Pedauga e Cordón-Pozo (2017).
Criar uma imagem positiva da organização.
Plumlee et al. (2015).
Gerenciar as expectativas das partes interessadas.
Neu et al. (1998); Delgado-Márquez et al. (2017).
Demanda regulatória.
Murdifin et al. (2019).
Pressões das partes interessadas.
Cho & Patten (2007); Murdifin et al. (2019)..
Aumentar a fidelidade dos clientes.
Elijido-Ten, Kloot e Clarkson (2010).
Aumentar sua lucratividade.
Hsu (2012); Ge e Liu (2015).
Investidores atuais e em potencial, exigem divulgação de
informações ambientais relevantes.
Tadros e Magnan (2019).
Tabela 1 - Razões pelas quais as divulgações ambientais ocorrem.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos autores do referencial teórico (2021).
Observa-se que, embora a divulgação ambiental já esteja sendo realizada há muitos
anos, a mesma não é regulamentada pela legislação (Ane, 2012; De Villiers & Van Staden,
2012; Ismail et al., 2018). Assim, por ser ainda voluntária, as empresas são livres para
escolher a forma de divulgação e com isso, podem surgir problemas de qualidade, como
comparabilidade e consistência, no decorrer dos anos e entre as organizações (Ahmad &
41

Sulaiman, 2004; Ane, 2012; De Villiers & Van Staden, 2012; Michelon, Pilonato, & Ricceri,
2015).
Não existe uma definição universal sobre a qualidade da divulgação ambiental
(Baalouch et al., 2019). Para Brammer e Pavelin (2008), a qualidade está relacionada com a
relevância das informações divulgadas, para o maior número possível de partes interessadas
e a mesma está sujeita a confirmação externa.
A qualidade pode ser medida, a partir da utilidade para um usuário externo (Ane,
2012; Michelon et al., 2015). Por exemplo, para Jacobs, Singhal e Subramanian (2010), o
mercado não reage bem a prêmios ambientais que não são governamentais, pois são menos
prestigiados e objetivos e tendem a ser considerados como propaganda.
Relatórios de divulgação ambiental de alta qualidade, são os que informam não
apenas os objetivos da empresa, mas também as estratégias e atividades realizadas para serem
alcançadas (Ahmadi & Bouri, 2017). Alta qualidade ocorre, quando a divulgação ambiental
consegue agregar na precisão e relevância, podendo ser utilizada para a tomada de decisão
(Cormier, Magnan, & Van Velthoven, 2005).
A responsabilidade pelo impacto ambiental, requer uma abordagem de divulgação
que garante transparência e que seja de interesse público (Patten, 2005; Llena, Moneva, &
Hernandez, 2007). Com isso, as informações devem estar disponíveis para uma ampla gama
de stakeholders, adicionando o público em geral (Bebbington, Unerman & O'Dwyer 2014
apud Situ & Tilt, 2018; Gray, Owen e Adams 1996 apud Situ & Tilt, 2018).
Neste contexto, divulgações ambientais obrigatórias tendem a possuir alta qualidade,
em comparação a divulgação voluntária, que muitas vezes é incompleta e auto elogiável
(Deegan & Gordon 1996; Gray, Owen, & Adams 1996 apud Situ & Tilt, 2018).
Assim, a falta de diretrizes no âmbito nacional e internacional, permite uma maior
flexibilidade relacionada às divulgações ambientais e como resultado, pode ocorrer uma falta
de integridade em termos de conteúdo, informações e extensão (Said, Zainuddin, & Haron,
2009; De Villiers & Van Staden, 2012; Haji, 2013; Michelon et al., 2015). Com isso, a
confiabilidade da divulgação ambiental é frequentemente questionada (Wang & Bernell,
2013), pois espera-se que as atividades ambientais estimulem os comportamentos éticos
corporativos (Kang & Moon, 2011).
O aumento da conscientização com relação a exploração de recursos naturais, em
decorrência do movimento de desenvolvimento econômico sustentável, fez com que as
empresas voltassem sua atenção para a sensibilidade ambiental e assim o meio ambiente tem
42
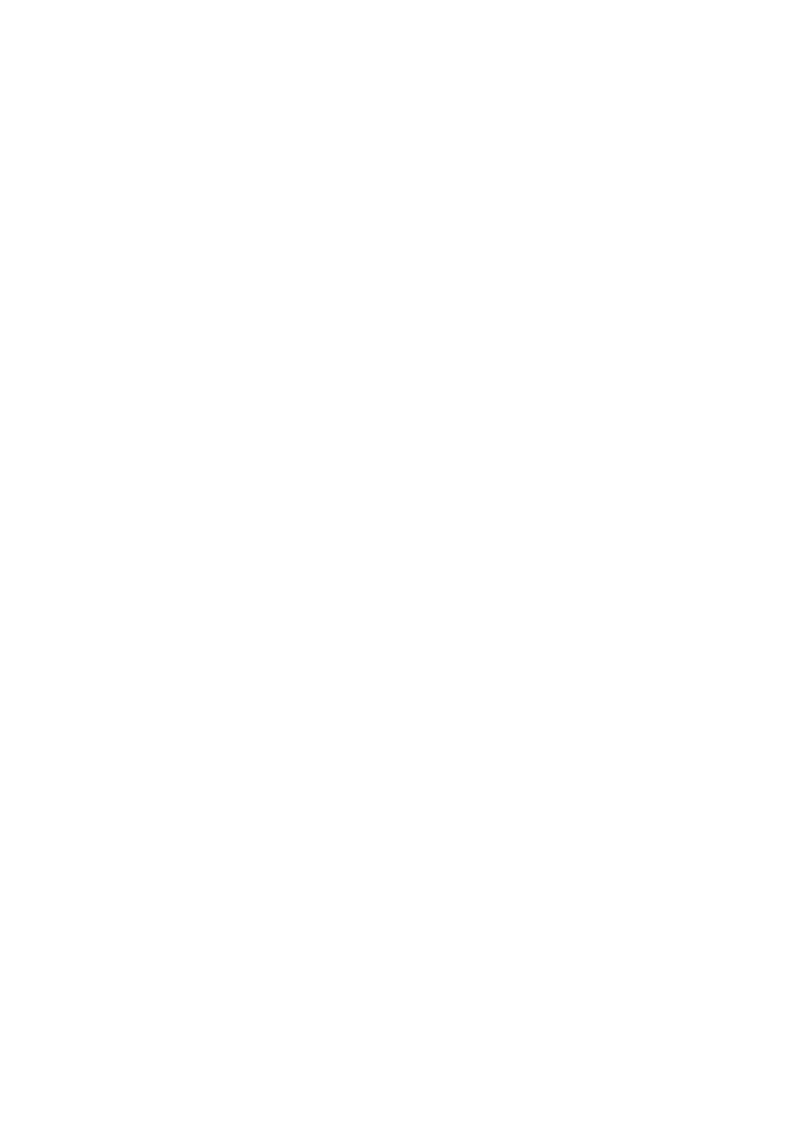
sido considerado a base para a sustentabilidade (Morse & Vogiatzakis, 2014; Okafor, 2018).
A divulgação destas informações ambientais por parte das empresas, é um aspecto importante
que deve ser gerenciado (Okafor, 2018).
Estas divulgações ocorrem principalmente em relatórios de sustentabilidade, que são
utilizados para relatar informações relacionadas aos impactos econômicos, sociais e
ambientais das operações das empresas (Faroop & Villiers, 2019).
Vários motivos levam as organizações a divulgarem informações ambientais (Gray et
al., 2001), especialmente porque os relatórios, sites e outros documentos, fornecem um perfil
das atividades da empresa no decorrer dos anos (Harte & Owen, 1991; Tilt & Symes, 2006;
Stray, 2008).
Instituições internacionais desenvolveram padrões para orientar a implementação da
divulgação ambiental corporativa e padronizar práticas globais de publicação (Wang &
Bernell, 2013), tendo como principais representantes o IIRC e o GRI.
O IIRC é um conselho criado para estruturar e estabelecer os Princípios Básicos e
Elementos de Conteúdo dos relatórios integrados, para que possam servir de base para o que
deve ser divulgado. O principal conceito neste padrão, é a visão de longo prazo sobre o
mundo, que enfatiza o pensamento integrado das práticas comerciais dos setores públicos e
privados, contribuindo assim para a alocação eficiente e produtiva do capital (IIRC, 2014).
Também conhecido no Brasil como “Relato Integrado”, o mesmo visa melhorar a
responsabilidade pela gestão dos sete capitais, que são: financeiro, manufaturado, intelectual,
humano, social, de relacionamento e natural, tendo sempre a visão de integração entre todos
(IIRC, 2014).
As empresas são dependentes de todos estes capitais para serem eficientes, pois os
mesmos podem acumular-se, aumentar, diminuir ou se transformar, por meio das atividades
realizadas. Para exemplificar, considera-se o uso da água para irrigação de lavouras, que
servem de alimento para o gado, tendo em vista que todos estão classificados como capital
natural, sendo este o foco do presente estudo (IIRC, 2014).
Este capital muitas vezes pode ser de propriedade da empresa, de outros ou ainda.
pode não possuir dono e assim, a responsabilidade de gestão pode ser imposta por Lei ou
regulamentação de proteção ambiental e não obstante, se não houver uma regulação, a
empresa pode tera responsabilidade ética de aceitar a função de gestão, e suas práticas podem
ser norteadas pelas expectativas das partes interessadas (IIRC, 2014).
43

O capital natural inclui todos os recursos ambientais, renováveis ou não, e os
processos naturais que fornecem de alguma maneira, bens e serviços, que corroboram para o
desempenho presente, do passado e do futuro da empresa, incluindo aqui a água, a terra, os
minerais, as florestas, a biodiversidade e a qualidade do ecossistema (IIRC, 2014).
Este capital pode estar relacionado ao ambiente externo, que afeta diretamente a
geração de valor em curto, médio e longo prazo, tendo fatores como interesses e necessidades
das partes interessadas, velocidade e efeitos das mudanças tecnológicas, desafios ambientais
como mudanças climáticas, perda de ecossistemas e escassez de recursos. Portanto, à medida
que os limites do planeta se aproximam, entende-se a necessidade de que os aspectos citados
sejam gerenciados (IIRC, 2014).
As partes interessadas são um fator importante para o IIRC, representadas por todos
os grupos afetados, de alguma maneira, pelas atividades da organização, ou ainda, nos casos
em que produtos por ela produzidos, possam causar algum impacto, sendo todos levados em
consideração, em virtude da geração de valor ao longo do tempo. Esse público, é constituído
na maioria das vezes, por “provedores de capital financeiro, empregados, clientes,
fornecedores, parceiros comerciais, comunidades locais, ONGs, grupos ambientalistas,
legisladores, reguladores e formuladores de políticas” (IIRC, 2014, p. 33).
As questões tecnológicas estão ligadas ao planejamento, design da produção,
alocação de habilidades e conhecimentos na manufatura ou prestação de serviço, que
incentiva assim a cultura da inovação, geração de novos produtos e serviços, melhora o uso
da tecnologia e com isso, substitui insumos para minimizar os efeitos sociais e ambientais,
com o uso de alternativas para a realização das atividades (IIRC, 2014).
Outro movimento que deve ser mencionado é o GRI, criado em 1997 por uma ONG
(Organização não Governamental) americana, chamada Coalition for Environmentally
Responsible Economies (Ceres) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(Pnuma), desenvolvido para orientar e mostrar as diretrizes para relatórios de
sustentabilidade, em que são propostos princípios para relatórios, divulgações de padrões e
manuais de implementação, independentemente do seu porte, setor ou país, preocupado
principalmente com a divulgação da governança, desempenho e impactos ambientais, sociais
e econômicos das organizações (GRI, 2015).
A primeira versão foi publicada em 2000, a segunda em 2002, a terceira em 2006
(Paris, 2012), e a quarta em 2013 (GRI, 2015). A GRI gera a maioria dos padrões de relatórios
utilizados em relatórios de sustentabilidade (Brown, 2011 apud Murdifin et al., 2019), sendo
44
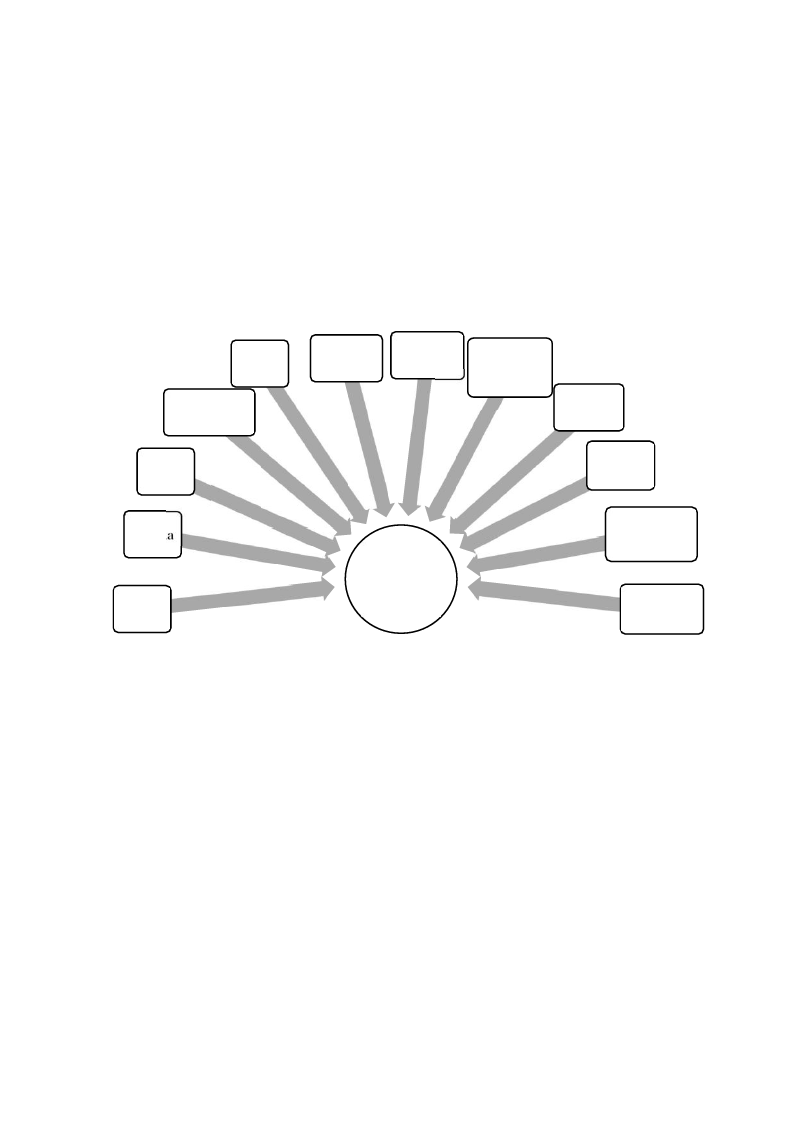
considerado o mais popular entre os movimentos globais de divulgação (Wang & Bernell,
2013).
As diretrizes propostas pelo GRI, são divididas em três categorias: econômica,
ambiental e social (GRI, 2015). Como o foco são as divulgações ambientais, o recorte será
especificamente nestas orientações. Os principais focos do padrão do GRI em relação a
divulgação ambiental, podem ser observados na Figura 6.
Emissões
Efluentes e Produtos e
Resíduos
serviços Conformidade
Biodiversidade
Transportes
Água
Energia
Materiais
Divulgações
Ambientais
No geral
Avaliação
Ambiental do
Fornecedor
Reclamações
Ambientais
Figura 6 - Divulgações Ambientais.
Fonte: Elaborado pelo autor com base no GRI (2015).
A dimensão ambiental está relacionada ao impacto da organização na
sustentabilidade, nos sistemas naturais vivos e não vivos, abrangendo terra, ar, água e
ecossistemas, sendo que esta categoria orienta as divulgações relacionadas a insumos, como
energia e água, produtos, como emissões, efluentes e resíduos, considera a biodiversidade, o
transporte e os possíveis danos causados pelos produtos e serviços (GRI, 2015).
Os indicadores ambientais, demonstram como a empresa gerencia os impactos
ambientais causados à natureza, à água, ao ar, ao solo e ao ecossistema, abrangendo
informações sobre os impactos provocados pelos seus produtos e serviços ao meio ambiente,
o consumo de recursos, a utilização de substâncias ambientalmente perigosas, a emissão de
gases, a geração de resíduos, os custos de investimentos ambientais e multas por
irregularidades ambientais (Godoi, 2011).
45

Em relação aos materiais, são divulgados os “materiais utilizados por peso ou volume
e a porcentagem de materiais usados que são materiais de entrada reciclados” (GRI, 2015, p.
85). O tópico de energia, orienta sobre a divulgação de “consumo de energia dentro da
organização, consumo de energia fora da organização, intensidade de energia, redução do
consumo de energia e reduções nos requisitos de energia de produtos e serviços” (GRI, 2015,
p. 88).
O tópico da água, orienta as divulgações relacionadas com “captação total de água
por fonte, fontes hídricas significativamente afetadas pela retirada de água e percentual e
volume total de água reciclada e reutilizada” (GRI, 2015, p. 96). Os assuntos relacionados a
biodiversidade, são delimitados em áreas conservadas fora de áreas já protegidas, impactos
causados na biodiversidade, habitats protegidos ou restaurados e número de espécies
ameaçadas, encontradas nos locais em que a empresa atua (GRI, 2015).
Um tópico é destinado às emissões, que abrange as emissões causadoras do efeito
estufa, emissões indiretas de energia, outras emissões causadoras do efeito estufa, intensidade
das emissões, reduções alcançadas, substâncias emitidas que causam a destruição da camada
de ozônio, emissão de NOX (Óxidos de nitrogênio) e SOX (Óxidos de enxofre) e outras
emissões atmosféricas significativas (GRI, 2015). O tópico de efluentes e resíduos, busca
divulgar informações relacionadas ao descarte da água (qualidade e destinação), a quantidade
de resíduos gerados, o número e volume de derramamentos, os resíduos utilizados que são
considerados perigosos, os lugares impactados pelos descartes de água e o escoamento da
organização (GRI, 2015).
A esfera relacionada aos produtos e serviços, aborda a “extensão da mitigação de
impactos ambientais de produtos e serviços e a porcentagem de produtos vendidos e seus
materiais de embalagem recuperados por categoria” (GRI, 2015, p. 127). O tópico da
conformidade, aborda o “valor monetário de multas significativas e número total de sanções
não monetárias resultantes da não conformidade com leis e regulamentos ambientais” (GRI,
2015, p. 130).
Em relação ao transporte, o GRI orienta como divulgar sobre os “impactos ambientais
significativos do transporte de produtos e outros bens e materiais para as operações da
organização e do transporte de membros da força de trabalho” (GRI, 2015, p. 132). O tópico
intitulado no geral, aborda o “total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por
tipo” (GRI, 2015, p. 134).
46
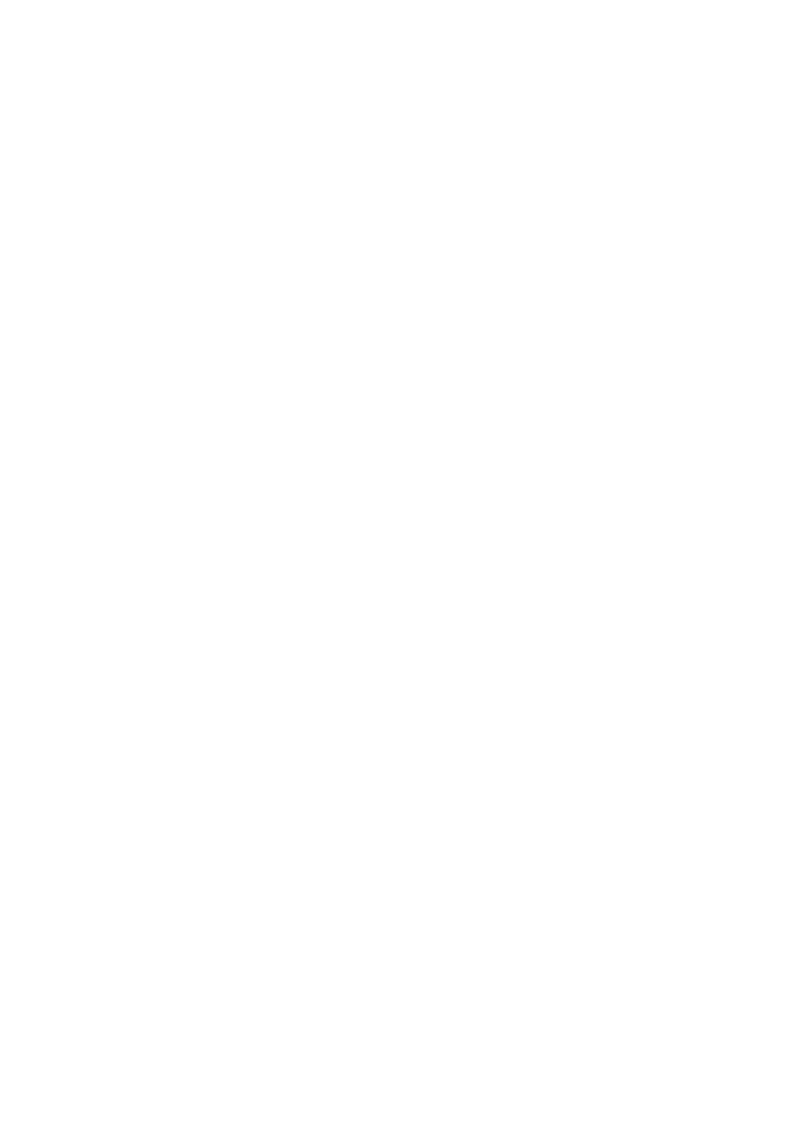
A avaliação ambiental do fornecedor, aborda a “porcentagem de novos fornecedores
que foram selecionados usando critérios ambientais e os impactos ambientais negativos
significativos reais e potenciais na cadeia de suprimentos e ações tomadas” (GRI, 2015, p.
136). O último, é relacionado a implementação de canal de denúncias, que mostra o “número
de queixas e reclamações sobre impactos ambientais registradas, solucionadas e solucionadas
por meio de mecanismos formais” (GRI, 2015, p. 140).
Os relatórios de sustentabilidade, com base no GRI, podem ser utilizados como
referência e avaliação do desempenho relacionado a sustentabilidade, em se tratando de Leis,
normas, códigos, padrões e iniciativas voluntárias, pois demonstram o envolvimento da
organização com o desenvolvimento sustentável e também podem ser utilizados como
comparação, sobre o desempenho organizacional a longo prazo (Godoi, 2011).
Com a adoção do GRI, as empresas conseguem avançar e desenvolver melhor os
relatórios de sustentabilidade, não sendo apenas um padrão de referência, mas sim um guia
detalhado, que orienta os métodos e conteúdos a serem divulgados. Além dos indicadores de
desempenho econômico, ambiental e social, o GRI encoraja as organizações a divulgarem
indicadores de sustentabilidade de forma integrada, que permitam avaliar o desempenho da
empresa, em relação ao sistema global (Godoi, 2011).
Relatórios de sustentabilidade orientados pelo GRI, por exemplo, são mais
abrangentes e direcionados às partes interessadas, visando assim fornecer informações de
responsabilidade, para uma variedade de stakeholders, sobre os impactos que as atividades
da empresa causam a este público (O’Dwyer & Unerman, 2020).
Com o aumento da publicação de relatórios, a qualidade de muitos pode ser remetida
principalmente com as iniciativas globais do Global Reporting Initiative e pelo International
Integrated Reporting Council (Deegan, 2017).
Cho, Guidry, Hageman e Patten (2012), argumentam que as empresas divulgam
informações ambientais porque levam o desenvolvimento sustentável a sério, mesmo não
tendo um impacto direto na natureza, já outras organizações, divulgam pois impactam
diretamente o meio onde estão inseridas e com isso, precisam gerar legitimidade corporativa.
Contudo, a divulgação se transforma em uma estratégia de comunicação, para mudar as
percepções do público e pode ainda mascarar algumas atividades, pois a mesma possui falta
de responsabilidade, em relação ao desenvolvimento sustentável.
Para Gerged, Al-Haddad e Al-Hajri (2020), existem duas proposições de
envolvimento, relacionadas às práticas ao meio ambiente. Primeiro, as organizações podem
47

divulgar informações ambientais para atender às expectativas de diferentes grupos de
stakeholders (Jones, 1995; Patten & Trompeter, 2003). A segunda motivação, pode estar
ligada a ações oportunísticas dos gerentes, que divulgam por causa de interesses próprios,
encobrindo condutas que contrariam as expectativas (McWilliams, Siegel, & Wright, 2006).
As empresas também podem sofrer pressões para a divulgação ambiental, em virtude
de protestos pacíficos ou não, críticas e exposição pela mídia, pressões de organizações não-
governamentais, greves de funcionários, manifestações comunitárias e até mesmo boicote de
produtos, que comercializam ou produzem (Islam, Miah, & Fakir, 2015).
Com o aumento da preocupação da sociedade em relação a natureza, as empresas são
pressionadas a divulgar informações, para que as partes interessadas possam avaliar como
está a sua relação com o meio ambiente, sendo gerado assim uma forma de prestação de
contas (Da Rosa, Ensslin, Ensslin, & Lunkes, 2011).
Hora e Subramanian (2019), argumentam que as divulgações ambientais podem ser
categorizadas como discricionárias ou mandatadas, sendo que a primeira está relacionada
com divulgações na imprensa ou em relatórios corporativos, como relatórios anuais,
declarações de políticas ambientais ou relatórios de sustentabilidade, que por sua vez, podem
incluir informações positivas e negativas, já a segunda, está relacionada com divulgações de
caráter obrigatório, seguindo orientações, por exemplo, da Securities and Exchange
Commission’s (SEC) ou de acordo com o Financial Accounting Standards Board (FASB) e
normalmente são informações negativas, ou que relatam atividades de conformidade.
Divulgações discricionárias positivas (Hora & Subramanian, 2019), podem ser
utilizadas pelas empresas, como oportunidade para relatarem uma imagem mais verde do que
uma análise mais profunda poderia suportar, assim, resultados ambientais positivos são
enfatizados, enquanto que resultados ambientais negativos e potencialmente mais graves, são
ignorados (TerraChoice, 2007; Lyon & Maxwell, 2011).
As empresas também podem aplicar o gerenciamento de impressões nas divulgações
ambientais, que ocorre quando utilizam as divulgações para gerenciar sua reputação perante
as partes interessadas, como o governo, por exemplo, em que a mesma pode divulgar alguma
informação para se antecipar em relação a regulamentação a ser imposta e assim, as empresas
equilibram as pressões internas e externas, por demanda de informações ambientais (Kolk &
Fortanier, 2013). Os gerentes avaliam o custo benefício, para definir o que pode ser divulgado
e o que não (Martin & Hadley, 2008).
48

Deegan (2017), encontra uma lacuna entre as expectativas dos stakeholders e a
responsabilidade ambiental divulgada pelas empresas, pois a realidade é desequilibrada. As
organizações causam impacto no meio ambiente, para conseguir o lucro e por outro lado,
muitas divulgações são simplesmente simbólicas (Gaveau et al., 2014; Karthik, Baikie,
Huang, & Guet, 2015; Purnomo et al., 2018).
Quando a empresa possui desempenhos ambientais ruins, a mesma busca divulgar
informações com um “tom” mais otimista e assim, os públicos de interesse acabam
gerenciando a sua reputação, em relação as pressões políticas e sociais (Walden & Schwartz,
1997; Cho & Patten, 2007; Cho, Roberts, & Patten, 2010; Cho et al., 2012). Por esse motivo,
De Villiers e Van Staden (2010), argumentam que as divulgações devem ser auditadas, com
o objetivo de garantir a sua confiabilidade.
As empresas utilizam-se do recurso da divulgação ambiental, para proteger sua
reputação e identidade, relacionando-se com os stakeholders por meio de um discurso moral
(Reynolds & Yuthas, 2008; Vanhamme & Grobben, 2009). Desse modo, as organizações
buscam reduzir seu impacto ambiental, para melhorar a sua imagem e não gerar conflitos
com as partes interessadas (Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010).
Estas informações são geralmente divulgadas por setores que possuem altos impactos
de poluição e degradação do ambiente em que estão inseridos, pois os mesmos sofrem mais
pressões por parte das partes interessadas (Patten, 1991; Adams, Hill, & Roberts, 1998; Gray
et al., 2001; Brammer & Pavelin, 2006, 2008; Cho & Patten, 2007; Haddock-Fraser & Fraser,
2008; Cormier & Magnan, 1999, 2003; González-Benito & González-Benito, 2005).
Da Rosa, Guesser, Hein, Pfitscher, & Lunkes (2015), afirmam que as pesquisas
voltadas para a análise das divulgações ambientais, têm por objetivo identificar os tipos de
informações ambientais que são divulgadas ao público em relatórios, e ainda, reconhecer os
fatores que orientam este disclosure. Por conseguinte, pode-se observar que existem diversos
critérios que podem ser utilizados, para analisar como as empresas afetam e são afetadas pelo
meio ambiente.
Em relação a mensuração do nível de evidenciação ambiental, alguns estudos
propuseram a utilização de determinados métodos, conforme descrito na sequência.
Degenhart, Vogt, Hein, Rosa, & Brizolla (2019), utilizaram os métodos multicritério, T ‐
ODA, modelo de entropia e TOPSIS, tendo como população empresas pertencentes ao Índice
Brasileiro 100 (IBrX ‐ 100) listadas no B3. Para mensurar o grau de evidenciação ambiental,
foram utilizados os relatórios de sustentabilidade e o relatório anual de cada empresa, com
49

base nas diretrizes apresentadas pela GRI, concentrando-se em cinco aspectos, sendo eles:
emissões, efluentes, desperdício, produtos e serviços de transporte.
Ainda, segundo Degenhart et al. (2019), com a utilização do T – ODA e do TOPSIS,
foi possível gerar os rankings de evidenciação ambiental das empresas da amostra, sendo o
TOPSIS também utilizado de forma semelhante, para verificar as divulgações ambientais na
pesquisa de Degenhart, Da Rosa, Vogt, & Hein (2016) e o T – ODA, também utilizado na
pesquisa de Vogt, Degenhart, Hein, & Da Rosa (2016). Já o método de entropia, foi
empregado para calcular o peso de cada variável utilizada, permitindo assim a utilização do
método multicritério TOPSIS para categorizar os cenários.
O trabalho de Pavesi, Zaro, Lunkes, & Da Rosa (2016), tinha por objetivo avaliar o
desempenho da evidenciação ambiental em uma indústria e para isso, utilizaram o estudo de
Crespo Soler, Ripoll Feliu, Da Rosa, & Lunkes (2011), que a partir das diretrizes do GRI e a
Metodologia Multicritério de Apoio a Decisão Construtivista (MCDA-C), desenvolveram
modelo Environmental Disclosure Evaluation (EDE), que possibilita identificar, medir,
integrar e apresentar de forma clara, diagnósticos para melhoria das ações.
Vogt et al. (2016), utilizaram o Displaced Ideal (solução ideal), para identificar o
nível de responsabilidade social e ambiental das empresas brasileiras, relacionadas aos
transportes evidenciados nos relatórios de sustentabilidade e nos relatórios anuais. O referido
método, foi selecionado porque permite a identificação de empresas, que apresentam melhor
evidenciação dos impactos ambientais. Outro método utilizado, foi a entropia da informação,
que tem por objetivo, identificar o peso da informação de cada aspecto relacionado ao meio
ambiente.
Huang e Kung (2010), tinham como objetivo verificar as expectativas das partes
interessadas associadas à divulgação ambiental corporativa, tendo como amostra, empresas
de Taiwan listadas na Bolsa de Taiwan. Como resultados, os autores constataram que as
demandas dos stakeholders, como governo e consumidores (parte externa), acionistas e
funcionários (parte interna) e organizações de proteção ambiental e empresas de
contabilidade (parte intermediária), afetam significativamente a divulgação ambiental.
Samkin e Schneider (2014), tinham como objetivo desenvolver uma estrutura de
relatório e avaliação, com base em relatórios anuais, analisando informações relacionadas a
biodiversidade, utilizando como base a perspectiva da ecologia profunda, intermediária e
rasa. Por meio da análise de conteúdo dos relatórios de uma organização de conservação, ao
longo de um período de 23 anos, os autores identificaram que por meio da divulgação sobre
50

a biodiversidade, as partes interessadas podem determinar metas, avaliar sua implementação
e avaliar o desempenho da organização. Descobriram também, que a maioria das divulgações
reflete uma abordagem ecológica profunda e a existência de uma tensão entre profunda e
superficial, relacionada à exploração da propriedade de conservação.
Hassan e Guo (2017), tiveram como objetivo analisar se as empresas europeias
emitem relatórios ambientais independentes, para criar ou manter legitimidade com as partes
interessadas relevantes e a amostra foi composta por 100 grandes empresas europeias. Como
resultado, constatou-se que empresas que utilizam intensivamente o carbono, publicam
relatórios ambientais para se legitimar e criar uma imagem de “bons cidadãos corporativos”.
Sosa (2017), buscou verificar se o Relato Integrado corresponde a uma iniciativa
alinhada aos fundamentos da economia ecológica. A amostra foi composta por 6 empresas
brasileiras e como resultado, constatou-se que os RIs não correspondem a uma iniciativa
alinhada com os fundamentos da economia ecológica e que isso pode afetar a transformação
da governança corporativa e comprometer diretamente a gestão ambiental corporativa. O
estudo também buscou contribuir com sugestões de modificação na Estrutura Internacional
para Relato Integrado, com o intuito de alinhá-la aos fundamentos da economia ecológica.
Com o tópico das divulgações de informações ambientais finalizado, parte-se para a
verificação e relação com as filosofias ecológicas.
2.3 FILOSOFIAS ECOLÓGICAS
O ambientalismo se tornou uma ideologia dominante em várias esferas da sociedade,
e, como resultado, não existem mais aspectos controversos entre o valor da natureza e da
ecologia (Eder, 1996 apud Buhr & Reiter, 2006), porém, devido às falhas da ECO-92 no Rio
de Janeiro e do Protocolo de Kyoto de 1997, embora todos estejam no mesmo barco, nem
todos remam na mesma direção (Buhr & Reiter, 2006).
A evolução e as mudanças do ambientalismo nas últimas décadas, foram descritas
por Elkington (1997, 2004) apud Buhr e Reiter (2006) e Eder (1996) apud Buhr e Reiter
(2006), como 3 ondas ou fases, em que os dois divergem em alguns aspectos e momentos
sobre os acontecimentos, contudo, concordam que existem padrões na predominância e
popularidade do ambientalismo.
Elkington (1997, 2004) apud Buhr e Reiter (2006), descreve as ondas entre 1961 e
2001, em que a primeira teve seu ponto forte no Dia da Terra em 1970, momento em que
51
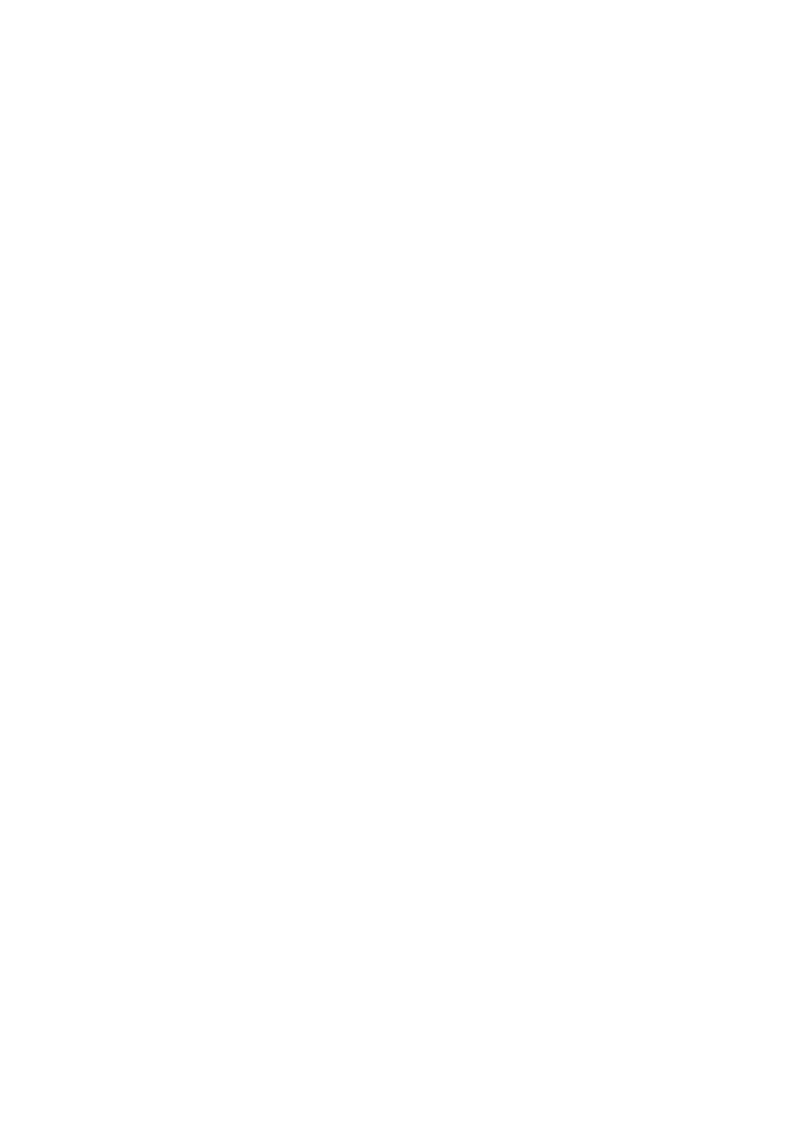
percebeu-se que os impactos ambientais teriam que ser limitados, ocasionando assim o
estabelecimento de uma legislação específica e de uma postura defensiva. A segunda onda,
foi no Dia da Terra em 1990, e a partir disso, ampliou-se a percepção de que novos tipos de
tecnologias e produção precisavam ser implementados e assim todas as empresas deveriam
ser mais competitivas nesta área. Já a terceira onda começa em 1999, para alavancar o
conceito de desenvolvimento sustentável, mostrando que empresas, governo e sociedade civil
precisam realizar mudanças profundas.
Eder (1996) apud Buhr e Reiter (2006), afirma que as três fases iniciam no final da
década de 1960, sendo a primeira fase caracterizada pelas divergências entre a ecologia e a
economia, no que tange aos problemas ambientais. A segunda, ocorreu com o
desenvolvimento das regulações ambientais e, por último a terceira fase, ocorreu por volta
da metade dos anos 90, época em que as preocupações ambientais foram integradas na cultura
e no pensamento ideológico.
O ambientalismo da década de 1980, era um discurso de protesto, que colocou o meio
ambiente nas agendas da sociedade e a partir desse momento, criou-se uma variedade de
grupos de interesse, com vários pontos de vista e consequentemente, surgiram os opositores,
que também se apropriaram do assunto. Posteriormente, o discurso ambientalista foi
transformado em uma ideologia política, que originou diversos conflitos e debates públicos,
que impactam a sociedade (Buhr & Reiter, 2006).
Essa quantidade e diversidade de comunicação ambiental, cria um espaço para o
discurso, em que várias vozes são testadas quanto ao seu poder de legitimidade. Sendo assim,
as empresas devem legitimar-se através da adoção de discursos, que defendam sua imagem
pública. Por consequência, diversos concorrentes que atuam no mercado, tentarão produzir
uma imagem verde, até o ponto desta tornar-se um ativo simbólico na sociedade atual (Buhr
& Reiter, 2006).
A partir do que foi exposto, considera-se importante trazer alguns pontos de vista,
sobre as filosofias ambientais. As abordagens a serem apresentadas, são as diferentes
filosofias ou visões que as empresas podem assumir, para compreender os discursos
ambientais corporativos (Buhr & Reiter, 2006).
A filosofia tradicional, pode ser subdividida em teorias consequenciais, como o
utilitarismo, e teorias não consequenciais, como as baseadas no direito (Buhr & Reiter, 2006).
A filosofia ambiental, pode ser enquadrada nas duas vertentes e também pode ser
caracterizada em um ramo não tradicional, nomeado por ecologia profunda e ecofeminismo
52

(Warren, 1998 apud Buhr & Reiter, 2006). Com isso, a filosofia ambiental pode ser dividida
entre antropocêntrica, ou seja, centrada no homem ou ecocêntrica, quer dizer, centrada na
terra (Purser, Park, & Montuori, 1995; Attfield, 2003 apud Buhr & Reiter, 2006).
Para Gray, Owen e Adams (1996) apud Buhr e Reiter (2006), existem algumas
variáveis dentro das filosofias antropocêntricas e ecocêntricas, que podem explicar como
alguns grupos da sociedade visualizam a relação organização-sociedade:
● Os capitalistas primitivos, que têm como visão predominante o pensamento de que
as empresas devem gerar lucros para os investidores;
● Os expedientes, que possuem uma visão a longo prazo e tem consciência de que
para manter a estabilidade econômica, precisam assumir certas responsabilidades
sociais;
● Os proponentes de contratos sociais, que acreditam que as empresas servem a
sociedade e por isso, devem respeitar e responder a ela;
● Os ecologistas sociais, que estão preocupados com o ambiente social e culpam as
empresas por ocasionarem os problemas relacionados a eles e por isso, defendem
a ideia de que as mesmas devem tomar as atitudes;
● Os socialistas, que buscam um reajuste significativo na estrutura e propriedade da
sociedade;
● Os feministas radicais, que seguem o conceito de uma sociedade masculina
agressiva e buscam valores mais femininos como amor e cooperação; e
● Os ecologistas profundos, que argumentam que o ser humano não tem maior
direito do que qualquer outra forma de vida.
A filosofia antropocêntrica possui algumas características, dentre elas, a forte
presença do pensamento de uma estrutura baseada no auto interesse, a valorização do
individualismo em detrimento das necessidades coletivas, a sociedade sendo vista como
produto da luta entre as forças do mercado, o papel do governo como responsável pela
proteção da vida e da liberdade, os direitos de propriedade e ainda, a natureza sendo valiosa
apenas pela sua utilidade para os seres humanos (Buhr & Reiter, 2006).
O antropocentrismo está desempenhando um papel fundamental na destruição do
meio ambiente, como no desmatamento, pois as pessoas cortam árvores, por exemplo, para
construir casas e ganhar dinheiro, esquecendo-se da sua função maior, que é fornecer abrigo
para a biodiversidade, contribuição para a estabilidade do solo, etc. (Liu et al., 2016).
53

As práticas ambientalistas centradas no ser humano, levam em consideração o meio
ambiente, apenas na tomada de decisão para a redução da poluição, conservação dos recursos
e atividades de restauração (Buhr & Reiter, 2006). Já a ecologia profunda, busca mostrar a
relação entre todas as entidades e os membros da ecosfera (Fox, 1998, pp. 227-228 apud
Buhr & Reiter, 2006).
O termo ecologia profunda, foi introduzido pela primeira vez pelo filósofo norueguês
Arne Naess, em uma palestra proferida na Conferência Mundial de Pesquisa do Futuro em
Bucareste, Romênia, em 1972, que trouxe a abordagem inicial da questão ambiental,
dividindo-a em superficial e profunda (Hoefel, 1999). Existem dois movimentos, um raso e
poderoso e um movimento profundo e menos influente, que entre si competem para ocupar
a posição principal (Naess, 1973). Os princípios éticos da ecologia profunda, têm sido
amplamente discutidos na área de sustentabilidade, principalmente na gestão de áreas
protegidas (Akamani, 2020).
O movimento da ecologia rasa, luta contra a poluição e o esgotamento dos recursos,
porém o objetivo central é manter a saúde e a riqueza nos países desenvolvidos (Naess, 1973).
A abordagem rasa, enfatiza o treinamento de especialistas em ciências exatas, para gerenciar
o meio ambiente, para que possam combinar o crescimento econômico com a saúde
ambiental (Akamani, 2020).
Em contrapartida, o movimento da ecologia profunda pode ser subdividido entre sete
características. A primeira, está relacionada com a imagem do ser humano no ambiente, quer
dizer, existe uma relação intrínseca entre os humanos e o meio ambiente, de maneira que se
um faltar, o outro não é mais o mesmo, por exemplo, uma relação entre A e B, em que a
relação é a definição básica de A e B, de modo que se não existir mais a relação, A e B já
não podem ser a mesma coisa (Naess, 1973). “Esta noção elimina o conceito de algo ou
alguém presente no meio, mas sem fazer parte dele, desta forma as relações não existem
dissociadas, separadas, mas fazem parte de uma rede de relações” (Hoefel, 1999, p. 74). A
humanidade pode ser vista como algo inseparável da natureza e se isso for compreendido, os
impactos provocados serão cessados, pois teremos a consciência de que estamos nos ferindo
e assim a ética e a ação prática iriam se unir (Hoefel, 1999).
A segunda está relacionada ao igualitarismo biosférico (em princípio), argumenta que
toda prática desenvolvida, causa alguma exploração ou supressão no ambiente e por isso o
respeito no campo ecológico deve existir, o que normalmente só acontece entre os humanos,
que revela o antropocentrismo que ocorre, mas infelizmente isso prejudica a qualidade de
54

vida, pois muitas vezes o homem assume o papel de mestre-escravo e ignora a sua
dependência em relação ao meio ambiente (Naess, 1973). Existe uma relação muito mais
profunda entre seres humanos e a natureza, do que simplesmente os interesses e utilidades
que o mesmo impõe a ela, pois a relação é mais do que o ser humano na natureza, mas sim o
ser humano sendo parte dela (Hoefel, 1999).
Os princípios da diversidade e da simbiose são o terceiro ponto, que enfatiza a ideia
de que a diversidade aumenta as chances de sobrevivência e todos devem coexistir e cooperar
em relações complexas, ao invés de matar e explorar a diversidade da natureza,
proporcionando assim a ideia de “viva e deixe viver”, um dos princípios mais fortes da
ecologia e mais poderoso do que “você e eu” (Naess, 1973). Segundo esta ideia, os seres
humanos deveriam lutar contra a caça de baleias e leões marinhos, da mesma forma que
lutariam contra as dominações e invasões culturais, econômicas ou militares (Hoefel, 1999).
A postura anti-classe é apresentada como quarta característica, e consiste em uma
crítica do modo de vida baseado na exploração, intencional ou não, de certo grupos, sendo
que os dois são afetados em relação às suas potencialidade de autorrealização, sendo esta
ideia sustentada pelo igualitarismo ecológico (Naess, 1973), assim os princípios da
diversidade, igualdade ecológica e simbiose, devem ser utilizados para planos de
desenvolvimento futuro, priorizando sempre a diversidade cultural (Hoefel, 1999).
A quinta característica, é a luta contra a poluição e o esgotamento de recursos e neste
ponto, os ecologistas possuem apoiadores poderosos, porém muitas vezes eles devem abrir
mão de sua posição ecológica por total, pois quando o foco é apenas neste ponto, os outros
seis podem ficar de lado nas decisões e isso pode acarretar males de outro tipo (Naess, 1973;
Hoefel, 1999).
A complexidade e complicação é a sexta característica, em que os organismos e os
modos de vida são vistos como complexos e sendo assim, os ataques à natureza podem ser
abordados como ignorância humana, por não respeitarem e causarem distúrbios e com isso,
as políticas ecológicas deste século, devem crescer em relação às habilidades técnicas e de
invenção (Naess, 1973; Hoefel, 1999).
A autonomia local e descentralização, é a sétima e última característica da ecologia
profunda, aborda questões sobre a vulnerabilidade da forma de vida que sofre influências
externas e por isso, o equilíbrio ecológico deve ser incentivado e assim o autogoverno e a
autossuficiência material devem ser fortalecidos, já que os problemas de poluição são
55
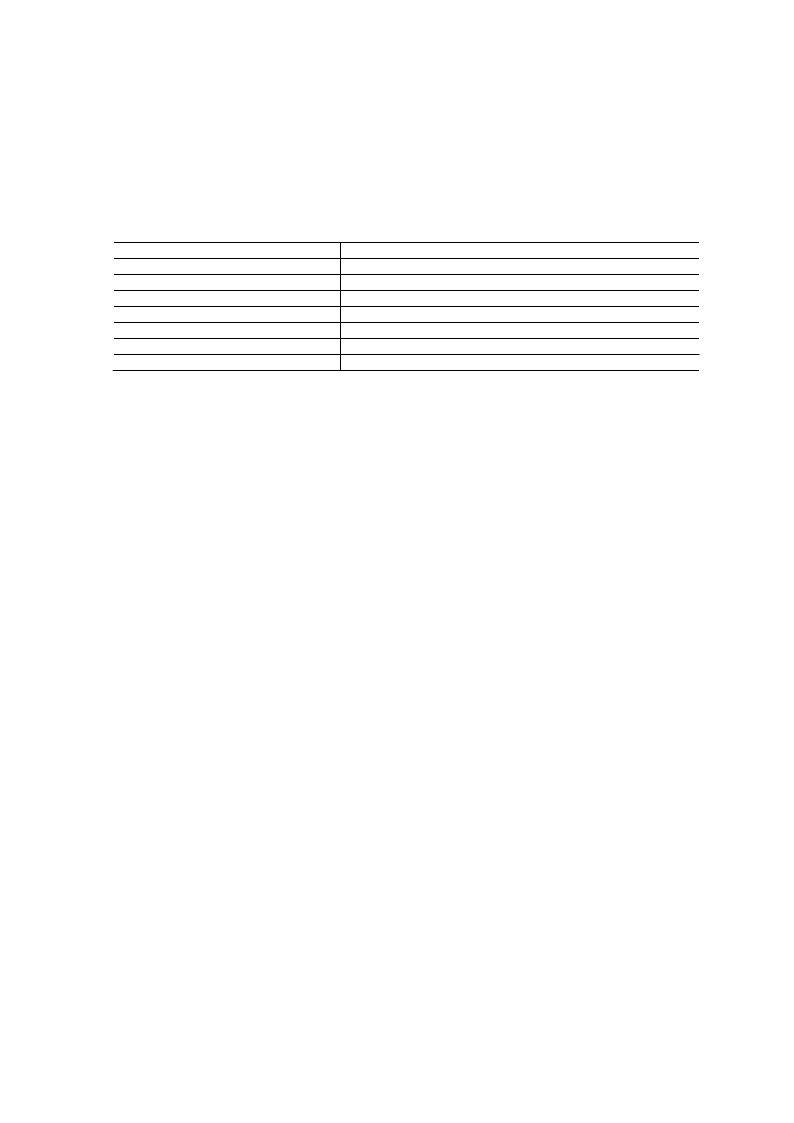
ocasionados devido a circulação de matérias e assim a autonomia local poderia contribuir
para a redução do consumo de energia (Naess, 1973; Hoefel, 1999).
Estas sete características podem ser observadas de forma resumida no Tabela 2,
conforme segue.
Características
Definição
1ª
Relação intrínseca entre os humanos e o meio ambiente.
2ª
Igualitarismo biosférico.
3ª
Princípios da diversidade e da simbiose.
4ª
Postura anti-classe.
5ª
Luta contra a poluição e o esgotamento de recursos.
6ª
A complexidade e complicação.
7ª
Autonomia local e descentralização.
Tabela 2 - Características da Ecologia Profunda.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos autores do referencial teórico (2021).
Em resumo, as sete características da Ecologia Profunda não são apenas derivações
da ecologia, por lógica ou indução, mas sim foram construídas com base no conhecimento
ecológico e no estilo de vida do trabalhador do campo e os tópicos são apenas uma
generalização, que devem ser olhados com profundidade para serem utilizados (Naess, 1973).
O movimento ecológico precisa de atenção, pois necessita de envolvimento e deve
focar os aspectos biológicos, ecológicos e filosóficos, para não apenas discutir características
científicas ou técnicas, mas sim analisar estruturas de valor e a forma como vemos e
encaramos a realidade e assim aos poucos, estas questões vão sendo incorporadas às políticas
ambientais (Hoefel, 1999).
A ecologia profunda reconhece que devem ocorrer mudanças transformadoras nas
instituições sociais e políticas, para que a meta de sustentabilidade possa ser atingida a longo
prazo (Naess, 1983 apud Akamani, 2020).
Naess propôs uma nova maneira de enxergar a consciência humana, diferente da
atual, que possui uma identidade separada da natureza e do meio ambiente. Ao invés da
pessoa estar no ambiente, ele a vê como inseparável em um campo relacional, quer dizer,
uma rede complexa e intrínseca de relacionamento, com isso, as relações das pessoas com o
meio ambiente devem gerar consciência de fazer parte de uma totalidade complexa e
intrínseca de relações interconectadas (Besthorn, 2012).
Com base nos estudos de Arne Naess, em 1985, Richard Sylvan escreveu “A Critique
of Deep Ecology”, em que criticou alguns pontos da Ecologia Profunda proposta por Naess
e formulou uma nova classificação.
56

Para a ecologia profunda, muitas vezes as coisas naturais têm maior valor que os seres
humanos. Outro ponto, é que o conceito se tornou um pântano conceitual, se tornando tudo
para todas as partes interessadas, tornando o seu entendimento confuso. Contudo, o
movimento da ecologia profunda, tentou estruturar uma plataforma para sustentar o meio
ambiente, mostrando que os humanos não estão acima ou fora da natureza, mas fazem parte
dela e devem se preocupar, mostrar reverência e respeito pois ela é a sua casa (Sylvan,
1985b).
A ecologia profunda, diferentemente do ambientalismo reformista, não é apenas um
movimento social pragmático e de curto prazo, com um objetivo como parar a energia
nuclear ou limpar os cursos de água. A ecologia profunda primeiro tenta questionar e
apresentar alternativas às formas convencionais de pensar no ocidente moderno [...].
A ecologia profunda busca a transformação de valores e da organização social
(Sylvan, 1985a, p. 3 e 4).
O problema encontrado na ecologia profunda, é que a mesma não consegue
diferenciar exatamente o que os relatos mais claros querem transmitir e um dos motivos é a
diversidade acelerada com que eles são elaborados. Para ser superado, é necessário separar
os componentes das mensagens ecológicas e isolar os principais temas da ecologia profunda
e superficial, em paradigmas mais amplos que eles informam e assim, o termo da ecologia
intermediária é proposto (Sylvan, 1985b).
O que diferencia a posição ambiental, é o grau de restrição em relação ao meio
ambiente, especialmente ao ambiente natural e nesse sentido, as pessoas podem fazer mais
ou menos com a terra e com o que cresce e mora lá, sendo que os humanos podem explorar
e gerenciar (Sylvan, 1985b).
Com isso, as posições ambientais podem ser divididas em três grupos: raso,
intermediário e profundo. Uma questão que é preciso ressaltar, é que os três grupos devem
conservar e manter os materiais, as criaturas, as florestas e outros elementos do ambiente
natural. Contudo, uma visão superficial, por exemplo, terá uma visão de longo prazo sobre o
meio ambiente, porém interessada nos seres humanos, no seu bem-estar e na conservação
dos recursos. Esta posição é altamente antropocêntrica, sendo a natureza caracterizada como
instrumento para um fim, e, portanto, os valores ambientais apenas servem para os interesses
humanos e isso que principalmente difere as posições rasas das profundas (Sylvan, 1985b).
Já em relação a posição profunda, os seres humanos não são os únicos itens de valor
no meio ambiente e os outros elementos, não são importantes simplesmente porque
apresentam algum valor às preocupações humanas (Sylvan, 1985b). Para a posição
57

intermediária, as preocupações humanas estão em primeiro lugar, porém os animais também
possuem valor e utilidade por si só, e este meio termo é totalmente rejeitado pela posição
profunda (Sylvan, 1985b).
Um exemplo da posição intermediária é a libertação animal, em que os animais (mas
não florestas, ecossistemas, etc.), têm valor por direito próprio, porém em qualquer escolha
em relação aos seres humanos, os animais perderiam. Na posição profunda, essa situação não
iria ocorrer, pois em um possível conflito entre os dois, os animais permaneceriam como
prioridade (Sylvan, 1985b).
Outro autor que deu atenção ao movimento ecológico foi Andrew Vincent, que
escreveu em 1993 o artigo “The Character of Ecology”, em que buscou classificar e estruturar
as dimensões da ideologia ecológica, pois o mesmo argumentava que ela seria a ideologia
dominante no século XXI, e ainda, relatou como se deu o socialismo, o conservadorismo e o
liberalismo nos séculos XIX e XX (Vincent, 1993).
Após satisfeitas as necessidades materiais dos homens, através da prosperidade
econômica, uma parte da sociedade começou a manifestar preocupação, primeiramente com
os custos da prosperidade e em um segundo momento, sobre o meio ambiente, pois as pessoas
passaram a ter tempo, educação e segurança financeira para desfrutar e se preocupar com o
ambiente (Vincent, 1993).
Pesquisadores sociais afirmam, que as ansiedades ecológicas surgem em membros de
classes, referente a serviços profissionais para a comunidade, como professores, acadêmicos
artistas, atores, clero e assistentes sociais, e com isso, as mudanças nos padrões de ocupação
surtem efeito, em meio a serviços com elevado nível de educação (Vincent, 1993).
Dentre as diversas classificações dos movimentos ecológicos, têm-se as tipologias
que fixam em atitudes singulares a relação com a natureza, as tipologias que recaem sobre as
formas de conhecimento global, as que se concentram sobre o conteúdo político e econômico,
as tipologias que se baseiam em pontos de vista e por último, as inclusivas que procuram
incorporar diversos elementos, inclusive os citados anteriormente (Vincent, 1993).
A primeira pode ser remetida a pesquisa de Donald Worster (1985), em que classifica
a relação do homem com a natureza em Arcadiano e Imperial, sendo que uma posição
Arcadiana seria defender uma vida simples para os homens e a coexistência com os outros
organismos seria o objetivo, o homem faz parte da natureza, já um homem imperialista
domina a natureza para alcançar seus objetivos, manipulando-a para fins humanos (Vincent,
1993).
58

A segunda classificação pode ser remetida ao trabalho de Tim O'Riordan (1981), que
dividiu o movimento ecológico em ecocentrismo e tecnocentrismo, sendo o primeiro voltado
para a ecologia profunda, se valendo da humildade, responsabilidade e tecnologia de baixo
impacto, busca manter a estabilidade na relação com a natureza. Já o segundo inclui os
gestores ambientais e os cornucopianos3, o homem tem a capacidade de controlar e
compreender seus objetivos e gerenciar de forma eficiente a natureza, deixando de lado a
reverência e a moral com o meio ambiente (Vincent, 1993).
A terceira pode ser caracterizada pelos trabalhos de Stephen Cotgrove (1976), que
diferencia o movimento ecologista entre os tradicionais e os liberais, o trabalho de Murray
Bookchin, que diferenciou o movimento entre ecologistas sociais e ambientalistas, e os
trabalhos de Paehkle (1989) e Atkinson (1991), que diferenciam em ambientalistas ou
ecologistas (Vincent, 1993).
A quarta tipologia está relacionada com a filosofia, em que pode-se enquadrar autores
como Lincoln Allison, que propôs a distinção entre os pessoas cinzas e as verdes, Freya
Mathews, que sugeriu classificar entre pluralismo de substância e monismo de substância
(ecologia profunda), e Paul Taylor, que definiu os movimentos em centrados no ser humano
e monismo de substância (Vincent, 1993).
O quinto movimento ecológico, busca englobar diversas perspectivas, buscando
mesclar as atitudes gerais da natureza às concepções filosóficas e políticas. O principal
exemplo neste movimento é Arne Naess, que distinguiu o movimento de ecologia profunda,
defendendo as relações intrínsecas e a ecologia rasa, que luta contra a poluição e o
esgotamento de recursos, buscando a saúde e riqueza da população e ainda, o pensamento de
Warwick Fox, que para ele a distinção era entre a ecologia ecocêntrica e a ecologia
antropocêntrica (Vincent, 1993).
Com o movimento ecológico estruturado, pode-se observar que existem diversos
motivos para que a biodiversidade seja preservada, e assim, surgem dois movimentos
filosóficos distintos, os antropocentristas e os não antropocentristas, sendo que o primeiro
coloca valor na natureza pela sua utilidade (instrumental) e o segundo, avalia o valor da
natureza simplesmente pela sua existência (não instrumental) (Gaia & Jones, 2017).
O valor não instrumental, defende a ideia de que os seres humanos não são os únicos
que têm valor, e de que a natureza tem valor independentemente de o homem precisar dela
3 Um cornucopiano é um futurista que acredita que o progresso contínuo e a provisão de itens materiais para a
humanidade podem ser alcançados por avanços igualmente contínuos na tecnologia.
59
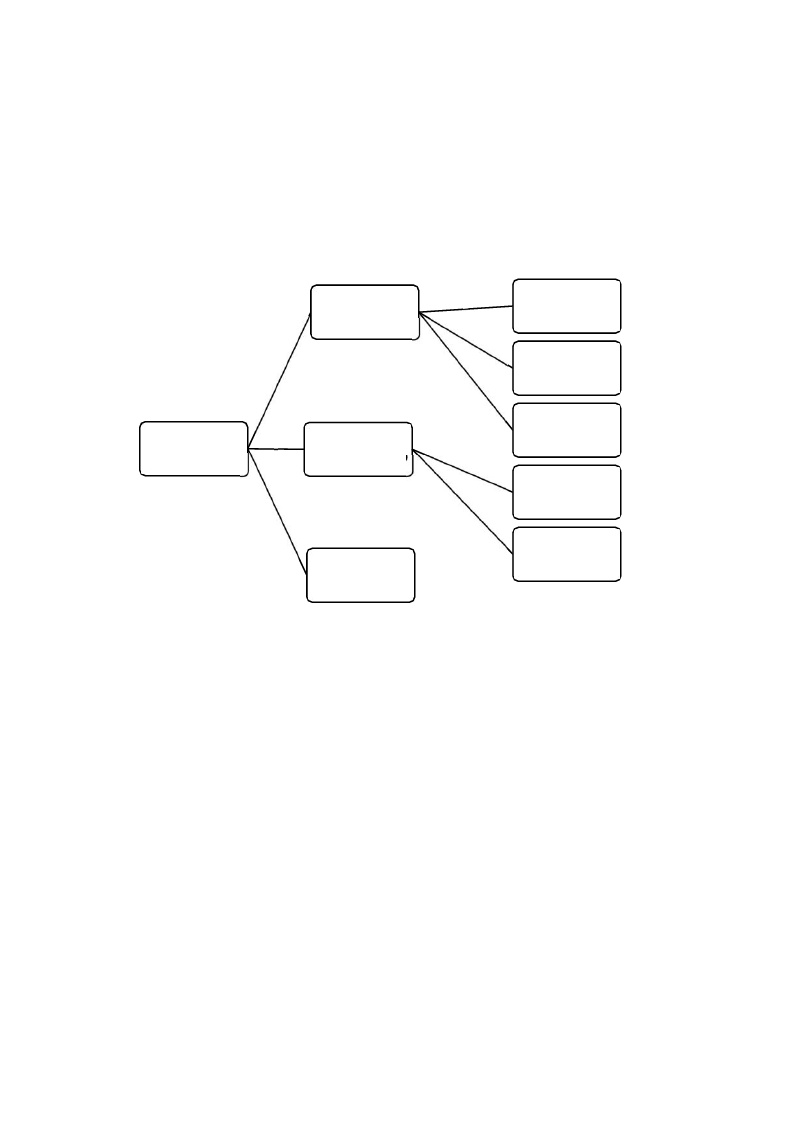
ou não (Gaia & Jones, 2017). A biodiversidade e a natureza, têm valor por si mesmas (Naess,
1973). A biodiversidade tem valor intrínseco, independentemente do que as pessoas pensam
sobre ela (Rolston, 1985, 1988; Fox, 2003; Palmer, 2003, Ikeke, 2020).
A partir destas análises, pode-se observar a Figura 7, em que são estruturados os
paradigmas ambientais.
Ecologia Rasa
(P1)
Paradigmas
Ambientais
Ecologia
Intermediária (P2)
Conservação de
Recursos (P1A)
Ecologia do bem-
estar humano
(P1B)
Preservacionismo
(P1C)
Gestão Ambiental
(P2A)
Ecocentrismo (P3)
Extensionismo
Moral (P2B)
Figura 7 - Paradigmas Ambientais.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Gaia e Jones (2017).
Os paradigmas considerados na Figura 7, são baseados nos estudos de Naess (1973),
Sylvan (1985b, 1985a), Eckersley (1992) e Vincent (1993), em que são classificados em
Ecologia Rasa ou superficial, Ecologia Intermediária e Ecocentrismo (ecologia profunda).
A ecologia rasa (P1), também nomeada de antropocentrismo forte ou ainda, ecologia
superficial, segue a ideia de que a proteção da biodiversidade deve ser estimulada, porque a
mesma satisfaz às necessidades dos seres humanos (Baard, 2015; Gaia & Jones, 2017). A
saúde e o bem-estar das pessoas é o principal, sendo incentivado a luta contra a poluição e o
esgotamento dos recursos (Baard, 2015; Naess, 1973). As pessoas são separadas do resto da
natureza e são a única fonte de valor, devendo permanecer com o seu estilo de vida, que só
pode ser alterado em caso de pequenas mudanças (Samkin, Schneider, & Tappin, 2014).
Entre as práticas possíveis em relação a ecologia superficial, pode-se citar a
reciclagem, a substituição de combustíveis fósseis, por outra alternativa menos poluente, a
preocupação com animais que se assemelham aos humanos, que sejam “fofos”, ou seja, que
60

representam ou possuem significado para as pessoas (Gunn, 2007). Em relação a proteção
das espécies, os humanos valorizam o seu valor extrínseco, o valor que os animais
representam para eles (Samkin et al., 2014).
As posições rasas tem uma característica que sempre prevalece entre as demais, elas
são extremamente antropocêntricas e não mudam seu foco do homem, que observa a natureza
como um ambiente instrumental, servindo para um fim, ou valores que as pessoas a
empregam, orientados para a administração e exploração dos recursos que necessitam
(Sylvan, 1985b).
Os seres humanos são os únicos que devem ser valorizados, sendo a natureza
representada como um instrumento. O meio ambiente e os animais, só possuem valor se as
pessoas lhe atribuírem, contudo, vale a pena observar que mesmo a ideologia sendo
superficial ou rasa, o meio ambiente pode apresentar um valor profundo em algumas
ocasiões, sendo a preocupação voltada para a manutenção da vida humana (Vincent, 1993).
Segundo Eckersley (1992), o movimento da ecologia superficial pode ter diferentes
graus, apresentando assim um antropocentrismo decrescente, sendo subdividido em
conservação de recursos (P1A), ecologia do bem-estar humano (P1B) e preservacionismo
(P1C).
A conservação de recursos (P1A), tem relação com o conceito de manejo prudente,
e ainda, em ser generoso com a natureza, remetendo a pensadores como Platão, Mensius e
Císero, ao Novo e Velho Testamento e nos últimos séculos, ligada a ciência moderna,
podendo ser remetida a Gifford Pinchot, o primeiro chefe do Serviço Florestal dos Estados
Unidos, em que a principal prática era a eliminação de resíduos e defendia o desenvolvimento
(de muitos e não de poucos) como uma solução para a conservação, diminuindo assim os
desperdícios (Eckersley, 1992).
Os desperdícios devem ser eliminados, pois estes não significam apenas o uso
ineficiente dos recursos, mas também o não uso do que foi extraído e transformado. Essa
visão está centrada na ideia de que os homens precisam buscar o maior bem para o maior
número de indivíduos, lembrando sempre das gerações futuras, garantindo assim o uso
máximo e sem desperdícios, dos recursos não renováveis (pesca, solo, culturas e madeira).
Este movimento, também caracteriza-se pelo afastamento da abordagem irrestrita (Eckersley,
1992).
O rendimento máximo, deve ser buscado em relação aos recursos renováveis, ideia
esta, que está fortemente ligada ao pensamento de produção e assim o mundo não humano é
61

mensurado pelo seu valor de uso, como pode ser observado em estudos de defensores desta
linha de pensamento como Neil Evernden e Laurence Tribe, que afirmam que os recursos
são vistos como índices de utilidade para as indústrias e ainda, que as políticas ambientais e
o gerenciamento de recursos devem ser orientados pela satisfação material humana
(Eckersley, 1992).
O reconhecimento da importância do meio ambiente para os seres humanos, deve ser
sempre levado em consideração para a tomada de decisões sobre como realizar a sua
preservação, porém tomar como base somente esta perspectiva, torna-se algo restritivo e com
uma visão antropocêntrica (Eckersley, 1992).
A conservação de recursos, considera o meio ambiente como uma fonte de riquezas
para suprir às necessidades dos homens, visão totalmente antropocêntrica, que busca o uso
sensível e econômico dos recursos provenientes da natureza, em decorrência das
necessidades dos mesmos, sendo que este é o principal motivo para se manter a
biodiversidade (Gaia & Jones, 2017).
Segundo Callicott (1990), a perspectiva de conservação de recursos deixa de lado os
benefícios ambientais relacionados à saúde, à cultura, às questões psicológicas, ao espiritual
e à recreacão. O objetivo final é maximizar o valor humano (antropocentrismo forte),
reduzindo os desperdícios no consumo dos recursos não renováveis e aumentar o rendimento
dos recursos renováveis, de forma sustentável (Dickerson et al. 2009 apud Gaia & Jones,
2017).
Para Gaia e Jones (2017), o paradigma da conservação de recursos pode ser observado
quando a conservação é justificada, porque a mesma apoia o crescimento econômico,
empregando a ela um valor financeiro e também quando o argumento é voltado a produção
de recursos necessários para a sobrevivência do homem, ou seja, valor de subsistência.
A biodiversidade é o suporte para a economia, pois sem os recursos disponíveis na
natureza, o homem não poderia sobreviver e prosperar (Rolston, 1985, 1988). As indústrias
dependem dos recursos naturais para retirar de plantas e animais, a matéria-prima necessária,
como na agricultura, pesca e construção civil. A natureza também é essencial para a
subsistência, pois fornece água, alimentos e matéria-prima, serviços como energia solar,
todos necessários para atender aàs necessidades básicas da humanidade (Gaia & Jones,
2017).
A ecologia do bem-estar humano (P1B), é o segundo movimento ambiental
classificado como ecologia rasa, estando ligado e sendo semelhante ao movimento de
62

conservação de recursos, visando sempre um ambiente humano agradável, seguro e limpo,
tendo seu impulso a partir do início da revolução industrial e fortalecendo-se nos anos 60,
tendo como representantes os trabalhadores, que buscavam um ambiente de trabalho mais
seguro, sendo que no final do século XX, mais cidadãos, consumidores e chefes de família
se juntaram ao movimento, preocupados com o ambiente residencial e urbano (Eckersley,
1992).
Os problemas ambientais urbanos e agrícolas, que registraram um crescimento
desenfreado a partir da Segunda Guerra Mundial, como: utilização desenfreada de produtos
químicos, produção de resíduos intratáveis, poluição do solo, do ar e da água, o surgimento
de novas doenças, crescimento do desenvolvimento urbano, perigos ocasionados pelas usinas
nucleares e os resíduos que estas liberam na natureza, o aumento de armas nucleares, o
aquecimento global e a destruição da camada de ozônio, representam as principais ameaças
à sobrevivência, segurança e bem-estar da humanidade (Eckersley, 1992).
Comparando com o movimento de conservação de recursos, a ecologia do bem-estar
humano preocupa-se com um ambiente mais agradável, limpo e seguro e dessa maneira, ela
é considerada mais generalista em relação às preocupações relacionadas à natureza. Enquanto
a conservação de recursos se preocupa em melhorar a produtividade econômica, buscando
sempre um rendimento máximo em relação aos recursos naturais, o movimento de ecologia
do bem-estar humano, se preocupa com a saúde, a segurança e o conforto nos ambientes
urbanos e agrícolas (Eckersley, 1992).
O movimento da conservação de recursos, se preocupa com a diminuição dos
desperdícios e o esgotamento dos recursos naturais, relacionados principalmente à produção.
Já o movimento da ecologia do bem-estar humano, está preocupado com a degradação geral,
como a saúde das pessoas e busca a resiliência do ambiente físico e social (Eckersley, 1992).
Neste escopo, o desenvolvimento sustentável não está ligado somente à conservação
dos recursos consumidos, mas também às questões físicas, sociais, relacionadas à saúde, à
comodidade, à recreação e à psicologia social, deixando de lado um pouco o foco no
crescimento econômico (Eckersley, 1992).
Este movimento está ligado as quatro leis da ecologia proposta por Barry Commoner,
conforme a Figura 8:
63
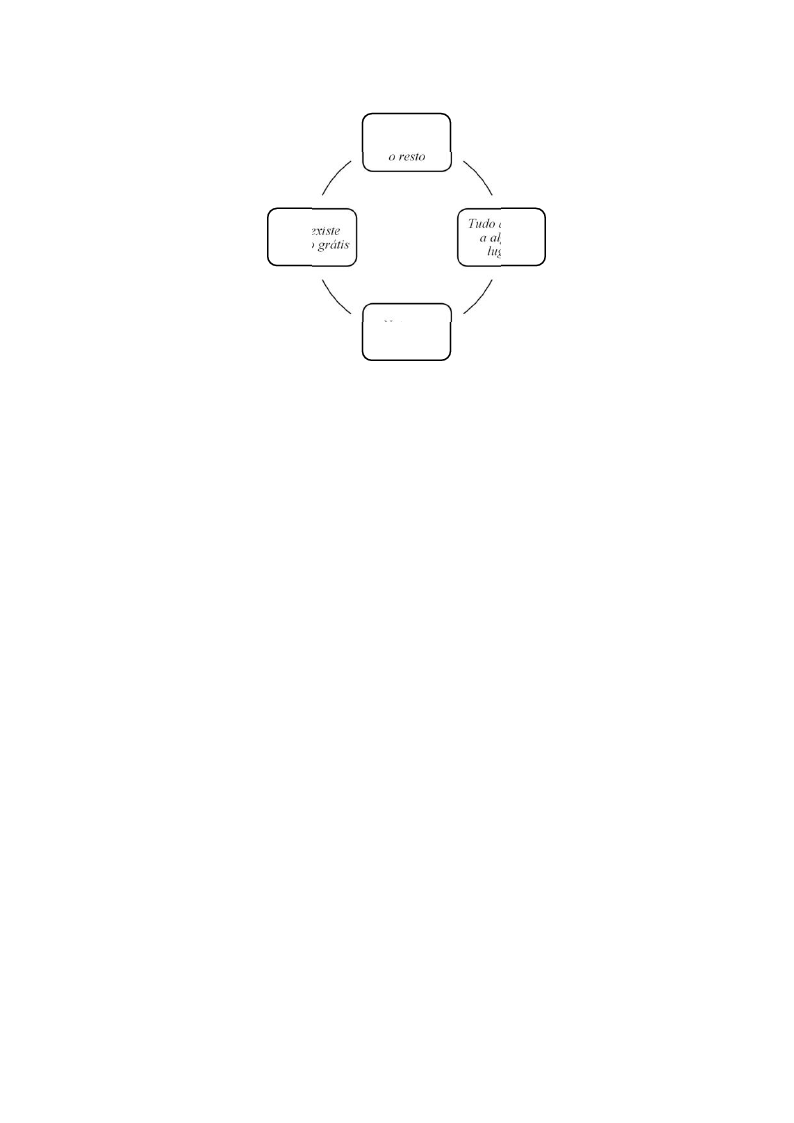
Tudo está
ligado a tudo
o resto
Não existe
almoço grátis
Tudo deve ir
a algum
lugar
Natureza
sabe melhor
Figura 8 - Leis ecológicas propostas por Barry Commoner.
Fonte: Adaptado de Eckersley (1992).
Estes pressupostos contrariam a ideia que a tecnologia da sociedade moderna, pode
gerenciar as intervenções nos sistemas naturais e evitar as consequências negativas que foram
provocadas, pois não existe lugar ou distância para se descartar o lixo gerado, tampouco para
os resíduos tóxicos e nucleares e outros tipos de poluição e assim, as pessoas têm a obrigação
de manter a natureza intacta, pois dela todos são dependentes, assim surgiram os movimentos
que defendem a agricultura orgânica, a medicina alternativa, o transporte público e a
reciclagem (Eckersley, 1992).
O objetivo da ecologia do bem-estar humano, é procurar garantir a qualidade
ambiental para os seres humanos, mostrando assim o antropocentrismo forte e justificando a
sua classificação como ecologia rasa (Eckersley, 1992; Wells, 1993). A preocupação está
voltada para o desenvolvimento ambiental saudável, seguro e agradável para os seres
humanos (Gaia & Jones, 2017). A ecologia do bem-estar humano, pode ser identificada em
narrativas que explicam a importância da biodiversidade, em relação ao seu valor
instrumental, para gerar um ambiente saudável e agradável (Gaia & Jones, 2017), sendo
expressos em valores de suporte à vida, recreativos e terapêuticos (Rolston, 1985, 1988).
O conceito de valor de suporte à vida, está relacionado ao entendimento de que a
biodiversidade apoia os serviços desempenhados pelos ecossistemas, como o fornecimento
de água, ar, solos limpos e regulação dos processos naturais, que garantem a sobrevivência
do ser humano (Gaia & Jones, 2017). O valor recreativo, se refere às oportunidades que o
meio ambiente oferece aos humanos, como esportes e caminhadas ao ar livre, caça ou pesca,
que satisfazem e melhoram o bem-estar das pessoas (Hartig & Mang, 1991). O valor
terapêutico, está ligado ao bem-estar físico e mental que a natureza consegue provocar no ser
64

humano, pois ajuda a diminuir o estresse e as doenças mentais, melhora a saúde física e a
concentração e previne doenças (Rolston, 1985).
O terceiro movimento da ecologia superficial, é o Preservacionismo (P1C).
Diferentemente do fluxo da conservação de recursos, que prioriza o uso consciente dos
recursos naturais e o fluxo do bem-estar humano, que busca a qualidade ambiental, o
preservacionismo pode ser descrito como o movimento que possui reverência, ou seja, ele
valoriza a apreciação estética e espiritual do meio ambiente (Eckersley, 1992).
Movimentos inicias desta perspectiva podem ser identificados, por exemplo, nos
EUA com a criação do Yellowstone National Park (8.991 km²) em 1872, e na Austrália com
a criação do Royal National Park (150,9 km²) em 1879, em que o argumento inicial era
preservar a paisagem e fornecer instalações recreativas para uso público, porém este
movimento pode ser em alguns momentos seletivo, pois os ocidentais valorizam
determinados lugares, como montanhas, cânions e rios selvagens (Eckersley, 1992).
Estes lugares são considerados mais “especiais”, com mais especificidades para
serem salvos e preservados do que outros que não possuem uma beleza sublime, como áreas
úmidas e lugares degradados, mesmo estas sendo de suma importância para a ecologia e
centenas de animais (Eckersley, 1992). Este paradigma antropocêntrico, se preocupa com a
preservação de lugares esteticamente atraentes, em que os seres humanos possam ter uma
apreciação espiritual da natureza (Callicott, 1990).
Ele é menos antropocêntrico do que a ecologia do bem-estar e a conservação de
recursos, pois reconhece que as coisas não humanas têm o direito de existir (Gaia & Jones,
2017), contudo, ele não tem como premissa o valor intrínseco que a natureza pode possuir,
mas valoriza-a pelo seu valor estético, fonte de inspiração, capacidade da renovação
espiritual e desenvolvimento científico, independentemente do conteúdo ecológico que
apresenta (Eckersley, 1992).
O preservacionismo está, portanto, presente em narrativas que explicam a importância
da biodiversidade em termos de valores, símbolos culturais, históricos, estéticos, espirituais
e científicos (Rolston, 1985, 1988). O valor da simbolização cultural, mostra que as pessoas
possuem um senso de obrigação em relação as coisas naturais que possuem valor cultural, ou
que remetem a alguma situação relacionada a história, como a árvore de cedro do Líbano ou
a águia americana (Chapin et al., 2000).
O valor estético da natureza, refere-se à satisfação que as pessoas sentem ao estar em
contato com ela, pois consideram estes lugares um refúgio agradável para estar (Chapin et
65

al., 2000). O valor espiritual está ligado à religião, pois algumas pessoas possuem crenças
religiosas que atribuem valor espiritual a lugares, animais e outros elementos naturais (Gaia
& Jones, 2017). O valor cientifico considera a natureza como uma biblioteca, em que diversos
elementos podem ser descobertos, contribuindo para ampliar o conhecimento do ser humano
referente ao mundo (Rolston, 1985).
Após a apresentação das três ecologias superficiais, pode-se caracterizar as ecologias
intermediárias, que estão entre os movimentos considerados altamente antropocêntricos e os
levemente antropocêntricos (Gaia & Jones, 2017). A intermediária pode ser subdividida em
Gestão Ambiental (P2A) e Extensionismo Moral (P2B). As filosofias intermediárias,
defendem que valores intrínsecos podem ser ampliados a algumas entidades não humanas
(Gaia & Jones, 2017) e este seria o avanço que os diferencia da filosofia superficial, porém
deve-se lembrar que em caso de conflito, serão priorizados os interesses humanos, o que
mostra porque não podem ser classificados como ecocentrismo (Sylvan & Bennett, 1994
apud Gaia & Jones, 2017).
A Gestão Ambiental (P2A), está relacionada ao dever moral das pessoas, pois as
mesmas devem manter e aprimorar, porém jamais esgotar os recursos naturais do planeta
(Gaia & Jones, 2017). Os seres humanos, devem desempenhar o papel de administradores do
meio ambiente (M. J. Jones, 2003). Este movimento está ligado com a proteção dos recursos
no presente, para não faltar para as futuras gerações, sendo que as pessoas do presente devem
deixar para as do futuro, pelo menos os recursos naturais em quantidades e condições
equivalentes ao que herdaram no passado (Gaia & Jones, 2017). Todos têm o direito de poder
utilizar os recursos disponíveis e com isso, todas as gerações devem ter acesso ao que a
natureza produz (Gaia & Jones, 2017).
Neste movimento, os seres humanos têm a responsabilidade de zelar pelo planeta e
todo ele possui um valor intrínseco, no entanto, este valor é devido aos interesses da própria
humanidade e isto ainda permanece semelhante às ecologias rasas (Gaia & Jones, 2017). A
administração ou gestão ambiental, pode ser vista como um antropocentrismo fraco
(Connelly e Smith, 2003). A principal narrativa neste movimento, é a importância futura da
biodiversidade (Gaia & Jones, 2017). O valor futuro refere-se à necessidade de preservar a
natureza, para garantir que as gerações futuras recebam uma natureza tão rica e variada
quanto a atual (Jones, 2003).
66

O segundo movimento da ecologia intermediária é o Extensionismo Moral (P2B),
que inclui valor intrínseco a entidades não humanas e neste movimento, a libertação animal
é um bom exemplo que pode ser citado (Vincent, 1993; Gaia & Jones, 2017).
O movimento da libertação animal, diferentemente da conservação de recursos,
ecologia do bem-estar humano e movimentos de preservação, defende o valor moral de seres
não humanos, quer dizer, seres que podem experimentar prazer e dor e assim a caça e o abate
de animais é combatido. Devem ser protegidos os habitats de animais selvagens, como peixes
e aves, pois estes lugares têm valor instrumental para diversas espécies (Eckersley, 1992).
Neste movimento, árvores, por exemplo, só são consideradas importantes à medida
em que sirvam de habitat para algum animal, ou que possam ser utilizadas para a produção
de móveis (Eckersley, 1992). Outra prática é a substituição de alimentos de origem animal
por outras alternativas, ou no mínimo a mudança de processos, para minimizar o sofrimento
dos animais (Eckersley, 1992).
Em todos as situações, o maior valor ainda é atribuído ao ser humano, pois semelhante
a casos anteriores, em que existe conflito de interesses entre pessoas e animais, os interesses
humanos prevalecem (Gaia & Jones, 2017). Narrativas que defendem a preservação da
natureza e que apoiam o valor instrumental de vida de animais e plantas, estão alinhados a
movimentos de extensionismo moral (Gaia & Jones, 2017).
A tipologia intermediária, também adota uma visão instrumental sobre a natureza
para os objetivos dos homens, mas considera os animais de ordem superior, como tendo valor
por si mesmos (Samkin & Schneider, 2014). Porém, em qualquer situação de conflito com
os interesses das pessoas, os objetivos humanos prevalecem (Sylvan, 1985b). A ecologia
intermediaria está mais alinhada com a ecologia superficial, do que com a ecologia profunda
(Samkin & Schneider, 2014).
O terceiro paradigma ambiental é o Ecocentrismo (P3) (ecologia profunda), em que
pode ser considerado um preservacionismo mais amplo e mais ecologicamente informado,
pois baseia-se em outras correntes ambientais. Enquanto os preservacionistas estavam
preocupados com a natureza, em locais considerados esteticamente bonitos, os ambientalistas
ecocêntricos procuravam proteger populações, ecossistemas, espécies e habitats em qualquer
lugar, independentemente da sua beleza estética ou seu valor de uso (Eckersley, 1992). A
ecologia profunda não é antropocêntrica, pois ela atribui valor intrínseco à natureza (Samkin
& Schneider, 2014; Baard, 2015).
67
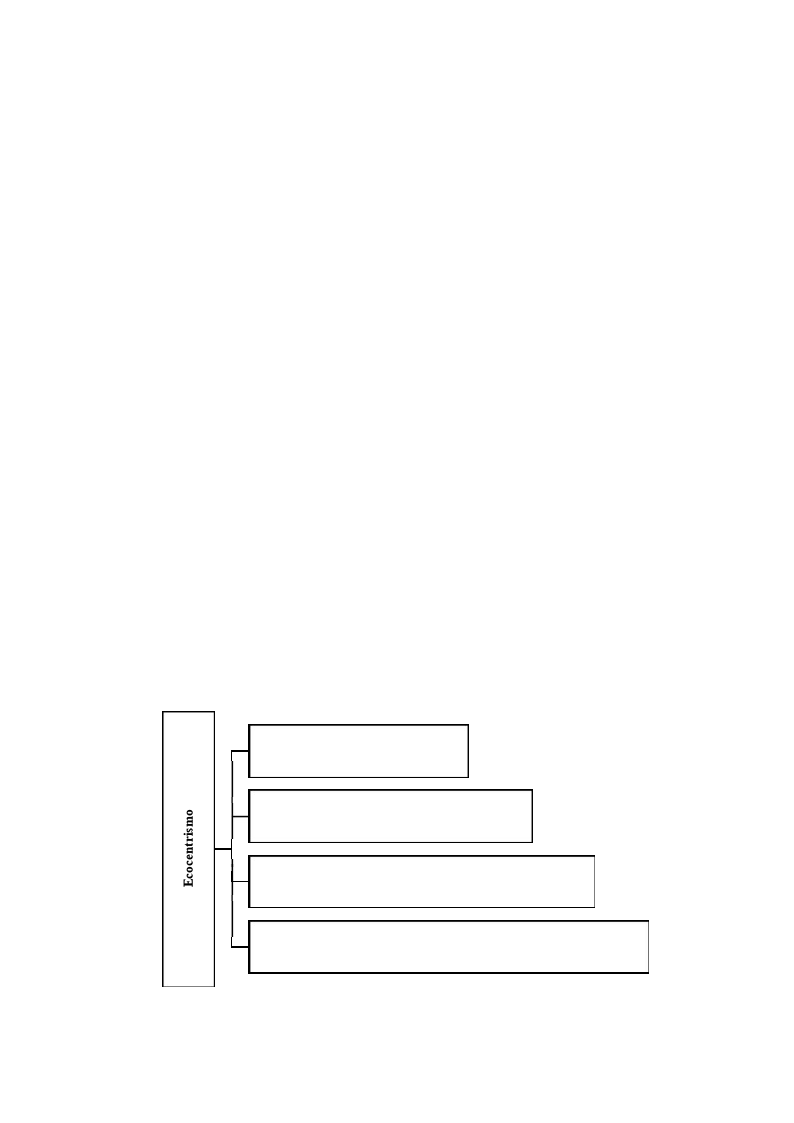
A ecologia profunda, afirma que o mundo biológico sustenta a vida e que o mesmo
continua sendo comprometido pelo comportamento humano (Gray, 1993) e ainda, que a
riqueza da biodiversidade, deve ser protegida para a manutenção de todas as formas de vida
na Terra (Naess, 1995 apud Samkin & Schneider, 2014; Glasser, 2011).
A ecologia profunda é um guia promissor para a sustentabilidade, porém os
mecanismos institucionais para a sua operacionalização, não foram bem desenvolvidos (Fox,
2003). Segundo este mesmo paradigma, embora os humanos possam usar a natureza para
necessidades essenciais, não devem desvalorizar ou devastá-la (Ikeke, 2020).
Segundo Jacob (1994), Cramer (1998) e Davradou e Namkoong (2001), o
biocentrismo e a autorrealização, sustentam como princípios normativos a ecologia profunda.
O biocentrismo luta contra a visão de mundo antropocêntrica e segundo Taylor (1986), os
quatro princípios orientadores são: todas as formas de vida são interdependentes; todas as
espécies têm valor intrínseco; os humanos não têm um papel privilegiado; e os humanos não
são superiores a outras espécies.
Já a autorrealização, consiste em considerar o mundo não humano (Jacob, 1994),
tendo como princípios a capacidade de se conectar com algo maior, promovendo a reflexão
e a contemplação (Khisty, 2006).
Este movimento amplia todos os movimentos anteriormente expostos, relacionados à
conservação de recursos, ecologia do bem-estar humano, preservacionismo e libertação
animal, pois oferece uma abordagem mais ampla do que qualquer outra, como pode ser
observado no Figura 9.
Interesses Humanos
Interesses Não-Humanos
Gerações Futuras
Todos possuem Valor
Figura 9 - Características do Ecocentrismo.
Fonte: adaptado de Eckersley (1992).
68
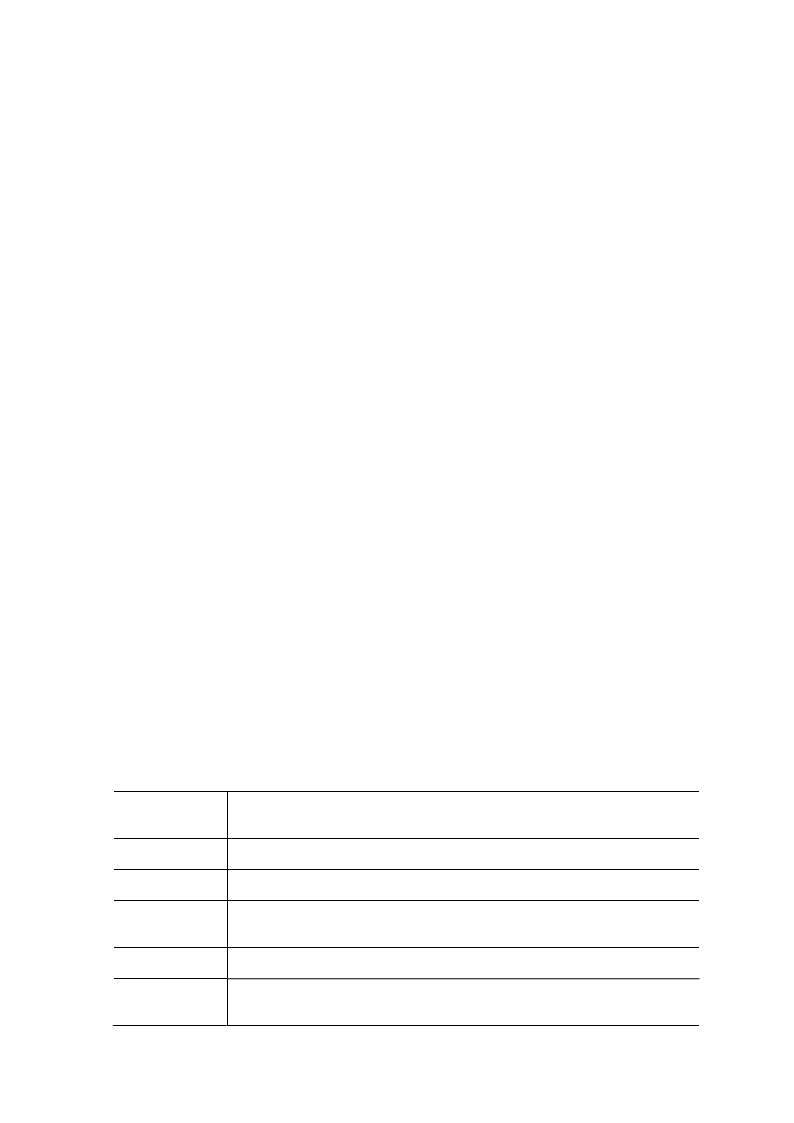
Ela amplia os outros movimentos, porque considera todos os interesses humanos na
natureza, incorporando além da conservação de recursos e do bem-estar humano, as
perspectivas ecológicas. Reconhece os interesses dos não humanos, ampliando assim o
movimento preservacionista, considera os interesses das gerações futuras, nas práticas e
decisões presentes, valoriza as populações, espécies, ecossistemas e a ecosfera e todos os
organismos individuais (Eckersley, 1992).
Capra & Eichemberg (2006), afirmam que a adoção da ecologia profunda, exige um
sentido maior para as estratégias convencionais da preservação do meio ambiente, buscando
identificar e eliminar causas ocultas de devastação, propondo assim uma nova civilização,
com cultura solidária, participativa e ecologicamente consciente.
Neste movimento, o antropocentrismo é rejeitado (Gaia & Jones, 2017), pois não
existem linhas divisórias nas relações do planeta. Todos possuem uma relação intrínseca e
interconectada, tendo como membros os organismos humanos e não humanos (Eckersley,
1992), sendo utilizado como base para os conceitos da ecologia profunda de Arne Naess
(Naess, 1973).
O ecocentrismo considera os humanos como administradores ambientais, ou ainda,
como “mordomos” e como tais, devem cuidar bem do meio ambiente. O problema é que os
humanos possuem também a capacidade de afetar o meio ambiente, pois assumem o controle
e rapidamente perdem-no, pois utilizam o poder de administrar, com propósitos inversos (Liu
et al., 2016).
Naess e Sessions (1984), afirmaram que a ecologia profunda possui oito termos
centrais, que norteiam a visão desta corrente de pensamento, conforme a Tabela 3.
Tabela 3 - Plataforma da ecologia Profunda.
1) O florescimento da vida humana e não humana na Terra, tem valor intrínseco. O
Valor Intrínseco valor das formas de vida não humanas, é independente da utilidade do mundo não
humano, para propósitos da humanidade.
Diversidade
2) A riqueza e a diversidade das formas de vida, são valiosas em si mesmas e
contribuem para o florescimento das vidas humanas e não humanas na Terra.
Necessidades
3) Os humanos não têm o direito de reduzir essa riqueza e diversidade, exceto para
vitais
satisfazer suas necessidades vitais.
4) O florescimento da vida humana e sua cultura, é compatível com um decrescimento
População
substancial da população humana. O florescimento das vidas não humanas requer esse
decrescimento.
Interferência
5) A presente interferência humana no mundo não humano é excessiva, e a situação
Humana
está se agravando rapidamente.
Mudança de
política
6) Na presença dos pontos anteriores, as políticas precisam ser revistas. As mudanças
nas políticas afetam as estruturas básicas da economia, da tecnologia e da ideologia. O
estado dos negócios resultante dessas mudanças, deve ser profundamente diferente do
69
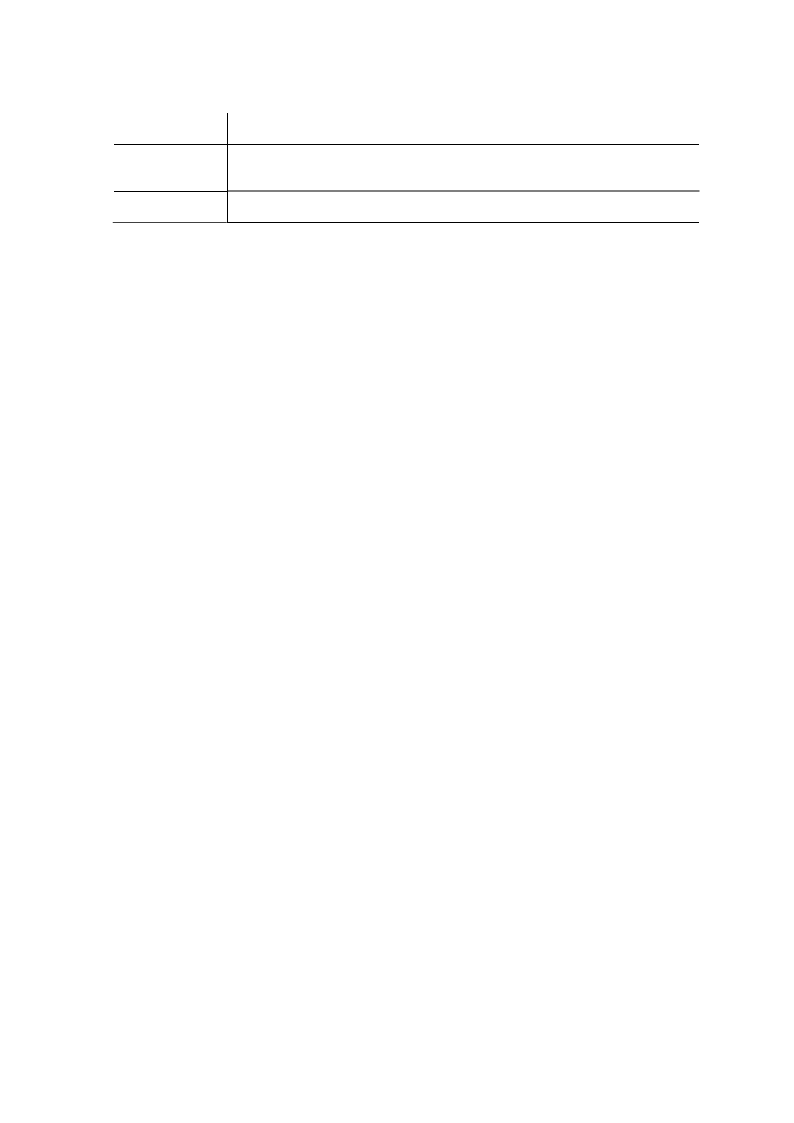
presente e tornar possível uma experiência mais agradável, para todas as coisas
interconectadas.
7) A mudança ideológica representa mais a apreciação da qualidade de vida (habitação
Qualidade de vida de valor moderado), do que aderir a altos padrões de vida. Deve haver uma profunda
consciência da diferença entre tamanho e excelência.
Obrigação de ação
8) Aqueles que subscreverem aos pontos citados, têm a obrigação direta ou indireta de
participar das tentativas de implementar as mudanças necessárias.
Fonte: Elaborado com base em Naess e Sessions (1984) e Samkin & Schneider (2014).
Segundo Naess e Sessions (1984), Samkin & Schneider (2014) e Naess (2013) apud
Ikeke (2020), a plataforma da ecologia profunda é composta por oito pontos: (i) todos os
seres têm valor intrínseco, (ii) a diversidade e a variedade são valores, (iii) os humanos podem
fazer uso da natureza apenas para necessidades essenciais, (iv) há necessidade de diminuir a
população humana para conservar outros seres, (v) os processos vitais estão sendo destruídos
pelo homem, (vi) políticas socioeconômicas devem ser feitas para reverter a degradação
ambiental, (vii) o padrão de vida não é mais importante do que a qualidade de vida, e (viii)
há uma obrigação moral para aqueles que aceitam os princípios acima de ações pela
conservação ecológica.
Nesta vertente ecológica, tanto a suposição de valor único dos humanos, quanto a
suposição de valor maior das pessoas em relação aos mais diversos elementos da natureza,
são rejeitadas (Eckersley, 1992), sendo que todas devem ser priorizadas, tanto as entidades
humanas, como as não humanas (Naess, 1973). A preocupação de proteção ambiental, é mais
profunda do que simplesmente o valor que estas possuem para as pessoas, pois ela tem valor
porque simplesmente existe e assim o valor intrínseco da biodiversidade, tem a posição em
destaque (Gaia & Jones, 2017). Com os apontamentos e definições de todos os paradigmas
ambientais expostos, pode-se resumir cada grupo conforme a Figura 10.
70
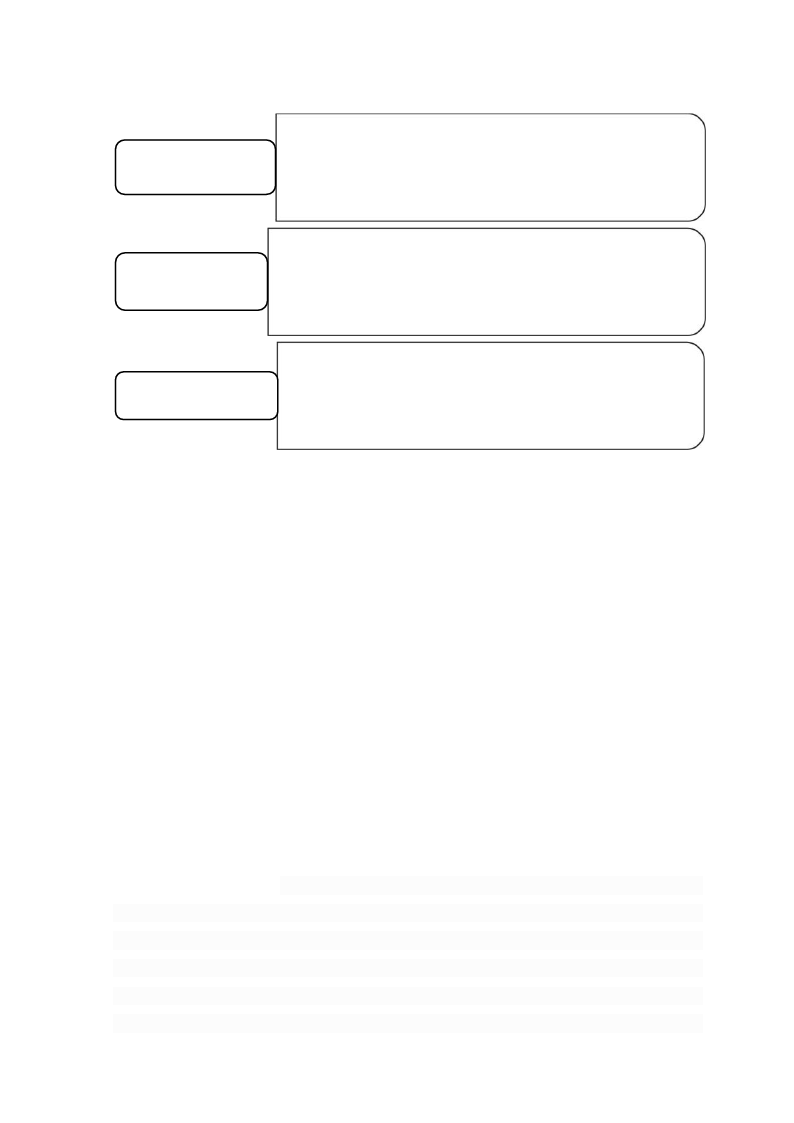
Ecologia Rasa
• Conservação de Recursos - uso consciente dos recursos naturais.
• Bem-Estar Humano - busca a qualidade ambiental.
• Preservacionismo - valoriza a apreciação estética e espiritual do
meio ambiente.
Ecologia Intermediária
• Gestão Ambiental - atender às necessidades da geração atual, sem
comprometer a capacidade de suprir as necessidades das futuras
gerações.
• Extensionismo Moral - defendem a preservação da natureza, porque
os mesmos apoiam o valor instrumental de vida de animais e plantas.
Ecocentrismo (ecologia
profunda)
• Importância da biodiversidade em termos de seu valor intrínseco.
Figura 10 - Paradigmas Ambientais com as principais práticas.
Fonte: Baseado em Eckersley (1992).
No paradigma da Ecologia Rasa, existe a divisão entre a conservação de recursos, o
bem-estar humano e o preservacionismo, sendo que a principal característica, é que a
preocupação em relação a biodiversidade está ligada a satisfação de interesses dos seres
humanos (Gaia & Jones, 2017), e que os três movimentos apresentam no final, um aspecto
de antropocentrismo decrescente (Eckersley, 1992).
No grupo da ecologia intermediária, existe a separação entre Gestão Ambiental e
Extensionismo Moral, em que o primeiro está mais perto de ser um antropocentrismo
moderado ou fraco, e o segundo está mais voltado para o ecocentrismo (Vincent, 1993).
Por último, o ecocentrismo considerado a ecologia mais profunda, é o movimento que
contraria a ideia do antropocentrismo (Samkin et al., 2014). É o fluxo ecológico que vê a
natureza como tendo valor intrínseco, e tem como objetivo a proteção da riqueza e da
diversidade das formas no mundo (Naess, 1973).
Um estudo alinhado com o tópico das filosofias ecológicas e as praticas relacionadas
ao meio ambiente é o de Gaia e Jones (2017), que tinham o objetivo de explorar o uso de
narrativas nos relatórios de biodiversidade, para verificar se eles aumentam a conscientização
sobre a sua importância. Para chegar ao objetivo, os autores classificaram as explicações para
a conservação da biodiversidade, contidas nos relatórios publicados por conselhos locais do
Reino Unido, em filosofias rasas, intermediárias e profundas. Utilizou-se a análise de
conteúdo e como resultado, foi verificado que as explicações estavam voltadas para o seu
71

valor instrumental, conservação por causa dos recursos que dela provém e para manter o
bem-estar humano, classificando-se assim como uma filosofia rasa. Os conselhos locais do
Reino Unido, procuraram aumentar a conscientização sobre a importância da biodiversidade,
destacando valores que são importantes para os stakeholders, que podem contribuir para a
conservação da biodiversidade, como indústrias, visitantes, proprietários de terras, negócios
e residentes.
72

3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA
Os delineamentos metodológicos, possuem um papel importante na pesquisa
científica. Desenvolvem planos e estruturas, para permitir alcançar os resultados esperados e
não possuem um delineamento particular. No entanto, existem metodologias que se ajustam
mais a determinado tipo de pesquisa (Raupp & Beuren, 2009). Este capítulo, apresenta o
delineamento da pesquisa de forma detalhada, definindo a unidade de análise, a população e
amostra, o constructo da pesquisa, os procedimentos de coleta de dados e os procedimentos
e análise dos dados. Também, apresentam-se as limitações dos métodos e técnicas desta
pesquisa.
3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA
O objetivo da pesquisa, é analisar de que maneira as divulgações sobre meio ambiente
podem revelar as contradições entre os stakeholders prioritários e as filosofias ecológicas,
contidas nos relatórios de sustentabilidade.
Com isso, decidiu-se pela utilização de uma abordagem qualitativa do problema.
Quanto aos seus objetivos, a pesquisa classifica-se como descritiva e no que tange aos
procedimentos, classifica-se como documental (Raupp & Beuren, 2009).
Uma pesquisa descritiva, se caracteriza pela utilização de técnicas padronizadas de
coleta de dados, para identificar, relatar e comparar (Raupp & Beuren, 2009). Este tipo de
pesquisa, é normalmente estruturada para medir características descritivas, em uma questão
de pesquisa (Hair, Babin, Money & Samouel, 2005). O objetivo é descrever alguma coisa,
que normalmente são características (Malhotra, 2006).
Pesquisas qualitativas, suportam análises mais profundas em relação ao fenômeno a
ser estudado, destacando características que não são observadas em estudos quantitativos e
ainda, é considerada mais adequada para conhecer a natureza de fenômenos sociais (Raupp
& Beuren, 2009).
A pesquisa documental, segundo Gil (2009), utiliza materiais que não receberam
nenhum tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados, conforme o objetivo do
estudo. Segundo Amorim (2018), a pesquisa documental adota a coleta de dados secundários,
extraídos dos relatórios de sustentabilidade, das demonstrações contábeis e dos relatos
integrados. Neste tipo de pesquisa, a coleta de dados se dá em fontes primárias, ou seja,
73
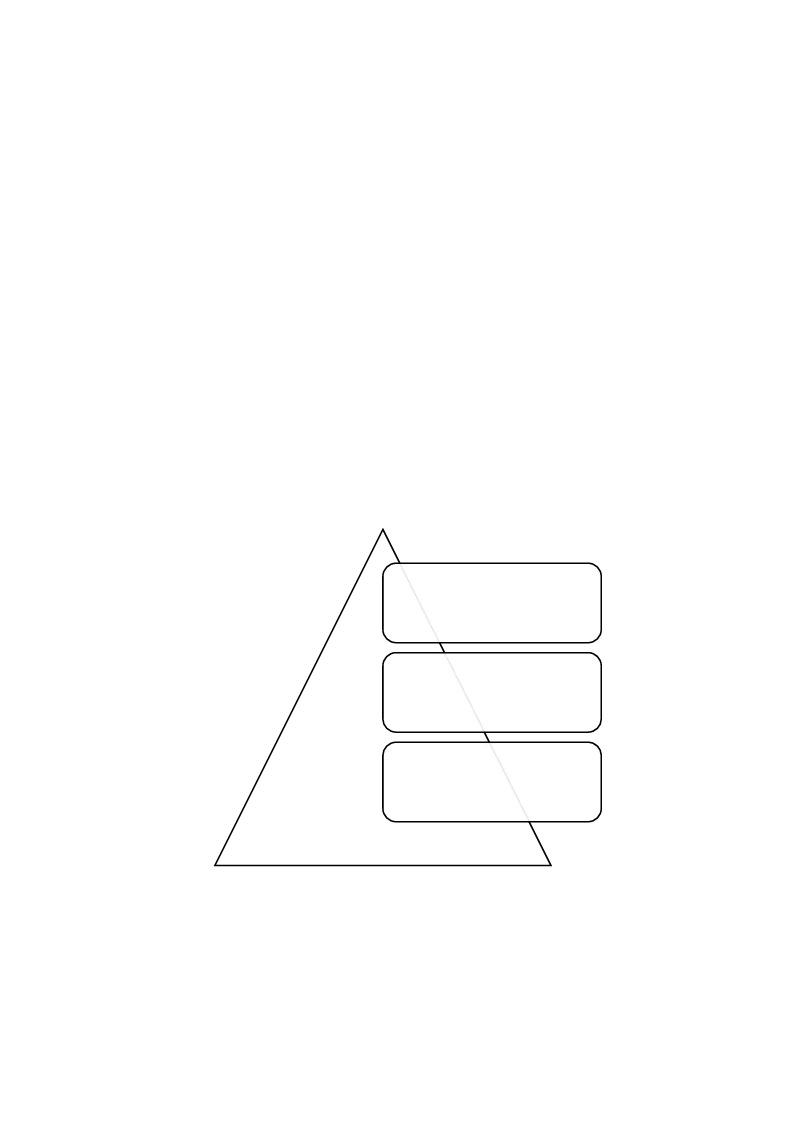
documentos escritos ou não, pertencentes a arquivos públicos, arquivos particulares e fontes
estatísticas (Marconi & Lakatos, 2004).
Quanto à perspectiva temporal, esta pesquisa pode ser classificada como transversal,
devido à coleta dos dados ter ocorrido durante os meses de setembro e outubro de 2020.
Entende-se por estudos transversais, a coleta de dados realizada em um determinado tempo
(Hair Jr., Babin, Money, & Samouel, 2005; Malhotra, 2006).
3.2 UNIDADE DE ANÁLISE, POPULAÇÃO E AMOSTRA
A amostra é composta por 18 Relatórios de Sustentabilidade, divulgados entre 2017
e 2020, por companhias de capital aberto, de diferentes ramos de atividade econômica. Foi
selecionado o último relatório divulgado por cada empresa, durante o período, pois algumas
divulgaram o último relatório em anos anteriores a 2020, conforme pode ser observado na
Figura 11.
18 empresas - empresas
potencialmente poluidoras e
utilizadoras de recursos ambientais
em nível de impacto alto (Lei n.
6.938, 1981).
93 empresas - publicam relatório de
sustentabilidade.
181 empresas - empresas elegíveis
listadas no ISE de 2018 e 2019.
Figura 11 - Seleção da Amostra.
Fonte: Elaborado pelo autor (2021).
As empresas participantes dessa pesquisa, são companhias de capital aberto listadas
na B3, sendo as organizações com melhores práticas em sustentabilidade fazendo parte da
listagem de elegíveis do ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial). O primeiro recorte
utilizado, é a seleção das empresas listadas no ISE de 2018 e 2019, totalizando 181 empresas.
74

O ISE “busca criar um ambiente de investimento compatível com as demandas de
desenvolvimento sustentável da sociedade contemporânea e estimular a responsabilidade
ética das corporações” (B3, 2020).
O ISE é uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas
listadas na B3 sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência
econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. Também
amplia o entendimento sobre empresas e grupos comprometidos com a
sustentabilidade, diferenciando-os em termos de qualidade, nível de compromisso
com o desenvolvimento sustentável, equidade, transparência e prestação de contas,
natureza do produto, além do desempenho empresarial nas dimensões econômico-
financeira, social, ambiental e de mudanças climáticas (B3, 2020).
Foi criado em 2005, para auxiliar os investidores na tomada de decisões relacionadas
a investimentos em empresas socialmente responsáveis, fazendo com que as organizações
adotem melhores práticas, relacionadas a sustentabilidade corporativa (Da Rosa, Lunkes, &
Brizzola, 2019).
Segundo Pletsch, Brighenti, Da Silva e Da Rosa (2015), o ISE é uma ferramenta
comparativa para analisar o aspecto da sustentabilidade corporativa em empresas brasileiras,
pois possibilita verificar como as empresas se comprometem com a sustentabilidade,
diferenciando-as das demais em relação a qualidade, ao nível de comprometimento
sustentável, a equidade, a transparência, as mudanças climáticas e outros. Corroborando com
a pesquisa citada, outros estudos também utilizaram o índice de Sustentabilidade
Empresarial, como Rosa et al. (2010), De Oliveira, Machado e Beuren (2012), Colares,
Bressan, Lamounier e Borges (2012), Nobre e Ribeiro (2013), Andrade, Bressan, Iquiapaza
e Moreira. (2013), Oro, Renner e Braun (2013), Giacomin, Ostrzyzek e Vendrame (2019),
De Oliveira e Oliveira (2020), Lopes Júnior, De Miranda, Do Nascimento e De Melo (2020).
De acordo com Do Nascimento (2020), o ISE é o segundo índice de sustentabilidade
mais utilizado em pesquisas relacionadas a índices de sustentabilidade ambiental, estando
atrás apenas do Dow Jones sustainability index (DJSI).
Após a retirada de empresas que não divulgaram seus relatórios, ou de empresas que
são controladas por outras organizações listadas na respectiva bolsa, restaram 93 empresas.
No caso de empresas controladas, foram utilizadas as informações divulgadas no relatório de
sustentabilidade da controladora, evitando assim a dupla contagem.
O terceiro filtro utilizado, foi a Lei nº. 6.938, que trata sobre algumas atividades
econômicas, conforme a Política Nacional Brasileira do Meio Ambiente, que podem ser
75
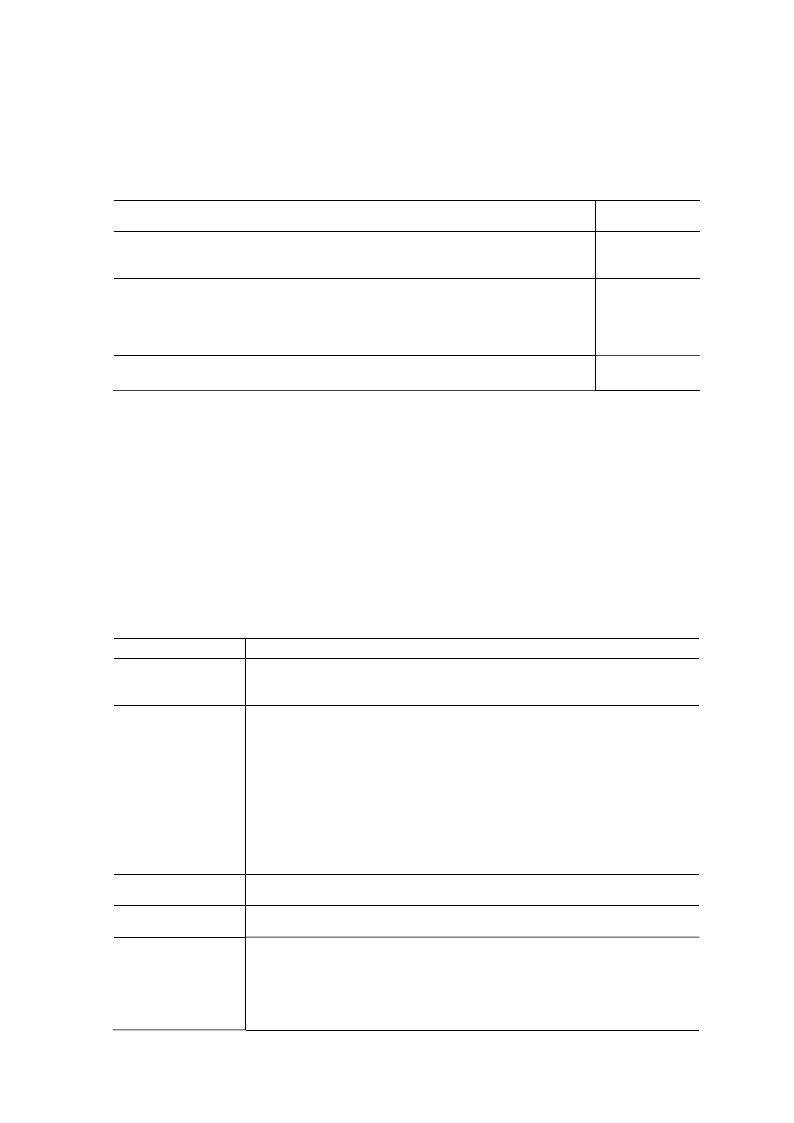
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais em nível de impacto alto, médio
ou baixo (Lei n. 6.938, 1981), conforme a Tabela 4.
Tabela 4 - Setores de atividade e o impacto ambiental.
Categoria – Setor de Atividade
Extração e Tratamento de Minerais; Indústria Metalúrgica; Indústria de Papel e
Celulose; Indústria de Couros e Peles; Indústria Química; Transporte, Terminais,
Depósitos e Comércio.
Indústria de Produtos Minerais Não Metálicos; Indústria Mecânica; Indústria de
material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Indústria de Material de Transporte;
Indústria de Madeira; Indústria Têxtil, de Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecidos;
Indústria do Fumo; Indústria de Produtos Alimentares e Bebidas; Serviços de Utilidade;
Uso de Recursos Naturais.
Indústria de Borracha; Indústria de Produtos de Matéria Plástica; Indústrias Diversas;
Turismo.
Fonte: Elaborado com base na Lei n. 6.938/1981.
Impacto ao
Meio Ambiente
Alto
Médio
Pequeno
Nesta Lei, as atividades econômicas estão categorizadas em baixo, médio e alto
impacto ambiental, sendo esta classificação decorrente do Potencial de Poluição (PP) - risco
que uma atividade econômica oferece de poluir o meio ambiente - e do Grau de Utilização
(GU) de recursos naturais - nível de exploração dos recursos ambientais por parte das
empresas de determinada atividade econômica. Os setores com alto impacto ambiental, são
detalhados na Tabela 5.
Tabela 5 - Setores de atividade de alto impacto ambiental.
Categoria
Descrição
Extração e Tratamento Pesquisa mineral com guia de utilização; lavra a céu aberto, inclusive de aluvião,
de Minerais
com ou sem beneficiamento; lavra subterrânea com ou sem beneficiamento, lavra
garimpeira, perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural.
Indústria Metalúrgica Fabricação de aço e de produtos siderúrgicos, produção de fundidos de ferro e aço,
forjados, arames, relaminados com ou sem tratamento; de superfície, inclusive
galvanoplastia, metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e
secundárias, inclusive ouro; produção de laminados, ligas, artefatos de metais não-
ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia; relaminação
de metais não-ferrosos, inclusive ligas, produção de soldas e anodos; metalurgia de
metais preciosos; metalurgia do pó, inclusive peças moldadas; fabricação de
estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive; galvanoplastia,
fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento
de superfície, inclusive galvanoplastia, têmpera e cementação de aço, recozimento
de arames, tratamento de superfície.
Indústria de Papel e Fabricação de celulose e pasta mecânica; fabricação de papel e papelão; fabricação
Celulose
de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada.
Indústria de Couros e Secagem e salga de couros e peles, curtimento e outras preparações de couros e
Peles
peles; fabricação de artefatos diversos de couros e peles; fabricação de cola animal.
Indústria Química
Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos, fabricação de produtos
derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira;
fabricação de combustíveis não derivados de petróleo, produção de óleos, gorduras,
ceras, vegetais e animais, óleos essenciais, vegetais e produtos similares, da
destilação da madeira, fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos
e de borracha e látex sintéticos, fabricação de pólvora, explosivos, detonantes,
76
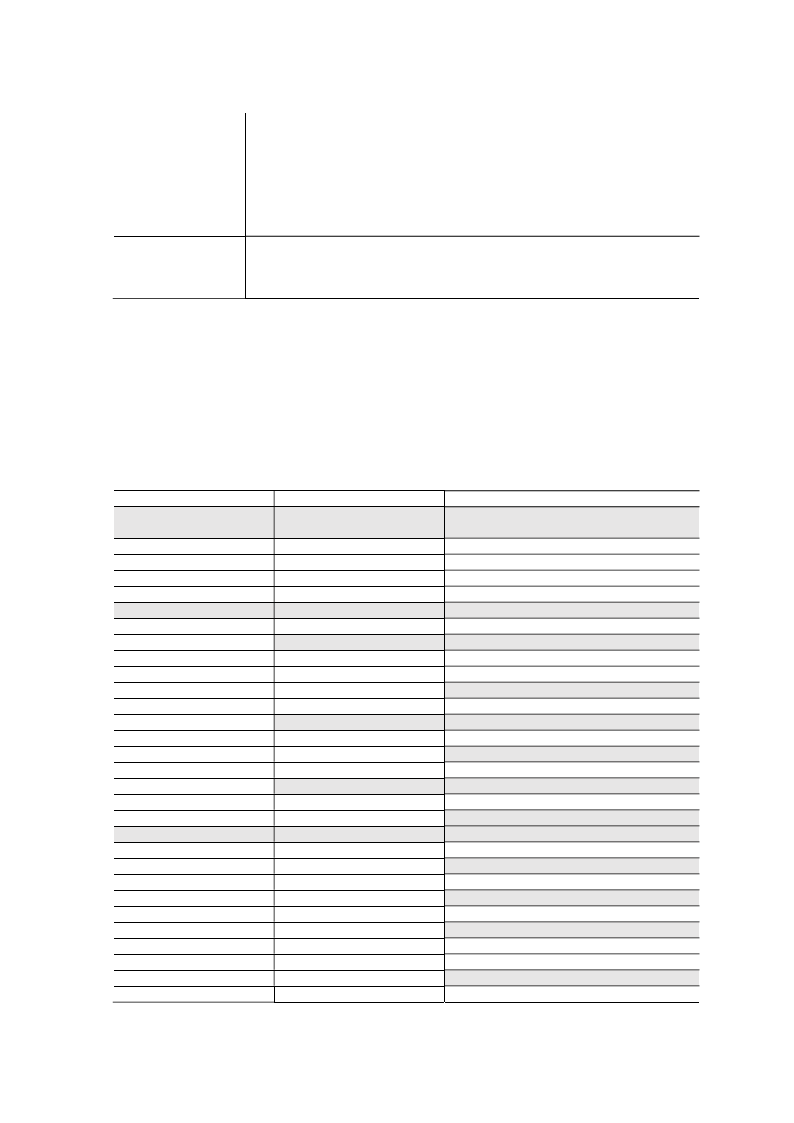
munição para caça e desporto, fósforo de segurança e artigos pirotécnicos;
recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais; fabricação de
concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos; fabricação de preparados
para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas;
fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e
secantes; fabricação de fertilizantes e agroquímicos; fabricação de produtos
farmacêuticos e veterinários; fabricação de sabões, detergentes e velas; fabricação
de perfumarias e cosméticos; produção de álcool etílico, metanol e similares.
Transporte, Terminais, Transporte de cargas perigosas, transporte por dutos; marinas, portos e aeroportos;
Depósitos e Comércio terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos; depósitos de
produtos químicos e produtos perigosos; comércio de combustíveis, derivados de
petróleo e produtos químicos e produtos perigosos.
Fonte: Elaborado com base na Lei n. 6.938/1981.
Conforme as atividades classificadas com alto impacto ambiental, foi possível
delimitar com base no ramo de atuação, as organizações a serem utilizadas para as análises.
Sendo assim, apresenta-se a seguir, a relação contendo os nomes das 18 empresas que fazem
parte da amostra, bem como o segmento ao qual pertencem, conforme a Tabela 6.
Tabela 6 - Lista das empresas que pertencem a amostra.
SETOR ECONÔMICO
SUBSETOR
Petróleo, Gás e
Petróleo, Gás e
Biocombustíveis
Biocombustíveis
Materiais Básicos
Mineração
Siderurgia e Metalurgia
Bens Industriais
Químicos
Madeira e Papel
Transporte
Fonte: Elaborado pelo autor (2021).
SEGMENTO
Exploração, Refino e Distribuição
COSAN
DOMMO
PETROBRAS
ULTRAPAR
Minerais Metálicos
VALE
Siderurgia
GERDAU
USIMINAS
Artefatos de Cobre
PARANAPANEMA
Petroquímicos
BRASKEM
Fertilizantes e Defensivos
FER HERINGER
Papel e Celulose
KLABIN S/A
SUZANO S.A.
Transporte Aéreo
GOL
Transporte Ferroviário
RUMO S.A.
Transporte Rodoviário
JSL
Exploração de Rodovias
CCR SA
ECORODOVIAS
Serviços de Apoio e Armazenagem
SANTOS BRP
77
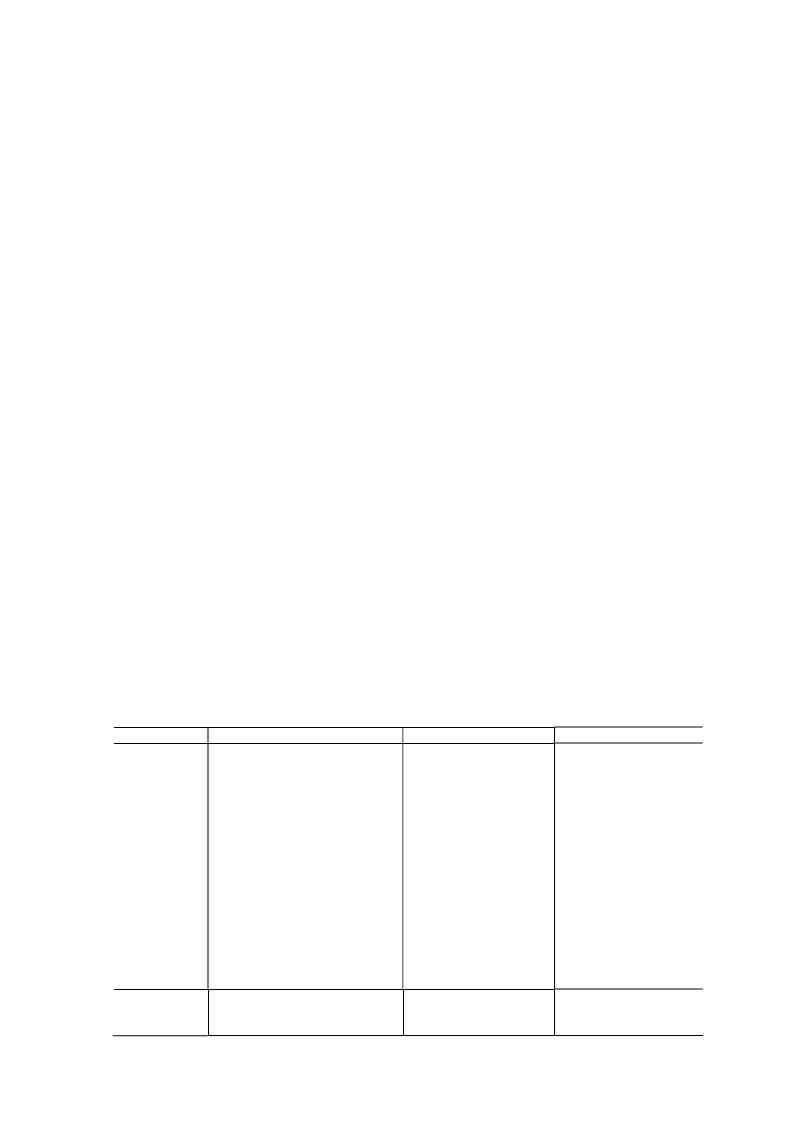
Em relação ao ano do relatório de sustentabilidade, 14 relatórios são de 2019, 2 do
ano de 2018 e 2 relatórios de 2017. Contudo, a seleção de relatórios de diferentes anos de
publicação, foi considerada aceitável para atender aos objetivos do estudo, visto que o tipo
de evidências analisadas (divulgação ambiental), não se altera em um período curto de tempo.
A seleção destas empresas, levando em consideração o ISE e a Lei nº. 6.938/81, teve
como objetivo, selecionar organizações comprometidas publicamente com questões
relacionadas ao desenvolvimento sustentável e que se preocupam com a responsabilidade
ética das corporações, com o equilíbrio ambiental, a justiça social e a governança corporativa
e que sejam engajadas na transparência e prestação de contas, focadas no desempenho
econômico-financeiro, social, ambiental e de mudanças climáticas e por apresentarem alto
impacto ambiental devido às suas atividades econômicas, enquadram-se perfeitamente na
amostra da presente pesquisa, já que a mesma busca identificar nas divulgações ambientais,
quais são os stakeholders prioritários e as filosofias ecológicas utilizadas para a divulgação
de informações sobre o meio ambiente.
3.3 CONSTRUCTO DA PESQUISA E PROCEDIMENTOS E ANÁLISE E COLETA DOS
DADOS
Para alcançar os objetivos propostos, deve-se identificar as ações necessárias para se
chegar à determinada resposta. Assim, a Tabela 7 apresenta os objetivos específicos do
estudo, os autores que fundamentaram as proposições e a ação planejada para alcançá-lo.
Tabela 7 - Constructo da Pesquisa.
Objetivo Objetivo Especifico da pesquisa
Mapeamento
dos
Stakeholders
Mapear quais stakeholders são
prioritários nas divulgações sobre
o meio ambiente.
Identificação
das Filosofias
Ecológicas
Identificar as divulgações sobre o
meio ambiente de acordo com as
suposições das filosofias
Autores
Mitchell et al. (1997),
Boaventura, Fontes,
Sarturi e Armando
(2017).
Naess (1973); Sylvan
(1985b); Rolston (1985,
1988); Callicott (1990);
Ação Planejada
Após a identificação das
informações ambientais,
buscou-se verificar quais
partes interessadas eram
mencionadas
na
divulgação e com base
no estudo de Boaventura
et
al.,
(2017),
identificou-se as palavras
chave relacionadas aos
atributos
de
legitimidade, urgência e
poder, para verificar se
os
stakeholders
possuíam prioridade e
eram salientes.
Após a identificação das
informações ambientais,
buscou-se
as
78
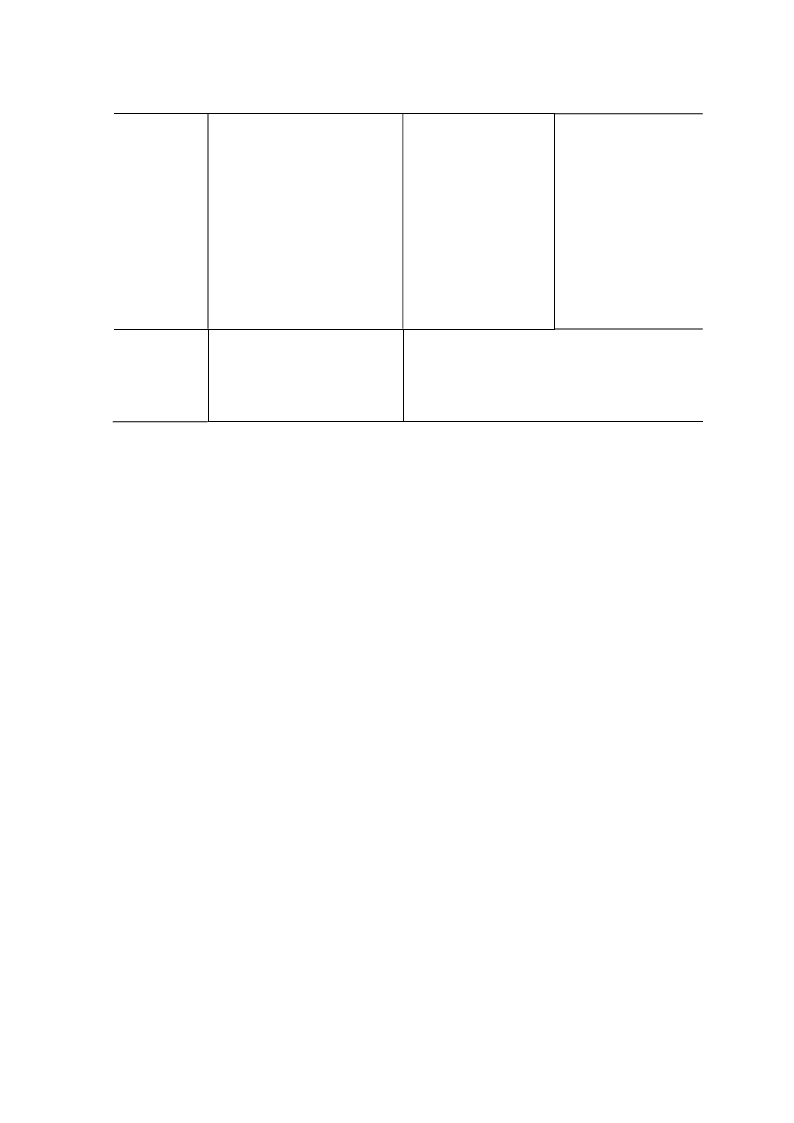
ecológicas superficiais/rasas,
intermediárias e profundas.
Comparação
filosofias
ecológicas x
stakeholders
Comparar as filosofias ecológicas
e a priorização dos stakeholders
identificadas nas divulgações
ambientais, para verificar as
contradições.
Fonte: Elaborado pelo autor (2021).
Eckersley
(1992); justificativas
Vincent (1993); Wells relacionadas as práticas
(1993); Hoefel (1999); ambientais,
para
Chapin et al. (2000); classifica-las na ecologia
Jones (2003); Fox (2003); superficial/rasa,
Palmer (2003); Gunn intermediária e profunda,
(2007); Samkin e com base nos autores do
Schneider
(2014); referencial teórico.
Samkin et al., (2014);
Baard (2015); Gaia e
Jones (2017); Ikeke
(2020); Naess (1983)
apud Akamani (2020);
Akamani (2020).
Com base nos dois resultados anteriores, nesta faze
buscou-se comparar a priorização dos stakeholders
identificados e as filosofias ecológicas que emergiram
das divulgações, para verificar a existência de
contradições, ou seja, o foco está nas partes
interessadas ou no meio ambiente?
A análise de informações divulgadas nos relatórios ambientais, foi feita por meio da
técnica de análise de conteúdo, que é uma maneira útil de avaliar mudanças sociais e atitudes
relacionadas ao meio ambiente, por meio da análise do discurso público (Buhr & Reiter,
2006). Essa abordagem, envolve a análise de conteúdo da palavra escrita dos relatórios de
sustentabilidade, permitindo a exploração dos fundamentos filosóficos (Morrison et al.,
2016).
A análise de conteúdo consiste em reduzir os dados, para tentar identificar
significados e consistências essenciais (Patton, 2001), em que é seguido um processo
sistemático de codificação (Hsieh & Shannon, 2005). Este tipo de análise, tem sido
amplamente utilizado em estudos de relatórios sociais e ambientais e para explorar estratégias
corporativas e ambientais, comunicadas em relatórios anuais (Albertini, 2014; Bowman,
1984; Guthrie, Petty, & Yongvanich, 2004). Uma das características da análise de conteúdo,
é de que através da frequência com que algum assunto é citado e/ou apresentado, é indicada
sua importância dentro de um texto (Radu, Caron, & Arroyo, 2020).
Vergara (2010, p. 7), descreve como “uma técnica para o tratamento de dados, que
visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema”. Bardin (1977), divide
as técnicas em três etapas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos
resultados - a inferência e interpretação, como pode ser observado na Tabela 8.
79
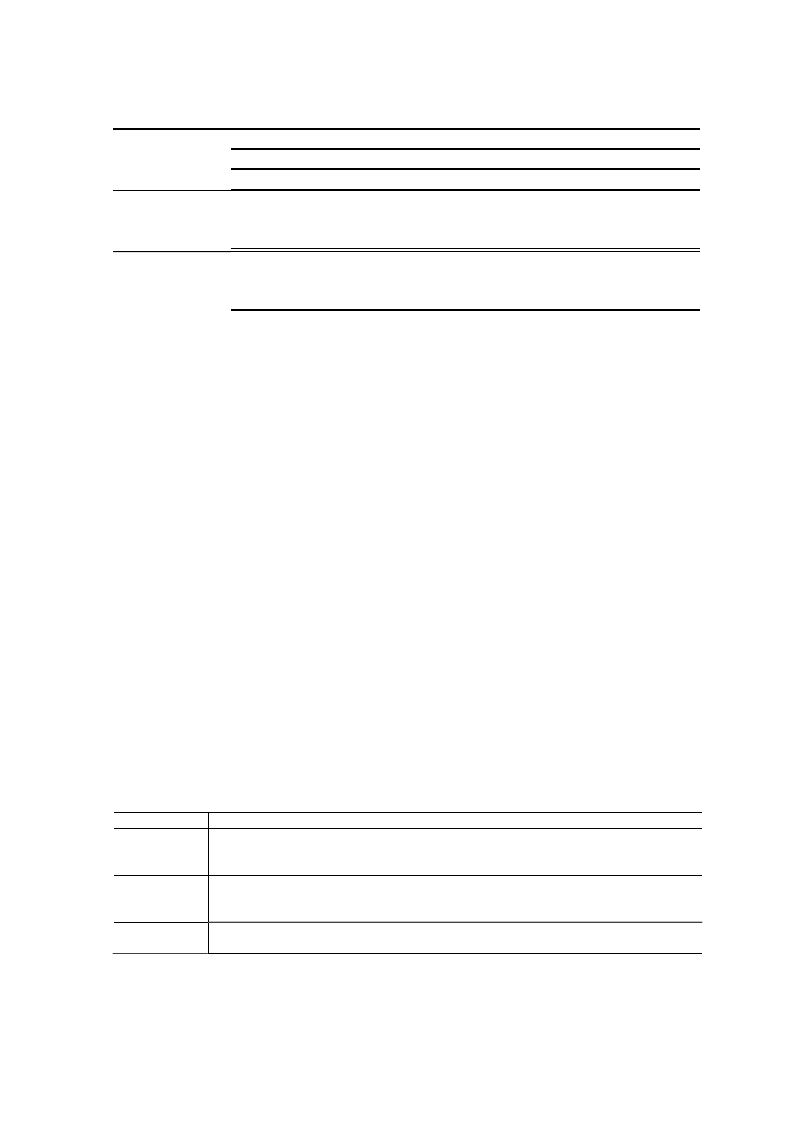
Tabela 8 - Fases da análise de conteúdo de Bardin.
Pré-análise
Escolhas dos documentos
Definição das seções do documento a serem analisadas
Definição das palavras-chaves ou categorias
Exploração do
material
Divisão das informações em categorias para agrupá-los
Tratamento dos
resultados -
inferência e a
interpretação
Discussão dos resultados obtidos com base na revisão de literatura feita
Fonte: Elaborado com base em Bardin (1977).
A primeira etapa da metodologia proposta, é a escolha dos documentos. Para esta
pesquisa, a coleta de dados foi realizada nos relatórios de sustentabilidade, divulgados pelas
empresas. A opção por estes relatórios justifica-se, pela riqueza de informações que os
mesmos apresentam.
Na segunda etapa, ocorre a definição das seções do documento a serem analisadas e
como os relatórios de sustentabilidade, normalmente, são bastante extensos e apresentam as
mais variadas informações, é importante definir as seções mais aderentes ao escopo do
estudo. Portanto, para esta análise, foram consideradas apenas as seções do relatório de
sustentabilidade, que contenham dados sobre a estratégia da companhia que está relacionada
ao meio ambiente, para a identificação da saliência dos stakeholders e as filosofias
ecológicas.
A terceira etapa da Pré-análise, refere-se à identificação das palavras e categorias
associadas a cada constructo de análise. No que se refere a saliência dos stakeholders, foram
escolhidas as palavras que representam as definições propostas por Mitchell et al. (1997),
dos atributos poder, legitimidade e urgência, conforme a Tabela 9.
Tabela 9 - Definição dos Atributos da saliência dos Stakeholders.
Atributo
Definição
Um relacionamento entre agentes sociais em que um agente social A consegue que outro
Poder
agente social B faça algo que B não faria (Dahl, 1957; Pfeffer, 1981; Weber, 1947, apud
Mitchell et al., 1997, p. 865)
"Percepção generalizada ou uma presunção que as ações de uma entidade são desejáveis,
Legitimidade adequadas, ou apropriadas dentro de um sistema social de normas, valores, crenças e
definições" (Suchman, 1995, p. 574, apud Mitchell et al., 1997, p. 866).
Urgência
"O grau em que a reivindicação do stakeholder demanda atenção imediata" (Mitchell et
al., 1997, p. 867).
Fonte: Elaborado com base em Mitchell et al. (1997).
80
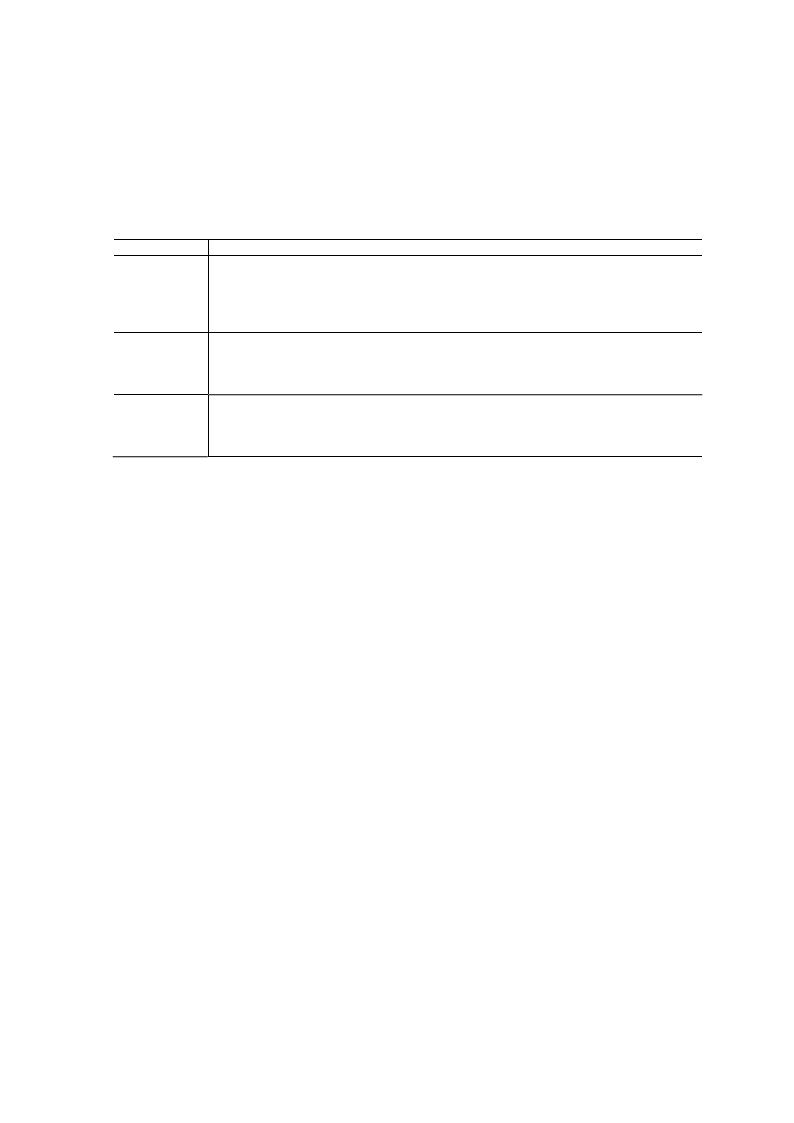
Com base nestas definições, têm-se estudos anteriores que realizaram proposições em
relação às palavras-chave. No estudo de Boaventura et al., (2017), as palavras-chave
utilizadas podem ser observadas na Tabela 10.
Tabela 10 - Palavras-chave para identificar a saliência dos Stakeholders.
Atributo
Palavras-Chave
Poder, força, controle, competência, virtude, compelir, poderoso, eficaz, eficiente,
competente, pressão, domínio, influenciar, influente, popular, conhecido, cargo,
Poder
hierarquia, presidência, administração, presidente, dominante, regente, dominador,
imposição, obrigação, vincular, forçar, obrigatório, compulsório, compulsivo, formal,
obrigatoriamente.
Contrato, transação, acordo, obrigação, compromisso, condição, cláusula, negociação,
Legitimidade
contratar, contratual, direito, autorização, constituição, reclamante, reivindicador, recorrer,
reivindicar, autorizado, justo, estatuto, estatutos, instituições, decreto, regulamento,
regulamentação, legal, devido, vigente, segurança, confiança, seguro, capacitado.
Agilidade, pontualidade, velocidade, adiantamento, urgência, antecipar, adiantar, pontual,
Urgência
antecipado, essencial, principal, exigir, demandar, necessitar, útil, urgente, insubstituível,
relevância, fundamental, importante, relevante, vital, fundamental, valioso, importância,
proporção, urgência, tempo, apressado, imediatamente.
Fonte: Elaborado com base em Boaventura et al., (2017).
No que se refere às filosofias ecológicas, as categorias foram estruturadas com base
na revisão bibliográfica apresentada no referencial teórico, em que pode-se identificar as
características contidas nas filosofias rasas/superficiais, intermediárias e profundas e estas
foram utilizadas para identificar as práticas relacionadas ao meio ambiente, nas narrativas
ambientais divulgadas nos relatórios de sustentabilidade, conforme a Tabela 11.
81
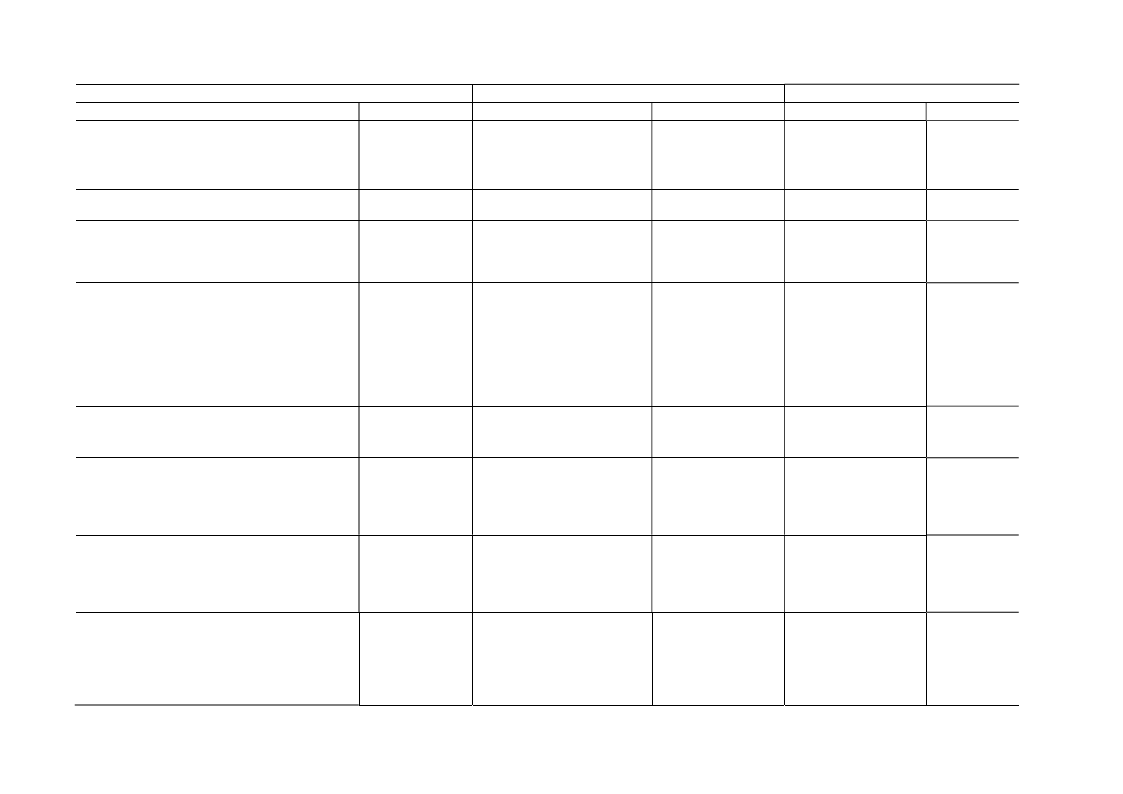
Ecologia Rasa/Superficial
Características
Autores
Em relação à proteção das espécies, os humanos Samkin et al.
valorizam o seu valor extrínseco, o valor que os (2014).
animais têm para eles.
Ecologia Intermediária
Características
Autores
As preocupações humanas estão Sylvan (1985b).
em primeiro lugar, porém os
animais também possuem valor
e utilidade por si só.
A administração e exploração dos recursos que Sylvan (1985b). Libertação animal.
Sylvan (1985b).
necessitam.
A conservação é justificada porque a mesma apoia Rolston (1985,
Animais de ordem superior têm Samkin e Schneider
o crescimento econômico.
1988); Eckersley valores próprios.
(2014).
(1992); Gaia e
Jones (2017).
A saúde e o bem-estar dos humanos é o principal, Naess (1973);
A natureza é avaliada como um Samkin e Schneider
sendo incentivado a luta contra a poluição e o Baard (2015).
meio para a conservação de (2014).
esgotamento dos recursos.
recursos para fins humanos,
para o bem-estar das gerações
presentes e futuras. Os humanos
devem manter seu estilo de vida
atual ininterrupto, exceto fazer
algumas pequenas mudanças.
Ambiente humano agradável.
Eckersley (1992); Podem levar a um foco de curto Samkin e Schneider
Wells (1993); Gaia prazo, em vez de causas (2014).
e Jones (2017). subjacentes.
Visão de longo prazo sobre o meio ambiente e a Sylvan (1985b);
natureza é valorizada como um meio para a Samkin e
conservação dos fins humanos de recursos para o Schneider (2014).
bem-estar das gerações presentes e futuras.
As pessoas são separadas do resto da natureza e são Samkin et al.,
a única fonte de valor, devendo permanecer com o (2014).
seu estilo de vida e só pode ser alterado se forem
pequenas mudanças.
Podem levar a um foco de curto prazo, em vez de Samkin e
causas subjacentes.
Schneider (2014).
A
conservação
da Samkin e Schneider
biodiversidade é realizada por (2014).
seu próprio valor, mas não onde
as necessidades humanas
seriam comprometidas.
As filosofias intermediárias Gaia e Jones (2017).
defendem que valores
intrínsecos podem ser
ampliados a algumas entidades
não humanas.
A Gestão Ambiental está ligada Gaia e Jones (2017).
com o dever moral das pessoas,
pois as mesmas devem manter e
aprimorar, porém jamais
esgotar os recursos naturais do
planeta.
Ecologia Profunda
Características
Autores
A autonomia local e Naess (1973);
descentralização.
Hoefel (1999).
A complexidade
complicação.
A postura anti-classe.
e Naess (1973);
Hoefel (1999).
Naess (1973);
Hoefel (1999).
A interferência humana Samkin e
presente no mundo não Schneider
humano é excessiva e (2014).
está piorando e precisa
ser mudada. Foco na
correção das causas, ao
invés dos sintomas.
As coisas naturais tem Sylvan
maior valor que os seres (1985b).
humanos.
Ecocêntrica - Não Vincent
antropocêntrico.
(1993);
Samkin e
Schneider
(2014).
Igualitarismo biosférico. Naess (1973);
Hoefel (1999).
Mesmo as preocupações Samkin e
humanas sérias às vezes Schneider
devem perder para os (2014).
valores ambientais
82
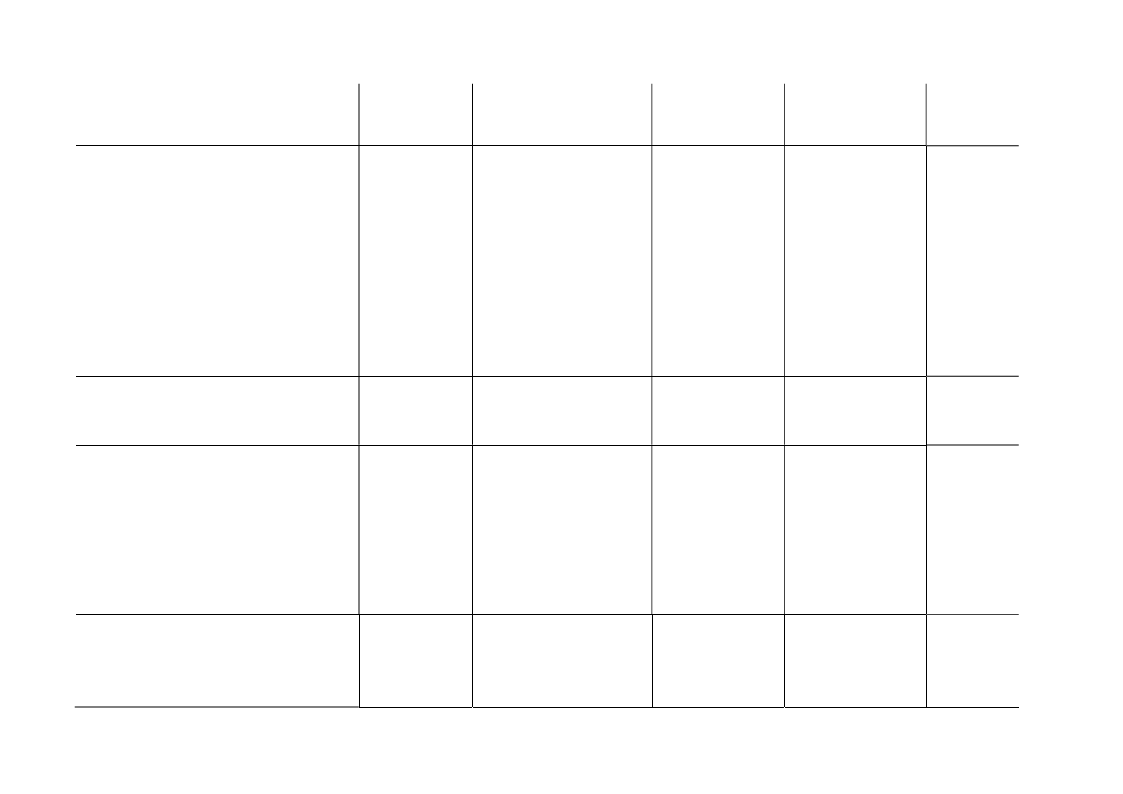
Luta contra a poluição e esgotamento dos recursos. Naess (1973).
Dependências de soluções tecnológicas - controle Eckersley (1992);
de poluição, regulamentação da indústria, Gunn (2007);
reciclagem, substituindo os combustíveis fósseis Samkin e
por biocombustíveis.
Schneider (2014).
Extensão da comunidade moral para incluir
espécies favorecidas, como animais que se parecem
com humanos, espécies que são fofas, peludas ou
impressionantes e características naturais que têm
significado especial para os humanos.
A conservação da biodiversidade é realizada não
por si mesma, mas por causa de seu valor para os
humanos.
Crescimento Econômico.
Reciclagem.
Diminuição dos desperdícios.
Manter a saúde e a riqueza nos países Naess (1973);
desenvolvidos, a saúde e o bem-estar dos humanos, Eckersley (1992);
manutenção da vida humana e maior bem para o Vincent (1993).
maior número de indivíduos.
Os seres humanos devem Jones (2003).
desempenhar o papel de
administradores do meio
ambiente.
Este movimento está ligado Gaia e Jones (2017).
com a proteção dos recursos no
presente para não faltar para as
futuras gerações, sendo que as
pessoas do presente devem
deixar para as do futuro pelo
menos os recursos naturais
equivalentes aos que foram
herdados do passado.
Mudanças
Naess (1983)
transformadoras nas apud Akamani
instituições sociais e (2020).
políticas.
O
valor
da Samkin e
biodiversidade
não Schneider
depende de sua utilidade (2014).
para os humanos. A
riqueza e a diversidade
das formas de vida
contribuem para o valor
e são valiosas.
Movimento a libertação animal Vincent (1993); Gaia Os princípios
é um bom exemplo que pode ser e Jones (2017).
diversidade e
citado.
simbiose.
da Naess (1973);
da Hoefel (1999).
Natureza caracterizada como instrumento para um Sylvan (1985b); Defende o valor moral de seres Eckersley (1992).
fim; o mundo não humano é mensurado pelo seu Eckersley (1992); não humanos, quer dizer, seres
valor de uso; o meio ambiente como uma fonte de Samkin e
que podem experimentar prazer
recursos para suprir às necessidades dos homens; Schneider (2014); e dor e assim a caça e o abate de
vistos como seres separados da natureza e são a Baard (2015); Gaia animais é combatido, devem ser
única fonte de valor; o valor da biodiversidade e Jones (2017). protegidos os habitats de
depende de sua utilidade para os humanos; as
animais selvagens, como peixes
preocupações humanas são fundamentais; a
e aves, pois estes lugares têm
proteção da biodiversidade deve ser estimulada
valor instrumental para diversas
porque, a mesma satisfaz as necessidades dos seres
espécies.
humanos.
Valoriza a apreciação estética e espiritual do meio Rolston (1985,
Neste movimento, árvores, por Eckersley (1992).
ambiente - valores símbolos, culturais, históricos, 1988); Callicott exemplo, só são consideradas
estéticos, espirituais e científicos.
(1990); Eckersley importantes na medida que
(1992); Chapin et servem de habitat para algum
al. (2000).
animal ou que pode ser utilizada
para a produção de móveis.
Preservação de áreas Samkin e
silvestres intocadas, bem Schneider
como
restauração (2014).
ambiental de espécies
nativas e áreas silvestres
degradadas
Toda a vida e relação Naess (1973);
(humana e não humana) Rolston (1985,
tem valor intrínseco. 1988); Ikeke
(2020); Fox
(2003); Palmer
(2003);
83
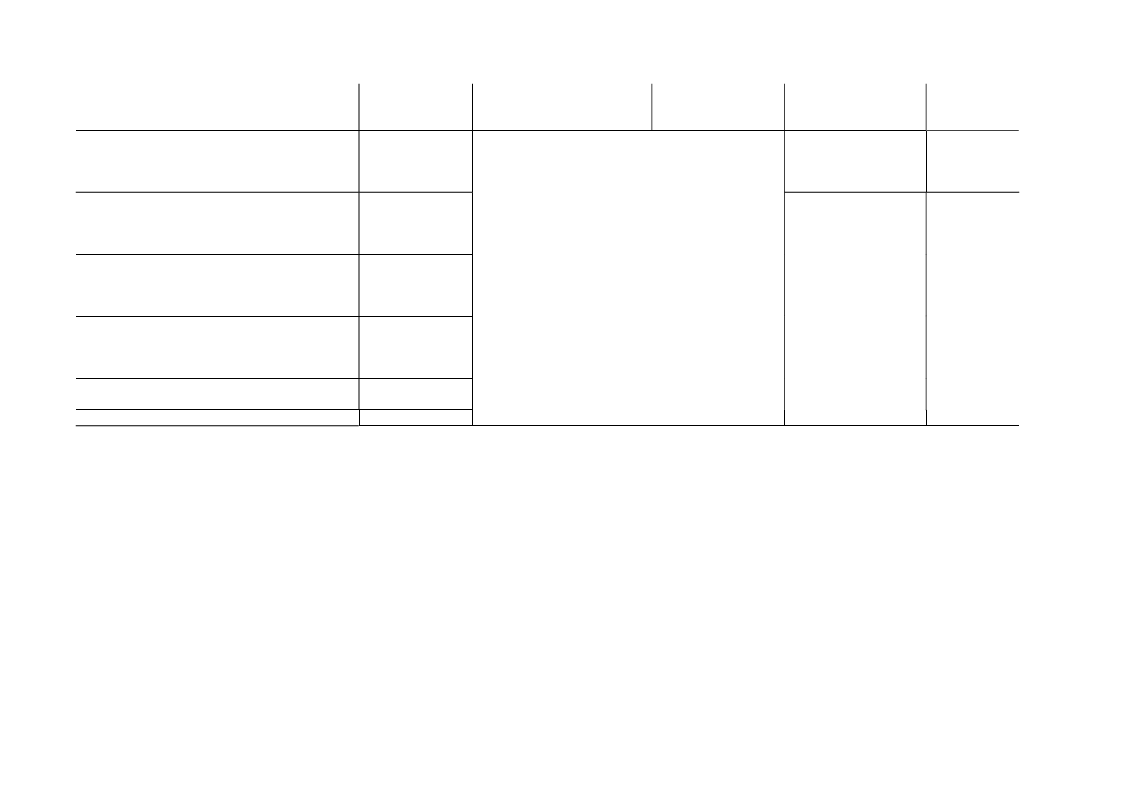
Um ambiente de trabalho mais seguro.
Eckersley (1992);
Rolston (1985,
1988); Gaia e
Jones (2017).
Questões físicas, sociais, relacionada a saúde, Rolston (1985,
comodidade, recreação e psicologia social.
1988); Eckersley
(1992); Gaia e
Jones (2017).
Treinamento de especialistas em ciências exatas Akamani (2020).
para gerenciar o meio ambiente, para que possam
combinar o crescimento econômico com a saúde
ambiental.
Antropocêntrica.
Sylvan (1985b);
Vincent (1993);
Samkin e
Schneider (2014).
O rendimento máximo deve ser buscado em relação Eckersley (1992).
aos recursos renováveis.
Manejo prudente.
Eckersley (1992).
Tabela 11 - Definição dos Atributos das ecologias ambientais.
Fonte: Elaborado pelo autor (2021).
Sustentabilidade
econômica
Samkin e
Schneider
(2014).
Samkin e
Schneider
(2014).
84
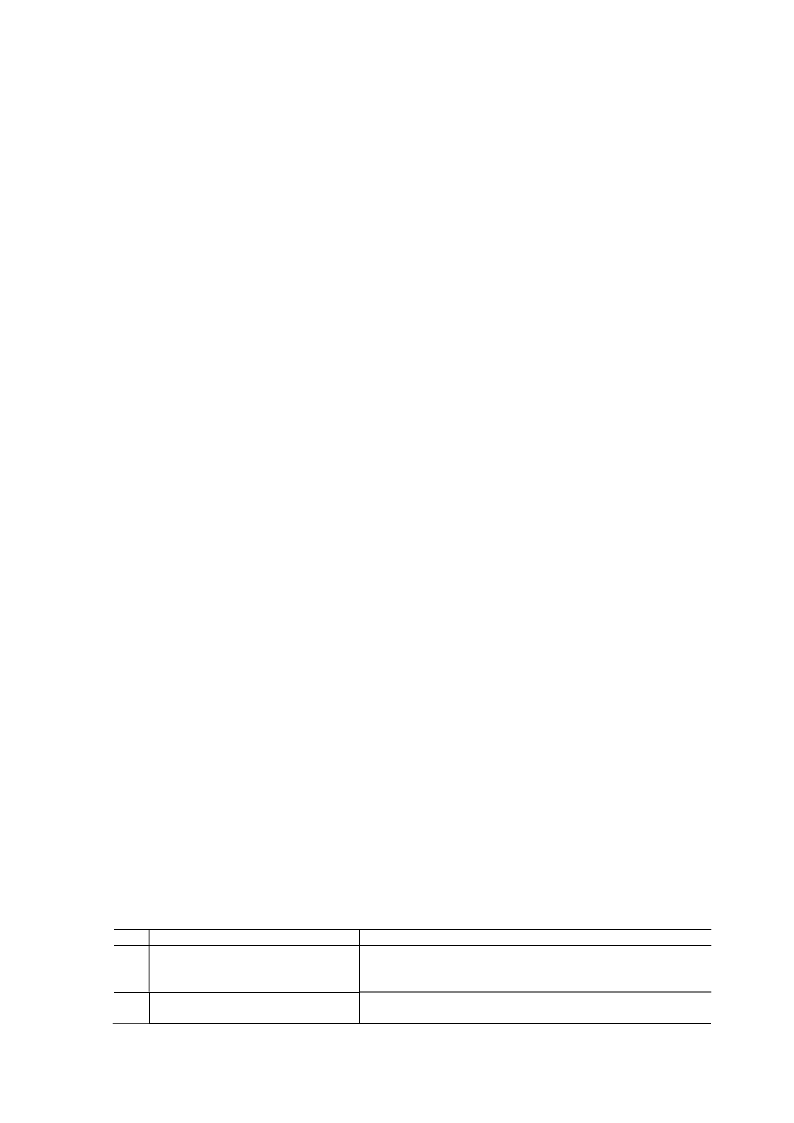
Com base na Tabela 11, pode-se observar as características de cada um dos
movimentos. Para a ecologia superficial/rasa, o principal aspecto está ligado às práticas
relacionadas ao Meio Ambiente, voltadas para os interesses das pessoas, e no caso desta
pesquisa, os interesses das empresas ou dos stakeholders. Assim, quando a empresa realiza
alguma prática relacionada ao Meio Ambiente e declara que o objetivo está ligado a
interesses internos ou por pressão de algum stakeholder, esta prática, de acordo com autores
apresentados na Tabela 10, deve ser considerada uma ecologia superficial/rasa. Segundo
Sylvan (1985b); Eckersley (1992); Samkin e Schneider (2014); Baard (2015); Gaia e Jones
(2017), a natureza é caracterizada como instrumento das pessoas, para um fim.
Em relação a ecologia intermediária, existem algumas práticas que têm objetivo e
preocupação direta com o Meio Ambiente, porém ainda com uma ligação direta com
interesses nas pessoas, ou empresas e stakeholders, principalmente se determinada prática
está relacionada à diminuição de algo para os homens. Pois se precisar escolher entre os
interesses do Meio Ambiente e das pessoas, a escolha será a favor dos homens.
Já para a ecologia profunda, o valor do Meio Ambiente é intrínseco, ou seja, tem valor
em si e não depende de alguma utilidade para as pessoas. Práticas relacionadas a este grupo,
são voltadas à preocupação direta com o Meio Ambiente ou com os animais, pois eles
precisam ser preservados por terem valor próprio.
Para codificar as divulgações ambientais nessas categorias, foram utilizados os
parágrafos como unidade de análise, pois assim os dados são mais completos, confiáveis e
significativos para a análise suplementar. As divulgações identificadas, foram organizadas
utilizando o Atlas Ti.
Na fase de exploração do material, para uma palavra-chave ser vinculada a um
stakeholder, ambos deveriam estar na mesma unidade de contexto analisada, conforme
define Bardin (1977). A unidade de contexto considerada foi um parágrafo. Ou seja, para um
stakeholder “A” seria atribuído o atributo legitimidade, por exemplo, caso as duas palavras
estejam no mesmo parágrafo. As fases da análise dos dados podem ser observadas na Tabela
12.
Tabela 12 - Fases da análise dos dados.
Fase
Ação
Seleção das divulgações sobre o
1ª meio ambiente divulgadas nos
relatórios de sustentabilidade.
2ª Identificação dos stakeholders.
Unidade de análise
Relatório de Sustentabilidade.
Os esperados, de acordo com o referencial teórico são os
primários - comunidade, funcionários, acionistas, fornecedores,
85
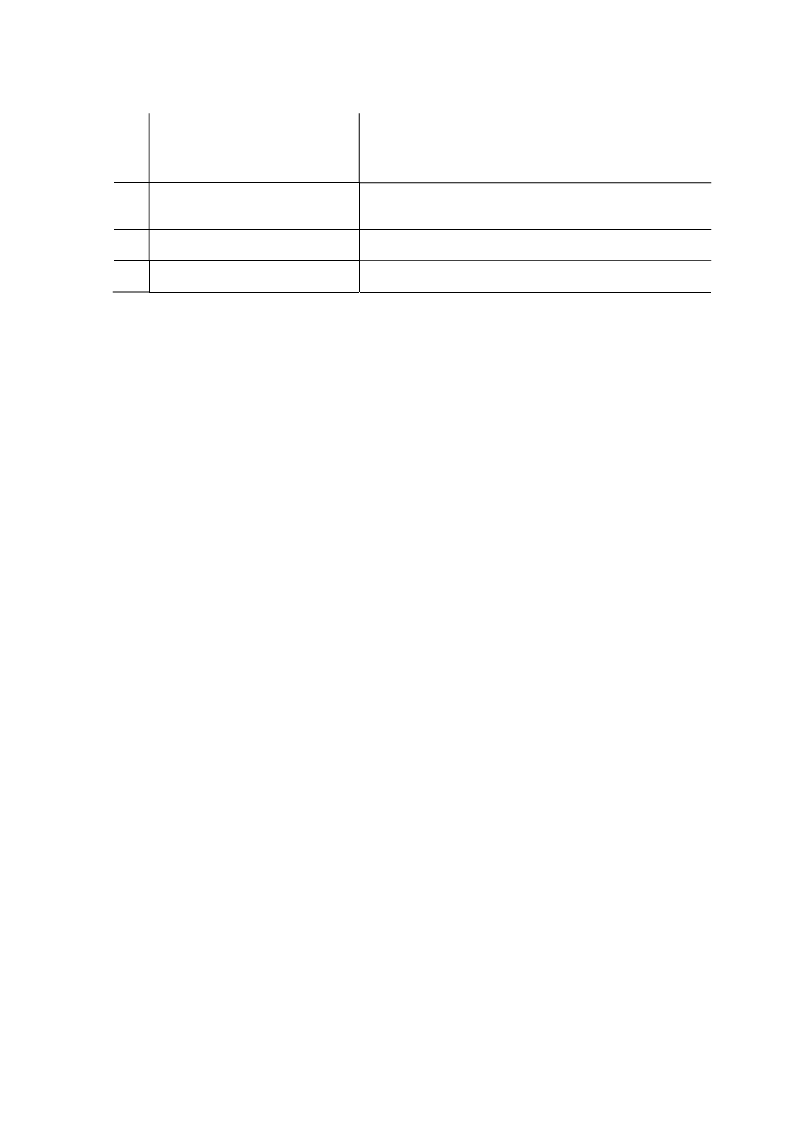
compradores - ou ainda as partes interessadas secundárias,
como - governo, mídia, concorrentes, proteção ao consumidor
ou outros grupos de interesse.
3ª
Classificação dos stakeholders de
acordo com a sua saliência.
4ª
Identificação das filosofias
ecológicas conforme as 3 categorias.
5ª
Análise conjunta dos stakeholders e
dos paradigmas ambientais
Fonte: Elaborado pelo autor (2021).
Identificar no parágrafo que cita um stakeholder e buscar
identificar as palavras que remetem as características de poder,
legitimidade e urgência.
Cada parágrafo será considerado uma unidade de análise.
Análise conjunta dos stakeholders e dos paradigmas ambientais
De acordo com a Tabela 12, primeiramente foram identificadas as divulgações que
abordam o tema meio ambiente, nos relatórios de sustentabilidade.
Para a identificação dos stakeholders, foram utilizadas as mesmas divulgações sobre
o meio ambiente, porém nesta fase o objetivo foi identificar as partes interessadas envolvidas
no contexto ambiental que a empresa relata. Assim, com os stakeholders identificados, a
quarta fase consiste em definir se possuem os atributos de poder, legitimidade ou urgência,
para verificar se possuem capacidade de interferir nas práticas ambientais, segundo o
referencial teórico.
Com esta fase concluída, foi realizado a última etapa que é o tratamento dos
resultados, inferências e interpretação, e para isso os recortes foram classificados conforme
as 3 categorias dos paradigmas ambientais (rasas/superficiais, intermediárias e profundas) e
foi concluído com a análise conjunta dos stakeholders e dos paradigmas ambientais.
3.4 LIMITAÇÕES DOS MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA
Para a análise dos relatórios de sustentabilidade, optou-se por ignorar até que ponto
esses relatórios podem ou não representar a verdade, em vez disso, o foco está na escolha da
mensagem e na maneira com que ela é moldada pela organização (Buhr & Reiter, 2006).
Nesta ótica, a presente dissertação não pretende estabelecer essa relação, buscando confirmar
se as informações divulgadas são realmente colocadas em prática.
Outra limitação é o Relatório de Sustentabilidade, que apesar de ser visto dessa
maneira, optou-se por analisá-lo, pelo motivo de que as empresas podem utilizá-lo para
divulgar diversas informações adicionais, sobre as questões ambientais. Contudo, como não
há uma padronização no Brasil para a divulgação das informações nos relatórios, isso pode
dificultar em alguns momentos a comparabilidade entre as empresas de diversos setores.
86

Assim, outros estudos que analisem outras fontes de dados, como por exemplo, sites de
empresas e relatórios de administração, podem encontrar volume diferente de informações
ambientais. Neste sentido, é relevante mencionar que os relatórios de sustentabilidade não
são os únicos canais de comunicação de informações ambientais.
Os resultados obtidos na pesquisa, restringem-se às informações apresentadas pelas
empresas nos relatórios dos exercícios sociais de 2017 a 2019, sendo selecionado o último
que cada empresa publicou. Portanto, os resultados não são generalizáveis a outros períodos.
Quanto à seleção de empresas, esta envolveu apenas as listadas na B3 e pertencentes à
listagem do ISE. Logo, os resultados não devem ser generalizados para outras empresas.
A técnica utilizada para coletar os dados, também possui algumas limitações.
Segundo Bardin (1977), na análise de conteúdo o pesquisador deve ter atenção em dois
aspectos: rigor da objetividade e fertilidade da subjetividade. Desta forma, com o intuito de
reduzir a subjetividade, após a classificação das sentenças de acordo com a estrutura
conceitual, realizou-se uma revisão, com a finalidade de corrigir eventuais diferenças entre a
classificação de sentenças semelhantes.
87
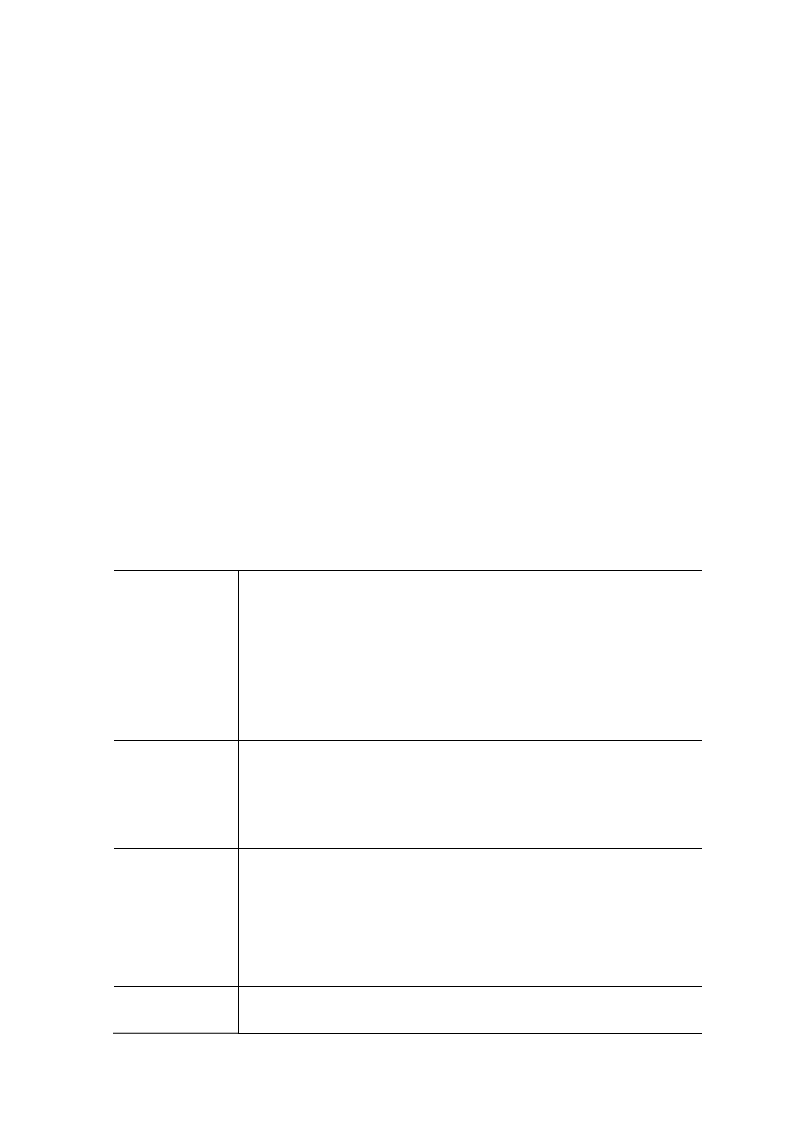
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Neste capítulo, os dados obtidos na pesquisa são apresentados e analisados, expondo
inicialmente uma breve apresentação das empresas que compõem a pesquisa, bem como as
abordagens iniciais relacionadas às divulgações sobre os stakeholders e temas relacionados
ao Meio Ambiente. Em seguida, apresentam-se as análises da priorização das partes
interessadas, na ótica da Teoria do Stakeholder. Posteriormente, são desenvolvidas as
análises dos relatórios, com base nos paradigmas ambientais (raso/superficial, intermediário
e profundo) e por fim, uma verificação conjunta dos achados da pesquisa.
4.1 APRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS E DOS RELATÓRIOS
Conforme apresentado na metodologia, as empresas pertencentes à análise possuem
atividades com alto impacto ambiental, sendo do setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis,
Mineração, Siderurgia e Metalurgia, Químicos, Madeira e Papel e Transporte e o perfil de
cada uma delas pode ser observado na Tabela 13.
Tabela 13 - Características e atuação das empresas analisadas.
“Somos hoje a maior petroquímica das Américas e a sexta maior do mundo. Temos
uma capacidade de produção anual que alcança mais de 8 milhões de toneladas de
resinas termoplásticas (Polietileno, Polipropileno e Policloreto de Vinila) e mais de
10 milhões de toneladas de químicos básicos (Eteno, Propeno, Butadieno, Benzeno,
entre outros). Nos orgulhamos também de ser uma empresa inovadora e que desde o
BRASKEM
início de nossas operações em 2002 busca atuar de acordo com os princípios do
desenvolvimento sustentável. Como a maior fabricante mundial de biopolímeros,
reforçamos nosso compromisso com a consolidação de iniciativas que endereçam a
Economia Circular ao buscar soluções que formam um ciclo sustentável que começa
no design, passa pela produção e reciclagem e termina em novos usos para os
produtos.” (Relatório de Sustentabilidade, Braskem, 2019, p. 9).
“Fundada em 1999, com atuação nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade
urbana, aeroportos e serviços, é referência nacional e internacional. O Grupo CCR foi
o primeiro a ingressar no Novo Mercado da B3 (antiga BM&FBovespa). Hoje, a
CCR SA
companhia é responsável por 3.955 quilômetros de rodovias da malha concedida
nacional. Foi também responsável pelo primeiro contrato de concessão de rodovia do
País, com a CCR Ponte, responsável pela Ponte Rio-Niterói no período de junho de
1995 a 31 de maio de 2015.” (Site CCR SA, 2020).
“Somos a Cosan, uma holding comprometida com o desenvolvimento do Brasil e que,
cada vez mais, investe em negócios dedicados à logística integrada e à diversificação
da matriz energética brasileira. Atuamos com foco em manter o alinhamento de
políticas e difundir as melhores práticas em nossa plataforma de negócios, e nossas
COSAN
empresas – Raízen, Comgás, Moove e Rumo – operam com a autonomia necessária
para serem líderes em seus segmentos. Empreendedorismo, Ética, Empatia e Estímulo
são os 4 E’s que nos impulsionam há mais de 80 anos de história, escrita com
resultados consistentes e compartilhada com acionistas, clientes e comunidades
locais.” (Relatório de Sustentabilidade, Cosan, 2019, p. 12).
“A Dommo Energia é uma sociedade anônima de capital aberto, listada no segmento
DOMMO
básico e sujeita às disposições da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Seu objetivo é o desenvolvimento de
88
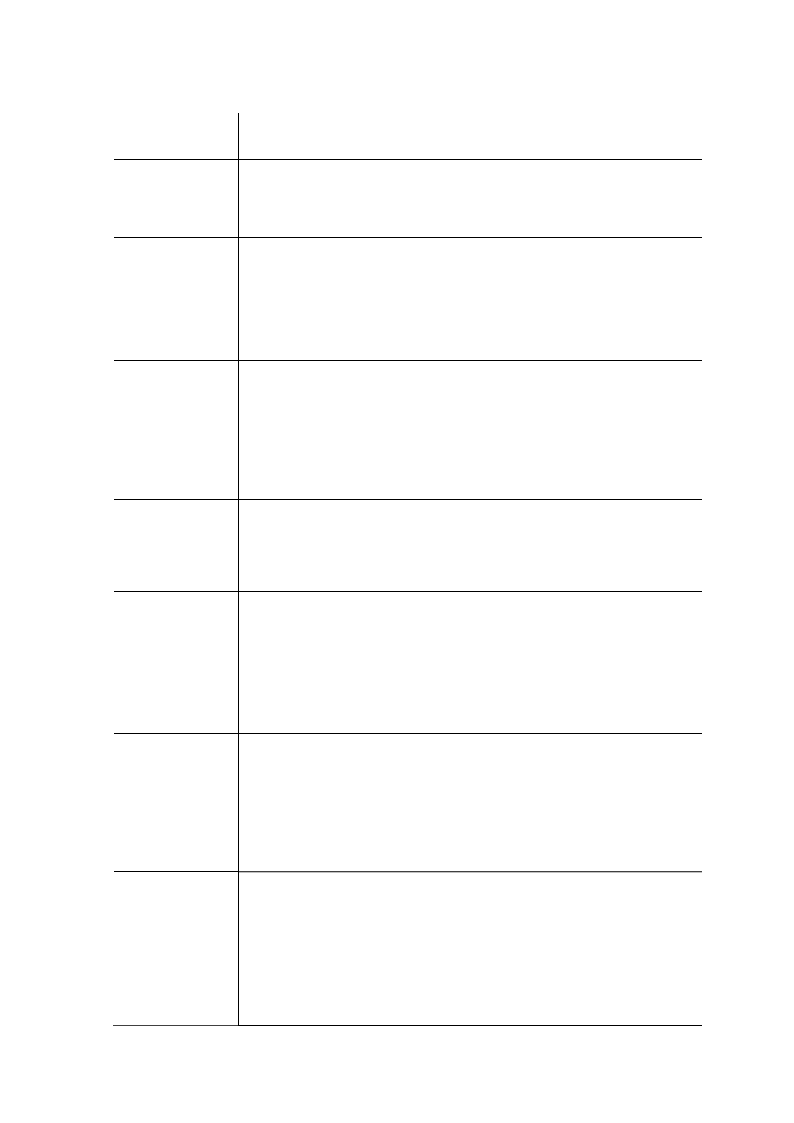
ECORODOVIAS
FER HERINGER
GERDAU
GOL
JSL
atividades vinculadas ao setor de energia, tendo, atualmente, foco principal na
produção e comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos.” (Relatório de Sustentabilidade, Dommo, 2017, p. 7).
“O portfólio da Ecorodovias inclui 11 concessões rodoviárias totalizando 3.088 km e
um ativo portuário (Ecoporto) em oito estados da federação, localizados nos principais
corredores comerciais das regiões Sul e Sudeste. 3,088 km de estradas sob concessão,
346.6 milhões de veículos-equivalente pagantes em 2019, Ecoporto localizado no
Porto de Santos, o maior da América Latina.” (Site Ecorodovias, 2020).
“Única de seu segmento a ter ações listadas no Novo Mercado da BM&FBovespa, a
Heringer é uma das pioneiras na produção, comercialização e distribuição de
fertilizantes no Brasil. Com 50 anos de história, diferencia-se por investir em pesquisa
e tecnologia e por disponibilizar a seus clientes um amplo portfólio de produtos
desenvolvidos com altíssimo padrão de qualidade. Em linha com seu planejamento
estratégico, as entregas de fertilizantes especiais atingiram 46% do volume total
produzido pela companhia em 2017, com 1,9 milhões de toneladas.” (Relatório de
Sustentabilidade, Fer Heringer, 2017, p. 7).
“A Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais
fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. No Brasil,
também produz aços planos, além de minério de ferro para consumo próprio. A
companhia opera 31 unidades produtoras de aço, 75 lojas da Comercial Gerdau, 2
minas de minério de ferro e uma base florestal de plantio de eucalipto de mais de 250
mil hectares. É considerada ainda a maior recicladora de sucata ferrosa da América
Latina, transformando anualmente 11 milhões de toneladas de sucata em aço em suas
operações no Brasil e no mundo.” (Relatório de Sustentabilidade, Gerdau, 2019, p.
12).
“A GOL Linhas Aéreas S.A. foi fundada em 2001 e se transformou na líder em
transportes de passageiros no mercado brasileiro, com a maior malha aérea do país, e
na maior empresa a operar no modelo de baixo custo na América Latina. A Companhia
oferece aproximadamente 700 voos diários para 69 destinos no Brasil, Américas do
Sul e do Norte e Caribe. Referência em eficiência operacional e gestão ambiental.”
(Relatório de Sustentabilidade, Gol, 2018, p. 7).
“Com uma história que remete ao desenvolvimento do setor de logística brasileiro, a
JSL S.A. é um grupo empresarial com mais de 21,7 mil colaboradores e presença em
16 setores da economia, fundado em 1956. Atuamos como líderes ou em posição de
destaque nos segmentos em que estamos presentes e contamos com marcas que tra-
duzem serviços orientados a uma filosofia de negócios que busca entender as
demandas dos clientes e atendê-las com agilidade, qualidade e integridade. Entre
nossos principais serviços estão o transporte de cargas, a terceirização de cadeias
logísticas e o atendimento a demandas de arrendamento e locação de veículos,
máquinas e equipamentos.” (Relatório de Sustentabilidade, JSL, 2019, p. 12).
“A Klabin S.A. é uma sociedade anônima de capital aberto, fundada em 1899. Maior
produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil, líder na produção de
cartões, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais no Brasil, também é a
única do país a oferecer ao mercado a melhor solução em celuloses de fibra curta, fibra
KLABIN S/A
longa e fluff. O compromisso com o desenvolvimento sustentável é uma premissa para
os negócios da Klabin. Em linha com as macrotendências de consumo, a Companhia
está preparada para oferecer ao mercado soluções em embalagens seguras, leves,
eficientes, recicláveis, provenientes de fontes renováveis, biodegradáveis e flexíveis.”
(Relatório de Sustentabilidade, Klabin S/A, 2019, p. 17).
“Indústria metalúrgica, a Paranapanema S.A. é a única empresa brasileira a
transformar o cobre mineral em metal por meio do processo de fundição e refino de
cobre primário. Também atua na produção de semimanufaturados de cobre e suas ligas
(latão e bronze). Possui três unidades operacionais. Matriz da Companhia -, produz e
PARANAPANEMA
comercializa, sob a marca Caraíba, cátodos, fios trefilados e vergalhões, além dos
coprodutos de cobre, como a lama anódica, oleum, e ácido sulfúrico 98% e 45%, que
são comercializados por meio da marca Paranapanema. Duas filiais com a marca
Eluma, uma fabrica e vende produtos de cobre e suas ligas, como laminados, tubos,
arames e barras e a outra produz as conexões de cobre e bronze.” (Relatório de
Sustentabilidade, Paranapanema., 2018, p. 18).
89
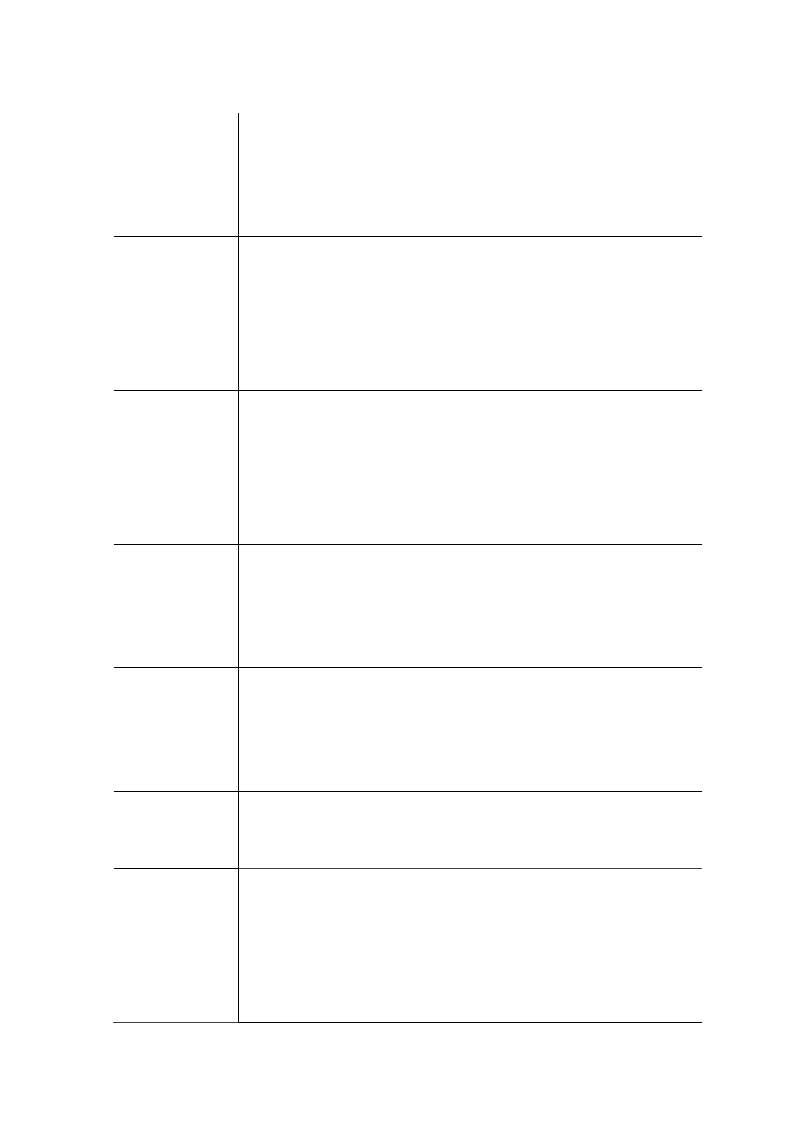
“Somos uma empresa brasileira com mais de 46 mil empregados comprometidos em
gerar mais valor para nossos acionistas e para a sociedade. Somos um dos maiores
produtores de petróleo e gás do mundo, dedicados principalmente à exploração e
PETROBRAS
produção, ao refino, à geração e à comercialização de energia. Adquirimos experiência
em exploração e produção em águas profundas e ultraprofundas como resultado de
quase 50 anos passados no desenvolvimento das bacias brasileiras, tornando-nos
líderes mundiais nesse segmento.” (Relatório de Sustentabilidade, Petrobras., 2019, p.
23).
“Somos a Rumo S.A., empresa brasileira, de capital aberto – listada no segmento
Novo Mercado da B3 –, que movimenta o Brasil de Norte a Sul ao operar serviços
logísticos de transporte ferroviário, elevação portuária e armazenagem de produtos.
Nossa atuação, fundamental para o desenvolvimento do País, o conecta de Norte a
RUMO S.A.
Sul, – levando insumos importantes de regiões produtoras do interior para o mercado
externo, e também percorrendo o caminho inverso, levando produtos industrializados
para regiões menos desenvolvidas. Atendemos os três principais corredores de
exportação de commodities agrícolas, com extensão por cidades que respondem por
cerca de 80% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.” (Relatório de
Sustentabilidade, Rumo S.A., 2019, p. 14).
“Somos a Santos Brasil, empresa nacional de capital aberto, listada no segmento Novo
Mercado, mais elevado nível de governança corporativa da Bolsa de Valores de São
Paulo (B3), reconhecida como referência na operação portuária de contêineres e
soluções logísticas. Atuamos nos mercados de logística portuária, transporte
SANTOS BRP
rodoviário e logísticas de distribuição e industrial (in company). Atendemos de forma
integrada, do porto à porta, mais de 8 mil clientes, predominantemente da Região
Sudeste e do setor privado, além de importadores e exportadores em diversos
segmentos econômicos (químico, automotivo, farmacêutico, alimentício, bens de
consumo e agronegócios, entre outros).” (Relatório de Sustentabilidade, Santos BRP,
2019, p. 9).
“Somos uma empresa de base florestal, de capital aberto, controlada pela Suzano
Holding e pertencente ao Grupo Suzano. Com mais de 90 anos de atuação marcados
pela inovação e pelo pioneirismo a Suzano é uma empresa 100% brasileira e referência
SUZANO S.A.
global no desenvolvimento de produtos fabricados a partir do plantio do eucalipto,
além de estar entre as maiores produtoras verticalmente integradas de papel e celulose
de eucalipto da América Latina. O portfólio de produtos contempla papel “Imprimir e
Escrever” revestido e não-revestido, papel cartão, papel tissue, celulose de mercado e
celulose fluff.” (Site Suzano, 2020).
“Ao longo de mais de oito décadas, o Grupo Ultra transformou-se em um dos
principais grupos empresariais do Brasil, com posições de liderança nos diversos
segmentos em que atua. Criamos valor para a sociedade, investindo em empresas
ULTRAPAR
sustentáveis e essenciais para a vida das pessoas, e estamos presentes em todos os
estados do Brasil e no Distrito Federal por meio de cinco negócios, Ultragaz,
Ultracargo, Oxiteno, Ipiranga e Extrafarma, em um total de 85% de todos os
municípios brasileiros, além de oito países.” (Relatório de Sustentabilidade, Ultrapar,
2019, p. 9).
“A Usiminas atua no mercado brasileiro de aços planos. Um dos principais complexos
siderúrgicos da América Latina, com 57 anos de operação, a Companhia está presente
USIMINAS
em toda a cadeia de atividades do setor, da extração do minério, passando pela pro-
dução de aço, até sua transformação em produtos e bens de capital customizados para
o mercado.” (Relatório de Sustentabilidade, Usiminas, 2019, p. 9).
“A Vale S. A. é uma das mineradoras líderes no mercado global de minério de ferro,
pelotas de minério de ferro e níquel. A empresa também produz manganês, ferro-ligas,
cobre, metais do grupo platina (MGP), ouro, prata, cobalto, carvões metalúrgico e
térmico. A Vale é uma organização privada de capital aberto, com sede corporativa
VALE
na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Nossas ações são negociadas no Novo Mercado
da Bolsa de Valores de São Paulo (B3). A Vale também está presente nos mercados
financeiros de Nova York (NYSE) e Madri (Bolsa de Madrid - Latibex). Em 2019, a
empresa encerrou o ano com 149,3 mil colaboradores (71,1 mil próprios e 78,2 mil
terceiros), sendo 75,6% alocados no Brasil.” (Relatório de Sustentabilidade, Vale S.
A., 2019, p. 42).
Fonte: Relatórios de sustentabilidade e sites das empresas (2021).
90

Com base na Tabela 13, pode-se observar que as empresas selecionadas para a análise,
primeiramente possuem suas atividades consideradas com alto impacto no Meio Ambiente,
segundo a Lei nº. 6.938/81, e são as principais produtoras e prestadoras de serviço no
segmento brasileiro, com atuação em diversos países, conforme pode ser observado na Figura
12.
Figura 12 - Mapa mundi com os países que contêm instalação das empresas analisadas.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
Com base nos relatórios de sustentabilidade e conforme observado na Figura 12, as
empresas analisadas possuem atuação em 39 países e estão presentes em todos os continentes.
Contam com filiais de operação, joint venture, escritórios, sedes e estações de exploração nos
países da Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Barbados, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile,
China, Colômbia, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Escócia, Espanha, EUA, França,
Holanda, Índia, Indonésia, Inglaterra, Israel, Japão, Malásia, Malawi, México, Moçambique,
Nova Caledônia, Omã, Países Baixos, Paraguai, Peru, Portugal, Reino Unido, República
Dominicana, Singapura, Suíça, Uruguai e Venezuela.
Em relação aos Relatórios de Sustentabilidade divulgados pelas empresas analisadas,
pode ser observado a Tabela 14.
Tabela 14 - Dados quantitativos relacionados aos Relatórios de Sustentabilidade.
Empresas
Qtd. de páginas do Relatório
de Sustentabilidade
(%) de páginas com informações ambientais
COSAN
70
17%
91
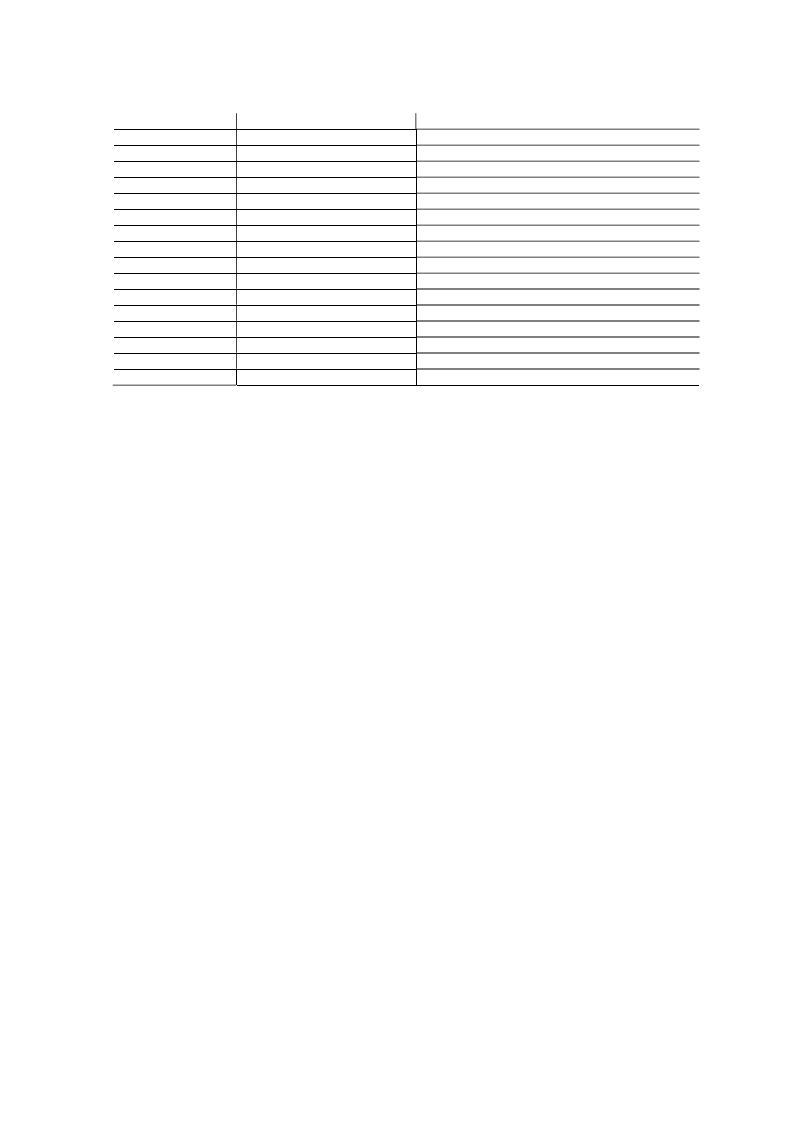
DOMMO
28
18%
PETROBRAS
279
28%
ULTRAPAR
65
29%
VALE
136
34%
GERDAU
116
10%
USIMINAS
61
39%
PARANAPANEMA
98
18%
BRASKEM
126
20%
FER HERINGER
57
21%
KLABIN S/A
166
25%
SUZANO S.A.
110
15%
GOL
75
12%
RUMO S.A.
93
18%
JSL
99
10%
CCR SA
110
13%
ECORODOVIAS
119
23%
SANTOS BRP
95
15%
Fonte: Relatórios de sustentabilidade (2021).
Com base na Tabela 14, foram analisados 18 Relatórios de Sustentabilidade, sendo
14 relatórios publicados no ano de 2020 (exercício 2019), 2 referente ao ano de 2018
(Paranapanema e Gol) e 2 do ano de 2017 (Fer Heringer e Dommo), que apresentaram 1903
páginas, sendo que dentre estas, 401 possuíam alguma informação relacionada ao Meio
Ambiente. Identifica-se que a companhia com maior número de páginas destinadas a
divulgações relacionadas à temática foi a Petrobras, com 79 páginas, seguida pela Vale, com
46 páginas e a Klabin, com 42 páginas. Em relação ao padrão adotado para estruturar o
relatório de sustentabilidade, a maior parte das empresas segue o GRI ou uma mescla de GRI
com IIRC.
4.2 RELAÇÃO DOS STAKEHOLDERS COM O MEIO AMBIENTE
Corroborando com Freeman (1984), quando argumenta que as empresas levam em
consideração na tomada de decisão, os interesses daqueles que afetam ou são afetados pelas
atividades da organização, nas falas iniciais do presidente, diretores e conselhos de
administração, foi observado as divulgações relacionadas aos stakeholders, pois em todos os
relatórios foi possível identificar a ocorrência de narrativas direcionadas para a relação das
empresas com as partes interessadas. Ainda, segundo Lu e Abeysekera (2014), a divulgação
ambiental pode ser considerada como um diálogo entre a empresa e seus stakeholders, pois
eles possuem algum interesse e a empresa busca demonstrar o cumprimento da
responsabilidade social corporativa.
92
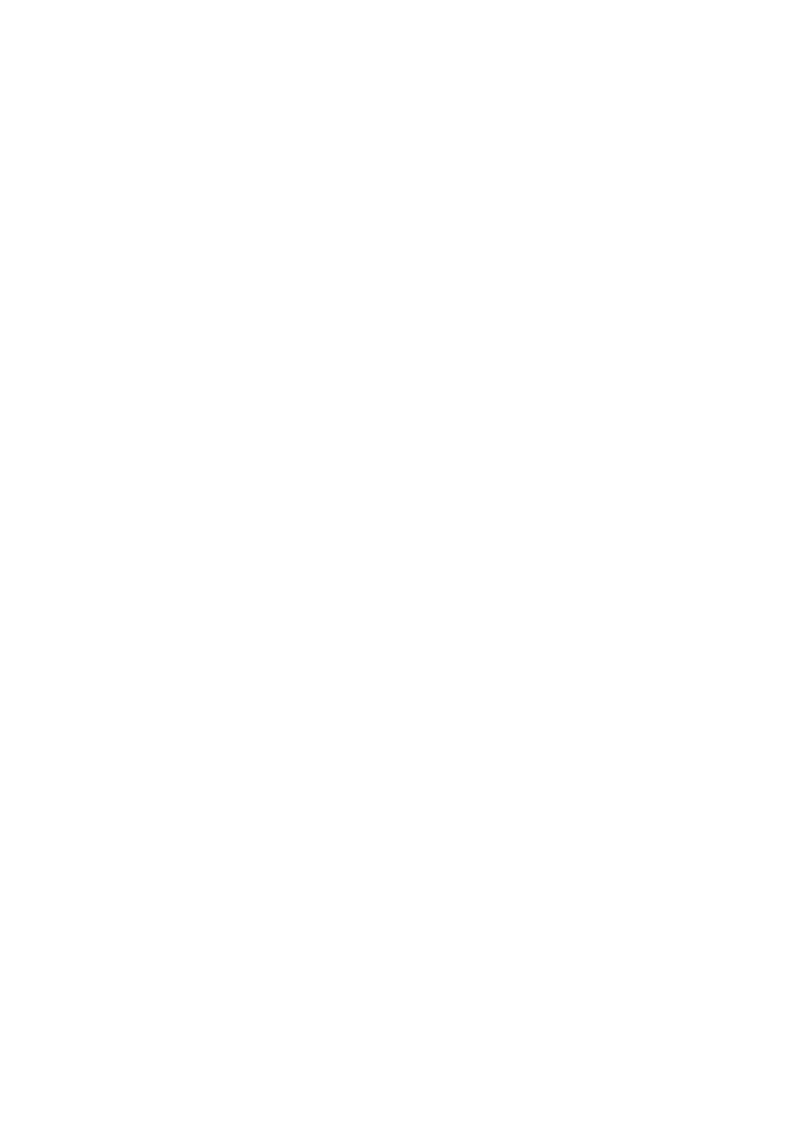
Com base nas publicações identificadas, pode-se observar a Figura 13, que apresenta
as divulgações relacionadas aos stakeholders, coletadas nos Relatórios de Sustentabilidade
das 18 empresas analisadas.
93
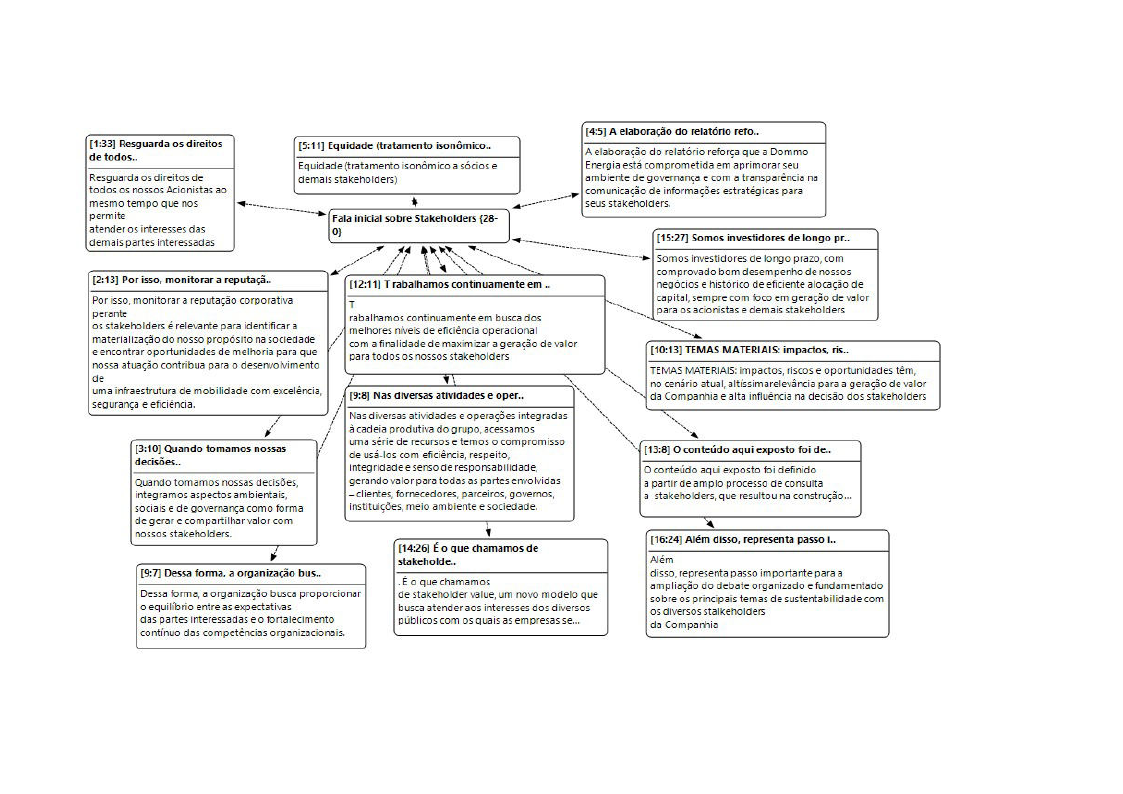
Figura 13 - Fala inicial dos Relatórios de Sustentabilidade relacionada com os Stakeholders.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
94

Tratados normalmente como stakeholders, partes interessadas, grupos de interesse,
público de interesse ou ainda, partes interessadas específicas, as divulgações iniciais nos
Relatórios de Sustentabilidade encontram-se normalmente na seção da “fala do presidente”
ou na seção “sobre o relatório”. Corroborando com Neu et al. (1998), Mellahi e Wood (2003)
e Ismail et al. (2018), nas divulgações iniciais pode ser observado que as empresas estão
levando em consideração na tomada de decisão, não apenas os investidores, mas também
outras partes interessadas.
Conforme as divulgações na Figura 13, pode-se observar o foco relacionado aos
objetivos das partes interessadas, a busca pela transparência com os stakeholders e a geração
de valor para eles. Isso contribui com os achados de Gamble, Hsu, Kite e Radtke (1995) apud
Pucheta-Martínez e Gallego-Álvarez (2019), quando afirmam que existe uma busca de
direito para todos, equidade entre os interesses dos investidores e das partes interessadas,
empresa se declarando comprometida com os interesses e consultando os stakeholders com
a meta de definir objetivos específicos para serem alcançados, com base nas expectativas dos
públicos de interesse.
Estes achados são confirmados também por Baalouch et al. (2019), que afirma que
as preferências das partes interessadas são levadas em consideração e as organizações se
concentram nos interesses delas, para corresponder às expectativas.
Ainda segundo as divulgações selecionadas inicialmente, pode-se observar indícios
da integração dos interesses das partes interessadas com aspectos ambientais, como no
recorte “quando tomamos nossas decisões, integramos aspectos ambientais, sociais e de
governança como forma de gerar e compartilhar valor com nossos stakeholders” (Cosan,
2019, p. 4) e na frase “além disso, representa passo importante para a ampliação do debate
organizado e fundamentado sobre os principais temas de sustentabilidade com os diversos
stakeholders da companhia” (Usiminas, 2019, p. 7).
Segundo Cerin (2002), Berthelot e Magnan (2003) e Moneva e Ortas (2010), os
stakeholders exigem que as empresas se comportem de maneira ecológica. Outros recortes
que podem ser observados, em se tratando das práticas ambientais divulgadas e a sua relação
com os stakeholders, pode ser observada na Figura 14.
95
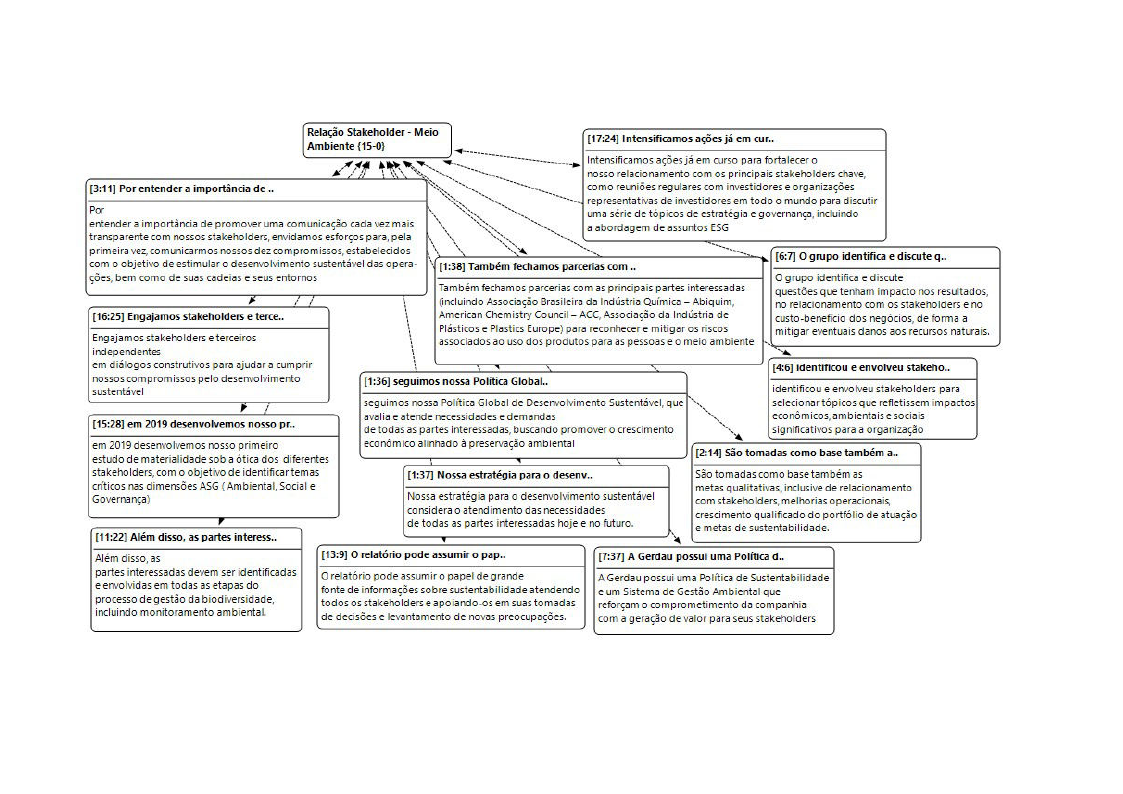
Figura 14 - Divulgação inicial sobre a relação entre Stakeholders e Meio Ambiente.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
96

Como pode ser observado na Figura 14, as empresas analisadas divulgam suas
práticas, principalmente em busca de integração entre os interesses das partes interessadas e
o Meio Ambiente, nas suas mais diversas características e possibilidades de atuação.
Segundo Ofoegbu et al., (2018), as empresas buscam identificar o ambiente em que
estão inseridas, como pode ser observado na seguinte divulgação “contexto da
sustentabilidade: stakeholders mapeados com base em avaliação sobre a cadeia de valor da
Companhia e em artigos acadêmicos consolidados sobre os setores de atuação da Usiminas.”
(Usiminas, 2019, p. 28).
Com base no recorte da divulgação, tendo conhecimento do ambiente que a empresa
está inserida, ela busca identificar públicos interessados, que de alguma maneira, tanto direta
como indireta, possuam relação com as suas atividades e assim as organizações reconhecem
sua dependência para se manter no mercado e consequentemente, buscam divulgar
informações sociais e ambientais voluntárias, para obter aprovação das partes interessadas
(Ofoegbu et al., 2018).
A Figura 13 demonstra que as empresas consideram importante a comunicação com
os públicos de interesse, fortalecer o engajamento dos stakeholders, identificar temas
considerados pelas partes interessadas como críticos, nas dimensões ASG (Ambiental, Social
e Governança), envolver os públicos interessados na gestão da biodiversidade, fomentar
parcerias, identificar as necessidades e demandas deles e delimitar tópicos de ação, com base
nas opiniões deles. Segundo Kim et al., (2012), os gerentes buscam mostrar uma imagem de
empresa ambientalmente responsável, sendo confirmado nos recortes anteriores, pois as
organizações analisadas, buscam atender as demandasde todas as partes interessadas.
Segundo a Teoria do Stakeholder, a relação da empresa com as partes interessadas
pode ser normativa, gerencial e ética. Como apresentado nas divulgações, consegue-se
perceber um gerenciamento destas relações, pois as empresas buscam determinados públicos
de interesse, que possuem mais relação com as atividades da empresa, conforme a divulgação
demonstrada na Figura 15.
97
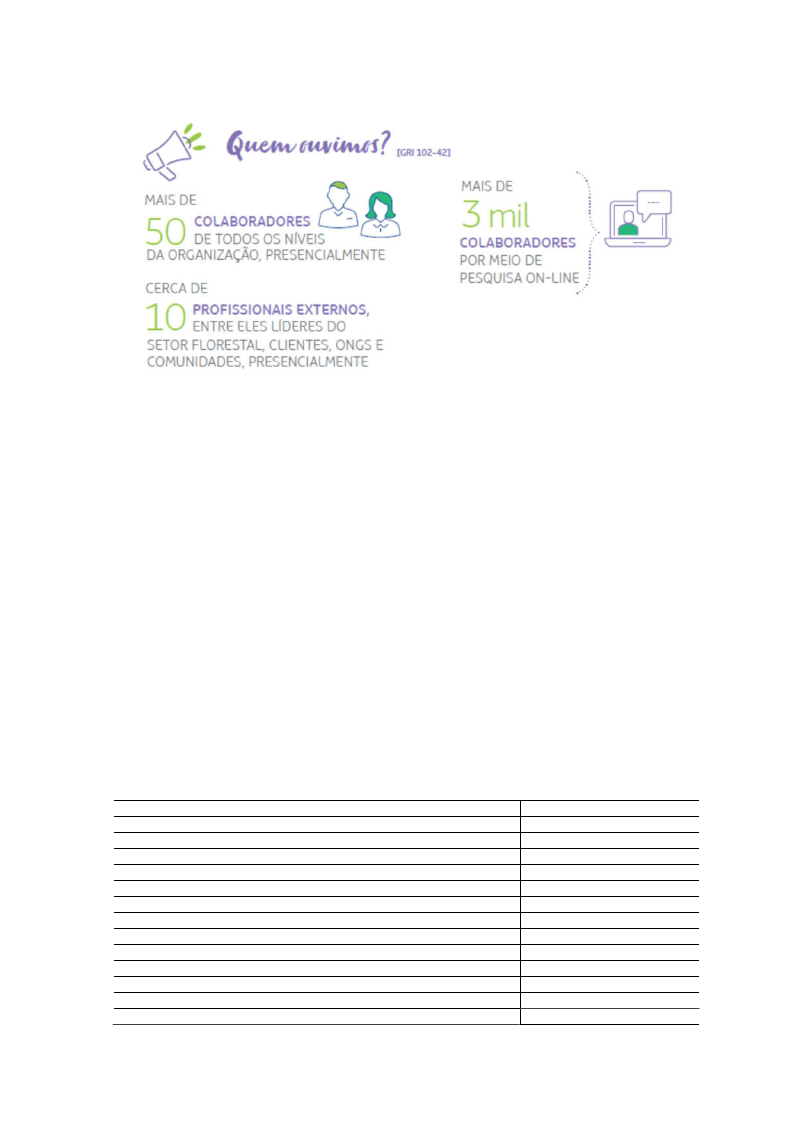
Figura 15 - Stakeholders consultados na Suzano S.A.
Fonte: Relatório de Sustentabilidade da Suzano S.A. (2019, p. 82).
Com base na Figura 15, pode-se observar que a Suzano S. A. buscou identificar as
necessidades de determinadas partes interessadas, dando prioridade para os colaboradores
(pela quantidade expressiva de consultas), e em seguida os profissionais externos, clientes,
ONGs e as comunidades. Estes stakeholders são consultados, para definir os temas materiais
da empresa. Segundo as orientações do GRI, os tópicos materiais são aqueles que a empresa
considera mais importantes para serem colocados no relatório de sustentabilidade e para isso,
a orientação é consultar os stakeholders para definí-los.
Ainda segundo o GRI, para ser material, as empresas devem levar em consideração a
importância dos impactos econômicos, ambientais e sociais da organização e sua influência
sobre as avaliações e decisões dos stakeholders. Os temas materiais relacionados ao Meio
Ambiente, escolhidos pelas empresas com base em posicionamentos internos e nas opiniões
dos stakeholders, podem ser observados na Tabela 15.
Tabela 15 - Temas materiais relacionados ao Meio Ambiente.
Temas Materiais relacionados diretamente com o Meio ambiente
Mudanças Climáticas
Energia
Conformidade Ambiental
Água
Resíduos
Biodiversidade
Eficiência Energética
Emissões
Aumento do rendimento Florestal
Contaminação do solo e água
Descarte correto de embalagens
Desempenho Socioambiental de Fornecedores
Eficiência Hídrica
Quantidade de Empresas
9
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
98
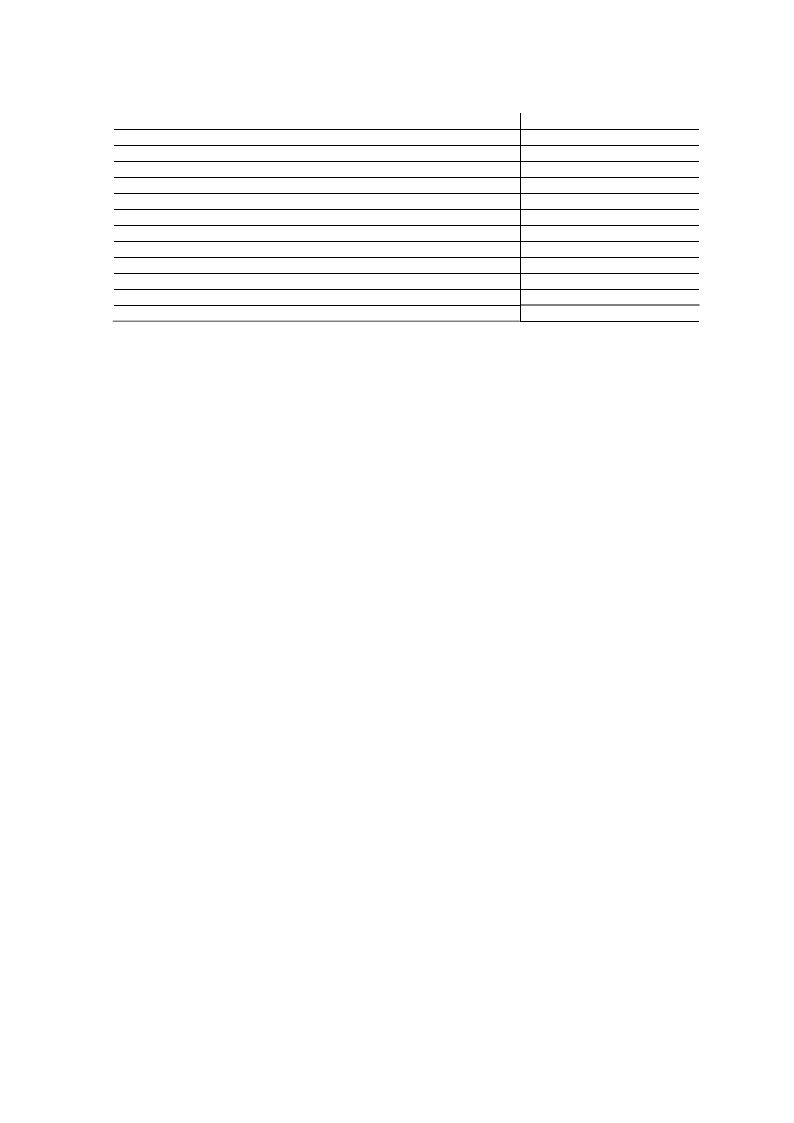
Efluentes e resíduos
1
Emissões e Efluentes
1
Gerenciamento de efluentes
1
Gestão Ambiental das Operações
1
Gestão de água e efluentes
1
Gestão de Combustíveis
1
Governança da sustentabilidade
1
Investimentos em infraestrutura verde
1
Preservação de Acidentes e Vazamentos
1
Proteção Ambiental
1
Reciclagem de sucata
1
Recursos Renováveis
1
Riscos e impactos socioambientais de projetos e obras
1
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
Com base na Tabela 15, os principais temas materiais relacionados ao Meio
Ambiente, que as empresas abordaram nos relatórios de sustentabilidade, estão voltados às
mudanças climáticas, energia, conformidade ambiental, água, resíduos, biodiversidade,
eficiência energética, emissões e outros. Estes achados, demonstram que os stakeholders
levam em consideração, informações divulgadas pela empresa em relação ao Meio Ambiente,
para a tomada de decisão (Blacconiere & Patten, 1994; Blacconiere & Northcut, 1997;
Richardson & Welker, 2001; Reverte, 2009), procurando assim mais que simplesmente o
lucro, mas também aspectos sociais e ambientais (Gray et al., 1995a).
Chega-se a esta conclusão, pois as empresas buscam as partes interessadas que elas
consideram importantes, para verificar quais temas ambientais elas consideram prioritários
para a empresa divulgar e com isso, a organização seleciona os mais buscados por eles e
publica nos relatórios de sustentabilidade. Assim, as informações que os stakeholders levam
em consideração na tomada de decisão são abordados.
4.3 IDENTIFICAÇÃO DA PRIORIZAÇÃO DOS STAKEHOLDERS
Para responder o primeiro objetivo específico desta pesquisa, que é mapear quais
stakeholders são prioritários nas divulgações sobre o meio ambiente, segue a análise deste
tópico. Baseando-se em autores do referencial teórico, como por exemplo, Philips (2003),
que argumenta que os gestores priorizam determinadas partes interessadas, pois eles
identificam e atribuem maior importância a certos grupos de stakeholders específicos, foi
realizado o levantamento e identificação dos referidos grupos.
Com base nesta ideia, buscou-se identificar nos Relatórios de Sustentabilidade das
empresas analisadas, os stakeholders relacionados com as divulgações sobre o Meio
99

Ambiente, pois conforme Deegan (2017), a divulgação ambiental pode ser definida como
uma prestação de contas, para informar as partes interessadas. Com base nisso, pode-se
observar a Tabela 16.
100
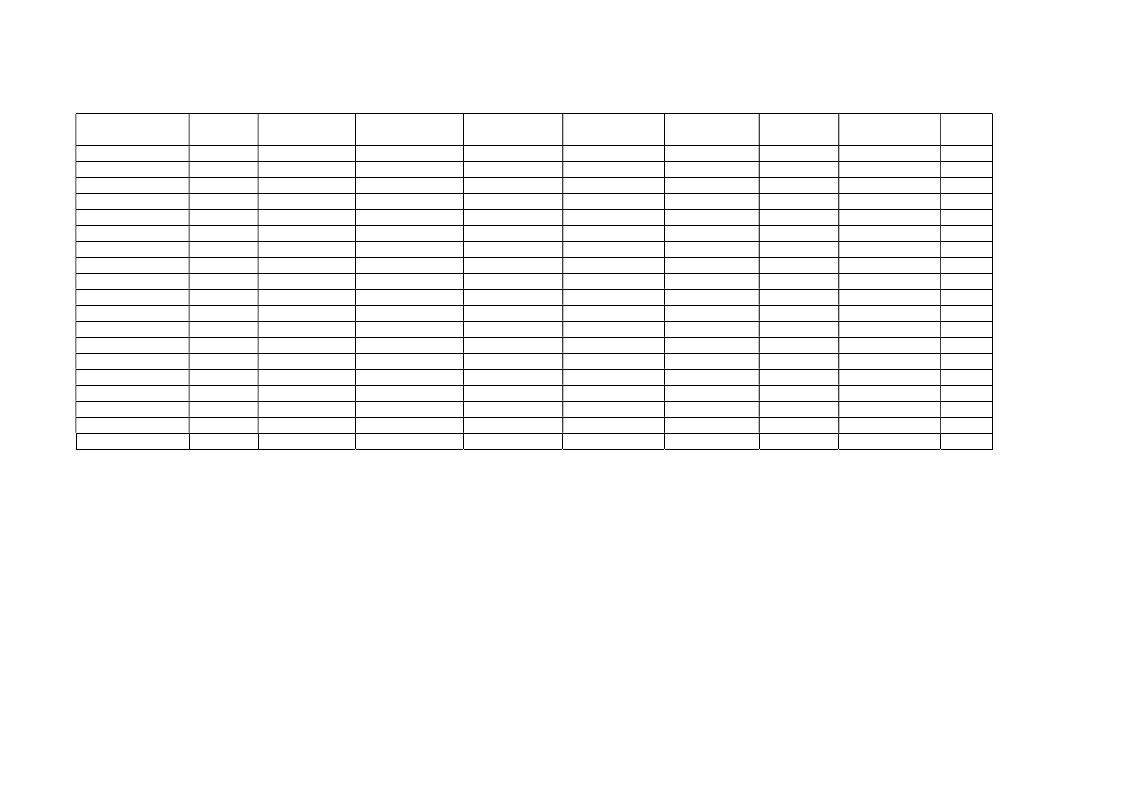
Compradores/
Empresas
Governo Comunidade Clientes
Funcionarios
Gerdau
6
6
2
1
Usiminas
6
6
0
3
Ultrapar
5
3
3
0
Braskem
3
2
2
0
Suzano
4
3
0
0
Cosan
2
3
1
1
Vale
4
4
0
0
CCR
1
4
1
0
Petrobras
2
3
0
0
Fer Ehringer
3
0
1
0
Klabin
1
0
1
0
JSL
2
0
0
0
Rumo
1
2
0
0
Santos Brasil
0
0
0
2
Dommo
0
1
0
0
Ecorodovias
0
1
0
0
Paranapanema
1
0
0
0
Gol
0
0
0
0
TOTAL
41
38
11
7
Tabela 16 - Stakeholders identificados nas divulgações relacionadas ao Meio Ambiente.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
Fornecedores
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
Partes
Interessadas
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
5
Acionistas
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
Concorrentes
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
ONGs
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
101
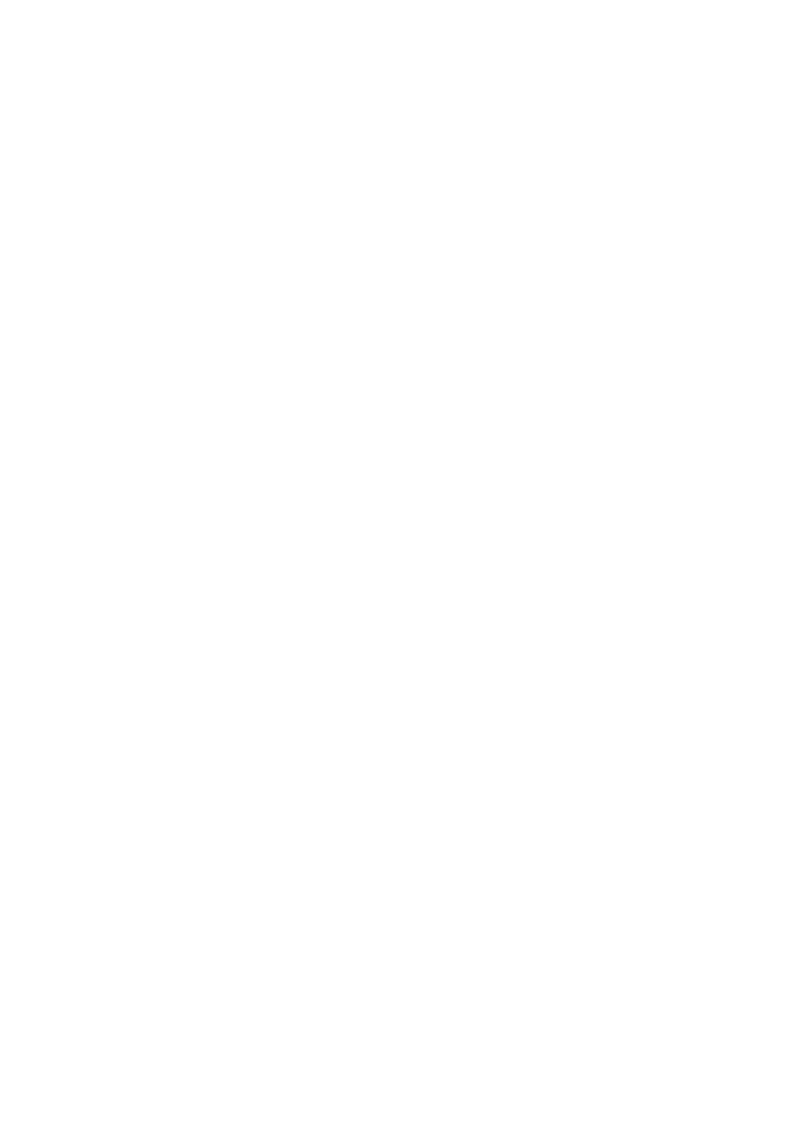
A partir dos dados apresentados na Tabela 16, pode-se observar quais foram os
stakeholders identificados e a quantidade de parágrafos relacionados a cada um deles. Cada
parágrafo foi relacionado com um determinado stakeholder, quando na divulgação ambiental
a empresa identificava que sua ação estava voltada a um público de interesse específico.
A parte interessada mais focada nas divulgações sobre o Meio Ambiente é o Governo,
com (41 parágrafos), contrariando os pressupostos de Clarkson (1995) e Freeman et al.
(2010), que consideravam a parte interessada “Governo” como secundária e segundo Ismail
et al. (2018), stakeholder secundário não tem nenhum poder direto sobre a empresa.
Em segundo lugar, identificou-se como prioritário as comunidades, com (38
parágrafos). Ao contrário do primeiro achado, o stakeholder comunidade confirma-se como
prioritário, contribuindo com os achados de Clarkson (1995) e Freeman et al. (2010), que
consideram as comunidades como partes interessadas primárias. Estes dois stakeholders
serão tratados isoladamente nos próximos subcapítulos, pois obtiveram expressiva
identificação em relação às divulgações ambientais.
Em terceiro, identificou-se os compradores/clientes, com (11 parágrafos), porém
menos expressivo, se comparado com os dois primeiros. Em seguida os funcionários, com (7
parágrafos), fornecedores, com (6 parágrafos), Partes Interessadas, com (5 parágrafos, em
que a empresa não identifica quem seria o stakeholder), Acionistas/Investidores, com (4
parágrafos), Concorrentes, com (3 parágrafos) e as ONGs, com (2 parágrafos). Estas partes
interessadas, serão analisadas de forma conjunta em um próximo subcapítulo (exceto os 5
parágrafos que apenas mencionam a relação do Meio Ambiente com os stakeholders de
forma genérica, que serão analisados neste tópico, logo abaixo), pois cada uma possui
características específicas, porém não obtiveram um número expressivo nas divulgações
relacionadas ao Meio Ambiente.
Em relação aos parágrafos que apresentam algum tipo de ligação com as práticas
ambientais relacionadas aos stakeholders, pode-se observar a Figura 16, em que as empresas
analisadas declaravam inicialmente, os públicos de interesse que considerava importantes
para as práticas ambientais.
102
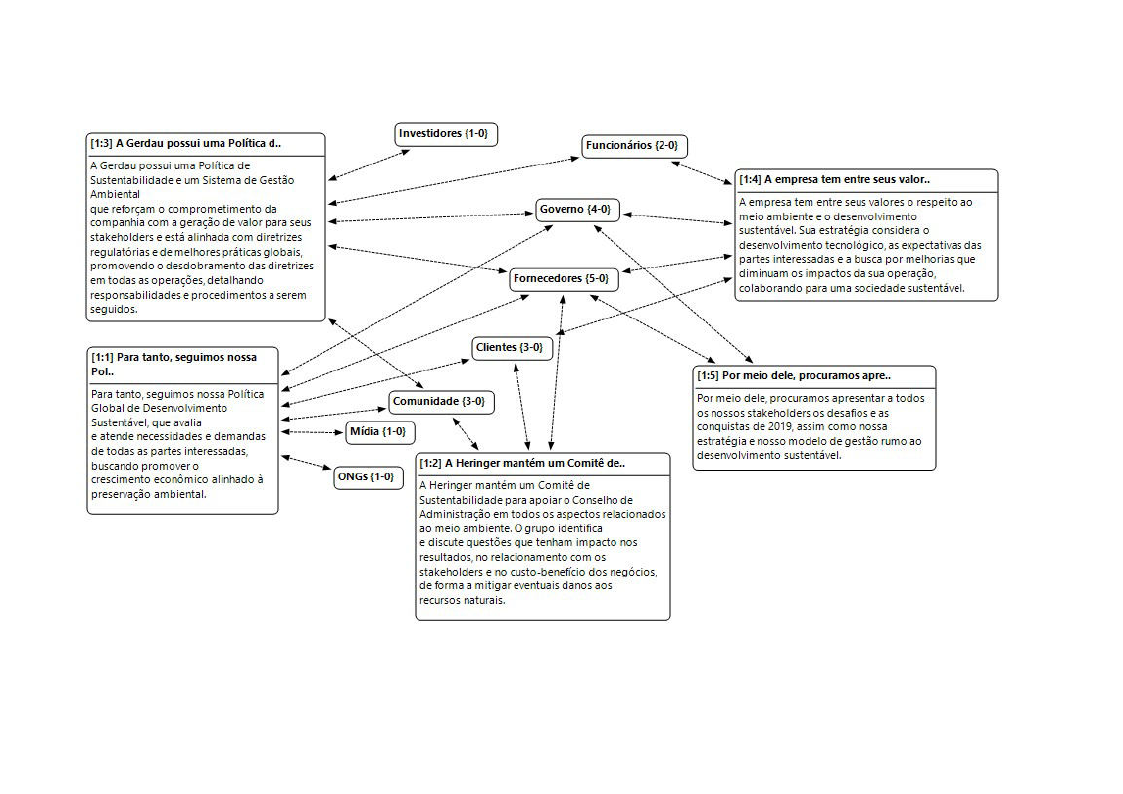
Figura 16 - Destaques de divulgações ambientais relacionadas aos Stakeholders.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
103
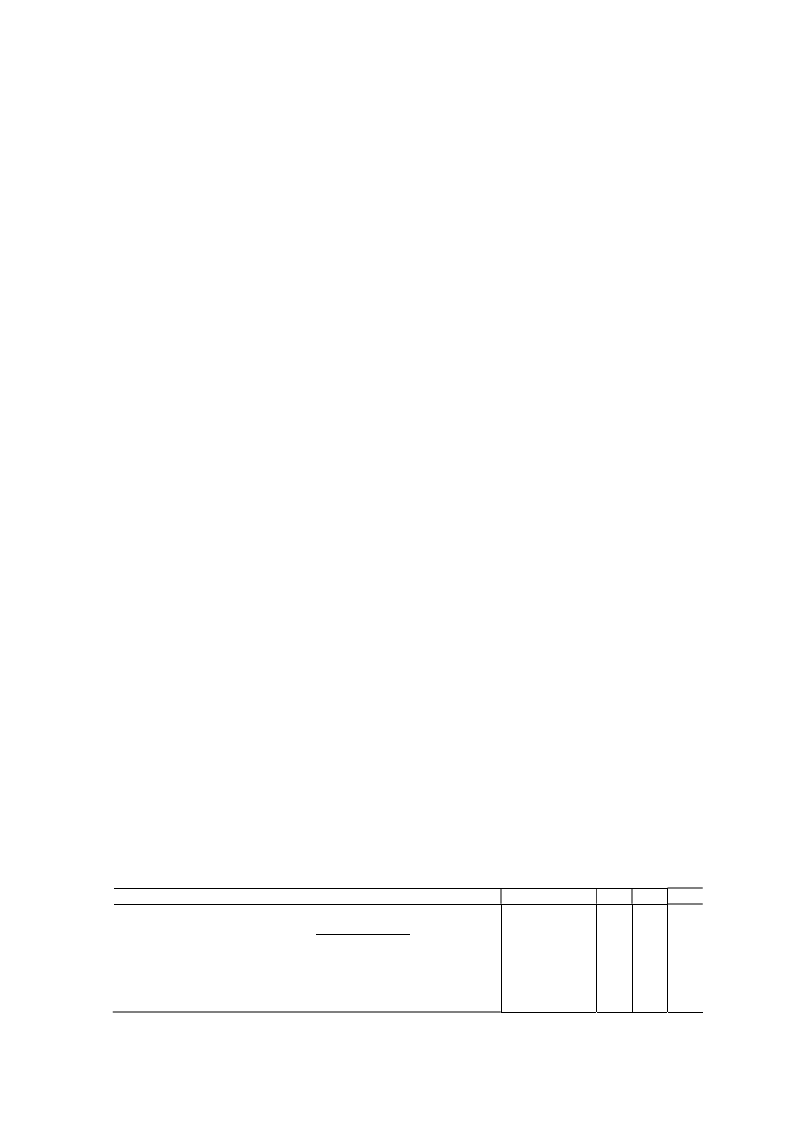
Com base na Figura 16, as divulgações demonstram um recorte de algumas das
empresas, que expressa o objetivo da maioria delas em vários momentos, que é mostrar para
o público de interesse e envolvê-lo nas questões relacionadas ao Meio Ambiente.
Isso contribui com a consideração de Lu e Abeysekera (2014), de que a divulgação
ambiental pode ser considerada um diálogo entre a empresa e seus stakeholders, que possuem
algum interesse pelas atividades socioambientais e assim, a organização busca mostrar o
cumprimento da RSC. Um exemplo é a frase “atende necessidades e demandas de todas as
partes interessadas, buscando promover o crescimento econômico alinhado à preservação
ambiental” (Brakem, 2019, p. 11).
A partir dessa contextualização inicial, segue-se para a análise individualizada, para
identificar a priorização dos stakeholders, segundo o modelo proposto por Mitchell et al.
(1997), e a utilização das palavras-chave identificadas no estudo de Boaventura et al., (2017).
4.3.1 Governo
O mais relevante stakeholder, identificado nas divulgações relacionadas com o Meio
Ambiente, nos relatórios das 18 empresas analisadas, foi o Governo. Esse achado contraria,
primeiramente, a ideia de partes interessadas primárias e secundárias, proposta por Clarkson
(1995) e os pressupostos de stakeholders estratégicos e morais, proposta no trabalho de
Freeman et al. (2010). Conforme os autores, o Governo não teria prioridade para a empresa,
pois seria considerado um stakeholder secundário. Porém, é semelhante aos achados do
trabalho de Huang e Kung (2010), que também identificaram a influência do Governo nas
divulgações ambientais analisadas. Este achado pode ser confirmado, levando em
consideração a proposta desenvolvida por Mitchell et al. (1997), que afirma que
determinados grupos de interesse possuem atributos em determinadas relações, fazendo com
que eles consigam alcançar objetivos próprios. Com base no modelo de saliência de Mitchell
et al. (1997), pode-se observar a Tabela 17.
Tabela 17 - Divulgações relacionando o Governo com o Meio Ambiente.
Divulgação relacionada ao Governo-Meio Ambiente
As unidades da Gerdau são auditadas nos sistemas de gestão ambiental
da empresa, no cumprimento dos requisitos legais e na melhoria
contínua. Em 2019, teve início um diagnóstico dos sistemas de gestão
de recursos hídricos das unidades do Brasil envolvendo equipes de meio
ambiente e utilidades. Esse trabalho tem como objetivo identificar
oportunidades de redução do consumo de água e melhorar o
desempenho dos tratamentos de águas e efluentes.
Empresa
Gerdau
Leg. Urg. Pod.
x
x
104
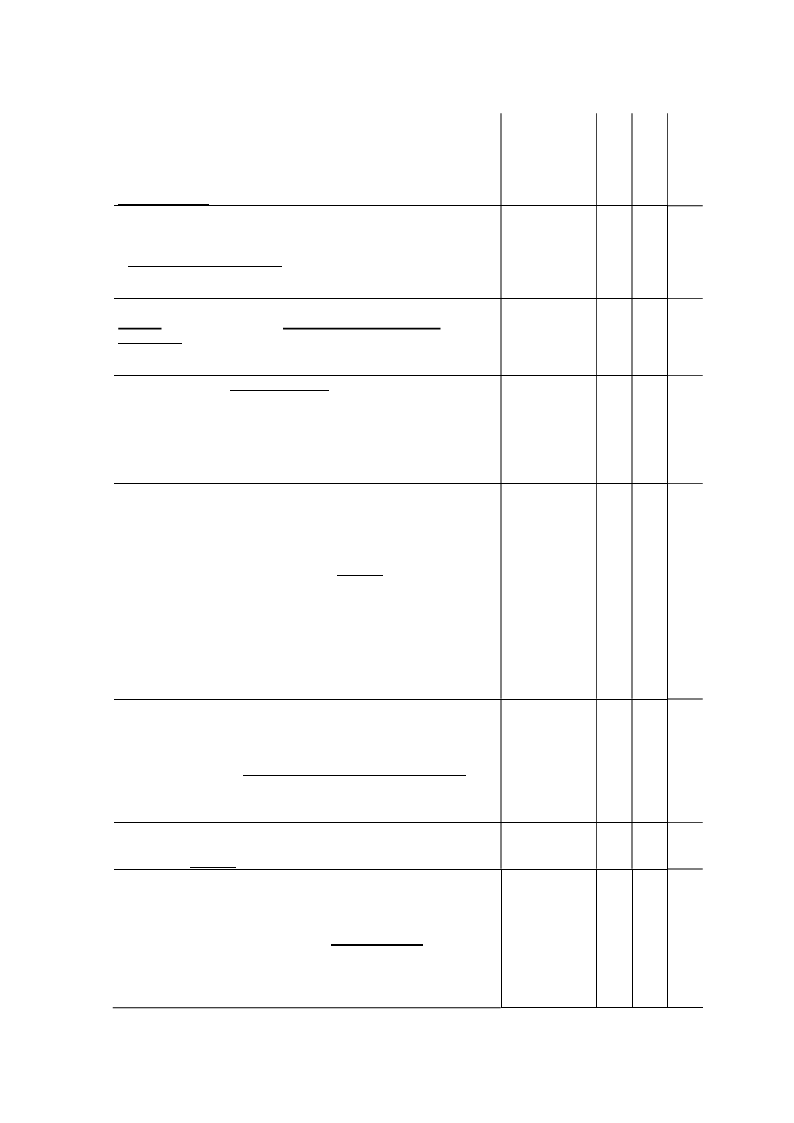
No sistema de gestão ambiental da Gerdau, é previsto o tratamento de
falhas para os casos de não conformidade. Nesse processo, que é gerido
pela liderança das unidades, causas dos problemas são analisadas e são
definidos planos de correção e melhoria. As unidades da Gerdau são
Gerdau
x
x
auditadas no sistema de gestão ambiental, no cumprimento dos
requisitos legais e na melhoria contínua.
A gestão ambiental na Ultracargo foi reforçada por meio da criação e
implantação do Código de Conduta Ambiental, cujos treinamentos são
aplicados, por meio de e-learning a todos os colaboradores. Além disso,
a observância rigorosa da lei e dos procedimentos internos garantem
Ultrapar
x
que a empresa esteja sempre em conformidade com as boas práticas e
padrões existentes atualmente.
(Conformidade Ambiental) Os setores de atuação da Usiminas estão
sujeitos a diversos tipos de normas e regulamentações, as quais
demandam uma gestão cuidadosa, para mitigar riscos e antecipar Usiminas
xxx
tendências regulatórias que poderiam impactar as operações da
Companhia.
Cumprimos nossas obrigações legais e, por isso, monitoramos as
descargas de líquidos seguindo parâmetros como pH, temperatura,
sedimentos, óleos, materiais flutuantes, hidrocarbonetos, entre outros.
Além disso, desde 2017 desenvolvemos planos de ação em todas as Braskem
x
x
plantas localizadas em bacias de alto risco (quatro bacias hidrográficas
brasileiras), que trabalham questões como reuso e dessalinização de
água.
Estimativa de água reutilizada. Refere-se aos volumes consumidos
localmente nos lavadores de pás carregadeiras e nas Estações de
Tratamento de Efluentes que possuem sistema de reuso, das quais trata
os efluentes biologicamente em consonância com os padrões da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas). O efluente é devolvido ao
meio ambiente dentro dos parâmetros exigidos pela legislação, em
condições de ser absorvido sem causar danos à natureza, não havendo
descarte de água ou efluente de processo nas operações. A eficácia
Fer Heringer
x
dessa gestão é medida por meio de acompanhamento dos Técnicos do
setor de meio ambiente corporativo, da elaboração de indicadores, da
adoção de sistemas de medição dos efluentes domésticos e da avaliação
de parâmetros. As informações geradas nesses processos e
procedimentos embasam a definição das metas e objetivos da empresa
relacionados ao consumo de água e ao descarte de efluentes.
Em sete filiais e lojas, conseguimos minimizar a captação de água nova
por meio de sistemas de tratamento que permitem um trabalho em ciclo
fechado – em que, após tratada, a água já aplicada a lavagens e outros
processos volta para a operação. O gerenciamento de efluentes é feito
respeitando todas as regulamentações federais e estaduais (por
JSL
x
exemplo, resoluções Conama e Cetesb) e, em algumas unidades, como
a intermodal de Itaquaquecetuba (SP), a água é devolvida ao meio
ambiente após passar por processos de tratamento.
Todas as fábricas possuem Estações de Tratamento de Efluentes,
estrutura que garante que o lançamento desses materiais siga os padrões Paranapanema
x
de qualidade exigidos pela legislação vigente.
Identificamos e avaliamos impactos de forma a subsidiar a definição de
medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias nas fases de
instalação, operação e desativação dos nossos empreendimentos.
Conforme a fase do ciclo de vida dos empreendimentos, as tipologias
das operações, os fatores ambientais, as exigências legais, os requisitos Petrobras
x
x
dos órgãos ambientais (no caso de condicionantes de licenças), entre
outros fatores, desenvolvemos diversos estudos e projetos com o
objetivo de avaliar os riscos para a biodiversidade e estabelecer planos
de ação.
105
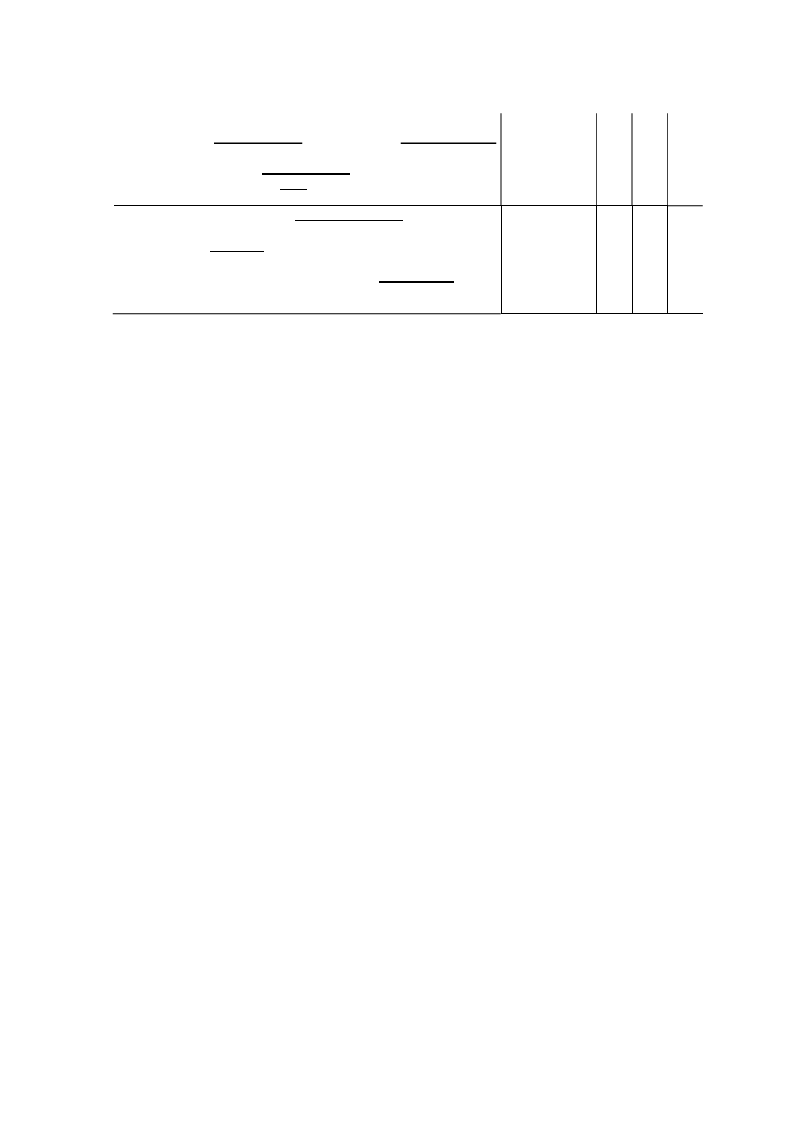
O processo de gestão ambiental visa estabelecer responsabilidades para
analisar e avaliar, periodicamente, o atendimento às obrigações legais
ambientais e outros requisitos aplicáveis às atividades da Vale. Nesse
sentido, são realizadas periodicamente auditorias ambientais e
Vale
xxx
avaliações de conformidade legal do sistema de gestão ambiental,
conduzidas por equipes internas e externas
Atuamos em conformidade com leis e regulamentos, com parâmetros
para controle de indicadores, alguns deles ainda mais rigorosos do que
os previstos na legislação. Aspectos como água, energia, emissões
atmosféricas, mudanças climáticas e biodiversidade são considerados Klabin S.A. x
em todas as operações, reafirmando o nosso compromisso com a
conservação dos recursos naturais e com o controle e mitigação de
impactos ambientais.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
Conforme a Tabela 17, pode-se observar os recortes de algumas divulgações
relacionadas ao Meio Ambiente e como elas relacionam suas ações com o Governo, sendo
possível observar os três atributos da priorização. Mitchell et al. (1997), afirma que a
relevância de um stakeholder está relacionada ao número cumulativo de atributos percebidos
pelos gerentes.
Conforme pôde ser observado, todos os atributos (poder, legitimidade e urgência)
foram identificados, o que classifica o Governo como altamente saliente, sendo considerado
uma parte interessada que possui alta relevância, na relação das empresas com o Meio
Ambiente e assim pode ser atribuído a ele, a definição de um stakeholder definitivo. Para
Mitchell et al. (1997), uma parte interessada definitiva, tem grande capacidade para
influenciar as decisões da empresa, tendo em vista que a gestão das relações para a
organização, é prioritária.
Sendo realizada uma análise individual, por empresa relacionada na Tabela 16, a
Gerdau, a Braskem e a Petrobras, consideram o Governo Dominante (Poder e Legitimidade),
a Ultrapar, a JSL e a Klabin, lhe atribuem a característica de Discreto (Legitimidade), a
Paranapanema o considera Exigente (atributo da urgência) e a Usiminas e a Vale classificam-
no como Definitivo (Poder, Legitimidade e Urgência). De forma conjunta, todos os três
atributos aparecem nas divulgações e por isso, pode-se considerar o Governo como um
stakeholder definitivo, tendo atributos necessários para influenciar as divulgações, nos
Relatórios de Sustentabilidade relacionados ao Meio Ambiente.
Um exemplo para ser citado, é o recorte da Vale S.A., em que uma das suas
divulgações afirma que o processo de gestão ambiental é “avaliado periodicamente” (Poder
e Urgência, sendo periodicamente relacionado com a ideia de tempo), em atendimento às
“obrigações legais” (Poder e Legitimidade) e realiza avaliações de conformidade “legal”
106
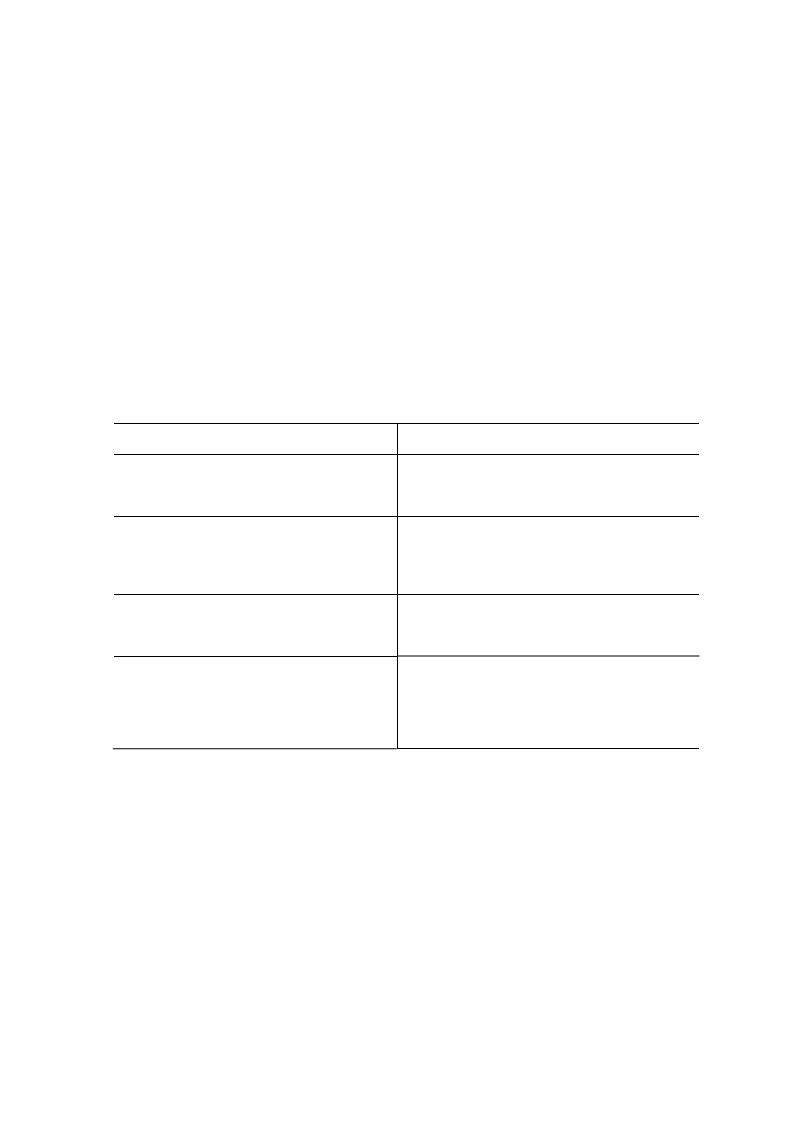
(legitimidade). No recorte da divulgação da Usiminas, ocorre a sujeição ao Governo
(sinônimo de domínio – Poder), para determinadas “normas e regulamentações”
(Legitimidade), que “demandam” (Urgência) em relação a conformidade ambiental. Este
exemplo demonstra também que as empresas gerenciam suas obrigações legais, conforme os
achados de Cormier et al., (2004), Rahaman et al., (2004), Hasseldine et al., (2005), De
Villiers e Van Staden (2006).
Com a análise por meio do modelo identificado, percebe-se a existência de outros
recortes que, mesmo não tendo as palavras-chave presentes, possibilitam a percepção da
relação existente entre as divulgações relacionadas ao Meio Ambiente e o Governo, como
pode ser observado na Tabela 18.
Tabela 18 - Divulgações adicionais sobre a relação Governo-Meio Ambiente.
Atuamos em sintonia com a Política Nacional Pautados por nosso Sistema de Gestão Ambiental,
de Resíduos Sólidos (JSL).
atuamos em conformidade com a legislação (Rumo).
Nas operações no Brasil, na República A gestão dos efluentes é baseada em padrões de
Dominicana, na Venezuela e no Peru, não lançamento definidos conforme a legislação local
houve não conformidades significativas (Brakem).
com leis e regulamentos ambientais (Gerdau).
Na área de Refino e Gás Natural, estamos Outro passo importante dado em 2019 foi a
realizando o reflorestamento de uma área adoção de um modelo de relacionamento técnico
de 650 hectares de floresta ombrófila referente aos e estratégico com os órgãos ambientais estaduais
compromissos
de
licenciamento (Suzano).
ambiental (Petrobras).
A empresa gerencia seus aspectos, impactos Em todos os setores de atuação, a Usiminas realiza
ambientais, licenças de operação e autorizações a manejo e tratamento de efluentes em conformidade
fim de atender às especificidades do Poder Público com as regulamentações estabelecidas (Usiminas).
(Gerdau).
Na Ipiranga, as iniciativas buscam identificar e Parte das operações está localizada dentro de unidades
prevenir os riscos de acidentes e os impactos ao de conservação, mas sempre respeitando as
meio ambiente por meio de investimentos em determinações legais frente a cada categoria definida
programas e práticas para a prevenção da e decretos de criação das mesmas (Vale).
contaminação do solo e água, em atendimento aos
preceitos legais (Ultrapar).
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
Parte da relação do governo com o Meio Ambiente, está ligada às exigências e
imposições legais que o Governo faz, para impor determinadas práticas. Segundo Lopes
(2015), o Governo pode ser considerado um dos que exercem maior poder em relação às
práticas de RSC, tanto de forma indireta, como através da legislação, impondo regras sobre
a preservação do Meio Ambiente. Para Gadenne, Kennedy e McKeiver (2009), a existência
de uma legislação específica, contribui para uma maior preocupação relacionada ao Meio
Ambiente, por parte das empresas. Ainda segundo Aguinis e Glavas (2012), as
107
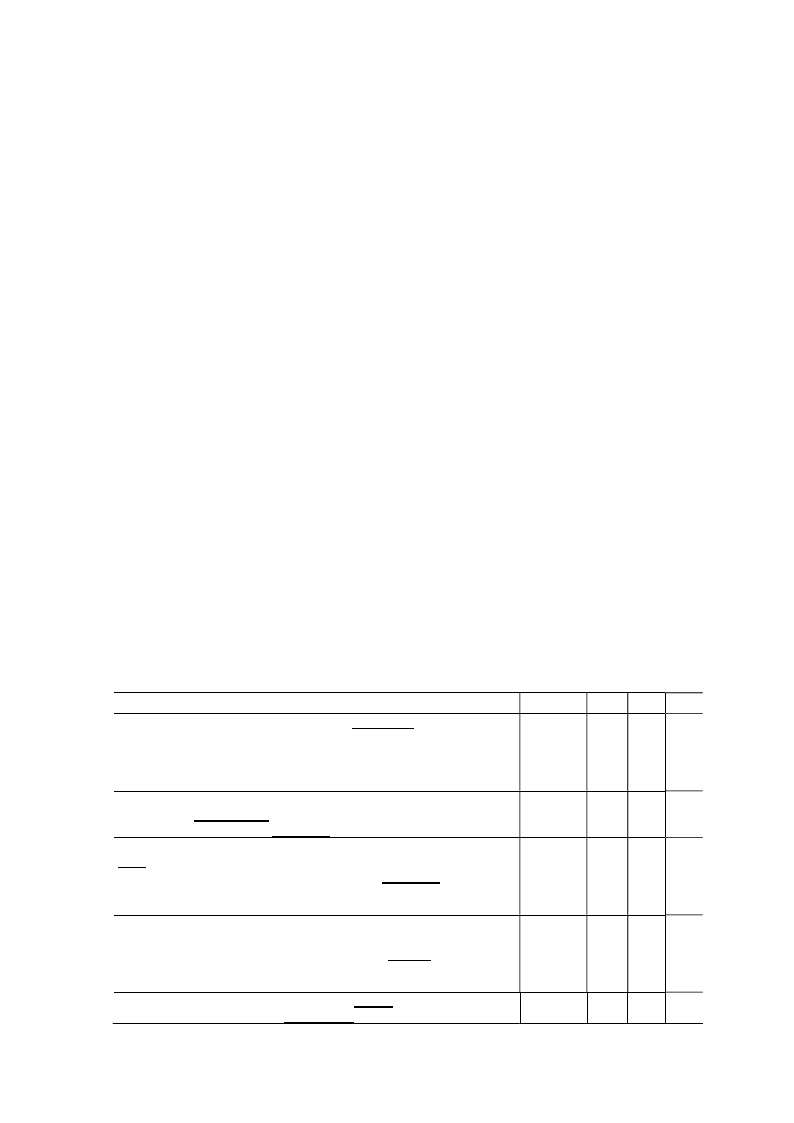
regulamentações e certificações que são impostas às empresas, afetam a extensão e o tipo de
ações relacionadas a RSC.
4.3.2 Comunidade
O segundo mais relevante stakeholder, identificado nas divulgações relacionadas com
o Meio Ambiente, nos relatórios das 18 empresas analisadas foi a Comunidade, confirmando
a ideia de partes interessadas primárias e secundárias, proposta por Clarkson (1995) e os
pressupostos de stakeholders estratégicos e morais, proposta no trabalho de Freeman et al.
(2010). Conforme os autores, a Comunidade possui prioridade para as empresas, pois seria
considerado um stakeholder primário e estratégico.
Este resultado confirma que as empresas divulgam informações ambientais, com o
objetivo de aumentar a legitimidade, em busca de aprovação da sociedade (Rahaman et al.,
2004; Clarkson et al., 2008; Spence et al., 2010; Deegan & Shelly, 2014; Plumlee et al.,
2015; Deegan, 2017; Delgado-Márquez et al., 2017).
Este achado pode ser confirmado, levando em consideração a proposta desenvolvida
por Mitchell et al. (1997), que afirma que determinados grupos de interesse possuem
atributos em determinadas relações, fazendo com que eles consigam alcançar objetivos
próprios. Com base no modelo de saliência dos stakeholders, desenvolvido por Mitchell et
al. (1997), pode-se observar a Tabela 19.
Tabela 19 - Divulgações relacionando a Comunidade com o Meio Ambiente.
Divulgação relacionada a comunidade-Meio Ambiente
Empresa Leg. Urg. Pod.
Equipes técnicas são mantidas para tratar demandas socioambientais, o
que inclui biólogos, antropólogos e especialistas em questões indígenas,
com competências necessárias para dar suporte aos desafios inerentes à Cosan
x
atuação em áreas de domínio, serranas, de proteção ambiental e que
abrigam comunidades tradicionais.
Significa cumprir e estar em conformidade com requisitos ambientais que
podem ser compulsórios ou voluntários, adequando as práticas Gerdau
xx
empresariais para atender as demandas da sociedade.
Desta forma, a Gerdau se posiciona à frente do movimento cada vez mais
forte de sensibilização para as questões ambientais percebido tanto dentro
da companhia quanto externamente, a partir das demandas crescentes de Gerdau
xx
clientes, investidores e da sociedade por informações e respostas a essas
questões.
A responsabilidade ambiental é um imperativo ético de nossos negócios e
fundamental para a geração de valor sustentada de nossos negócios,
preservando o valor de nossos ativos e produtos. A pressão local e mundial Petrobras
x
por recursos naturais é crescente, afetando estruturalmente e progressiva-
mente a sociedade e os mercados.
A criação da RPPN Usipa é fruto de um acordo entre a Usiminas e o
MPMG, que considerou a sua importância ecológica para a região a fim
Usiminas
x
x
108
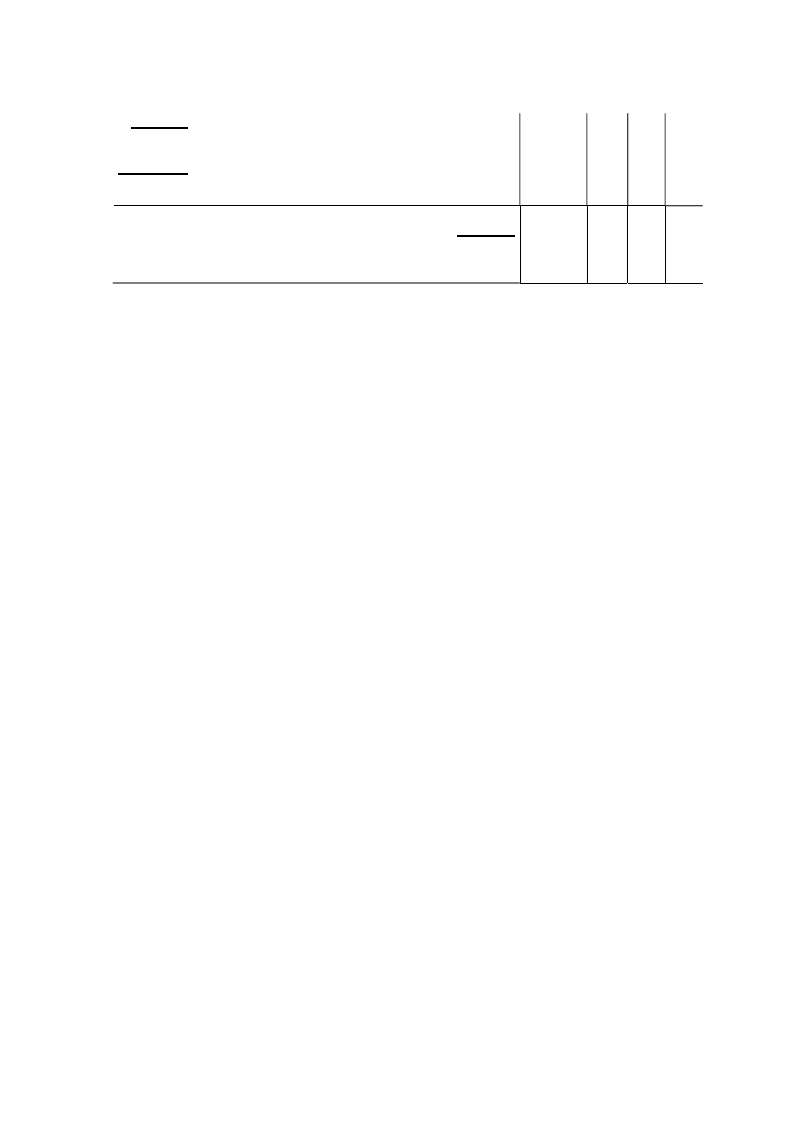
de justificar a sua perpétua preservação. Uma área de vegetação nativa
preservada, localizada próximo a um espaço dedicado ao lazer e prática de
esportes e onde se encontra instalado um viveiro de mudas, é de grande
importância também para a comunidade – tanto moradores de Ipatinga
quanto das cidades vizinhas Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do
Paraíso.
As operações da Vale ocupam hoje cerca de 1.400 km2, atuando em
diversas regiões, incluindo áreas de alto valor cultural e alta relevância
para a biodiversidade. Parte das operações está localizada dentro de Vale
x
unidades de conservação, mas sempre respeitando as determinações legais
frente a cada categoria definida e decretos de criação das mesmas.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
De acordo com a Tabela 19, pode-se observar algumas divulgações relativas ao Meio
Ambiente e como elas relacionam suas ações com a Comunidade, sendo possível observar
os três atributos da priorização, se avaliados os achados de todas as empresas, de forma
conjunta. Mitchell et al. (1997), afirma que a relevância de um stakeholder, está
positivamente relacionada ao número cumulativo de atributos percebidos pelos gerentes.
Os atributos de poder, legitimidade e urgência foram identificados, sendo assim, a
comunidade pode ser classificada como altamente saliente, sendo considerada uma parte
interessada que possui alta relevância, com relação ao Meio Ambiente. Assim, pode ser
atribuída a ela a qualidade de um stakeholder definitivo, semelhante ao Governo, em que
ambos têm a capacidade de influenciar as decisões da empresa e afetar a gestão das suas
relações (Mitchell et al., 1997).
Esta característica mostra que as comunidades, principalmente em torno das
instalações das empresas, conseguem exercer pressões e fazer com que as organizações
adotem práticas adequadas, em relação aos cuidados com o Meio Ambiente.
Sendo realizada uma análise individual, por empresa relacionada na Tabela 18, pode-
se constatar que para a Cosan, a comunidade pode ser considerada discreta, de acordo com o
modelo de saliência de Mitchell et al. (1997), por apresentar o atributo da Legitimidade. A
Gerdau a considera como perigosa, pois lhe confere os atributos de Urgência e Poder. Para a
Petrobrás, a comunidade é classificada como adormecida, pois identifica o atributo de poder
nas suas relações. A Usiminas caracteriza-a como dependente, por apresentar os atributos de
Legitimidade e Urgência. Já a Vale, considera a comunidade como exigente, pois identifica
o atributo de Urgência.
Após a análise por meio do modelo de Mitchell et al. (1997) finalizada, considera-se
importante acrescentar que existem outras divulgações, mesmo não tendo as palavras-chave,
que possibilitam a identificação da saliência, segundo o modelo utilizado, em que pode-se
109
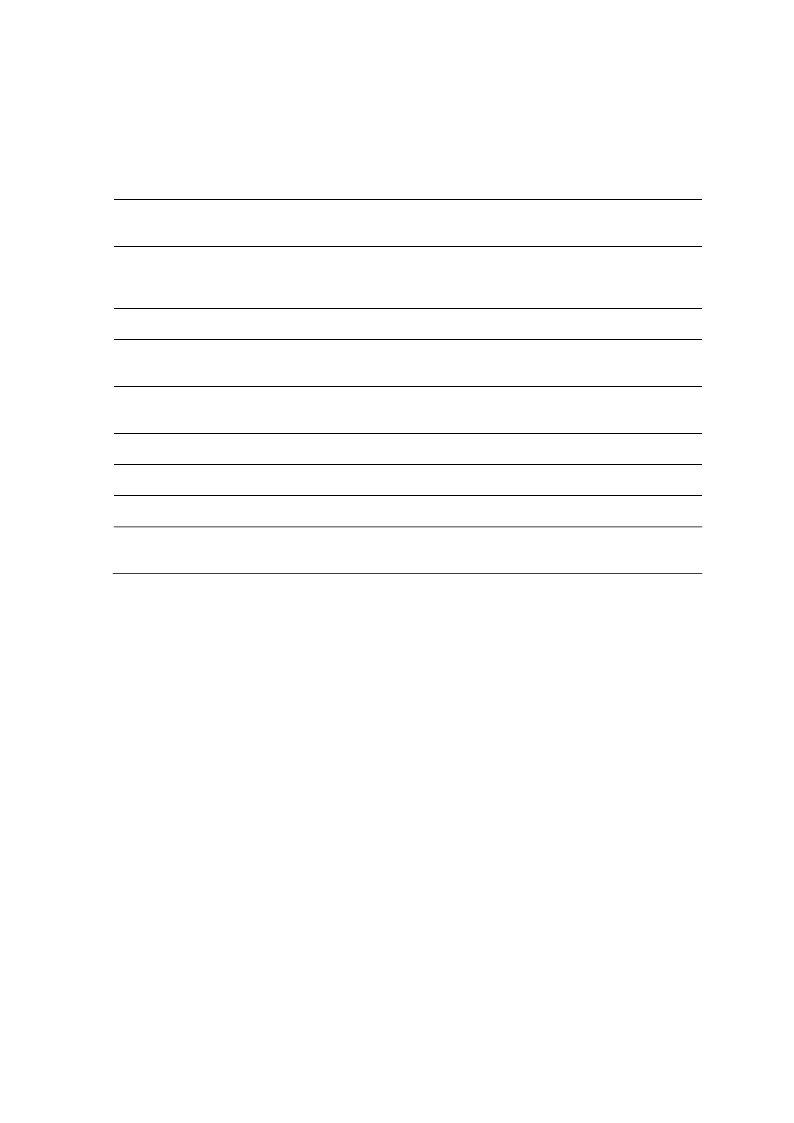
observar a relação existente entre as práticas relacionadas ao Meio Ambiente e a comunidade,
como pode ser observado na Tabela 20.
Tabela 20 - Divulgações adicionais sobre a relação Comunidade-Meio Ambiente.
Apoiamos o projeto Mogi+Água, criado pelo Instituto Trata Brasil e Secretaria Municipal de Agricultura da
Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) com o objetivo de instalar estações de tratamento de esgoto portáteis em
propriedades rurais do município (Braskem).
Nossa companhia tem o objetivo de contribuir para a evolução da sociedade em direção a um modo de
produção e consumo mais sustentável. O desenvolvimento socioambiental dos territórios e das comunidades
localizadas nas regiões de nossas operações é uma das bases sobre as quais construímos nosso modelo de
negócio (CCR).
O Comitê Estratégico e de Sustentabilidade também busca entender, dentre outras iniciativas, as necessidades
dos moradores no entorno das operações, para atendê-las (Cosan).
Adoção de ações para mitigação das emissões de gases de efeito estufa (GEE) na operação e cadeia de
fornecimento, além do planejamento para resiliência da operação e fornecimento de soluções carbono-efetivas
para a sociedade frente às mudanças climáticas (Gerdau).
A nossa Política de Responsabilidade Social apresenta como uma de suas diretrizes o investimento em
programas e projetos socioambientais, contribuindo para as comunidades onde atuamos e para a sociedade e
para a conservação do ambiente (Petrobras).
O projeto trabalha com a educação ambiental e a qualificação dos produtores locais para a consolidação de
uma cultura de preservação na região (Suzano).
A Ultragaz impactou cerca de 14,2 milhões de pessoas por meio de mais de 30 projetos socioambientais em
2019 (Ultrapar).
Realiza projetos de preservação de nascentes e matas ciliares, envolvendo ainda as comunidades locais
(Usiminas).
Ao longo de 2019, a Vale manteve sua atuação na área de Sustentabilidade, por meio de iniciativas de
mitigação e compensação dos impactos de suas atividades, além do desenvolvimento de ações ambientais e
de criação de valor para as comunidades (Vale).
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
A Tabela 20 apresenta outras divulgações, mostrando a relação de algumas das
práticas das empresas analisadas, envolvendo a comunidade. Segundo Maignan e Ferrell
(2004) e Lépineux (2005), a comunidade, como parte interessada, deve ser considerada como
um grupo de stakeholders que compartilham normas e metas comuns a um determinado tema,
e por ser importante, conseguem influenciar as empresas a praticarem determinadas ações.
A Relação Comunidade-Empresa, pode ser observada como uma dependência mútua,
sendo que a comunidade permite a atuação da empresa através de um contrato, que lhe
garante o direito de operar e em contrapartida, a organização não pode expor a comunidade
a riscos, como poluição, lixo tóxico e outros (Lopes, 2015). Ainda, segundo esta relação,
quando a empresa não opera dentro dos padrões considerados apropriados, a comunidade
pode buscar revogar os direitos ao exercício da atividade da entidade (Deegan & Rankin,
1997).
Portanto, as organizações devem considerar todos os direitos da comunidade em
geral, não apenas preocupar-se com os investidores, acionistas ou parceiros (Neu et al.,
1998).
110

Em relação a RSC, a comunidade pode apoiar determinadas empresas se elas se
comprometerem publicamente, com práticas voltadas ao melhoramento de estratégias de
preservação do meio ambiente (Yang e Rivers, 2009). As organizações podem adotar práticas
de feedback e monitoramento, para demonstrar à comunidade a sua preocupação com temas
ambientais (Dobele et al., 2014).
4.3.3 Outros Stakeholders
Em relação aos demais stakeholders, os mesmos não apresentaram observações
significativas, se comparados com o Governo e a Comunidade, porém existem alguns
recortes observados, que podem ser abordados nesta pesquisa. Os Clientes/Compradores,
com (11 observações), não apresentaram os atributos de poder, legitimidade ou urgência e
neste caso, não podem ser considerados stakeholders que influenciam a empresa, segundo as
palavras-chave do estudo de Boaventura et al., (2017) e o modelo de saliência dos
stakeholders, proposto por Mitchell et al. (1997) e assim podem ser considerados não-
stakeholders com relação ao Meio Ambiente.
Contudo, o referido público de interesse é citado em algumas práticas relacionadas
ao meio ambiente, como parte de suas ações, conforme pode ser observado na Tabela 21.
Tabela 21 - Divulgações sobre a relação Clientes-Meio Ambiente.
Empresa
Divulgação relacionada a Clientes-Meio Ambiente
Braskem
Trabalhar com os clientes e a cadeia de valor na concepção de novos produtos para ampliar a
eficiência, a reciclagem e a reutilização.
A Braskem segue em alinhamento com sua política de Desenvolvimento sustentável, buscando
Braskem se consolidar como um provedor de soluções no saneamento básico, em ações conjuntas com sua
cadeia de clientes.
O desenvolvimento de infraestruturas de mobilidade melhora a qualidade de vida nos grandes
CCR centros urbanos, permitindo que os clientes possam escolher os meios de locomoção mais
eficientes, rápidos e com menores impactos ambientais.
Ultrapar
Além de compensar as emissões diretas e as provenientes do consumo de energia da operação, a
empresa oferece aos seus clientes a opção de compensar suas emissões.
Além disso, a Ipiranga gerencia casos de remediação em unidades operacionais e assessora seus
Ultrapar clientes, visando a redução dos passivos ambientais, por meio das melhores práticas e tecnologias
de investigação e remediação disponíveis.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
Com base na Tabela 21, podem ser observadas algumas iniciativas que envolvem os
clientes e o Meio Ambiente e segundo Pivato et al., (2008), quando se trata de RSC, a relação
de confiança entre consumidores e empresa influencia as decisões dos compradores e ainda,
conforme Orlitzky et al., (2003), a reputação nesta relação é um efeito importante nas
relações de RSC.
111
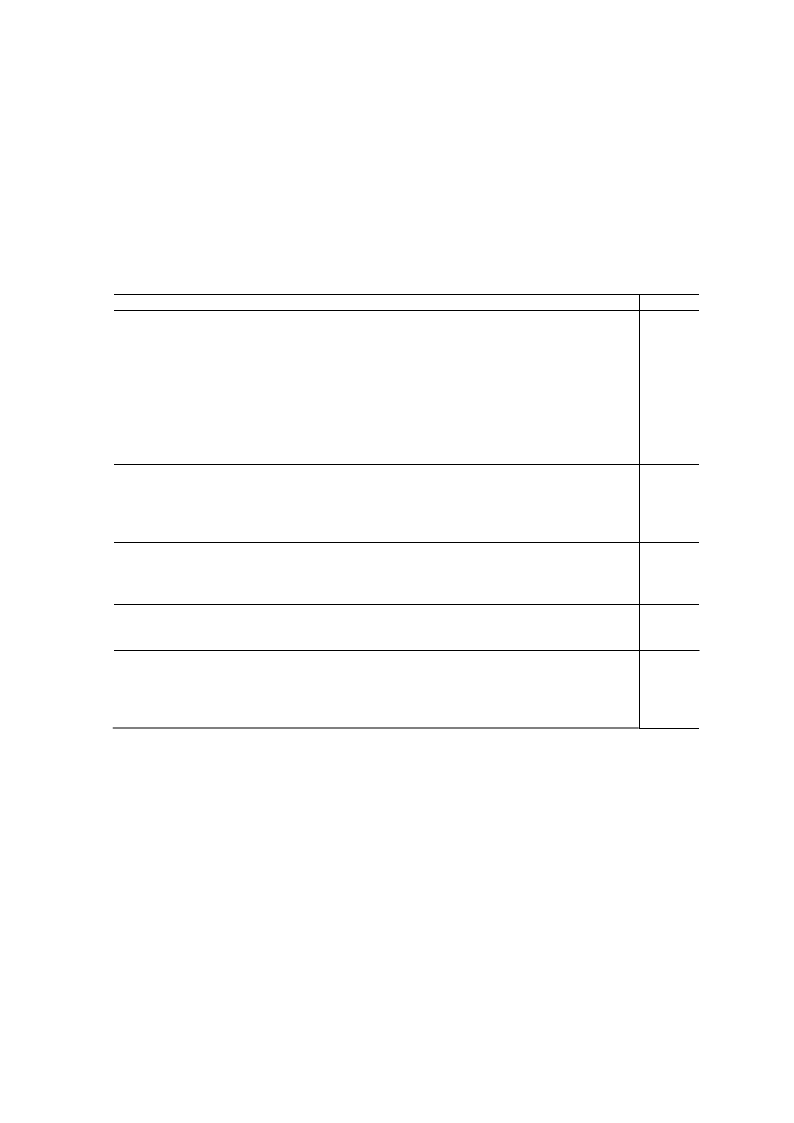
O próximo stakeholder identificado são os funcionários, com (7 observações), que
mesmo sendo considerada uma parte interessada primária e exigente, segundo Clarkson
(1995) e Freeman et al. (2010), não apresentou atributos de saliência segundo o modelo de
Mitchell et al. (1997), porém foram identificadas algumas divulgações que demonstram
relação entre ambos, conforme pode ser observado na Tabela 22.
Tabela 22 - Divulgações sobre a relação Funcionários-Meio Ambiente.
Divulgação relacionada a Funcionários-Meio Ambiente
Empresa
Outra realização do ano de 2019, direcionada à educação ambiental, foi o mutirão de limpeza na
praia de Santos que, pela primeira vez, mobilizou simultaneamente os quatro maiores operadores
do Porto de Santos. O evento ocorreu no Dia Mundial da Limpeza, 21 de setembro, e integra as
ações da campanha Go Green, movimento global que visa tornar as empresas mais sustentáveis
por meio da reutilização de recursos, reciclagem de resíduos e conscientização sobre mudanças Santos
climáticas e responsabilidade ambiental. Em sua quarta edição, o mutirão, que envolveu equipes Brasil
do Tecon Santos, das unidades logísticas e dos escritórios da Santos Brasil, resultou no
recolhimento de quase 300 quilos de resíduos, separados por tipo e encaminhados para destinação
ambiental adequada. O mutirão também ocorreu nas praias de Imbituba e Barcarena, com
envolvimento dos nossos voluntários.
Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho, promovemos,
durante uma semana, a 6ª Jornada Ambiental na Santos Brasil. Nessa edição, abordamos a
importância das nossas questões prioritárias ao meio ambiente por meio de Diálogos de
Conscientização elaborados e ministrados pela equipe de Gestão Ambiental aos nossos
Santos
Brasil
funcionários.
As operações da Usiminas são realizadas utilizando técnicas modernas e eficientes; ainda assim,
a Companhia reconhece seus impactos ambientais e trabalha continuamente para minimizá-los,
como é o caso das emissões de materiais particulados, que influenciam na qualidade de vida e
saúde de seus colaboradores.
Usiminas
Na Usina de Cubatão, o projeto voluntário “Plante uma Vida” integra ações ambientais e de
sustentabilidade. A iniciativa prevê que mudas de árvores nativas sejam plantadas pelos
colaboradores da usina que tiveram filhos nascidos ou adotados.
Usiminas
Em Ipatinga, o projeto “Plante uma Vida” foi realizado pela primeira vez em 2018, pelos
colaboradores da Usiminas Mecânica. Em 2019, contou com a participação de 400 colaboradores
da Usina de Ipatinga, Usiminas Mecânica e Unigal. Além de ser uma ação de valorização e
proximidade com as famílias, demonstra a preocupação das empresas com as questões
ambientais e com as gerações futuras.
Usiminas
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
Segundo a Tabela 22, as empresas Santos Brasil e Usiminas, divulgaram algumas
ações relacionadas ao Meio Ambiente, em que buscam envolver os seus colaboradores. Para
Aguilera et al., (2007), quando a empresa cria ações relacionando os empregados com as
práticas de RSC, ela consegue criar um ambiente de trabalho mais participativo e os
colaboradores se mostram mais dispostos a trabalhar em organizações com estas
características, contribuindo com o trabalho de Smith (2003).
Outro grupo de stakeholders que são considerados primários e exigentes, nas relações
com as empresas, são os investidores, porém nas organizações analisadas, as divulgações
relacionadas ao Meio Ambiente não foram expressivas. Um recorte que foi possível
identificar, quanto ao atributo de poder e urgência, pode ser observado na Tabela 23.
112
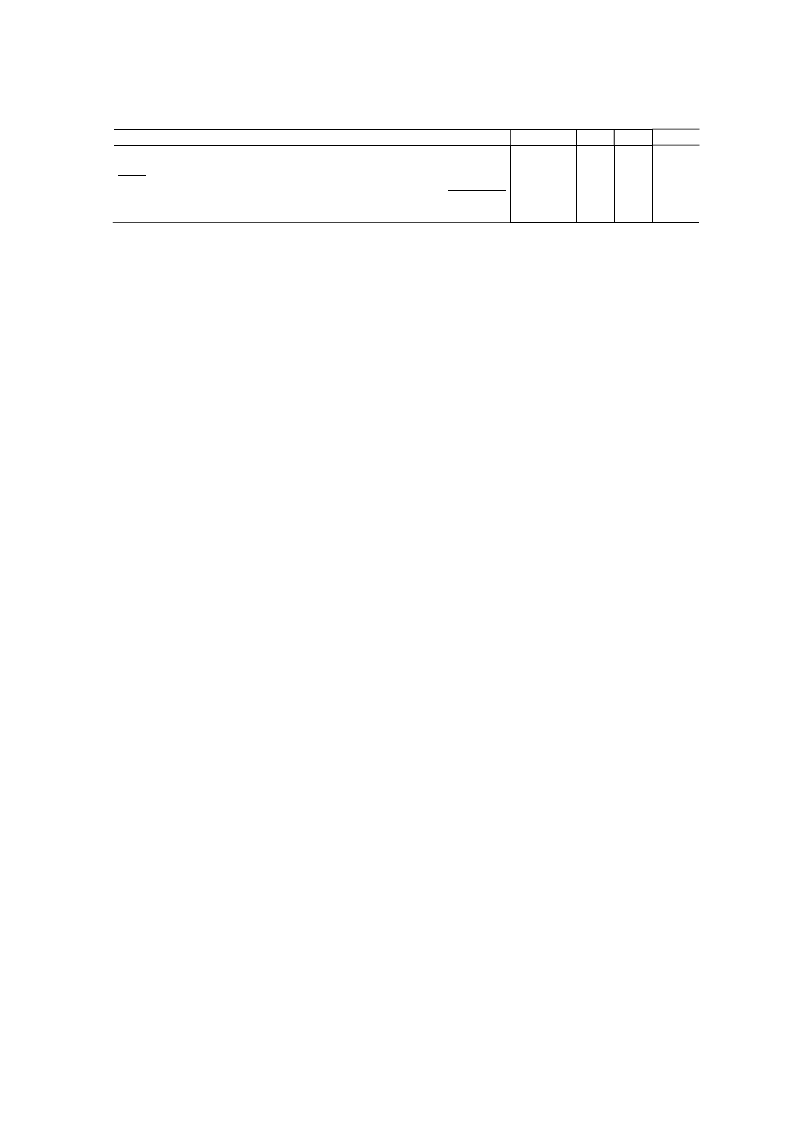
Tabela 23 - Divulgação sobre a relação Investidores-Meio Ambiente.
Divulgação relacionada a Investidores-Meio Ambiente
Empresa Leg. Urg. Pod.
Desta forma, a Gerdau se posiciona à frente do movimento cada vez mais
forte de sensibilização para as questões ambientais percebido tanto
dentro da companhia quanto externamente, a partir das demandas Gerdau
x
x
crescentes de clientes, investidores e da sociedade por informações e
respostas a essas questões.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
Com base na divulgação da Gerdau, os acionistas podem ser considerados perigosos,
porém a divulgação não identifica somente eles como foco. Outro recorte, que demonstra a
relação investidores-Meio Ambiente, é na seguinte divulgação: “no campo de energia,
mantemos ações que envolvem políticas de gestão validadas pela presidência da Companhia
com diretrizes de eficiência no uso de recursos naturais; diálogos e prestação de contas com
provedores de capital” (JSL, 2019, p. 76).
Estes achados isolados, podem ser um indício da perspectiva de Lopes (2015), que
afirma que a relação acionista e de RSC, está mudando e aumentando no decorrer dos anos
e segundo Mason e Simmons (2014), alguns investidores optam por investimentos rentáveis
e socialmente responsáveis, porque acreditam que isto melhora a reputação corporativa.
Retomando o primeiro objetivo específico, que é mapear quais stakeholders são
prioritários nas divulgações sobre o meio ambiente, com base nas análises e no referencial
teórico que trouxe o modelo de avaliação, pode-se concluir que enquadram-se nesta
categoria, entre as divulgações dos relatórios de sustentabilidade das empresas analisadas, o
Governo e a Comunidade, que possuem atributos de poder, legitimidade e urgência e assim,
podem ser considerados como partes interessadas definitivas, sendo assim suportadas pela
base teórica.
Já em relação aos stakeholders - clientes, funcionários, fornecedores, investidores,
concorrentes e as ONGs, identificou-se divulgações relacionando-os com práticas de
preservação do meio ambiente, porém estes não podem ser suportados pelo modelo utilizado.
Com o primeiro objetivo específico concluído, o próximo subcapítulo traz informações sobre
as ecologias rasa/superficial, intermediária e profunda.
4.4 ECOLOGIA SUPERFICIAL/RASA, INTERMEDIÁRIA E PROFUNDA
Para responder o segundo objetivo específico desta pesquisa, que é “identificar as
divulgações sobre o meio ambiente de acordo com as suposições das filosofias ecológicas
superficiais/rasas, intermediárias e profundas”, desenvolve-se a análise deste tópico. A
113

Quantidade de parágrafos identificados, que tem relação com este objetivo, pode ser
observada na Tabela 24.
Tabela 24 - Quantidade de observações relacionadas às filosofias ecológicas.
Filosofias Identificadas
Quantidade de Parágrafos
Ecologia Rasa/Superficial
150
Ecologia Intermediária
66
Ecologia Profunda
10
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
Com base na Tabela 24, foram identificados 150 parágrafos sobre divulgações
relacionadas ao Meio Ambiente, que podem ser classificados como ecologia rasa/superficial.
Para Gaia e Jones (2017), a principal característica é a preocupação em relação à
biodiversidade, ligada à satisfação de interesses dos seres humanos.
Outros 66 parágrafos, foram categorizados como ecologia intermediária, em que de
acordo com Gaia e Jones (2017), os valores intrínsecos podem ser ampliados a algumas
entidades não humanas e 10 parágrafos, foram identificados com características da ecologia
profunda, que para Naess (1973), são iniciativas que vêem a natureza como tendo valor
intrínseco, sendo o seu objetivo, a proteção da riqueza e da diversidade das formas no mundo.
O que difere as posições ambientais, é o grau de restrição em relação ao meio
ambiente, especialmente ao meio ambiente natural e nesse sentido, as pessoas podem fazer
mais ou menos com a terra e com o que cresce e mora lá, sendo que os humanos podem
explorar e gerenciar (Sylvan, 1985b).
4.4.1 Ecologia Superficial/Rasa
O primeiro paradigma ambiental abordado, é a ecologia superficial/rasa, que
conforme observado na Tabela 23, foi o mais evidenciado nos relatórios de sustentabilidade
analisados. Segundo Baard (2015) e Gaia e Jones (2017), este movimento pode ser ainda
nomeado como antropocentrismo forte, ou seja, presença forte do homem nas ações, pois o
Meio Ambiente é visto como um meio para satisfazer às necessidades das pessoas e no caso
desta pesquisa, satisfazer as empresas ou os seus stakeholders.
Com base neste conceito, pode-se observar a Tabela 25, com os principais assuntos
abordados nas divulgações classificadas como superficiais/rasas, nos relatórios de
sustentabilidade.
114
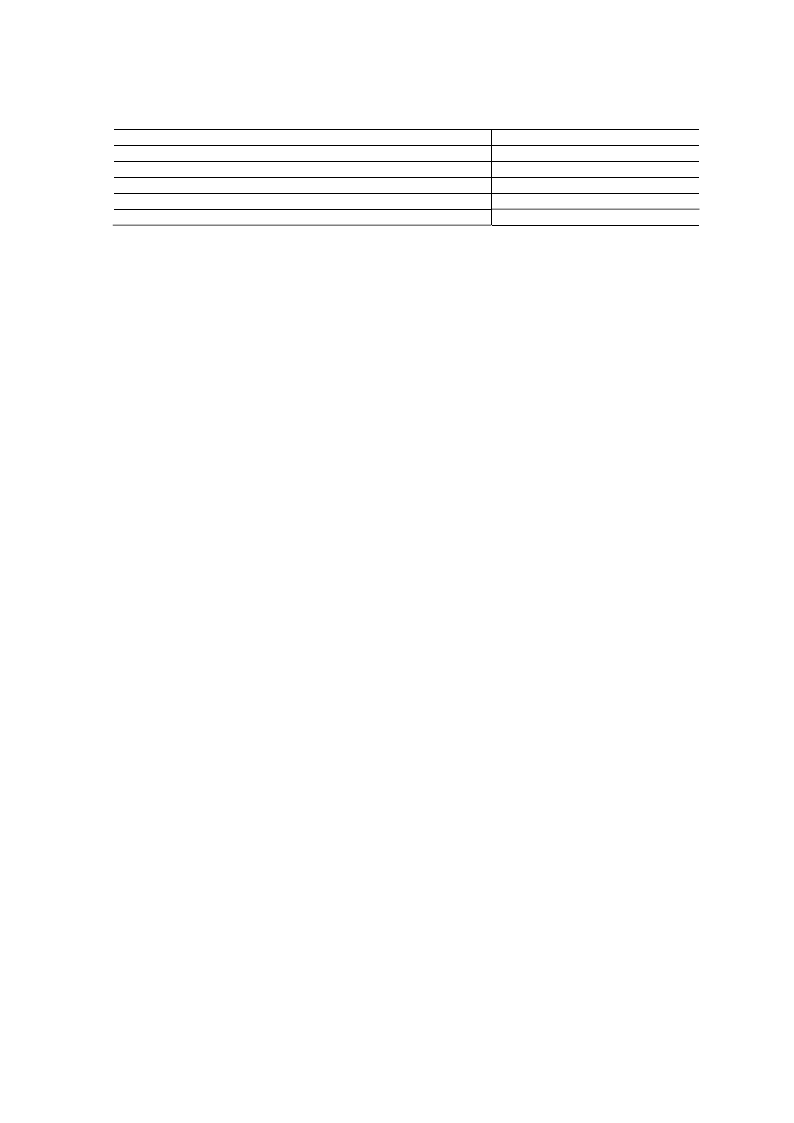
Tabela 25 - Tópicos relacionados com a ecologia Superficial/Rasa.
Tópicos relacionados a ecologia Superficial/Rasa
Natureza caracterizada como instrumento
Reciclagem
Saúde e bem-estar
Administração dos recursos
Dependências de soluções tecnológicas
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
Qtd. de observações destacadas
21
13
10
9
9
Tendo em vista os dados apresentados na Tabela 25, pode-se afirmar que os principais
tópicos, baseados nos conceitos relacionados com a ecologia superficial/rasa, foram a
natureza caracterizada como instrumento para as empresas, práticas relacionadas a
reciclagem, busca de saúde e bem-estar para as comunidades e funcionários, o controle das
empresas por meio da administração dos recursos que utiliza e ainda, a dependência de ações
relacionadas a soluções tecnológicas.
Dentre estes tópicos, os principais temas abordados que são relacionados ao Meio
Ambiente, são: consumo, limpeza e reutilização da água, reciclagem de materiais utilizados
pelas empresas ou produtos de sua fabricação, mudanças climáticas que podem de alguma
maneira impactar as atividades da empresa, tanto no presente, como no futuro, energia
relacionada a redução do consumo, emissões de gases do efeito estufa, que podem afetar
também as atividades e podem impactar diretamente na sociedade, redução de geração de
resíduos, devido a produção nas atividades da empresa, redução de consumo de recursos
naturais, sendo praticadas novas alternativas de consumo cíclico e energias renováveis, que
substituem as tradicionais formas de geração de energia.
Com base nos tópicos relacionados ao meio ambiente, na ecologia superficial/rasa e
com os principais temas relacionadas ao Meio Ambiente, pode-se observar a Figura 17, que
traz alguns dos recortes das divulgações relacionadas com o tópico “natureza caracterizada
como instrumento para a empresa”, o qual se apresenta como foco principal das organizações,
quando divulgam informações sobre o meio ambiente.
115
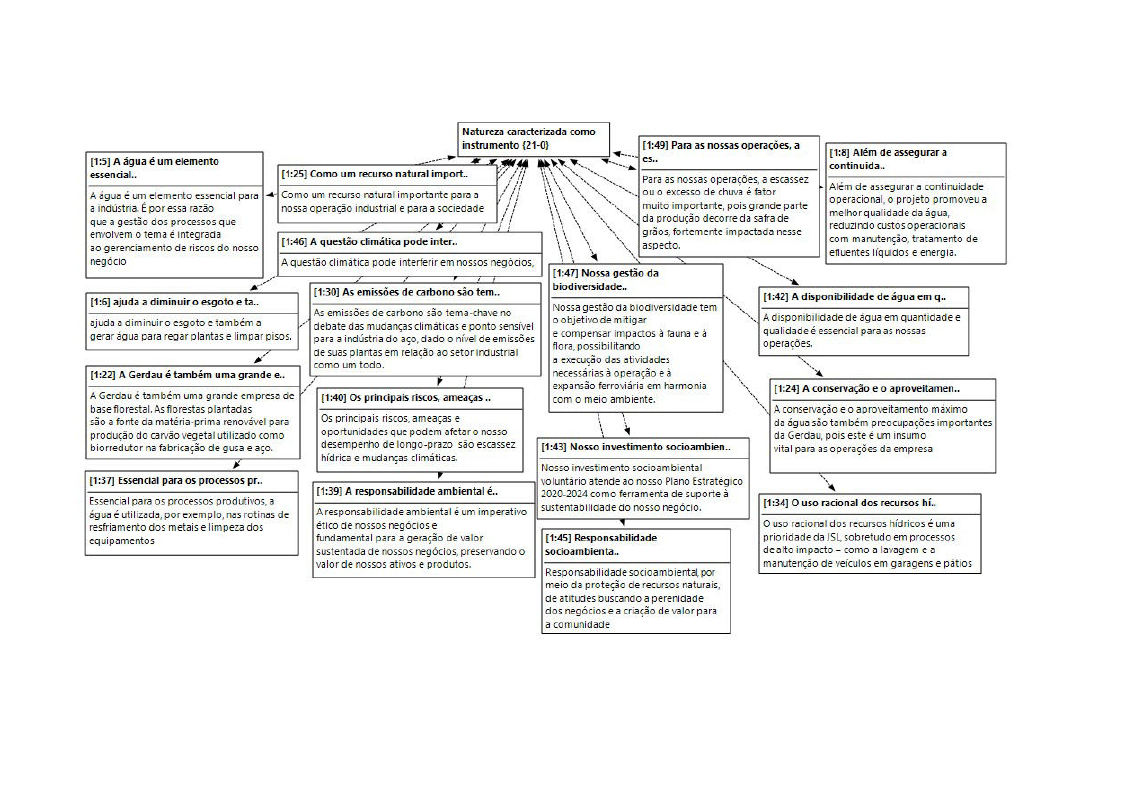
Figura 17 - Divulgações relacionadas com o meio ambiente sendo considerado como instrumento das empresas.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
116

Conforme a Figura 17, 21 paragráfos selecionados, abordam assuntos relacionados
ao Meio Ambiente, divulgando como a natureza e seus elementos auxiliam nas atividades
das operações da empresa. Para Sylvan (1985b), Eckersley (1992), Vincent (1993), Samkin
e Schneider (2014), Baard (2015) e Gaia e Jones (2017), quando a natureza é vista como
instrumento, os animais e o meio ambiente só possuem o valor que as pessoas lhe atribuem,
ou no caso, as empresas atribuem a ela, sendo também definida como altamente
antropocêntrica, segundo (Sylvan, 1985b).
Exemplos que podem ser observados são: “a água é um elemento essencial para a
indústria” (Braskem, 2019, p. 93), “recurso natural importante para nossa operação” (Gerdau,
2019, p. 75), “a responsabilidade ambiental é um imperativo ético dos nossos negócios e
fundamental para a geração de valor sustentada de nossos negócios” (Petrobras, 2019, p. 41)
e ainda, “mudanças climáticas é um ponto sensível para a indústria do aço” (Gerdau, 2019,
p. 84). De acordo com Eckersley (1992), os humanos sempre reconhecem a importância do
meio ambiente, quando suas atividades dependem dele, mostrando assim uma visão restrita
e antropocêntrica. No final, o objetivo é maximizar o valor humano, reduzir desperdícios no
consumo de recursos não renováveis e aumentar o rendimento de recursos renováveis, de
forma sustentável (Dickerson et al. 2009 apud Gaia & Jones, 2017).
Ainda segundo Gaia e Jones (2017), a ecologia superficial/rasa pode ser observada
quando se justifica a preservação, relacionando-a com o crescimento econômico, pois
procura argumentar em sua defesa, porque a natureza provê o necessário para a sobrevivência
do homem. Para Rolston (1985, 1988), as indústrias precisam do meio ambiente, para retirar
a matéria-prima necessária para as suas atividades.
Ainda, segundo Sylvan (1985b), Eckersley (1992), Samkin e Schneider (2014), Baard
(2015) e Gaia e Jones (2017), o mundo não humano é mensurado pelo seu valor de uso, a
natureza como uma fonte de recursos, para as necessidades humanas, homens são separados
do meio ambiente e são a única fonte de valor, a biodiversidade somente possui valor se é
útil para os homens, ou seja, as preocupações são fundamentais e por fim, a biodiversidade
deve ser protegida, pois a mesma satisfaz às necessidades dos seres humanos.
O segundo tópico relacionado com a ecologia superficial/rasa é reciclagem, sendo
que algumas das divulgações identificadas, podem ser observadas na Figura 18.
117
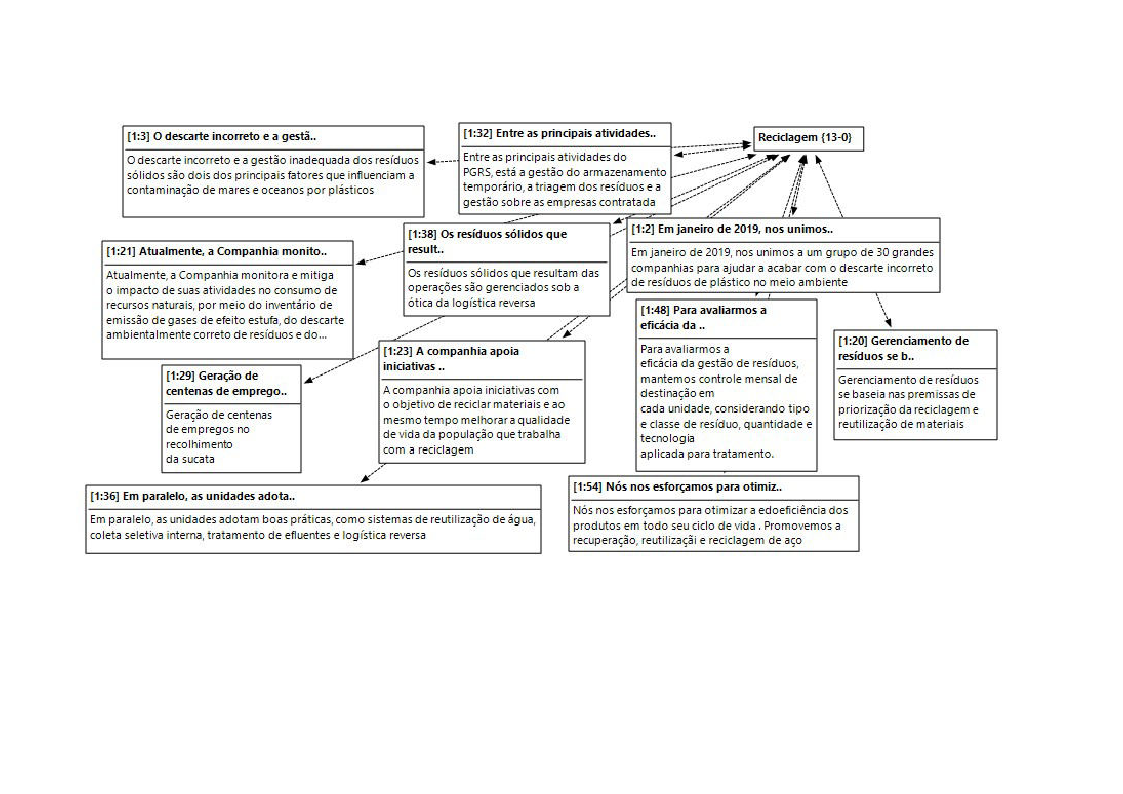
Figura 18 - Divulgações relacionadas com o meio ambiente e reciclagem.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
118

A Figura 18 apresenta práticas relacionadas com a reciclagem, que também é um
tema abordado de forma expressiva, nas divulgações associadas ao meio ambiente e segundo
Eckersley (1992), Gunn (2007) e Samkin e Schneider (2014), estão relacionadas com a
ecologia superficial/rasa.
De acordo com Eckersley (1992), a ideia superficial atrelada a reciclagem, é devido
ao seu objetivo, pois não existe lugar ou distância para descartar o lixo gerado e assim, os
humanos devem administrar a sua destinação, pois dela todos são dependentes e impactados,
surgindo neste sentido, o movimento da reciclagem, preocupado essencialmente com os
impactos que o lixo pode provocar ao cotidiano das pessoas.
O movimento da reciclagem, também pode ser atrelado às atividades relacionadas
com a gestão e triagem de resíduos, ao descarte correto de resíduos, à coleta seletiva, à
logística reversa, à ecoeficiência dos produtos, à gestão de resíduos e ao descarte incorreto
de resíduos, conforme identificado nas divulgações, em que as empresas analisadas
demonstram suas práticas relacionadas ao tema.
Entre as divulgações da Figura 17, o recorte “geração de centenas de empregos no
recolhimento da sucata” (Gerdau, 2019, p. 84), demonstra outro objetivo das empresas ao
desenvolverem esta prática, mostrando o porquê da sua classificação como superficial/rasa.
O fato de que a preocupação devido a reciclagem alcançou destaque nesta pesquisa,
pode ter sido influenciado pelas atividades das empresas selecionadas, pois algumas
produzem materiais que normalmente são descartados e podem ser utilizados para fabricação
de outros produtos, se passarem por um processo de reciclagem, principalmente o plástico, o
aço e o papel.
O próximo tópico está relacionado com práticas identificadas, que têm como foco
principal a saúde e o bem-estar das comunidades e também de alguns stakeholders, como
pode ser observado na Figura 19.
119
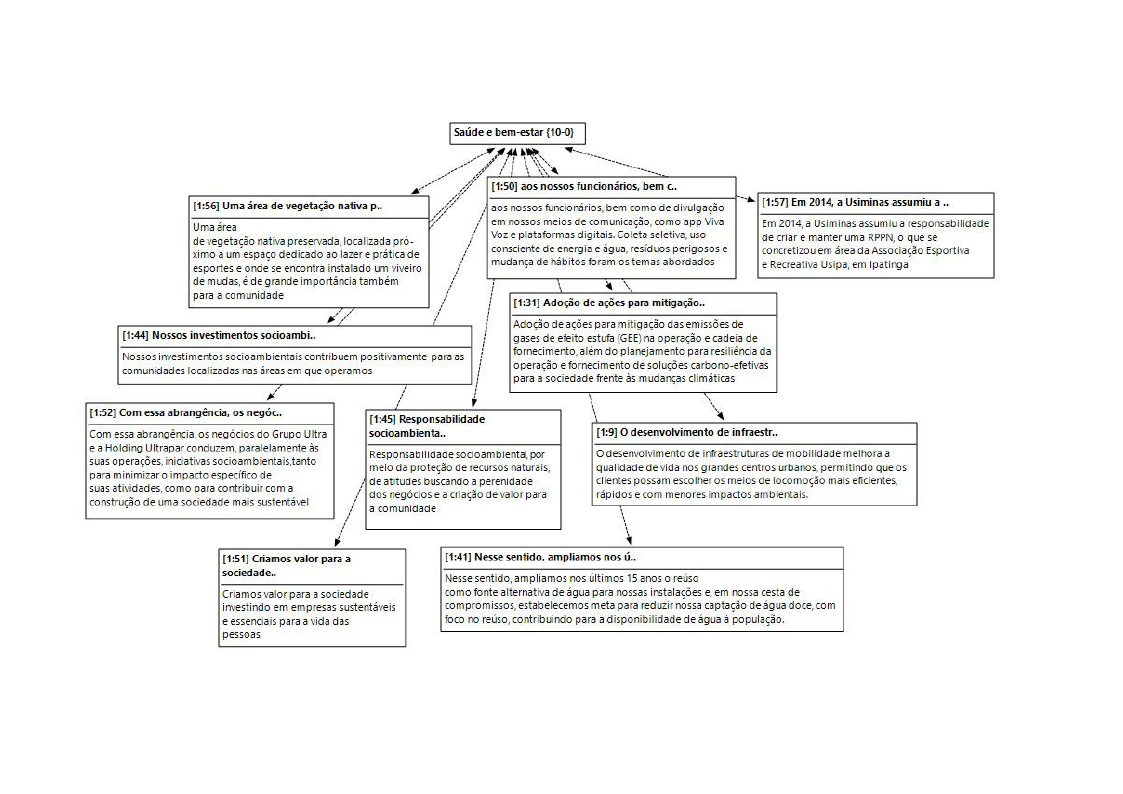
Figura 19 - Divulgações relacionadas com o meio ambiente e a saúde e bem-estar.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
120

Com base na Figura 19, outro tópico relevante nas divulgações classificadas como
superficiais/rasas e relacionadas ao meio ambiente, é o foco na saúde e bem-estar das pessoas.
Segundo Eckersley (1992), o movimento ambiental ligado a este aspecto, busca sempre um
ambiente humano agradável, seguro, limpo e confortável, tanto nos meios urbanos como nos
agrícolas, preocupado com a degradação de forma geral e em busca de resiliência no
ambiente físico e social, deixando de lado o crescimento econômico e se preocupando com
questões físicas, sociais, relacionadas a saúde, comodidade, recreação e psicologia social.
O objetivo da ecologia do bem-estar humano, é procurar garantir a qualidade
ambiental para os seres humanos, mostrando assim o antropocentrismo forte e justificando a
sua classificação como ecologia rasa (Eckersley, 1992; Wells, 1993). A ecologia do bem-
estar humano, pode ser identificada em divulgações que explicam a importância da
biodiversidade, em relação ao seu valor instrumental, para gerar um ambiente saudável e
agradável (Gaia & Jones, 2017).
Divulgações como “uma área de vegetação nativa preservada, localizada próxima a
um espaço dedicado ao lazer e prática de esportes” e “criar e manter um RPPN, o que se
concretizou em área de associação esportiva e recreativa” (Usiminas, 2019, p. 93), ou ainda,
“nossos investimentos socioambientais contribuem positivamente para as comunidades”
(Petrobras, 2019, p. 244), são bons exemplos da ecologia superficial, mostrando práticas
relacionadas com a saúde e o bem-estar das pessoas, porque, de acordo com Naess (1973),
Eckersley (1992) e Vincent (1993), o objetivo de práticas ambientais é manter a saúde e a
riqueza nos países desenvolvidos, assegurar a saúde e o bem-estar dos humanos, garantir a
manutenção da vida humana e maior bem para o maior número de indivíduos, tudo ligado a
ecologia superficial/rasa.
O próximo tópico está relacionado com práticas identificadas, que têm como foco
principal a administração de recursos, conforme exposto na Figura 20.
121
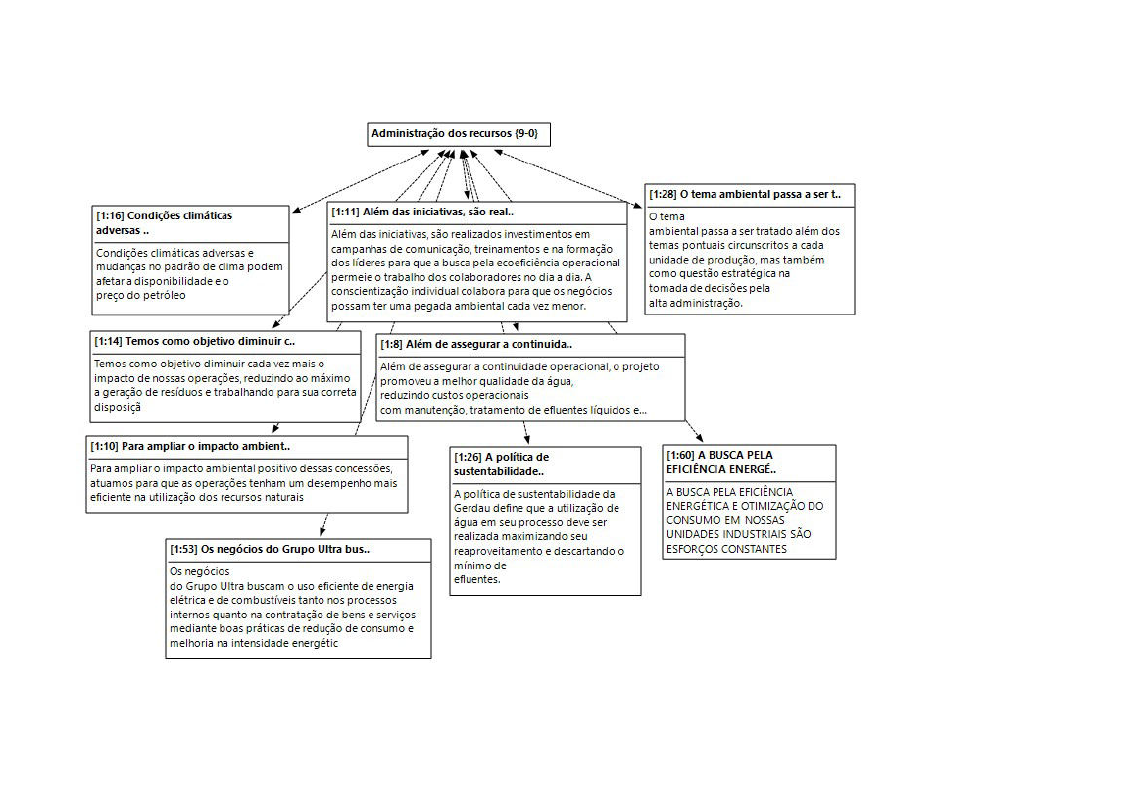
Figura 20 - Divulgações relacionadas com o Meio ambiente e a administração de recursos.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
122

Com base na Figura 20, outro tópico relevante nas divulgações classificadas como
superficiais/rasas e relacionadas ao meio ambiente, é o foco na administração dos recursos.
Segundo Sylvan (1985b), Connelly e Smith (2003) e Jones (2003), as ações relacionadas ao
meio ambiente, são orientadas para a administração e exploração dos recursos de que
necessitam, mostrando a característica principal das ações superficiais/rasas, relacionadas ao
antropocentrismo extremo, sempre com foco no homem e com a ideia da natureza como um
instrumento para os fins das pessoas, e no caso da pesquisa, para as necessidades das
empresas.
Estas observações, podem ser identificadas em divulgações como “o tema ambiental
passa a ser tratado além dos temas pontuais circunscritos a cada unidade de produção, mas
também como questão estratégica na tomada de decisões pela alta administração” (Gerdau,
2019, p. 82), e no recorte “buscam o uso eficiente de energia elétrica e de combustíveis”
(Ultrapar, 2019, p. 34).
O próximo tópico está relacionado com práticas identificadas, que têm seu foco
principal voltado para a dependência de soluções tecnológicas, que pode ser observada na
Figura 21.
123
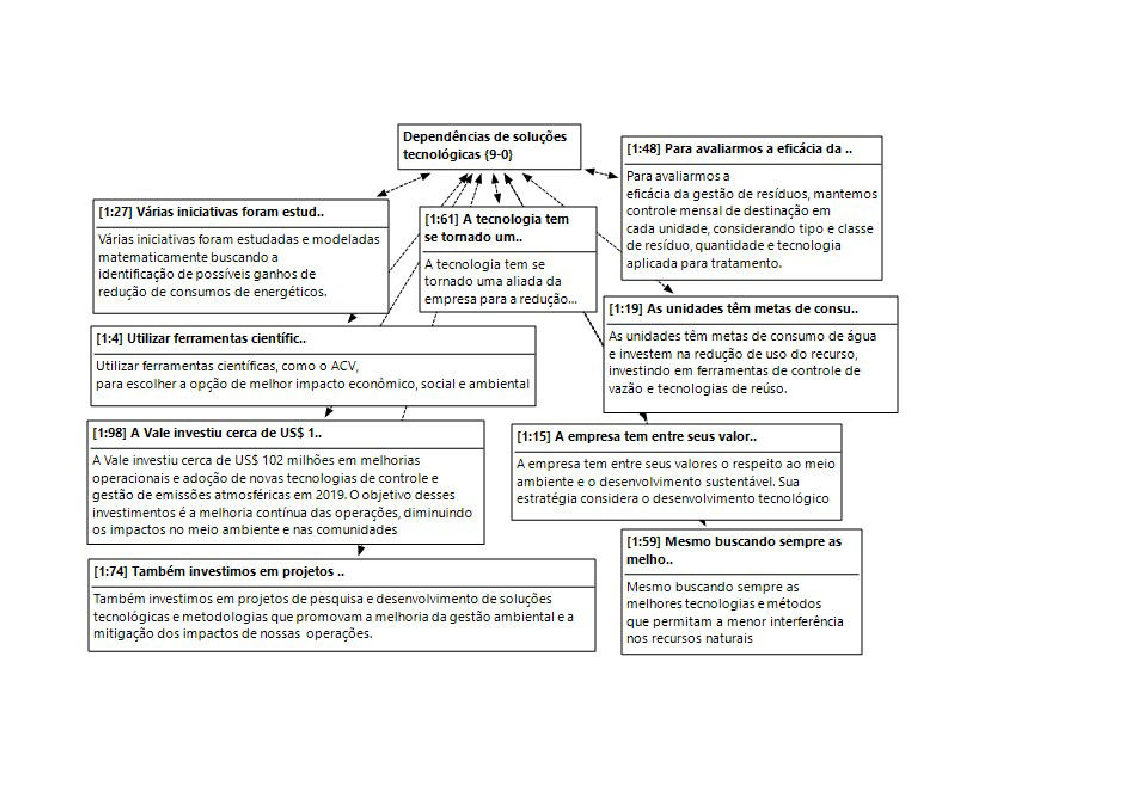
Figura 21 - Divulgações relacionadas com o meio ambiente e a dependência da tecnologia.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
124

Conforme relatado na Figura 21, outro tópico relevante nas divulgações classificadas
como superficiais/rasas e relacionadas ao meio ambiente, é o foco na dependência de
tecnologias, contribuindo com as ideias de Eckersley (1992), Gunn (2007) e Samkin e
Schneider (2014). Como recortes para exemplificar a dependência da tecnologia, têm-se
“buscando sempre as melhores tecnologias e métodos que permitam a menor interferência
nos recursos naturais” (Vale, 2019, p. 85), ou ainda, na divulgação “investiu-se em melhorias
operacionais e adoção de novas tecnologias de controle de gestão de emissões atmosféricas”
(Vale, 2019, p. 107), em que ambas demonstram como as empresas apostam na tecnologia,
quando se relacionam com o meio ambiente.
Com base nos tópicos relacionados às divulgações associadas a ecologia
superficial/rasa, é possível afirmar que a mesma possui relevância nas divulgações
ambientais dos relatórios de sustentabilidade analisados.
Consegue-se identificar diversos aspectos abordados no referencial teórico para
confirmar os achados, como o foco principal relacionado a natureza, como instrumento para
as empresas, defendido por Sylvan (1985b), Eckersley (1992), Samkin e Schneider (2014),
Baard (2015) e Gaia e Jones (2017), o pensamento que afirma o meio ambiente como
protegido com o objetivo de maximizar a saúde e bem-estar das pessoas, sustentado por
autores como Naess (1973), Sylvan (1985b), Rolston (1985, 1988), Eckersley (1992),
Vincent (1993), Wells (1993), Samkin e Schneider (2014), Samkin et al., (2014), Baard
(2015) e Gaia e Jones (2017), a administração de recursos provenientes da natureza, ideia
abordada por Sylvan (1985b) e a dependência de tecnologia para preservar e manter a
natureza, visão sustentada por autores como Eckersley (1992), Gunn (2007) e Samkin e
Schneider (2014).
4.4.2 Ecologia Intermediária
O segundo paradigma ambiental abordado é a ecologia intermediária, identificada em
66 parágrafos dos relatórios de sustentabilidade analisados, sendo caracterizada como um
antropocentrismo fraco, se comparada com a ecologia superficial/rasa, ao qual está mais
alinhada, em contraponto com a ecologia profunda (Samkin & Schneider, 2014). Em
qualquer conflito de interesses entre meio ambiente e pessoas, os objetivos dos humanos
prevalecem (Sylvan, 1985b). Neste movimento, a natureza até pode possuir valor intrínseco,
125
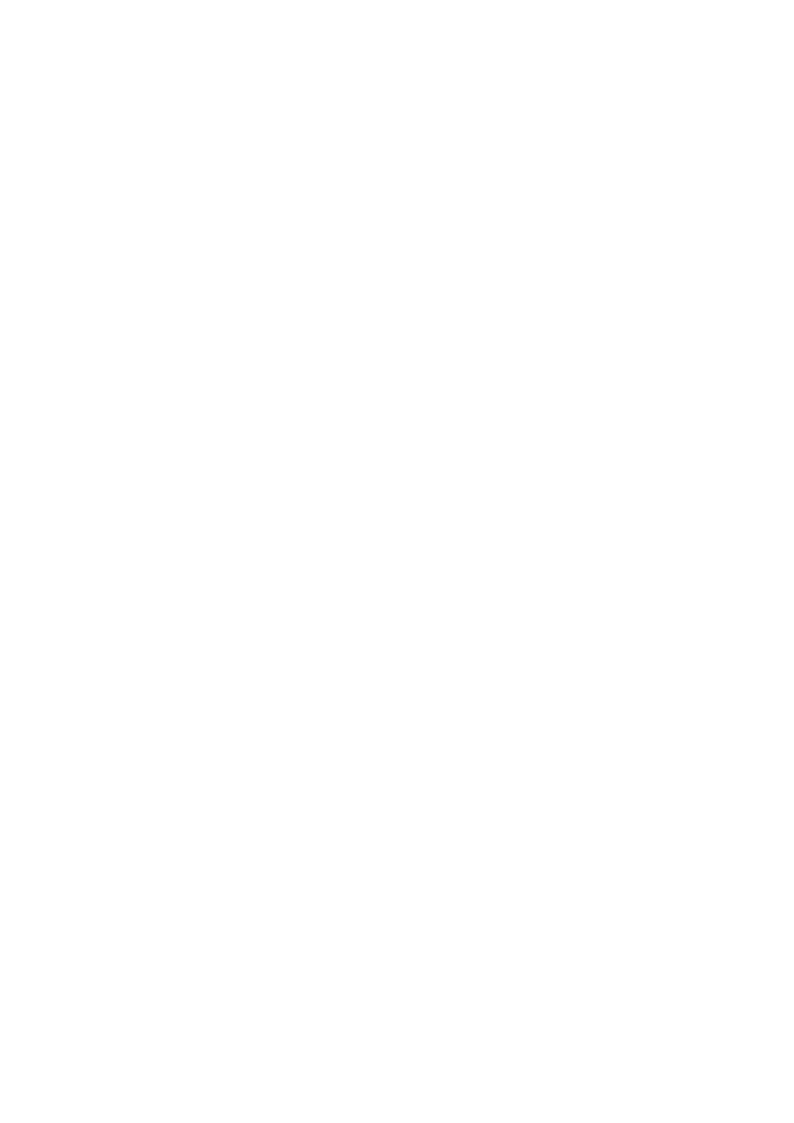
no entanto, ele está intimamente ligado aos interesses dos seres humanos e isto ainda
permanece semelhante a ecologia superficial/rasa (Gaia & Jones, 2017).
A ecologia intermediária está ligada ao dever moral das pessoas, com o princípio de
que todos podem utilizar os recursos naturais, porém devem mantê-los e aprimorá-los, para
que jamais se esgotem (Gaia & Jones, 2017). Ainda pode ser caracterizada, como um
movimento ligado a preservação do meio ambiente no presente, para garantir às futuras
gerações, condições semelhantes às atuais (Gaia & Jones, 2017).
Um exemplo inicial para demonstrar as características da ecologia superficial, pode
ser observado no recorte do Relatório de Sustentabilidade de 2019 da Rumo, conforme segue:
Mantemos planejamento de expansão e obras a serem realizadas, acompanhado pela
área de Meio Ambiente. Após identificar a necessidade de ampliação de um pátio,
por exemplo, a equipe de Fauna e Flora é acionada para estabelecer as atividades
relacionadas à supressão de vegetação e à proteção da fauna local. Antes da supressão
de vegetação – planejada por engenheiro florestal e precedida de inventário florestal
–, animais são afugentados e removidos para local seguro, com equipe especializada
composta por biólogos e médicos veterinários. Todos esses procedimentos estão
formalizados no Manual de Gestão de Obras. Além disso, na própria operação
ferroviária outras medidas de proteção à fauna e à flora são adotadas, com as medidas
de controle validadas pelo órgão ambiental competente (Rumo, 2019, p. 63).
Conforme o recorte, pode-se observar a preocupação relacionada a Rumo, quando a
mesma necessita de uma nova área para as suas atividades, pois contrata diversos
especialistas para controlarem e estabelecerem estratégias relacionadas a proteção do meio
ambiente, porém o objetivo principal, é a liberação do espaço para a execução das atividades
da organização. Isto corrobora com Sylvan (1985b), quando afirma que as preocupações
humanas estão em primeiro lugar. Samkin e Schneider (2014), também contribuem,
afirmando que a conservação da biodiversidade é realizada por seu próprio valor, mas não
onde as necessidades humanas seriam comprometidas.
A partir do recorte inicial, pode-se observar a Figura 22, com alguns trechos de
divulgações relacionadas a ecologia intermediária.
126
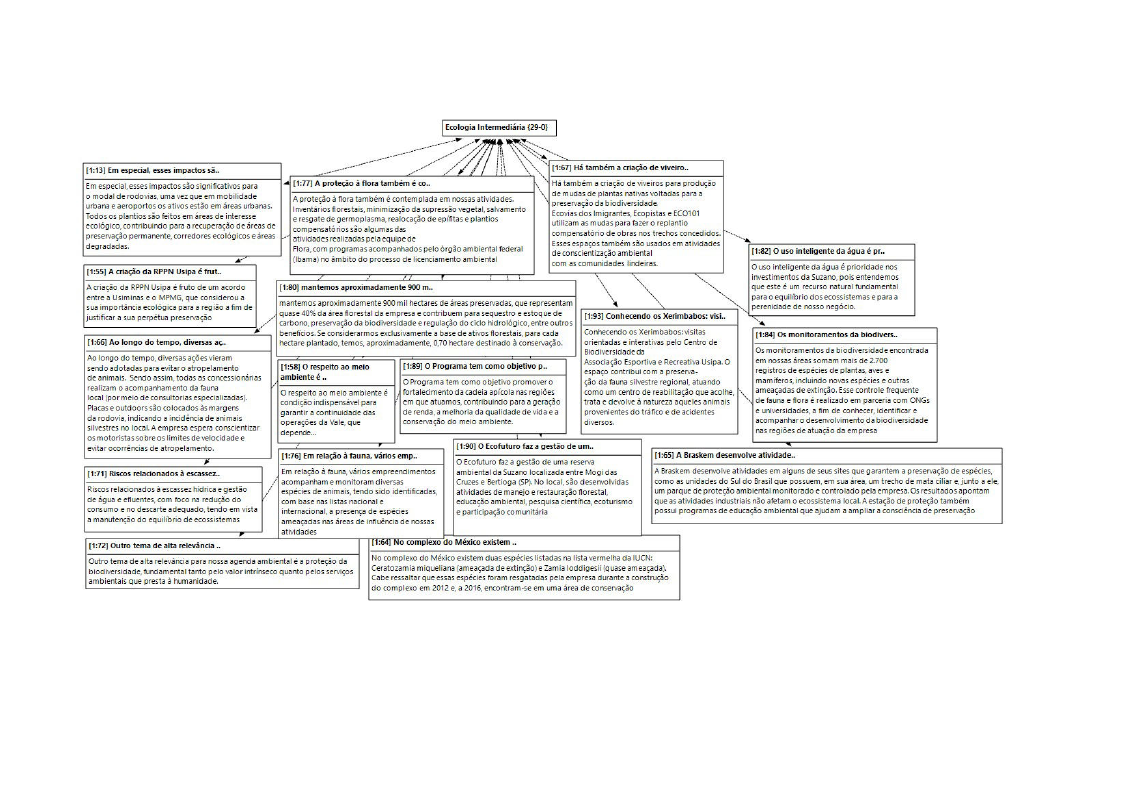
Figura 22 - Divulgações relacionadas com a Ecologia Intermediária.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
127

Com base na Figura 22, observa-se algumas das divulgações que são classificadas
como ecologia intermediária. O foco principal das referidas publicações, está relacionado
com a proteção da biodiversidade, ao monitoramento associado às questões ambientais,
porém sem divulgações concretas do que está sendo realizado e como principal característica
que define esta ecologia, o foco na natureza, relacionado às ações e estratégias das empresas.
Em outro recorte da Figura 22, afirma-se que “o uso inteligente da água é prioridade
nos investimentos da Suzano, pois entendemos que este é um recurso natural fundamental
para o equilíbrio dos ecossistemas e para a perenidade de nosso negócio” (Suzano, 2019, p.
58), destacando o duplo interesse, tanto em relação aos ecossistemas, como na manutenção
de suas atividades a longo prazo.
Outro exemplo, “no complexo do México existem duas espécies ameaçadas de
extinção, e que foram identificadas e resgatadas pela empresa, pois a organização iria
construir realizar ampliações para suas atividades e os animais foram realocados em uma
área de conservação” (Braskem, 2019, p. 115). Esta prática contribui com o pensamento de
Eckersley (1992), que afirma que as pessoas possuem um valor moral com seres que podem
experimentar prazer e dor, assim protegem os habitats de animais selvagens, como peixes e
aves, pois estes lugares têm valor instrumental para diversas espécies.
4.4.3 Ecologia Profunda
A terceira ecologia abordada é a profunda, que foi identificada apenas em práticas
isoladas, nos relatórios de sustentabilidade das empresas analisadas. Os recortes
contabilizaram apenas 10 parágrafos, que podem ser considerados como indícios de algumas
iniciativas, mesmo que isoladas e pequenas, porém com princípios convergentes a Ecologia
Profunda. A representatividade observada nos relatórios de sustentabilidade, já seria prevista
com a opinião de Arne Naess em 1973, comparando este movimento com a ecologia
superficial, quando define os dois movimentos, um raso e poderoso e outro, profundo e
menos influente, que entre si competem, para ter uma posição principal.
Este movimento tem como característica principal, o valor intrínseco da natureza, não
precisando ter uma utilidade, conforme os outros dois movimentos, para ser considerada
importante e preservada (Naess, 1973). Neste, a relação entre humanos e meio ambiente, é
considerada mais profunda do que simplesmente uma utilidade a ela atribuída, e isso ocorre
quando o ser humano é visto como parte da natureza (Hoefel, 1999). Assim, os exemplos das
divulgações podem ser observados na Figura 23.
128
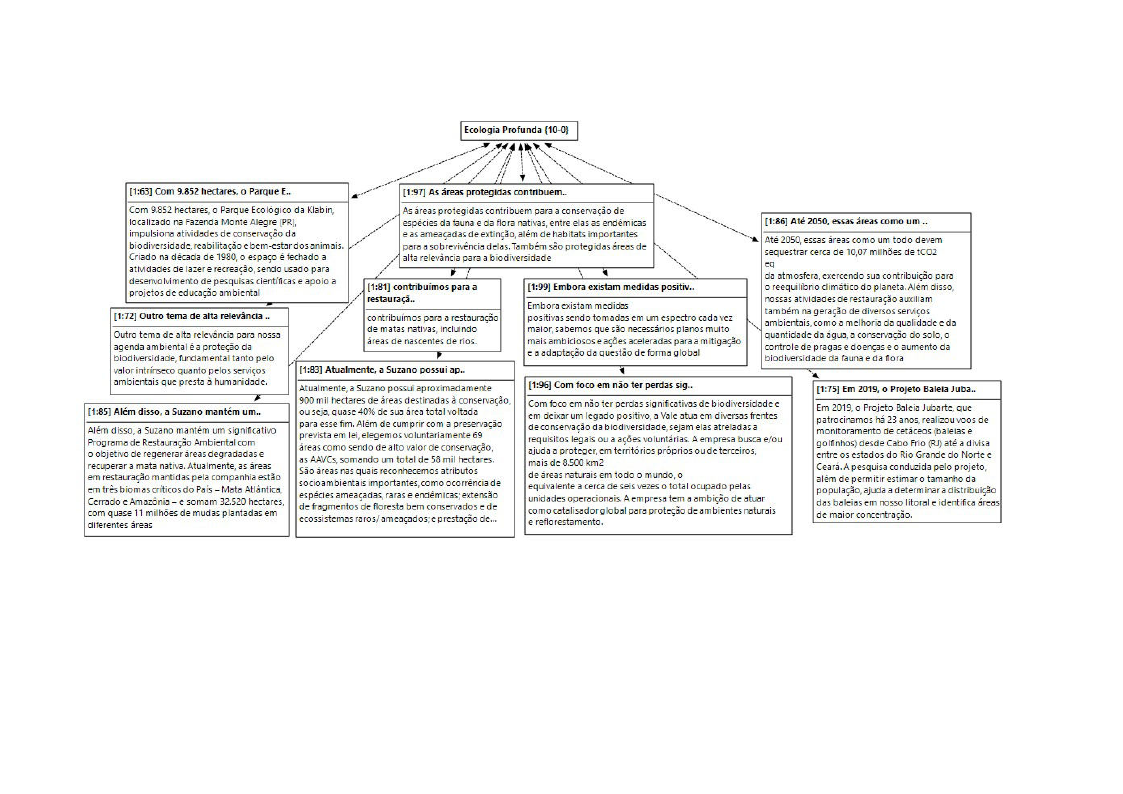
Figura 23 - Divulgações relacionadas com a Ecologia Profunda.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
129

É possível afirmar, com base na Figura 23, que um dos recortes menciona a criação
de um parque ecológico com 9.852 hectares, exclusivamente para a conservação da
biodiversidade, sendo uma característica importante observada, quando a empresa menciona
que o espaço é fechado para atividades de lazer e recreação, reforçando assim seu
compromisso com a natureza, sendo que apenas pesquisas científicas são permitidas, que
normalmente também possuem como foco o ambiente natural. Isso pode ser uma prática
inicial, que contribui com a ideia de Samkin e Schneider (2014), quando argumentam que
mesmo as preocupações humanas sérias, às vezes devem perder para os valores ambientais.
Outro recorte que deve ser observado, é quando a empresa identifica a relevância da
preservação ambiental para biodiversidade e lhe atribui valor intrínseco, característica
fundamental do movimento da ecologia profunda, defendida desde o seu surgimento com
Naess no ano de 1973. Porque segundo Samkin e Schneider (2014), o valor da biodiversidade
não depende de sua utilidade para os humanos, pois a riqueza e a diversidade das formas de
vida, contribuem para o valor e são valiosas em si, como na prática divulgada, quando a
empresa desenvolve o “programa de restauração ambiental com o objetivo de regenerar áreas
degradadas e recuperar a mata nativa”.
Restauração de matas com o objetivo de proteger nascentes das águas, manter áreas
protegidas para preservar espécies da fauna e flora e proteção de habitats importantes para a
sobrevivência dos animais e plantas, são outros aspectos que demonstram algumas práticas
com o olhar profundo sobre o meio ambiente, contribuindo também com Samkin e Schneider
(2014), quando afirmam que práticas relacionadas a preservação de áreas silvestres intocadas,
bem como, restauração ambiental de espécies nativas e áreas silvestres degradadas, são
caracterizadas como atitudes voltadas a ecologia profunda.
Outro ponto observado, é quando a empresa elege voluntariamente (além da prevista
em Lei), mais 69 áreas consideradas relevantes para a conservação, pois abrigam espécies
ameaçadas, raras e endêmicas, fato este que mostra a preocupação por parte da empresa, com
o valor da natureza em si, valor intrínseco que possui, mesmo não sendo visualizada alguma
utilidade aparente para os homens.
Outra divulgação que pode ser utilizada como sinal de que algumas empresas estão
buscando práticas relacionadas à ecologia profunda, ocorre quando a organização afirma que
“sabemos que são necessários planos muito mais ambiciosos e ações aceleradas para a
mitigação e a adaptação da questão ambiental de forma global” (Suzano, 2019, p. 62),
contribuindo com Naess (1983) apud Akamani (2020), que afirma que o movimento da
130
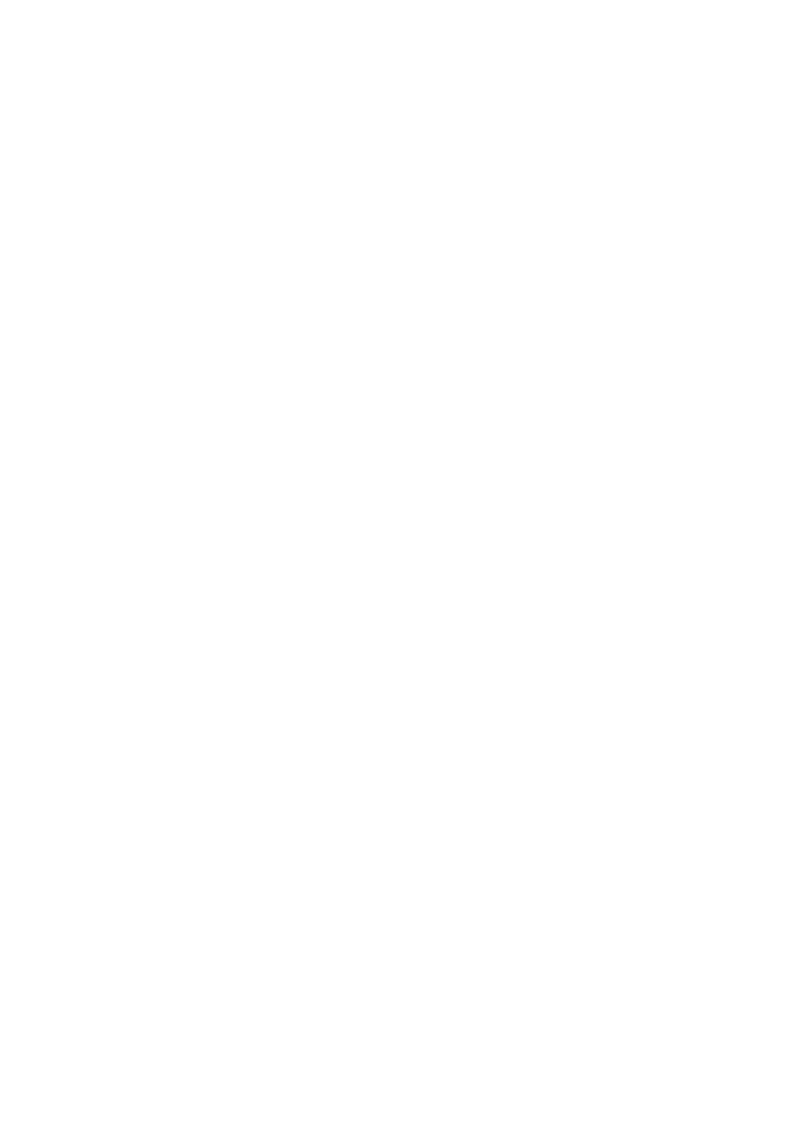
ecologia profunda, defende a ideia de existir mudanças transformadoras nas instituições
sociais e políticas, para contribuir com a preservação da natureza.
Outro projeto desenvolvido por uma das empresas analisadas, é o monitoramento das
baleias Jubarte, mostrando o conceito de igualitarismo biosférico, defendido por autores da
ecologia profunda, como Naess (1973) e Hoefel (1999), que argumentam que animais, como
a baleia, possuem valor em si e como a empresa exerce suas atividades em locais que elas
habitam, devem se preocupar com elas, mesmo que estas não afetem as suas atividades.
Com as divulgações analisadas, pode-se observar que o valor intrínseco, a
diversidade, a interferência humana e as mudanças de política, são aspectos que podem ser
observados e relacionados com a plataforma da ecologia profunda, proposta por Naess e
Sessions (1984), em que afirma estas como quatro de oito características principais, de um
movimento ecológico profundo.
Assim, para responder ao segundo objetivo específico, que é “identificar as
divulgações sobre o meio ambiente de acordo com as suposições das filosofias ecológicas
superficiais/rasas, intermediárias e profundas”, conclui-se que a ecologia superficial/rasa,
representa o principal foco das empresas analisadas, pois suas práticas relacionadas ao meio
ambiente, tem por finalidade a atenção aos valores próprios e objetivos relacionados à
manutenção das suas atividades.
O segundo movimento mais representativo, porém, que não possui a metade de
observações da ecologia superficial/rasa, é a ecologia intermediária, ligada principalmente
com alguns aspectos que se preocupam com práticas ambientais, porém ainda intimamente
ligados com práticas relacionadas a objetivos próprios, não necessariamente preocupados
com a natureza.
Por último, o movimento com menor força entre as empresas analisadas, é a ecologia
profunda, pois apenas algumas iniciativas isoladas, podem ser caracterizadas com aspectos
associados a este movimento.
4.5 ANÁLISE COMPARATIVA DA PRIORIZAÇÃO DOS STAKEHOLDERS E AS
ECOLÓGICAS PROFUNDAS, INTERMEDIÁRIAS E SUPERFICIAIS
Para responder ao terceiro objetivo específico, que é “comparar as filosofias
ecológicas e a priorização dos stakeholders identificados nas divulgações ambientais, para
verificar as contradições”, é necessário buscar a relação com base na Teoria do Stakeholder
131
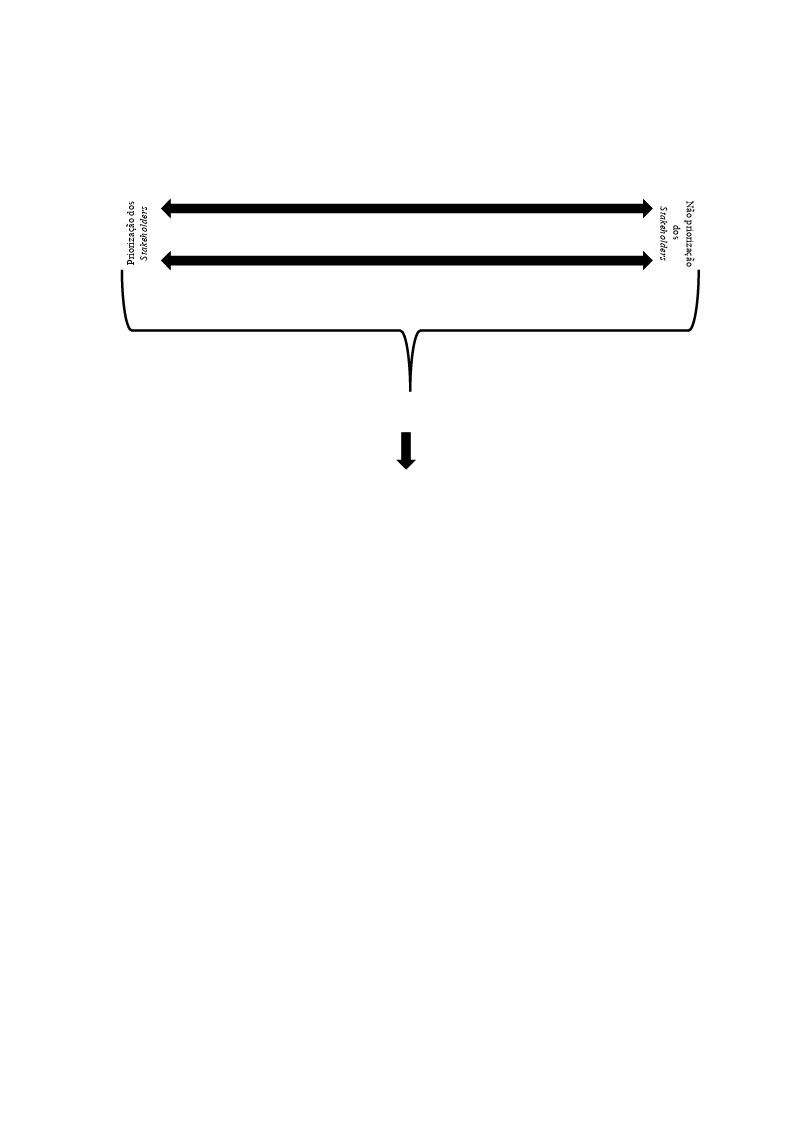
e dos paradigmas ambientais. Para esta integração, pode ser visualizada a Figura 23, que
propõe a amarração das duas correntes teóricas.
Valor Instrumental
Valor Instrumental/Valor Intrínseco
Valor Intrínseco
Ecologia Rasa ou
S uperfi cial
Ecologia
Intermediária
Ecologia
Profunda
A n trop o cent ris mo
A n tro po cen tris mo /
Ecocentrismo
Ecocêntris mo
QUES TÕES
AMBIENTAIS
EMPRESA
Figura 24 - Relação entre os stakeholders e os paradigmas ambientais.
Fonte: Elaborado pelo autor com base no referencial teórico da pesquisa (2021).
Com base na Figura 24, identifica-se a relação existente entre as proposições da
Teoria do Stakeholder e dos paradigmas ambientais, sendo que a base nesta pesquisa são as
empresas e posteriormente, as questões ambientais identificadas através das divulgações
sobre o meio ambiente, nos relatórios de sustentabilidade.
Práticas relacionadas a priorização dos stakeholders, devem ser classificadas como
ecologicamente superficiais/rasas, ainda mais se as partes interessadas possuírem os atributos
de urgência, poder e legitimidade, sendo a natureza vista com valor instrumental e as
empresas, como possuidoras de uma forte visão antropocêntrica.
Belal (2002) define que os stakeholders devem ser considerados “forças poderosas”
na dinâmica social e assim, segundo Deegan (2002), as empreas buscam se legitimar perante
a sociedade, buscando divulgar informações sociais e ambientais. Os argumentos anteriores
podem ser enquadrados como rasos, pois conforme Naess (1973), a ecologia rasa luta contra
a poluição e o esgotamento dos recursos, porém o objetivo central é manter a saúde e a
riqueza nos países desenvolvidos.
Ainda, segundo o modelo de priorização dos stakeholders, Mitchell et al. (1997),
afirma que a relevância das partes interessadas está positivamente relacionada ao número
cumulativo de atributos - poder, legitimidade e urgência – percebidos pelos gerentes e assim,
132

segundo os resultados desta pesquisa, Governo e Comunidade apresentaram os três atributos,
por isso devem ser considerados prioritários e com capacidade de influenciar nas decisões.
Assim, a empresa não consegue ser “Deep Ecology”, pois práticas profundas relacionadas ao
meio ambiente devem ter como foco principal a própria natureza (Naess, 1973, Sylvan,
1985b, Vincent, 1993).
Quando a prática relacionada ao meio ambiente, for justificada por causa do seu valor
em si e ao mesmo tempo, tiver algum vínculo por pressão de alguma parte interessada ou por
objetivos próprios da empresa, a mesma deve ser classificada como intermediária, podendo
considerar a natureza com valor instrumental e intrínseco e possibilitando assumir uma
posição antropocêntrica ou ecocêntrica.
Sylvan e Bennett (1994) apud Gaia e Jones (2017) afirma que as ecologias
intermediárias ampliam os valores intrínsecos a algumas entidades não humanas e esse seria
o avanço em comparação a ecologia rasa.
Já quando a prática relacionada ao meio ambiente for justificada, somente devido ao
seu valor em si (valor intrínseco) e o meio ambiente for considerado o stakeholder, a posição
assumida pela empresa é ecocêntrica e as partes interessadas não possuem espaço.
Clarkson (1995) classifica como stakeholders secundários o grupo “Grupos de
Interesse” de forma genérica, em que a empresa pode enquadrar outras partes interessadas
que surgem e neste caso, o meio ambiente pode ser um deles. Segundo a priorização dos
stakeholders, o meio ambiente não se apresentou prioritário para as empresas analisadas e
consequentemente não possui os atributos de poder, legitimidade e urgência e não conseguem
por si só, influenciar nas decisões das organizações.
Entre as práticas possíveis relacionadas ao meio ambiente, a empresa pode seguir
conceitos ligados a determinados stakeholders, sendo identificado na Teoria, como
priorização de determinada parte interessada e segundo as análises, o Governo e as
Comunidades possuem os atributos considerados necessários, para poder exercer pressão
sobre práticas relacionadas ao Meio Ambiente.
Quando a empresa considera que determinada parte interessada exerce poder,
legitimidade e urgência, ela adota práticas com o foco nos stakeholders identificados e
consequentemente, acaba possuindo características da filosofia superficial/rasa, pois quando
uma empresa opta por práticas relacionadas à natureza, devido a interesses pessoais ou de
determinados grupos de interesse, suas ações consideram o meio ambiente como um
instrumento para fins humanos.
133

Com isso, quando identificado que uma empresa possui atitudes seguindo
determinada parte interessada, pode-se dizer que ela pratica uma ecologia superficial/rasa e
é considerada antropocêntrica, ou seja, voltada para os interesses humanos. Isto pode ser
observado na Figura 25.
134
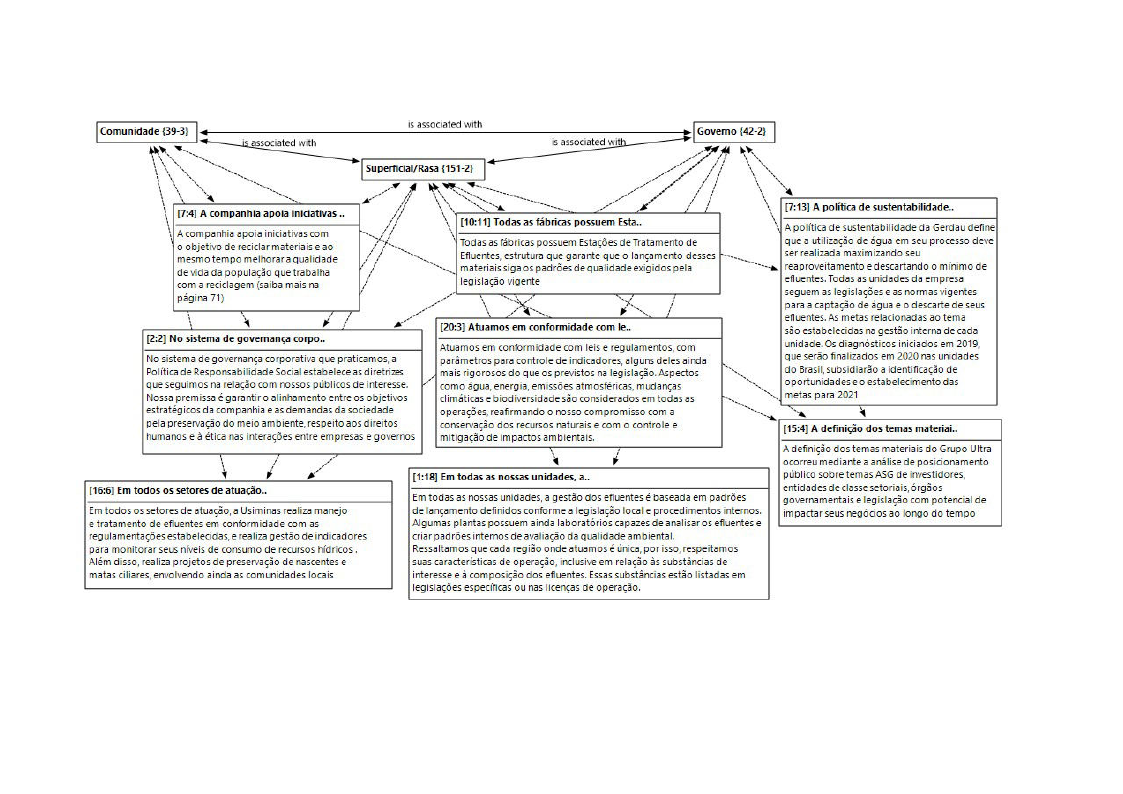
Figura 25 - Divulgações relacionadas a ecologia superficial/rasa, Governo e Comunidade.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
135
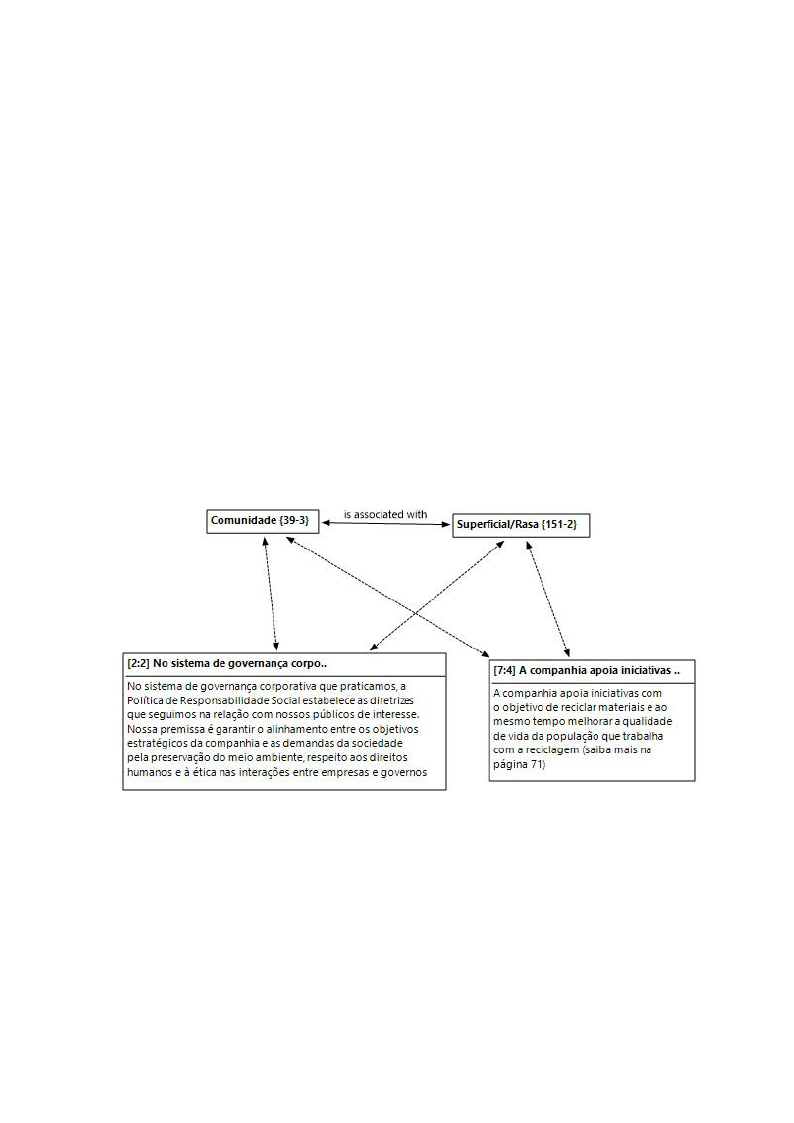
De acordo com a Figura 25, podem ser destacadas algumas divulgações que
demonstram a relação entre o paradigma superficial/raso e os stakeholders identificados
como salientes (Governo e Comunidade). Isso demonstra a ideia da Figura 24, de que existe
relação entre a empresa priorizar determinada parte interessada e ser superficial, nas práticas
relacionadas ao meio ambiente.
Clarkson (1995) afirma que partes interessadas que apresentam so três atributos de
salicencia irão ser prioritárias nas decisões dos gestores e o foco sendo eles, Naess (1973)
argumenta que a pratica é superficial/rasa.
Outro exemplo para demonstrar a relação, é o tópico da administração de recursos,
apresentado por Sylvan (1985b), que é característico do movimento superficial/raso e o termo
“administrar ou controlar” pode ser remetido ao atributo de poder, com base no modelo de
saliência dos stakeholders (Mitchell et al. 1997), principalmente ligado aos governos e
comunidades. Já em relação ao tópico de saúde e bem-estar, pode ser verificada a Figura 26.
Figura 26 - Divulgações relacionadas a ecologia superficial/rasa e comunidade com foco no bem-estar.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
Segundo a Figura 26, outro tópico abordado na ecologia superficial/rasa, é em relação
a saúde e bem-estar das pessoas (Naess, 1973; Sylvan, 1985b; Samkin & Schneider, 2014;
Baard, 2015) e como principal stakeholder, pode-se identificar a comunidade, que pressiona
as empresas e exige práticas que amenizem e melhorem a condição de vida, principalmente
nas proximidades das instalações onde as empresas atuam.
136

Em relação a ecologia intermediária, apresenta-se a Figura 27, que mostra a relação
existente entre o governo e a comunidade (stakeholders salientes), o meio ambiente (pode
ser considerado como stakeholder) e a ecologia intermediária.
137
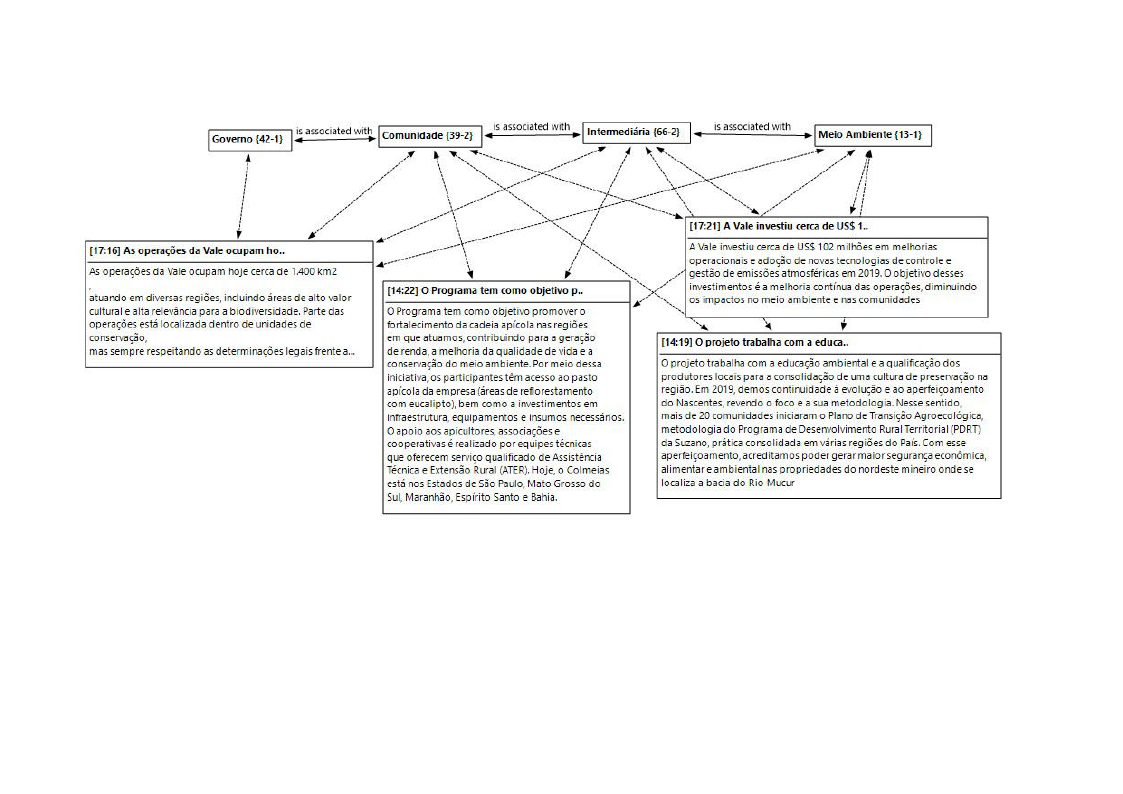
Figura 27 - Divulgações relacionadas a ecologia intermediária, governo, comunidade e Meio Ambiente.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
138
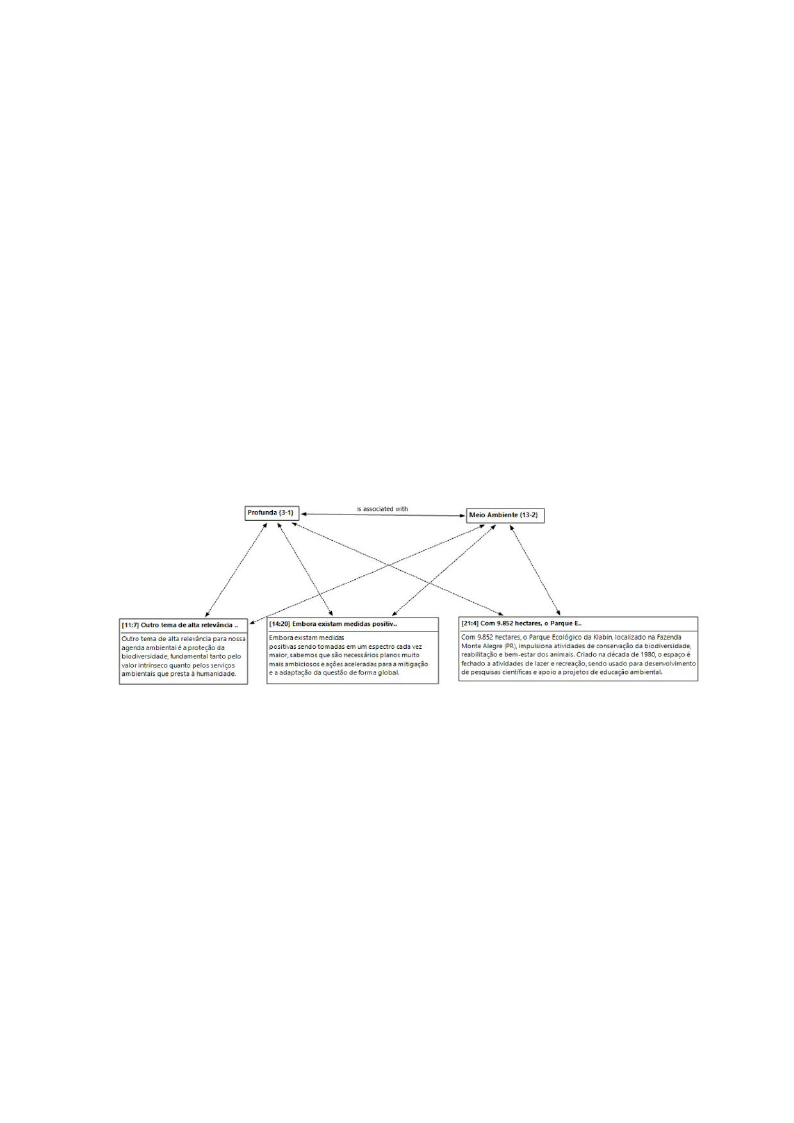
Ao verificar as informações apresentadas na Figura 27, percebe-se a relação existente
entre os stakeholders comunidade, governo e meio ambiente e a ecologia intermediária, que
mostra quando a empresa possui objetivos próprios e estes estão associados a práticas
também focadas na natureza, podendo ser considerado um equilíbrio entre as duas posições
extremas, pois apresenta características da ecologia superficial/rasa e da ecologia profunda.
Para Gaia e Jones (2017), a ecologia intermediária entende que o planeta possui um
valor intrínseco, no entanto, este valor esta relacionado aos interesses das pessoas e isso a
torna superficial/rasa.
Por outro lado, em relação a ecologia profunda, esta pode ter relação com os
stakeholders, se o próprio meio ambiente for considerado um, assim uma empresa que focar
em práticas ambientais e entender que o meio ambiente é um stakeholder, estaria praticando,
conforme a Figura 28, uma ecologia profunda, voltada para o valor intrínseco da natureza.
Esta proposição pode ser observada na Figura 28.
Figura 28 - Divulgações relacionadas a ecologia profunda e o stakeholder Meio Ambiente.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos RS (2021).
Com base na Figura 28, as empresas podem apresentar uma posição profunda
relacionada ao meio ambiente, se entenderem que a natureza também pode assumir a posição
de stakeholder principal, assim, as práticas relacionadas a ela possuem objetivos voltados
para a sua preservação, devido ao seu valor intrínseco.
Assim, para a empresa possuir mais atitudes voltadas a ecologia profunda, a mesma
deve priorizar a natureza como stakeholder saliente e preioritário, observando-o como
possuidor dos atributos de poder, legitimidade e urgência e como parte interessada primária,
conceitudados por Clarkson (1995) e Mitchell et al. (1997).
Naess (1973) argumenta que deve existir uma relação intrínseca entre os humanos e
o meio ambiente, para que ocorram mudanças transformadoras nas instituições sociais e
139

políticas e assim, a meta de sustentabilidade possa ser atingida. Para Sylvan (1985b), a
ecologia profunda quer mostrar que os humanos não estão acima ou fora da natureza, mas
fazem parte dela e devem se preocupar, mostrar reverência e respeito, pois ela é a sua casa.
A contradição ocorre, quando as empresas realizam a divulgação relacionada ao meio
ambiente, focando nos stakeholders prioritários (Governo e Comunidade), pois conforme os
autores da ecologia profunda, o foco deve estar na natureza e no seu valor em si, não apenas
no valor instrumental, como é característico da ecologia superficial/rasa (Naess, 1973;
Sylvan, 1985b; Vincent, 1993; Hoefel, 1999; Samkin & Schneider, 2014).
Ao analisar as divulgações ambientais com base na ecologia profunda, pode-se
observar que as empresas estão priorizando determinadas partes interessadas, sendo que as
práticas ambientais se tornam um meio, para alcançar os objetivos da organização.
O Governo é focado para atender a legislação e regulação que é imposta e é por esse
motivo, que empresas realizam boa parte das ações, buscando sempre destacar que as
regulações ambientais estabelecidas sobre o setor econômico que atua, estão sendo
cumpridas, corroborando com Gadenne et al. (2009), Aguinis e Glavas (2012) e Lopes
(2015), que argumentam que uma legislação específica, contribui para uma maior
preocupação voltada ao meio ambiente.
A Comunidade exige principalmente, saúde e bem-estar próprio e para alcançar este
objetivo, a conservação da natureza é essencial e a empresa com uma visão de potenciais
compradores, por exemplo, busca divulgar práticas que contribuem com a melhora nas
condições de vida, como a criação de locais de conservação para atividades esportivas e
recreativas, bem como, argumenta que luta contra a poluição e o esgotamento dos recursos,
para que no final possam criar um ambiente humano agradável.
Como Governo e Comunidade foram identificados como salientes, de acordo com o
modelo de Mitchell et al. (1997), e com a utilização das palavras-chave do estudo de
Boaventura et al. (2017), quando a empresa identifica estas partes interessadas, o foco das
divulgações volta-se para elas.
As divulgações revelam as divergências entre os stakeholders prioritários e a ecologia
profunda, quando sua comunicação nos relatórios de sustentabilidade, foca determinadas
partes interessadas nos tópicos sobre o meio ambiente, principalmente Governo e
Comunidade, fazendo com que o ambiente natural torne-se um instrumento para cumprir as
exigências dos públicos de interesse salientes.
140

Assim, como o meio ambiente não foi identificado como um stakeholder prioritário,
as práticas voltadas a ele são principalmente com o objetivo de atender as imposições dos
públicos de interesse, que possuem atributos que lhe conferem o poder de influenciar, logo
mostrando a contradição existente entre stakeholders prioritários e ecologia profunda, que
gera práticas superficiais/rasas e que de acordo com Jacob (1994), as principais perspectivas
sobre o meio ambiente são superficiais, voltadas para o controle da poluição e da degradação
dos recursos, tendo como foco o ser humano e consequentemente, são incompatíveis com as
mudanças necessárias para enfrentar a crise ambiental.
141

5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo geral deste estudo, consistiu em analisar de que maneira as divulgações
sobre o meio ambiente podem revelar as contradições entre os stakeholders prioritários e as
filosofias ecológicas, contidas nos relatórios de sustentabilidade.
Como resposta ao objetivo principal, as divulgações ambientais revelaram que as
empresas estão focando os stakeholders prioritários (Governo e Comunidade), pois os dois
apresentaram os atributos que os caracterizam como salientes e assim, possuem poder para
influenciar as práticas relacionadas a natureza, contrariando os pressupostos da ecologia
profunda, que argumenta que o foco deve estar no valor intrínseco do ambiente natural e este
deve assumir o papel de parte interessada principal, revelando assim as contradições
existentes nas divulgações sobre o meio ambiente.
Assim, pode-se concluir que as práticas relacionadas ao meio ambiente, podem estar
sendo utilizadas como mecanismos para mostrar aos stakeholders, o que a organização está
realizando e assim, o resultado final que seria a preocupação voltada para a responsabilidade
social corporativa, pode estar sendo comprometido.
As divulgações sobre o meio ambiente nos relatórios de sustentabilidade, revelaram
que a empresa pode realizar algumas escolhas, quando possui práticas relacionadas com a
natureza. Ela pode escolher, em relação ao seu foco e acaba sendo direcionada por
determinada parte interessada, por possuir aspectos que a tornam relevante para os gerentes,
fazendo com que seus anseios sejam atendidos, tirando o foco do principal, que seria o meio
ambiente e assim, não optam por realizar práticas relacionadas com a ecologia profunda.
Com isso, as contradições se revelam quando a empresa divulga informações
ambientais com o objetivo de atender as reeividicações dos stakeholders e as práticas
ambientais são utilizadas para cumprir o que esta sendo importo pelas partes interessadas,
contrariando os pressupostos da ecologia profunda.
Além do objetivo geral, estabeleceram-se três objetivos específicos. O primeiro, foi
mapear quais stakeholders são prioritários nas divulgações sobre o meio ambiente. Foram
identificados, portanto, 118 parágrafos relacionados com alguma parte interessada, entre as
401 páginas que apresentavam alguma informação relacionada ao Meio Ambiente. Os
stakeholders que apresentaram atributos de poder, urgência e legitimidade, foram Governo e
Comunidade.
142

O Governo é considerado como prioridade nas divulgações e isso faz com que, nas
empresas analisadas, se torne uma parte interessada primária, contrariando o referencial
teórico, que trazia-o como secundário, segundo Clarkson (1995) e Freeman et al. (2010),
porém confirmando os achados de Huang e Kung (2010). Em relação às comunidades, estas
já eram inicialmente consideradas como primárias, de acordo com Clarkson (1995) e
Freeman et al. (2010).
Também foram identificadas relações com partes interessadas como clientes,
funcionários, fornecedores, investidores, concorrentes e as ONGs. Porém estes, não
apresentaram atributos com base no modelo de saliência utilizado, somente foram citados
nas divulgações ambientais.
O segundo objetivo específico, foi identificar as divulgações sobre o meio ambiente,
de acordo com as ecologias superficiais/rasas, intermediárias e profundas, propostas
inicialmente por Naess (1973). Com base nos relatórios de sustentabilidade, 150 parágrafos
foram classificados com práticas relacionadas a ecologia superficial/rasa, 66 parágrafos
relacionados com a ecologia superficial e 10 parágrafos com a ecologia profunda.
As divulgações relacionadas com a ecologia superficial, direcionam seu foco para a
natureza e consideram-na como um instrumento para as empresas, apostam na reciclagem
dos materiais. A sua preocupação é voltada para a saúde e bem-estar das comunidades, se
apoiam na administração dos recursos e possuem uma dependência por soluções
tecnológicas.
As práticas identificadas como intermediárias, possuem como característica principal,
o foco no valor da natureza para a empresa e o seu valor intrínseco, possuindo aspectos
relacionados aos outros dois paradigmas.
Por fim, a ecologia profunda foi identificada em práticas que podem ser consideradas
isoladas, se comparadas com as demais, porém podem ser indícios de iniciativas voltadas
para o valor intrínseco do meio ambiente, deixando em segundo plano os objetivos das
empresas.
Assim, as divulgações ambientais são, na sua maioria, classificadas como
superficiais/rasas e intermediárias, possuindo como foco as partes interessadas.
O terceiro objetivo específico, que já estava alinhado com o objetivo geral, consistiu
em comparar as filosofias ecológicas e a priorização dos stakeholders, identificados nas
divulgações ambientais, para verificar as contradições. Para tanto, foram analisadas de forma
conjunta, a Teoria do Stakeholder e os paradigmas ambientais e foi possível identificar, que
143

práticas relacionadas com o movimento da ecologia superficial/rasa, possuem a priorização
dos stakeholders Governo e Comunidade. Já iniciativas consideradas ecologicamente
profundas, possuem como stakeholder principal e único, o próprio meio ambiente, enquanto
que as ecologias intermediárias, possuem ambos os focos, sendo possível identificar a
preocupação voltada para o meio ambiente e para as necessidades de determinadas partes
interessadas.
Apresenta-se como limitação do estudo, a utilização apenas do Relatório de
Sustentabilidade como base, para análise de conteúdo, tendo em vista que poderiam ser
identificadas outras características, se fossem realizadas consultas em outros materiais, ou
até mesmo por meio de entrevistas, com os preparadores dos relatórios. Outra limitação está
nas empresas analisadas e por conta disso, os resultados não podem ser generalizados.
Como sugestão para trabalhos futuros, pode-se utilizar o conceito de legitimação,
relacionada com os paradigmas ambientais, pois em algumas práticas conseguiu-se
identificar possíveis relações. Outra sugestão, seria a realização de entrevistas com os
preparadores dos relatórios, para verificar o seu posicionamento em relação aos stakeholders
e sobre os paradigmas ambientais. Reformular a questão de stakeholders primários e
secundários, no que diz respeito às práticas relacionadas ao meio ambiente, pois alguns
achados demonstraram que o foco pode ser diferente, quando as empresas se relacionam com
práticas de responsabilidade social.
Outra sugestão, seria aprofundar sobre quais temas ambientais são considerados
prioritários para as empresas, buscando assim, compreender a relação deles com
determinados stakeholders e verificar diferenças de resultados, caso as empresas analisadas
sejam de outros segmentos ou que não façam parte da listagem do ISE.
144

6 REFERÊNCIAS
Abdullah, M., Hamzah, N., Ali, M. H., Tseng, M. L., & Brander, M. (2020). The Southeast
Asian haze: The quality of environmental disclosures and firm performance. Journal of
Cleaner Production, 246, 118958. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118958
Adams C., Hill W., & Roberts C. (1998). Corporate Social Reporting Practices in Western
Europe: Legitimating Corporate Behavior. British Accounting Review, 30(1), 1–21.
Adams, W. M. (2006). The future of sustainability: Re-thinking environment and
development in the twenty-first century. In Report of the IUCN renowned thinkers
meeting (Vol. 29, p. 31).
Aguilera, R. V., Rupp, D. E., Williams, C. A., & Ganapathi, J. (2007). Putting the S back in
corporate social responsibility: A multilevel theory of social change in
organizations. Academy of management review, 32(3), 836-863.
Aguinis, H., & Glavas, A. (2012). What we know and don’t know about corporate social
responsibility: A review and research agenda. Journal of management, 38(4), 932-968.
Ahmad, N. N. N., & Sulaiman, M. (2004). Environmental Disclosures in Malaysian annual
reportes: a legitimacy theory perspective. 14(1), 44–58.
Ahmadi, A., & Bouri, A. (2017). The relationship between financial attributes, environmental
performance and environmental disclosure: Empirical investigation on French firms
listed on CAC 40. Management of Environmental Quality: An International Journal,
28(4), 490–506. https://doi.org/10.1108/MEQ-07-2015-0132
Akamani, K. (2020). Integrating Deep Ecology and Adaptive Governance for Sustainable
Development: Implications for Protected Areas Management. Sustainability, 12(14),
5757.
Albertini, E. (2014). A descriptive analysis of environmental disclosure: A longitudinal study
of French companies. Journal of Business Ethics, 121(2), 233-254.
Alipour, M., Ghanbari, M., Jamshidinavid, B., & Taherabadi, A. (2019). Does board
independence moderate the relationship between environmental disclosure quality and
performance? Evidence from static and dynamic panel data. In Corporate Governance
(Bingley) (Vol. 19). https://doi.org/10.1108/CG-06-2018-0196
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
1981.
Amorim, K. V. N. M. (2018). Análise multinível da divulgação das informações ambientais
de empresas brasileiras e alemãs. (2), 108. https://doi.org/10.20961/ge.v4i1.19180
Ane, P. (2012). An Assessment of the Quality of Environmental Information Disclosure of
Corporation in China. Systems Engineering Procedia, 5, 420–426.
https://doi.org/10.1016/j.sepro.2012.04.064
Andrade, L. P., Bressan, A. A., Iquiapaza, R. A., & Moreira, B. C. M. (2013). Determinantes
145

de adesão ao Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBOVESPA e sua relação
com o valor da empresa. Revista Brasileira de Finanças, 11(2), 181-213.
Aragón-Correa, J. A., & Sharma, S. (2003). A contingent resource-based view of proactive
corporate environmental strategy. Academy of management review, 28(1), 71-88.
Aragon-Correa, J. A., Markus, A., Hurtado-Torres, N. (2016). International Firms: Old
Controversies and New Evidence on performance and disclosure. Academy of
Management
Perspectives,
30(1),
24–39.
Retrieved
from
http://dx.doi.org/10.5465/amp.2014.0043%5CnSYMPOSIUM
B3 - Brasil, Bolsa, Balcão - Empresas listadas. Disponível em
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-de-
sustentabilidade/indice-de-sustentabilidade-empresarial-ise.htm
Acesso
em
06/06/2020.
Baalouch, F., Ayadi, S. D., & Hussainey, K. (2019). A study of the determinants of
environmental disclosure quality: evidence from French listed companies. In Journal of
Management and Governance (Vol. 23). https://doi.org/10.1007/s10997-019-09474-0
Baard, P. (2015). Managing climate change: A view from deep ecology. Ethics & the
Environment, 20(1), 23-44.
Barbu, E. M., Dumontier, P., Feleagă, N., & Feleagă, L. (2014). Mandatory environmental
disclosures by companies complying with IASs/IFRSs: The cases of France, Germany,
and the UK. The International Journal of Accounting, 49(2), 231-247.
Bardin, L. (1977). Análise do discurso. Lisboa: Edições, 70.
Belal, AR (2002). Responsabilidade das partes interessadas ou gestão das partes interessadas:
uma revisão das práticas de contabilidade, auditoria e relatórios sociais e éticos das
empresas do Reino Unido (SEAAR). Responsabilidade Social Corporativa e Gestão
Ambiental, 9 (1), 8-25.
Berthelot, S., & Magnan, M. (2003). Environmental disclosure research: Review and
synthesis. 22, 1–44.
Berthelot, S., Cormier, D., & Magnan, M. (2003). Environmental disclosure research:
Review and synthesis ENVIRONMENTAL DISCLOSURE RESEARCH: REVIEW
AND SYNTHESIS Sylvie Berthelot; Denis Cormier; Michel Magnan Journal of
Accounting Literature; 2003; 22, ABI / INFORM Global. Journal of Accounting
Literature, 22(October), 1–44.
Besthorn, F. H. (2012). Deep Ecology's contributions to social work: A ten‐year
retrospective. International Journal of Social Welfare, 21(3), 248-259.
Blacconiere, W. G., & Northcut, W. D. (1997). Environmental Information and Market
Reactions to Environmental Legislation. Journal of Accounting, Auditing & Finance,
12(2), 149–178. https://doi.org/10.1177/0148558X9701200203
146

Blacconiere, W. G., & Patten, D. M. (1994). Environmental disclosures, regulatory costs,
and changes in firm value. Journal of Accounting and Economics, 18(3), 357–377.
https://doi.org/10.1016/0165-4101(94)90026-4
Boaventura, J. M. G., Fontes, L. G. P., Sarturi, G., & Armando, E. (2017). Critérios para
Identificação da Saliência de Stakeholders através da Análise de Conteúdo. Future
Studies Research Journal: Trends and Strategies, 9(2), 03-29.
Boesso, G., & Kumar, K. (2007). Drivers of corporate voluntary disclosure: A framework
and empirical evidence from Italy and the United States. In Accounting, Auditing and
Accountability Journal (Vol. 20). https://doi.org/10.1108/09513570710741028
Borçato, E. C. (2017). Legitimação social das empresas de capital aberto por meio da
divulgação sobre meio ambiente natural no relato integrado.
Botosan, C. A. (1997). Disclosure Level and the Cost of Equity Capital Disclosure Level and
the Cost of Equity Capital. The Accounting Review, Vol. 72, No. 3 (jul., 1997), Pp. 323-
349, 72(3), 323–349. https://doi.org/10.1002/mde.1256
Bowman, E. H. (1984). Content analysis of annual reports for corporate strategy and risk.
Interfaces, 14(1), 61-71.
Braam, G. J. M., De Weerd, L. U., Hauck, M., & Huijbregts, M. A. J. (2016). Determinants
of corporate environmental reporting: The importance of environmental performance
and assurance. Journal of Cleaner Production, 129, 724–734.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.03.039
Braga, E. C. (2010). Questões de Ética: Relações entre o Design e a Ecologia
Profunda. Estudos em Design, 18(2).
Brammer, S., & Pavelin, S. (2006). Voluntary environmental disclosures by large UK
companies. Journal of Business Finance and Accounting, 33(7–8), 1168–1188.
https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2006.00598.x
Brammer, S., & Pavelin, S. (2008). Factors influencing the quality of corporate
environmental disclosure. Business Strategy and the Environment, 17(2), 120–136.
https://doi.org/10.1002/bse.506
Brasil. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Buhr, N., & Freedman, M. (2001). Culture, Institutional Factors and Differences in
Environmental Disclosure Between Canada and the United States. Critical Perspectives
on Accounting, 12(3), 293–322. https://doi.org/10.1006/cpac.2000.0435
Buhr, N., & Reiter, S. (2006). Ideology, The Environment and One World View: A Discourse
Analysis of Noranda’s Environmental and Sustainable Development Reports. (Unit 07),
1–5.
Burritt, R. L. (2002). Environmental reporting in Australia: Current practices and issues for
147

the future. Business Strategy and the Environment, 11(6), 391–406.
https://doi.org/10.1002/bse.343
Buysse, K., & Verbeke, A. (2003). Proactive environmental strategies: A stakeholder
management perspective. Strategic management journal, 24(5), 453-470.
Callicott, J. B. (1990). Whither Conservation Ethics? Civilising the City: Quality or Chaos
in Historic Towns, 4(1), 19–30.
Capra, F., & Eichemberg, N. R. (2006). A teia da vida: uma nova compreensão científica dos
sistemas vivos. São Paulo: Cultrix.
Carroll, A. B. (1999). Evolution of a Definitional Construct. 38(3), 268–295.
Cerin, P. (2002). Communication in corporate environmental reports. 66(9), 46–66.
Chakrabarty, S., & Wang, L. (2012). The Long-Term Sustenance of Sustainability Practices
in MNCs: A Dynamic Capabilities Perspective of the Role of R&D and
Internationalization. Journal of Business Ethics, 110(2), 205–217.
https://doi.org/10.1007/s10551-012-1422-3
Chapin, F. S., Zavaleta, E. S., Eviner, V. T., Naylor, R. L., Vitousek, P. M., Reynolds, H. L.,
Sandra, C. M. (2000). Three-Dimensional Imaging of the Face: A Comparison between
Three Different Imaging Modalities. Aesthetic Surgery Journal, 38(6), 579–585.
https://doi.org/10.1093/asj/sjx227
Cho, C. H., & Patten, D. M. (2007). The role of environmental disclosures as tools of
legitimacy: A research note. Accounting, Organizations and Society, 32(7–8), 639–647.
https://doi.org/10.1016/j.aos.2006.09.009
Cho, C. H., Guidry, R. P., Hageman, A. M., & Patten, D. M. (2012). Do actions speak louder
than words? An empirical investigation of corporate environmental reputation.
Accounting,
Organizations
and
Society,
37(1),
14–25.
https://doi.org/10.1016/j.aos.2011.12.001
Cho, C. H., Roberts, R. W., & Patten, D. M. (2010). The language of US corporate
environmental disclosure. Accounting, Organizations and Society, 35(4), 431–443.
https://doi.org/10.1016/j.aos.2009.10.002
Clarkson, M. B. E. (1995). A STAKEHOLDER FRAMEWORK FOR ANALYZING AND
EVALUATING CORPORATE SOCIAL PERFORMANCE. 20(1), 92–117.
Clarkson, P. M., Li, Y., Richardson, G. D., & Vasvari, F. P. (2008). Revisiting the relation
between environmental performance and environmental disclosure: An empirical
analysis. Accounting, Organizations and Society, 33(4–5), 303–327.
https://doi.org/10.1016/j.aos.2007.05.003
Colares, A. C. V., Bressan, V. G. F., Lamounier, W. M., & Borges, D. L. (2012). O balanço
social como indicativo socioambiental das empresas do Índice de Sustentabilidade
148

Empresarial da BM&F Bovespa. Revista de contabilidade do mestrado em ciências
contábeis da UERJ, 17, 83-100.
Connelly, J. and Smith, G. (2003), Politics and the Environment: From Theory to Practice,
Routledge, London.
Cormier, D., & Magnan, M. (1999). Corporate Environmental Disclosure Strategies:
Determinants, Costs and Benefits. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 14(4),
429–451. https://doi.org/10.1177/0148558X9901400403
Cormier, D., & Magnan, M. (2003). Environmental reporting management: A continenal
European perspective. Journal of Accounting and Public Policy, 22(1), 43–62.
https://doi.org/10.1016/S0278-4254(02)00085-6
Cormier, D., & Magnan, M. (2007). The revisited contribution of environmental reporting to
investors’ valuation of a firm’s earnings: An international perspective. Ecological
Economics, 62(3–4), 613–626. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.07.030
Cormier, D., & Magnan, M. (2015). The Economic Relevance of Environmental Disclosure
and its Impact on Corporate Legitimacy: An Empirical Investigation. Business Strategy
and the Environment, 24(6), 431–450. https://doi.org/10.1002/bse.1829
Cormier, D., Gordon, I. M., & Magnan, M. (2004). Cormier Gordon Magnan 2004. 143–
165.
Cormier, D., Magnan, M., & Van Velthoven, B. (2005). Environmental disclosure quality in
large German companies: Economic incentives, public pressures or institutional
conditions?
European
Accounting
Review,
14(1),
3–39.
https://doi.org/10.1080/0963818042000339617
Costa, R. S. D. (2006). Evidenciação contábil das informações ambientais: uma análise das
empresas do setor de papel e celulose da BOVESPA.
Da Rosa, F. S., Ensslin, S. R., Ensslin, L., & Lunkes, R. J. (2011). Gestão da evidenciação
ambiental: um estudo sobre as potencialidades e oportunidades do tema. Engenharia
Sanitária Ambiental, 16(1), 157-166.
Da Rosa, F. S., Guesser, T., Hein, N., Pfitscher, E. D., & Lunkes, R. J. (2015). Environmental
impact management of Brazilian companies: Analyzing factors that influence disclosure
of waste, emissions, effluents, and other impacts. Journal of Cleaner Production, 96,
148-160.
Da Rosa, F. S., Lunkes, R. J., & Brizzola, M. M. B. (2019). Exploring the relationship
between internal pressures, greenhouse gas management and performance of Brazilian
companies. Journal of Cleaner Production, 212, 567-575.
Davradou, M., & Namkoong, G. (2001). Science, ethical arguments, and management in the
preservation of land for grizzly bear conservation. Conservation Biology, 15(3), 570-
577.
149

De Oliveira, A. F., Machado, D. G., & Beuren, I. M. (2012). Disclosure Ambiental de
Empresas de Setores Potencialmente Poluidores Listadas no Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE). Revista de Gestão Social e Ambiental, 6(1), 20-37.
De Oliveira, C. E., & Oliveira, E. M. T. (2020). Panorama da Evidenciação das Ações de
Sustentabilidade Praticadas Pelas Empresas do Setor de Energia Elétrica Listadas na
B3. RAGC, 8(32).
De Villiers, C., & Van Staden, C. (2010). Why do shareholders require corporate
environmental disclosure? South African Journal of Economic and Management
Sciences, 13(4), 437–446. https://doi.org/10.4102/sajems.v13i4.99
De Villiers, C., & Van Staden, C. (2012). New Zealand shareholder attitudes towards
corporate environmental disclosure. Pacific Accounting Review, 24(2), 186–210.
https://doi.org/10.1108/01140581211258470
De Villiers, C., & Van Staden, C. J. (2006). Can less environmental disclosure have a
legitimising effect? Evidence from Africa. Accounting, Organizations and Society,
31(8), 763–781. https://doi.org/10.1016/j.aos.2006.03.001
Deegan, C. (2002). The legitimising effect of social and environmental disclosures ± a
theoretical foundation. 15(3), 282–311. https://doi.org/10.1108/09513570210435852
Deegan, C. (2017). Twenty-five years of social and environmental accounting research
within Critical Perspectives of Accounting: Hits, misses and ways forward. Critical
Perspectives on Accounting, 43, 65–87. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2016.06.005
Deegan, C., & Gordon, B. (1996). A study of the environmental disclosure practices of
Australian corporations. Accounting and Business Research, 26(3), 187–199.
https://doi.org/10.1080/00014788.1996.9729510
Deegan, C., & Rankin, M. (1997). The materiality of environmental information to users of
annual reports. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 10(4), 562–583.
https://doi.org/10.1108/09513579710367485
Deegan, C., & Shelly, M. (2014). Corporate Social Responsibilities: Alternative Perspectives
About the Need to Legislate. Journal of Business Ethics, 121(4), 499–526.
https://doi.org/10.1007/s10551-013-1730-2
Degenhart, L., da Rosa, F. S., Hein, N., & Vogt, M. (2016). Avaliação do grau de
evidenciação dos impactos ambientais em relatórios de sustentabilidade e relatórios
anuais de empresas brasileiras/Disclosure level assessment of environmental impacts on
reports of sustainability and annual reports of brazilian. Revista Metropolitana de
Sustentabilidade (ISSN 2318-3233), 6(1), 81-103.
Degenhart, L., Vogt, M., Hein, N., Rosa, F. S. e Brizolla, M. M. B. (2019). Ranking de
divulgação de impactos ambientais de empresas brasileiras: Análise por meio de
métodos multicritério. Gestão da Qualidade Ambiental, 29 (1), 155-167.
Delgado-Márquez, B. L., Pedauga, L. E., & Cordón-Pozo, E. (2017). Industries Regulation
150

and Firm Environmental Disclosure: A Stakeholders’ perspective on the Importance of
Legitimation and International Activities. Organization and Environment, 30(2), 103–
121. https://doi.org/10.1177/1086026615622028
Dennis, M. P. (2002). The relation between environmental performance and environmental
disclosure: a research note. Accounting, Organizations and Society, 27(8), 763–773.
Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368202000284
Devinney, T. M., Mcgahan, A. M., & Zollo, M. (2013). A Research Agenda for Global
Stakeholder Strategy. Global Strategy Journal, 3(4), 325–337.
https://doi.org/10.1111/j.2042-5805.2013.01066.x
Diamond, D. W. (1985). American Finance Association Optimal Release of Information by
Firms Author (s): Douglas W. Diamond Source: The Journal of Finance, Vol. 40, No. 4
(Sep., 1985), pp. 1071-1094 Published by: Wiley for the American Finance Association
Stable URL. The Journal of Finance Vol. 40, No. 4 (Sep., 1985), Pp. 1071-1094, 40(4),
1071–1094.
Do Nascimento, A. J. S. (2020). Abordagens para avaliar as práticas de sustentabilidade
empresarial: uma revisão da literatura.
Dobele, A. R., Westberg, K., Steel, M., & Flowers, K. (2014). An examination of corporate
social responsibility implementation and stakeholder engagement: A case study in the
Australian mining industry. Business strategy and the environment, 23(3), 145-159.
Eckersley, R. (1992). Environmentalism and political theory - Toward an Ecocentric
Approach.
Eder, K. (1996). The social construction of nature: A sociology of ecological enlightenment.
In M. Ritter (Ed.), The social construction of nature: A sociology of ecological
enlightenment. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.
Elijido-Ten, E. (2011). Media coverage and voluntary environmental disclosures: A
developing country exploratory experiment. Accounting Forum, 35(3), 139–157.
https://doi.org/10.1016/j.accfor.2011.06.003
Elijido-Ten, E., Kloot, L., & Clarkson, P. (2010). Extending the application of stakeholder
influence strategies to environmental disclosures: An exploratory study from a
developing country. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 23(8), 1032–
1059. https://doi.org/10.1108/09513571011092547
Elkington, J. Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business. Oxford:
Capstone. 1997.
Epstein, M. J., & Freedman, M. (1994). Social Disclosure and Individual Investor.
Accounting and Finance Research, 7(4), 94–109.
151

Farooq, M. B., & De Villiers, C. (2019). How sustainability assurance engagement scopes
are determined, and its impact on capture and credibility enhancement. Accounting,
Auditing & Accountability Journal.
Fox, W. Deep ecology: A new philosophy of our time? In Environmental Ethics: An
Anthology; Light, A., Rolston, H., III, Eds.; Blackwell Publishing: Oxford, UK, 2003;
pp. 252–261.
Fragouli, E., & Yengbalang, A. (2015). Financial Risk and Management Reviews promoting
local acceptability of international oil companies (iocs) through corporate social
responsibility (csr): the case of tullow oil in ghana. 1(1), 27–52.
https://doi.org/10.18488/journal.89/2015.1.1/89.1.27.52
Freedman, M., & Jaggi, B. (2005). Global warming, commitment to the Kyoto protocol, and
accounting disclosures by the largest global public firms from polluting industries.
International
Journal
of
Accounting,
40(3),
215–232.
https://doi.org/10.1016/j.intacc.2005.06.004.
Freeman, R. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman, 46.
Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & De Colle, S.
(2010). Stakeholder theory: The state of the art. Cambridge University Press.
Gaia, S., & Jones, M. J. (2017). UK local councils reporting of biodiversity values: a
stakeholder perspective. (July 2016). https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2015-2367
Gadenne, D. L., Kennedy, J., & McKeiver, C. (2009). An empirical study of environmental
awareness and practices in SMEs. Journal of Business Ethics, 84(1), 45-63.
Gallego-Álvarez, I., Lozano, M. B., & Rodríguez-Rosa, M. (2018). An analysis of the
environmental information in international companies according to the new GRI
standards. Journal of Cleaner Production, 182, 57–66.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.240
Gamerschlag, R., Möller, K., & Verbeeten, F. (2011). Determinants of voluntary CSR
disclosure: empirical evidence from Germany. Review of Managerial Science, 5(2-3),
233-262.
Gaveau, D. L. A., Salim, M. A., Hergoualc’H, K., Locatelli, B., Sloan, S., Wooster, M., …
Sheil, D. (2014). Major atmospheric emissions from peat fires in Southeast Asia during
non-drought years: Evidence from the 2013 Sumatran fires. Scientific Reports, 4, 1–7.
https://doi.org/10.1038/srep06112
Ge, W., & Liu, M. (2015). Corporate social responsibility and the cost of corporate bonds.
Journal of Accounting and Public Policy, 34(6), 597–624.
https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2015.05.008
Gerged, A. M., Al-Haddad, L. M., & Al-Hajri, M. O. (2020). Is earnings management
associated with corporate environmental disclosure? Evidence from Kuwaiti listed
firms. Accounting Research Journal, 33(1), 167–185. https://doi.org/10.1108/ARJ-05-
152

2018-0082
Giacomin, J., Ostrzyzek, T., & Vendrame, G. F. (2019) Índice De Sustentabilidade
Empresarial (Ise): Evidenciação das Ações Ambientais das Empresas listadas na
Carteira Anual no Período de 2015 e 2016.
Gil, A. C. (2009). Questionário. GIL, AC Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo:
Atlas, 121-135.
Glasser, H. (2011). Naess's deep ecology: implications for the human prospect and challenges
for the future. Inquiry, 54(1), 52-77.
Godoi, A. F. de. (2011). Contabilidade Ambiental: Um Estudo do Disclosure de Informações
Ambientais, das Empresas dos Setores de Alto Impacto Ambiental, Integrantes do ISE -
Índice de Sustentabilidade Empresarial. 182. Retrieved from
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/1467/1/Alexandre Franco de Godoy.pdf
González-Benito, J., & González-Benito, Ó. (2005). Environmental proactivity and business
performance: An empirical analysis. Omega, 33(1), 1–15.
https://doi.org/10.1016/j.omega.2004.03.002
Gray, R., Javad, M., Power, D. M., & Sinclair, C. D. (2001). Social and environmental
disclosure and corporate characteristics: A research note and extension. Journal of
Business Finance and Accounting, 28(3–4), 327–356. https://doi.org/10.1111/1468-
5957.00376
Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995a). Corporate social and environmental reporting A
review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure Rob. Proceedings of
the 8th International Congress of the International Union for the Study of Social Insects,
Wageningen, 5-10 September 1977, 8(2), 47–77.
Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995b). Methodological themes Constructing a research
database of social and environmental reporting by UK companies. 8(2), 78–101.
GRI. (2015). Sustainability Reporting Guidelines - G4. 259.
Gunn, A. S. (2007). Environmental ethics in a New Zealand context. New Zealand Journal
of Forestry, 51(4), 7–12.
Guthrie, J., Petty, R., Yongvanich, K., & Ricceri, F. (2004). Using content analysis as a
research method to inquire into intellectual capital reporting. Journal of intellectual
capital.
Haddock-Fraser, J., & Fraser, I. (2008). Reporting Motivations: Differences. Corporate
Social Responsibility and Environmental Management, 155(May 2007), 140–155.
https://doi.org/10.1002/csr
Hair, J., Babin, B., Money, A., & Samouel, P. (2005). Fundamentos de métodos de pesquisa
em administração. Bookman Companhia Ed.
153

Haji, A. A. (2013). Corporate social responsibility disclosures over time: Evidence from
Malaysia. Managerial Auditing Journal, 28(7), 647–676. https://doi.org/10.1108/MAJ-
07-2012-0729
Harte, G., & Owen, D. (1991). Environmental Disclosure in the Annual Reports of British
Companies: A Research Note. (Unit 07), 51–61.
Hartig, T., & Mang, M. (1991). Restorative effects of natural environment experiences.
Environment and Behavior, 23(1), 3–26. https://doi.org/10.1177/0013916591231001
Hassan, A., & Guo, X. (2017). The relationships between reporting format, environmental
disclosure and environmental performance. Journal of Applied Accounting Research.
Hassan, A., & Ibrahim, E. (2012). Corporate Environmental Information Disclosure: Factors
Influencing Companies’ Success in Attaining Environmental Awards. Corporate Social
Responsibility and Environmental Management, 19(1), 32–46.
https://doi.org/10.1002/csr.278
Hasseldine, J., Salama, A. I., & Toms, J. S. (2005). Quantity versus quality: The impact of
environmental disclosures on the reputations of UK Plcs. British Accounting Review,
37(2), 231–248. https://doi.org/10.1016/j.bar.2004.10.003
Hoefel, J. L. de M. (1999). valores e significados a reflexão de arne naess sobre questões
ambientais (p. 216). p. 216.
Hora, M., & Subramanian, R. (2019). Relationship between Positive Environmental
Disclosures and Environmental Performance: An Empirical Investigation of the
Greenwashing Sin of the Hidden Trade-off. Journal of Industrial Ecology, 23(4), 855–
868. https://doi.org/10.1111/jiec.12823
Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis.
Qualitative health research, 15(9), 1277-1288.
Hsu, K. T. (2012). The Advertising Effects of Corporate Social Responsibility on Corporate
Reputation and Brand Equity: Evidence from the Life Insurance Industry in Taiwan.
Journal of Business Ethics, 109(2), 189–201. https://doi.org/10.1007/s10551-011-1118-
0
Huang, C. L., & Kung, F. H. (2010). Drivers of environmental disclosure and stakeholder
expectation: Evidence from Taiwan. Journal of Business Ethics, 96(3), 435-451.
Hummels, H., & Timmer, D. (2004). Investors in need of social, ethical, and environmental
information. Journal of Business Ethics, 52(1), 73-84.
IIRC. (2014). A Estrutura Internacional para o Relato Integrado. Iirc, 36.
Ikeke, M. O. (2020). Deep Ecology Philosophy and Biodiversity Conservation in Nigeria’s
Niger Delta. European Journal of Sustainable Development, 9(2), 80-80.
Ingram, R. W., & Frazier, K. B. (1980). Environmental Performance and Corporate
154

Disclosure. Journal of Accounting Research, 18(2), 614.
https://doi.org/10.2307/2490597
Irigaray, H. A. R., Vergara, S. C., & Santos, M. C. F. (2013). Responsabilidade social
corporativa: um duplo olhar sobre a Reduc. RAM. Revista de Administração
Mackenzie, 14(6), 82-111.
Islam, M. S., Miah, M. S., & Fakir, A. N. M. A. (2015). Environmental Accounting and
Reporting Practices in the Corporate Sector of Environmental Accounting and
Reporting Practices in the Corporate Sector of Bangladesh. (January 2015).
Ismail, A. H., Abdul Rahman, A., & Hezabr, A. A. (2018). Determinants of corporate
environmental disclosure quality of oil and gas industry in developing countries. In
International Journal of Ethics and Systems (Vol. 34). https://doi.org/10.1108/IJOES-
03-2018-0042
Jacob, M. (1994). Sustainable development and deep ecology: An analysis of competing
traditions.
Environmental
Management,
18(4),
477–488.
https://doi.org/10.1007/BF02400853
Jacobs, B. W., Singhal, V. R., & Subramanian, R. (2010). An empirical investigation of
environmental performance and the market value of the firm. Journal of Operations
Management, 28(5), 430–441. https://doi.org/10.1016/j.jom.2010.01.001
Jones, M. J. (2003). Accounting for biodiversity: Operationalising environmental accounting.
Accounting, Auditing & Accountability Journal, 16(5), 762–789.
https://doi.org/10.1108/09513570310505961
Jones, T. M. (1995). Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and Economics.
Academy
of
Management
Review,
20(2),
404–437.
https://doi.org/10.5465/amr.1995.9507312924
Kang, N., & Moon, J. (2011). Institutional complementarity between corporate governance
and Corporate Social Responsibility: A comparative institutional analysis of three
capitalisms.
Socio-Economic
Review,
10(1),
85–108.
https://doi.org/10.1093/ser/mwr025
Karthik, K.R.G., Baikie, T., E.T., M.D., Huang, Y.Z., & Guet, C. (2017). Compreendendo a
névoa do sudeste asiático. Environmental Research Letters, 12 (8), 084018.
Kim, Y., Park, M. S., & Wier, B. (2012). Is earnings quality associated with corporate social
responsibility? Accounting Review, 87(3), 761–796. https://doi.org/10.2308/accr-10209
Khisty, CJ (2006). Meditações sobre pensamento sistêmico, sistemas espirituais e ecologia
profunda. Systemic Practice and Action Research, 19 (4), 295-307.
Kolk, A. (2003). Reporting by the Fortune. Business Strategy and the Environment, 291(12),
279–291. https://doi.org/10.1002/bse.370
Kolk, A., & Fortanier, F. (2013). Internationalization and environmental disclosure: the role
155
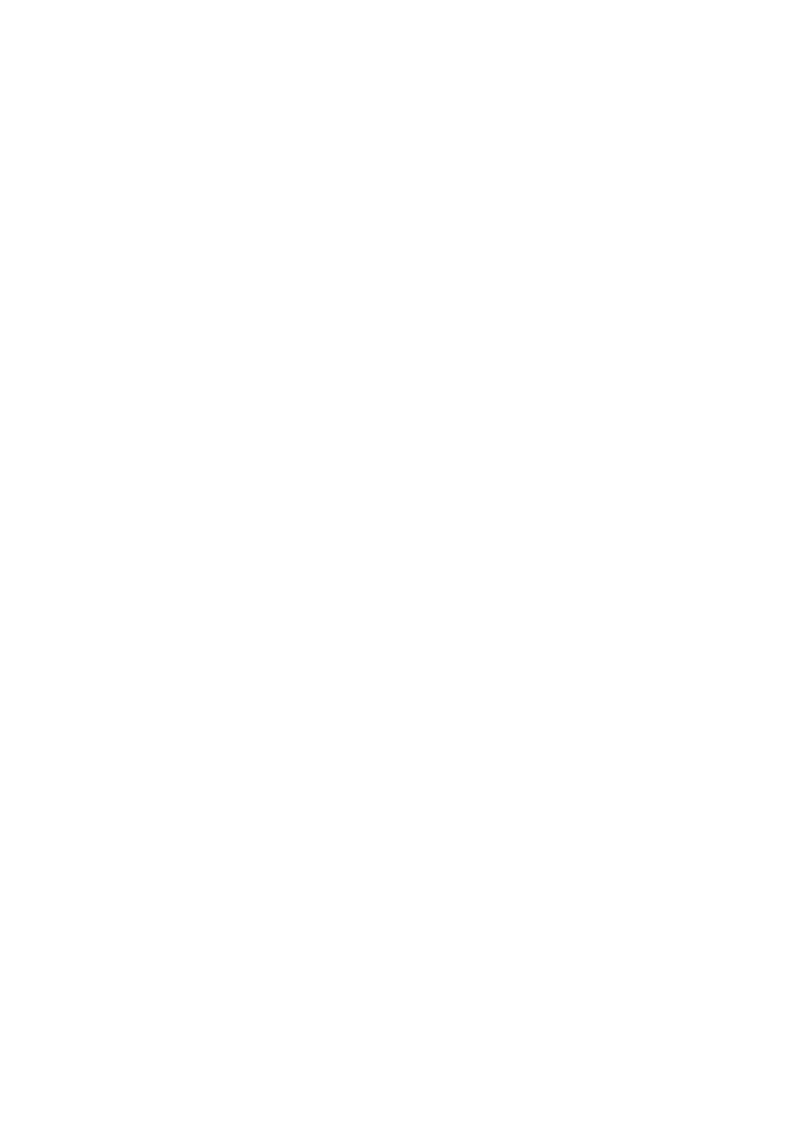
of home and host institutions. Multinational Business Review, 21(1), 87–114.
https://doi.org/10.1108/15253831311309500
Konrad, A., Steurer, R., Langer, M. E., & Martinuzzi, A. (2006). Empirical findings on
business–society relations in Europe. Journal of Business Ethics, 63(1), 89-105.
Lee, T. M., & Hutchison, P. D. (2005). THE DECISION TO DISCLOSE ENVIRONMENTAL
INFORMATION: A RESEARCH REVIEW AND AGENDA. 21(05), 83–111.
https://doi.org/10.1016/S0882-6110(05)21004-0
Lépineux, F. (2005). Stakeholder theory, society and social cohesion. Corporate
Governance: The international journal of business in society.
Lewis, B. W., Walls, J. L., & Dowell, G. W. S. (2014). Difference in degrees: CEO
characteristics and firm environmental disclosure. Business, 35, 712–722.
https://doi.org/10.1002/smj
Liao, L., Luo, L., & Tang, Q. (2014). Gender diversity, board independence, environmental
committee and greenhouse gas disclosure q. The British Accounting Review, 1–16.
https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.01.002
Liu, X., Liu, G., Yang, Z., Chen, B., & Ulgiati, S. (2016). Comparando desempenhos
ambientais e econômicos nacionais por meio de indicadores de sustentabilidade
emergética: Movendo a ética ambiental além do antropocentrismo para o
ecocentrismo. Revisões de energia renovável e sustentável, 58, 1532-1542.
Llena, F., Moneva, J. M., & Hernandez, B. (2007). Environmental disclosures and
compulsory accounting standards: The case of Spanish annual reports. Business
Strategy and the Environment, 16(1), 50–63. https://doi.org/10.1002/bse.466
Lopes, M. M. C. (2015). A influência dos stakeholders na responsabilidade social empresarial
estratégica.
Lopes Júnior, C. I. A., de Miranda, M. C., do Nascimento, Í. C. S., & de Melo, G. C. V.
(2020). Sustentabilidade Corporativa: Estudo Comparativo Das Empresas Do Segmento
De Papel E Celulose Listadas Na B3. Revista Conhecimento Contábil, 10(01).
Lu, Y., & Abeysekera, I. (2014). Stakeholders' power, corporate characteristics, and social
and environmental disclosure: evidence from China. Journal of cleaner production, 64,
426-436.
Lyon, T. P., & Maxwell, J. W. (2011). Greenwash: Corporate environmental disclosure under
threat of audit. Journal of Economics and Management Strategy, 20(1), 3–41.
https://doi.org/10.1111/j.1530-9134.2010.00282.x
Maignan, I., & Ferrell, O. C. (2004). Corporate social responsibility and marketing: An
integrative framework. Journal of the Academy of Marketing science, 32(1), 3-19.
Magalhães, R. B. (2011). Contribuição da ecologia profunda ao ecodesign: associando
estratégias didáticas e tecnológicas no ensino fundamental.zun
156

Malhotra, K. N. (2006) Pesquisa de Marketing: Uma Orientação Aplicada. 4ª Edição.
Marconi, M. D. A., & Lakatos, E. M. (2004). Metodologia de pesquisa. São Paulo: Atlas.
Martin, A. D., & Hadley, D. J. (2008). Corporate environmental non-reporting - A UK FTSE
350 perspective. Business Strategy and the Environment, 17(4), 245–259.
https://doi.org/10.1002/bse.518
Mascena, K. M. C. D. (2013). Priorização de stakeholders: um estudo em empresas que
divulgam relatórios com an estrutura da Global Reporting Initiative-(GRI) no Brasil
(Doctoral dissertation, Universidade de São Paulo).
Mason, C., & Simmons, J. (2014). Embedding corporate social responsibility in corporate
governance: A stakeholder systems approach. Journal of Business Ethics, 119(1), 77-
86.
McWilliams, A., Siegel, D. S., & Wright, P. M. (2006). Corporate social responsibility:
Strategic implications. Journal of Management Studies, 43(1), 1–18.
https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2006.00580.x
Mellahi, K., & Wood, G. (2003). The Role and Potential of Stakeholders in “Hollow
Participation”: Conventional Stakeholder Theory and Institutionalist Alternatives.
183–202.
Michelon, G., Pilonato, S., & Ricceri, F. (2015). CSR reporting practices and the quality of
disclosure: An empirical analysis. Critical Perspectives on Accounting, 33, 59–78.
https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.10.003
Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder
identification and salience: Defining the principle of who and what really counts.
Academy of management review, 22(4), 853-886.
Moneva, J. M., & Ortas, E. (2010). Corporate environmental and financial performance: a
multivariate approach. Industrial Management & Data Systems, 110(2), 193–210.
https://doi.org/10.1108/02635571011020304
Monteiro, S. M. da S., & Aibar-Guzmán, B. (2010). Determinants of environmental
disclosure in the annual reports of large companies operating in Portugal. Corporate
Social Responsibility and Environmental Management, 17(4), 185–204.
https://doi.org/10.1002/csr.197
Morrison, L., Wilmshurst, T., & Shimeld, S. (2016). Environmental Reporting Through an
Ethical Looking Glass. Journal of Business Ethics, 150(4), 903–918.
https://doi.org/10.1007/s10551-016-3136-4
Morse, S., & Vogiatzakis, I. (2014). Special edition: Environment in sustainable
development.
Sustainability
(Switzerland),
6(11),
8007–8011.
https://doi.org/10.3390/su6118007
157

Murdifin, I., Pelu, M. F. A., Putra, A. H. P. K., Arumbarkah, A. M., Muslim, & Rahmah, A.
(2019). Environmental disclosure as corporate social responsibility: Evidence from the
biggest nickel mining in Indonesia. International Journal of Energy Economics and
Policy, 9(1), 115–122. https://doi.org/10.32479/ijeep.7048
Naess, A. (1973). The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary.
Inquiry
(United
Kingdom),
16(1–4),
95–100.
https://doi.org/10.1080/00201747308601682
Naess, A., & Sessions, G. (1984). A Deep Ecology Eight Point Platform. Readings on the
Philosophy and Practice of the New Environmentalism. Boston and London:
Shambhala.
Neu, D., Warsame, H., & Pedwell, K. (1998). Managing Public Impressions: Environmental
Disclosures in Annual Reports. Accounting, Organizations and Society, 23(3), 265–282.
https://doi.org/10.1016/S0361-3682(97)00008-1
Nobre, F. S., & Ribeiro, R. E. M. (2013). Cognição e sustentabilidade: estudo de casos
múltiplos no índice de sustentabilidade empresarial da BM&FBovespa. Rev. adm.
contemp, 499-517.
Nor, N. M., Bahari, N. A. S., Adnan, N. A., Kamal, S. M. Q. A. S., & Ali, I. M. (2016). The
Effects of Environmental Disclosure on Financial Performance in Malaysia. Procedia
Economics and Finance, 35(October 2015), 117–126. https://doi.org/10.1016/s2212-
5671(16)00016-2
Nossa, V. (2002). Disclosure ambiental: uma análise do conteúdo dos relatórios ambientais
de empresas do setor de papel e celulose em nível internacional (Doctoral dissertation,
Universidade de São Paulo).
Oates, G. (2013). Exploring the links between stakeholder type, and strategic response to
stakeholder and institutional demands in the public sector context. International Journal
of Business and Management, 8(21), 50.
Odera, O., Scott, A., & Gow, J. (2016). An examination of the quality of social and
environmental disclosures by Nigerian oil companies. 16(2), 400–419.
https://doi.org/10.1108/CG-05-2015-0065
Ofoegbu, G. N., Odoemelam, N., & Okafor, R. G. (2018). Corporate board characteristics
and environmental disclosure quantity: Evidence from South Africa (integrated
reporting) and Nigeria (traditional reporting). Cogent Business and Management, 5(1),
1–27. https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1551510
Okafor, T. G. (2018). Environmental Costs Accounting and Reporting on firm financial
performance: A survey of Nigerian quoted oil companies Environmental Costs
Accounting and Reporting on Firm Financial Performance: A Survey of Quoted
Nigerian Oil Companies. Article in International Journal of Finance and Accounting
Studies, 7(1), 1–6. https://doi.org/10.5923/j.ijfa.20180701.01
Orlitzky, M., Schmidt, F. L., & Rynes, S. L. (2003). Corporate social and financial
158

performance: A meta-analysis. Organization studies, 24(3), 403-441.
Oro, I. M., Renner, S., & Braun, M. (2013). Informações de natureza socioambiental: análise
dos balanços sociais das empresas integrantes do índice de sustentabilidade empresarial
da BM&FBovespa. Revista de Administração da Universidade Federal de Santa
Maria, 6, 879-893.
Palmer, C. An overview of environmental ethics. In Environmental Ethics: An Anthology;
Light, A., Rolston, H., III, Eds.; Blackwell Publishing: Oxford, UK, 2003; pp. 15–37.
Paris, P. K. S. (2012). Um Estudo De Percepções De Ongs Ambientalistas Capixabas Acerca
Da Relevância De Indicadores Ambientais Da Gri (Global Reporting Initiative) De
Indicadores Ambientais Da Gri (Global Reporting Initiative.
Patten, D. M. (1991). Exposure, legitimacy, and social disclosure. Journal of Accounting and
Public Policy, 10(4), 297–308. https://doi.org/10.1016/0278-4254(91)90003-3
Patten, D. M. (2005). The accuracy of financial report projections of future environmental
capital expenditures: A research note. Accounting, Organizations and Society, 30(5),
457–468. https://doi.org/10.1016/j.aos.2004.06.001
Patten, D. M., & Trompeter, G. (2003). Corporate responses to political costs: An
examination of the relation between environmental disclosure and earnings
management. Journal of Accounting and Public Policy, 22(1), 83–94.
https://doi.org/10.1016/S0278-4254(02)00087-X
Patton, M.Q. (2001), Qualitative Evaluation and Research Methods, 3rd ed., Sage
Publications, Newbury Park, CA.
Pavesi, I., Zaro, E. S., Lunkes, R. J., & Rosa, F. S. (2015). Evidenciação Ambiental: Um
Estudo de Caso em uma Indústria Potencialmente Poluidora. REAVI-Revista Eletrônica
do Alto Vale do Itajaí, 4(5), 17-33.
Phillips, R. (2003). Stakeholder legitimacy. Business Ethics Quarterly, 13(1), 25–41.
Plaza-Úbeda, J. A., De Burgos-Jiménez, J., & Carmona-Moreno, E. (2010). Measuring
stakeholder integration: Knowledge, interaction and adaptational behavior dimensions.
Journal of Business Ethics, 93(3), 419–442. https://doi.org/10.1007/s10551-009-0231-
9
Pletsch, C. S., Brighenti, J., da Silva, A., & da Rosa, F. S. (2015). Perfil da evidenciação
ambiental das empresas listadas no índice de sustentabilidade
empresarial. Contabilidade Vista & Revista, 25(3), 57-77.
Plumlee, M., Brown, D., Hayes, R. M., & Marshall, R. S. (2015). Voluntary environmental
disclosure quality and firm value: Further evidence. Journal of Accounting and Public
Policy, 34(4), 336–361. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2015.04.004
Pivato, S., Misani, N., & Tencati, A. (2008). The impact of corporate social responsibility on
159

consumer trust: the case of organic food. Business ethics: A European review, 17(1), 3-
12.
Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). How to reinvent capitalism: and unleash a wave of
innovation and growth. Harvard business review, 89(1-2), 62-77.
Pucheta-Martínez, M. C., & Gallego-Álvarez, I. (2019). Corporate Environmental Disclosure
Practices in Different National Contexts: The Influence of Cultural Dimensions.
Organization and Environment. https://doi.org/10.1177/1086026619860263
Pucheta‐Martínez, M. C., & López‐Zamora, B. (2018). Engagement of directors representing
institutional investors on environmental disclosure. Corporate Social Responsibility and
Environmental Management, 25(6), 1108-1120.
Purnomo, H., Okarda, B., Dewayani, A. A., Ali, M., Achdiawan, R., Kartodihardjo, H., …
Juniwaty, K. S. (2018). Reducing forest and land fires through good palm oil value chain
governance. Forest Policy and Economics, 91(January), 94–106.
https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.12.014
Purser, R. E., Park, C., & Montuori, A. (1995). Limits to Anthropocentrism: Toward an
Ecocentric Organization Paradigm? Academy of Management Review, 20(4), 1053–
1089. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9512280035
Radu, C., Caron, M. A., & Arroyo, P. (2020). Integration of carbon and environmental
strategies within corporate disclosures. Journal of Cleaner Production, 244, 118681.
Rahaman, A. S., Lawrence, S., & Roper, J. (2004). Social and environmental reporting at the
VRA: Institutionalised legitimacy or legitimation crisis? Critical Perspectives on
Accounting, 15(1), 35–56. https://doi.org/10.1016/S1045-2354(03)00005-4
Raupp, F. M. (2009). Metodologia da pesquisa aplicável às ciências sociais. In. BEUREN,
IM (Org.). Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade, 3.
Reverte, C. (2009). Determinants of corporate social responsibility disclosure ratings by
Spanish listed firms. Journal of Business Ethics, 88(2), 351–366.
https://doi.org/10.1007/s10551-008-9968-9
Reynolds, M., & Yuthas, K. (2008). Moral discourse and corporate social responsibility
reporting. Journal of Business Ethics, 78(1–2), 47–64. https://doi.org/10.1007/s10551-
006-9316-x
Richardson, A. J., & Welker, M. (2001). Social disclosure, financial disclosure and the cost
of equity capital. Accounting, Organizations and Society, 26(7–8), 597–616.
https://doi.org/10.1016/S0361-3682(01)00025-3
Rockström, J., W. Steffen, K. Noone, Å. Persson, F. S. Chapin, E. F. Lambin, … J. A. Foley.
(2009). A safe operation space for humanity. Nature, 461(September), 472–475.
Rodrigue, M. (2014). Contrasting realities: corporate environmental disclosure and
stakeholder-released information. Accounting, Auditing & Accountability Journal.
160

Rolston, H. (1985). Valuing Wildlands. Environmental Risk Assessment and Management
from
a
Landscape
Perspective,
7(1),
23–48.
https://doi.org/10.1002/9780470593028.ch9
Rolston, H. (1988). Human values and natural systems. Society and Natural Resources, 1(1),
269–283. https://doi.org/10.1080/08941928809380658
Rover, S. (2009). Disclosure ambiental de empresas potencialmente poluidoras:
características da informação ambiental e explicações para a divulgação voluntária no
Brasil (Doctoral dissertation, Dissertação de Mestrado em Contabilidade, da
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil).
Rupley, K. H., Brown, D., & Marshall, R. S. (2012). Governance, media and the quality of
environmental disclosure. Journal of Accounting and Public Policy, 31(6), 610–640.
https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2012.09.002
Said, R., Zainuddin, Y., & Haron, H. (2009). The relationship between corporate social
responsibility disclosure and corporate governance characteristics in Malaysian public
listed companies. Social Responsibility Journal, 5(2), 212–226.
https://doi.org/10.1108/17471110910964496
Samkin, G., Schneider, A., & Tappin, D. (2014). Developing a reporting and evaluation
framework for biodiversity. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 27(3),
527–562. https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2013-1496
Santos, L. M. D. S. (2016). Fatores explicativos da evidenciação de informações ambientais
das empresas potencialmente poluidoras listadas na BM&FBovespa.
Schuler, D., Rasche, A., Etzion, D., & Newton, L. (2017). Guest Editors’ Introduction:
Corporate Sustainability Management and Environmental Ethics. Business Ethics
Quarterly, 27(2), 213–237. https://doi.org/10.1017/beq.2016.80
Scott, W. R. (2008). Approaching adulthood: The maturing of institutional theory. Theory
and Society, 37(5), 427–442. https://doi.org/10.1007/s11186-008-9067-z
Sheehy, B. (2015). Defining CSR: Problems and solutions. Journal of business ethics, 131(3),
625-648.
Siegel, D. S., & Vitaliano, D. F. (2007). An empirical analysis of the strategic use of corporate
social responsibility. Journal of Economics & Management Strategy, 16(3), 773-792.
Situ, H., & Tilt, C. (2018). Mandatory? Voluntary? A Discussion of Corporate
Environmental Disclosure Requirements in China. Social and Environmental
Accountability
Journal,
38(2),
131–144.
https://doi.org/10.1080/0969160X.2018.1469423
Smith, N. C. (2003). Corporate social responsibility: whether or how?. California
management review, 45(4), 52-76.
161

Sosa, P. R. B. (2017). O Relato Integrado sob a ótica da Economia Ecológica: uma análise
multimétodo (Doctoral dissertation, Universidade de São Paulo).
Spence, C., Husillos, J., & Correa-Ruiz, C. (2010). Cargo cult science and the death of
politics: A critical review of social and environmental accounting research. Critical
Perspectives on Accounting, 21(1), 76–89. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2008.09.008
Starik, M., & Kanashiro, P. (2013). Toward a Theory of Sustainability Management:
Uncovering and Integrating the Nearly Obvious. Organization and Environment, 26(1),
7–30. https://doi.org/10.1177/1086026612474958
Stray, S. (2008). Environmental reporting: The U.K. water and energy industries: A research
note. Journal of Business Ethics, 80(4), 697–710. https://doi.org/10.1007/s10551-007-
9463-8
Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: strategic and institutional approaches.
Academy of management review, 20(3), 571-610.
Sylvan, R. (1985a). A Critique of Deep Ecology, Part II. Radical Philosophy, 41, 10–22.
Sylvan, R. (1985b). A Critique of Deep Ecology (Part I). Radical Philosophy, 1/Summer
(040), 1–12. Retrieved from https://www.radicalphilosophy.com/wp-
content/files_mf/rp40_article1_sylvan_deepecology1.pdf
Tadros, H., & Magnan, M. (2019). How does environmental performance map into
environmental disclosure? A look at underlying economic incentives and legitimacy
aims. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 10(1), 62–96.
https://doi.org/10.1108/SAMPJ-05-2018-0125
TerraChoice. (2007). The “Six Sins of Greenwashing TM.” (November), 1–9.
Tilt, C. A., & Symes, C. F. (2006). Environmental disclosure by Australian mining
companies: environmental consciente or commercial reality? Accounting Forum, 23(2),
137–154. https://doi.org/10.1111/1467-6303.00008
Tregidga, H., Milne, M., & Lehman, G. (2012, September). Analyzing the quality, meaning
and accountability of organizational reporting and communication: Directions for future
research. In Accounting Forum (Vol. 36, No. 3, pp. 223-230). No longer published by
Elsevier.
Ullmann, A. A. (1985). Data in Search of a Theory: A Critical Examination of the
Relationships among Social Performance, Social Disclosure, and Economic
Performance of U. S. Firms. The Academy of Management Review, 10(3), 540.
https://doi.org/10.2307/258135
Vanhamme, J., & Grobben, B. (2009). “too good to be true!”. the Effectiveness of CSR
history in countering negative publicity. Journal of Business Ethics, 85(SUPPL. 2),
273–283. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9731-2
Vergara, S. C. (2010). Projetos e relatórios de pesquisa em Administração. 14ºed.
162

Vincent, A. (1993). The Character of Ecology. Environmental Politics, 2(2), 248–276.
https://doi.org/10.1080/09644019308414074
Vogt, M., Degenhart, L., da Rosa, F. S., & Hein, N. (2016). Responsabilidade social e
ambiental: análise dos impactos ambientais de transporte dos relatórios anuais e de
sustentabilidade das empresas brasileiras. Revista em Agronegócio e Meio
Ambiente, 9(4), 889-915.
Walden, W. D., & Schwartz, B. N. (1997). Environmental disclosures and public policy
pressure. Journal of Accounting and Public Policy, 16(2), 125–154.
https://doi.org/10.1016/s0278-4254(96)00015-4
Wang, H., & Bernell, D. (2013). Environmental Disclosure in China: An Examination of the
Green Securities Policy. Journal of Environment and Development, 22(4), 339–369.
https://doi.org/10.1177/1070496513506905
Wang, L., Li, W., & Qi, L. (2020). Stakeholder Pressures and Corporate Environmental
Strategies: A Meta-Analysis. Sustainability, 12(3), 1172.
Wells, D. (1993). Green Politics and Environmental Ethics: A Defence of Human Welfare
Ecology. Australian Journal of Political Science, 28(3), 515–527.
https://doi.org/10.1080/00323269308402257
Williamson, O. E. (2000). The new institutional economics: Taking stock, looking ahead.
Journal of Economic Literature, 38(3), 595–613. https://doi.org/10.1257/jel.38.3.595
Wilmshurst, T. D., & Frostr, G. R. (2000). Accounting, Auditing & Accountability Journal
Corporate environmental reporting: A test of legitimacy theory. Accounting Auditing &
Accountability Journal, 13(1), 10–26.
Wolf, J. (2014). The relationship between sustainable supply chain management, stakeholder
pressure and corporate sustainability performance. Journal of business ethics, 119(3),
317-328.
WWF (2018). World Wide Fund for Nature. Site institucional. Disponível em:
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/relatorio_planeta_vivo_2018/.
Acessado em 25/06/2020.
Yang, X., & Rivers, C. (2009). Antecedents of CSR practices in MNCs’ subsidiaries: A
stakeholder and institutional perspective. Journal of business ethics, 86(2), 155-169.
Yekini, K. (2012). Corporate community involvement disclosures in annual report A
measure of corporate community development or a signal of CSR observance? 3(1), 7–
32. https://doi.org/10.1108/20408021211223534
Yekini, K., & Wang, Y. (2018). Post-regulation e ff ect on factors driving environmental
disclosures among Chinese listed fi rms. 32(3), 477–495. https://doi.org/10.1108/ARJ-
01-2017-0018
163
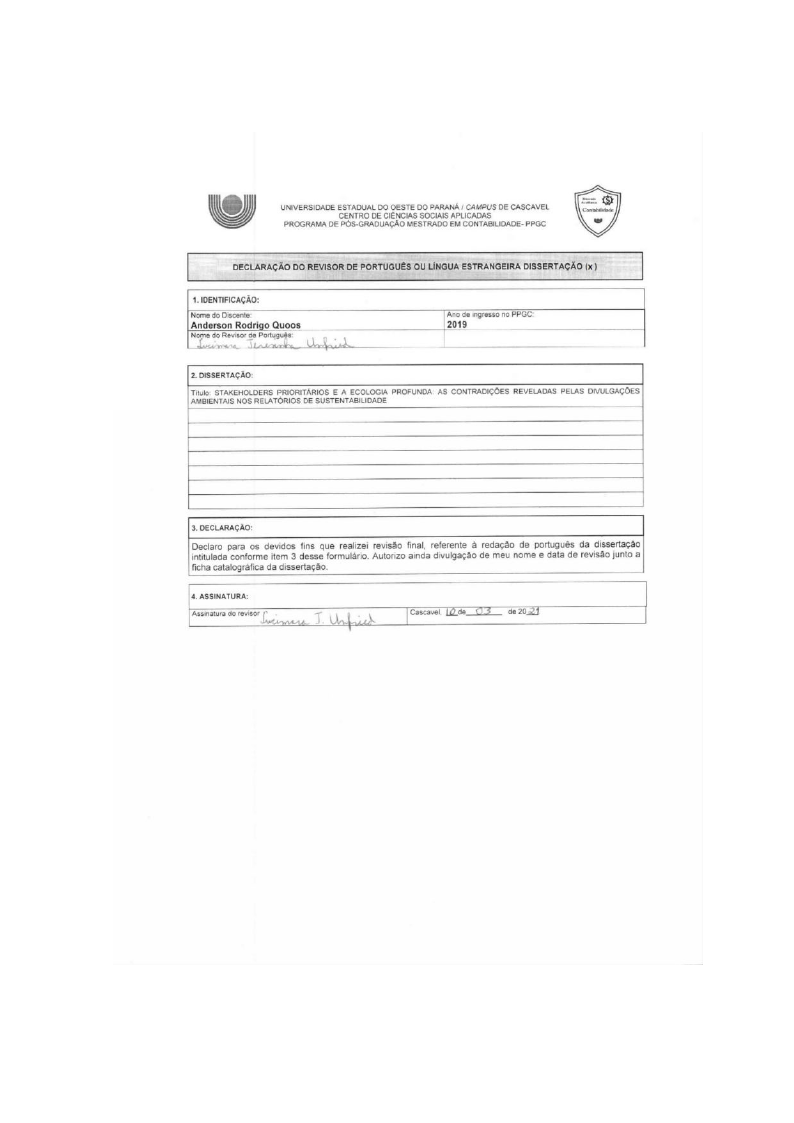
ANEXO – DECLARAÇÃO DE REVISÃO DE PORTUGUÊS E NORMAS
164
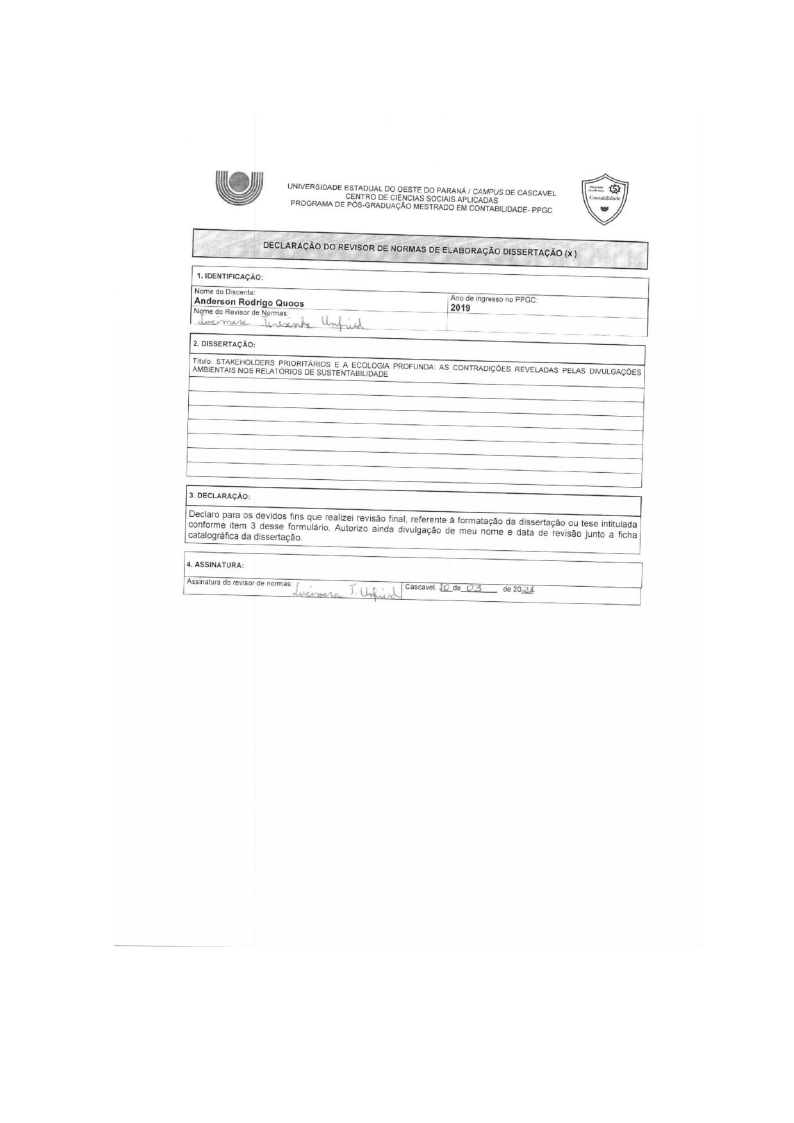
165
