
Fatores intervenientes à prática do mountain
bike junto à natureza
Factors involved in the practice of
mountain biking in nature
Jairo Antônio da PAIXÃO1
Marizabel KOWALSKI2
Resumo
Este estudo objetivou analisar fatores motivacionais ligados à adesão e permanência na modalidade mountain bike de um grupo
de 29 praticantes, entre amadores e profissionais, com média de idade de 30 anos (considerou-se o desvio-padrão com significância
<0,05%). A partir da aplicação de entrevista semiestruturada e da técnica de análise do discurso dos dados coletados, foi possível
constatar que os fatores motivacionais que mais influenciam na adesão e permanência pelos praticantes no mountain bike são de
natureza intrínseca; além da busca pelo risco, da aventura e de fortes emoções, inclui-se a possibilidade da integração saúde e
natureza.
Unitermos: Fatores de risco; Meio ambiente; Natureza; Satisfação pessoal.
Abstract
The aim of this study was to investigate the motivational factors related to adherence and permanence in mountain biking. The subjects
were 29 amateur and professional practitioners with a mean age of 30 years. The data analysis considered the standard deviation, with
a significance level <0.05%. Using the semi-structured interview technique to collect the data, with discourse analysis, it was possible to
affirm that the motivational factors that influence adherence and permanence in mountain biking practitioners are intrinsic factors.
These factors go beyond the search for risk, adventure and thrills, including the possibility of integrating health and nature.
Uniterms: Risk factors; Environment; Nature; Pessoal satisfaction.
As escolhas que fazemos no decorrer da vida
tomam parte no somatório de fatores acionados por
objetivos e metas que buscamos realizar em deter-
minados momentos. Envolvem todo e qualquer indi-
víduo e, por sua vez, perpassam as diferentes dimensões
que compõem a vida em sociedade como, por exem-
plo, as sociais, culturais e econômicas. A predisposição
desses fatores incorpora elementos intrínsecos e
▼▼▼▼▼
1 Universidade Federal de Ouro Preto, Centro Desportivo, Laboratório de Estudos Pedagógicos em Educação Física. R. Diogo de Vasconcelos, 122, Campus
Universitário, Morro do Cruzeiro, s/n., 35400-000, Ouro Preto, MG, Brasil. Correspondência para/Correspondence to: J.A. PAIXÃO. E-mail:
<jairopaixao2004@yahoo.com.br>.
2 Universidade Federal de Viçosa, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Educação Física. Viçosa, MG, Brasil.
Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.
561
Estudos de Psicologia I Campinas I 30(4) I 561-568 I outubro - dezembro 2013

extrínsecos fundamentais para a efetivação de ações
que, uma vez empreendidas pelas pessoas, podem vir
a propiciar mudanças significativas nas trajetórias, tanto
individuais quanto coletivas, em uma dada comu-
nidade.
Mudanças desta ordem envolvem diferentes as-
pectos motivacionais que se destacam como elemen-
tos impulsionadores do desenvolvimento humano
cognitivo e motor, como, por exemplo, a emoção (Horn,
2002). O elemento cognitivo relacionado à demo-
cratização da informação e ao desenvolvimento indivi-
dual e que, por sua vez, impulsiona o indivíduo na busca
de alternativas qualitativas na vida cotidiana, diferencia
o ser humano de outros seres vivos (Drake & Miller,
1969). O que se pretende justificar é que a ação motora
é o ato motivacional que revela o envolvimento emo-
cional-afetivo do indivíduo, ou seja, o elemento motor
é significativo para a formulação da busca subjetiva,
transformando em ação e motivando o indivíduo para
a realização de uma meta singular para ele e significativa
para a coletividade.
Nessa perspectiva, pode-se entender por moti-
vação um conjunto de forças intra e interdirecionais de
comportamentos atitudinais do ser humano, objeti-
vando atingir metas que, a priori, o levem ao melhora-
mento da qualidade de vida e, a posteriori, que
expressem mudanças significativas na comunidade
(Cid, 2002). No sentido etimológico, a palavra motivação
expressa a ideia de “mover”. Percebe-se, nesse sentido,
que a motivação conduz o comportamento do indi-
víduo para um determinado incentivo no qual ele
poderá vivenciar momentos de prazer ou, ainda, de
alívio de uma situação desagradável (Atkinson, 2002).
Os motivos que levam o indivíduo a realizar
ações podem se manifestar de forma intrínseca ou
extrínseca (Tresca & De Rose, 2000). Os motivos intrín-
secos resultam da vontade própria do indivíduo e po-
dem estar relacionados às necessidades pessoais de
afirmação em um determinado grupo social, esportivo
ou familiar, sucesso pessoal e profissional, dentre outros
(Cratty, 1984; Tresca & De Rose, 2000). Já os motivos
extrínsecos estão segmentados aos fatores externos e
atingíveis por meio de tarefas e, acima de tudo, são tidos
como recompensáveis por sinais positivos e/ou nega-
tivos socialmente reconhecíveis (Cratty, 1984; Horn,
562 2002; Serpa, 1992; Tresca & De Rose, 2000).
Estudos de Psicologia I Campinas I 30(4) I 561-568 I outubro - dezembro 2013
Na área social, com a constante influência dos
indivíduos sobre o ambiente, é compreensível que o
desenvolvimento da emotividade capacite as pessoas
a maximizarem os benefícios desta permuta inin-
terrupta de influências no relacionamento indivíduo-
-meio.
Dentre as inúmeras manifestações humanas,
aquelas ligadas ao âmbito desportivo propiciam o
desdobramento de aspectos relacionados às vivências
de emoções. Nesse sentido, as práticas esportivas
preenchem importantes funções sociais, que, segundo
Proni e Lucena (2002), são comumente categorizadas
em funções manifestas, latentes ou agonísticas. Essas
funções dizem respeito à supressão das necessidades
de atividade física, à compensação do estresse provoca-
do pela rotina de trabalho e à satisfação dos instintos
mais profundos do ser humano, como o instinto com-
bativo, que está relacionado à luta pela sobrevivência
e ao impulso sexual, respectivamente. Em outras pala-
vras, são espaços destinados a excessos e euforias
coletivas, conclamados a inverter e alterar os tabus do
mundo cotidiano e colocá-los literalmente do avesso.
São lugares de “descontrolecontrolado”.
Nessa perspectiva, ao se considerar as especi-
ficidades inerentes às modalidades que compõem o
esporte de aventura no meio natural (risco controlado,
vertigem, superação de limites, adrenalina e fortes
emoções), os fatores motivacionais ganham destaque
e se apresentam subjacentes a questões como essas:
“O que faz alguém sair de seu mundo seguro e cômodo
e buscar o que se encontra fora das regras, transpondo
seus limites para buscar aquilo que considera sagrado?”
“Quais as razões que levam pessoas de nível socioeco-
nômico relativamente alto e de prestígio social a deixa-
rem a vida urbana para se lançar em uma aventura de
vida simples, que exige audácia e ousadia, atenção
constante e muitas restrições?”. “O que leva as pessoas
a adentrarem a mata, escalar montanhas ou descer ra-
pel em cachoeiras?”. “Que fascinação exercem essas
atividades sobre seus seguidores, impulsionando-os a
dedicar grande parte de seu tempo e de suas vidas a
comprovar seus limites?” (C. Costa, 2006).
O surgimento ininterrupto de novas modali-
dades, acompanhado pelo crescente número de
adeptos de diferentes formações culturais, faixas etárias,
níveis sociais e campos de atuação profissional, fornece
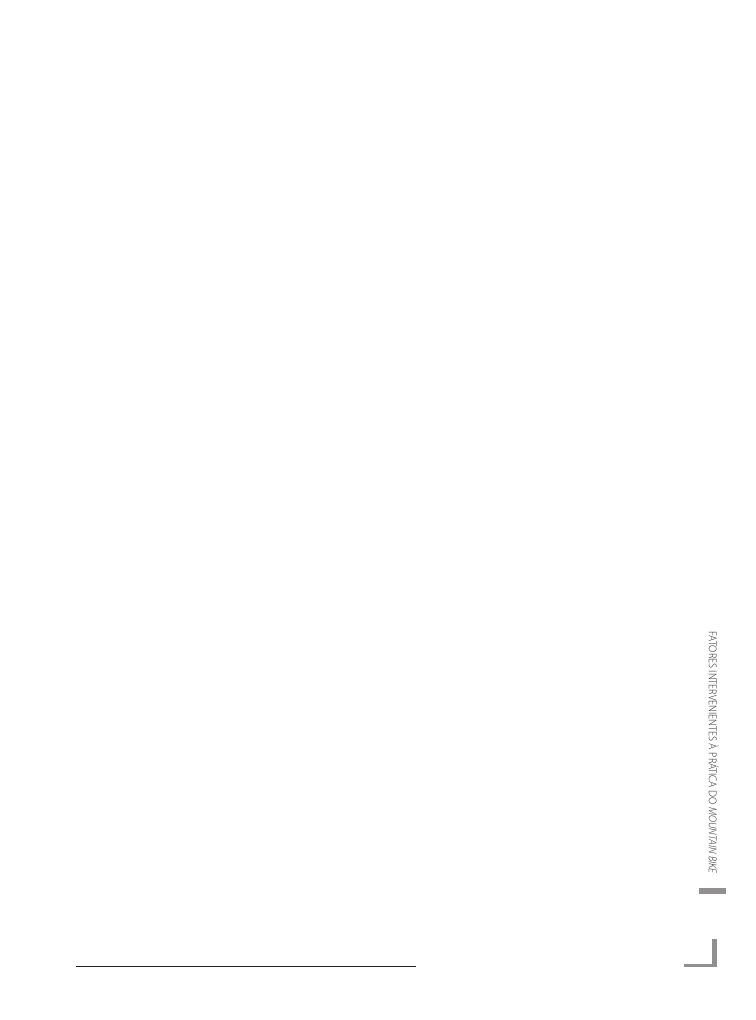
pistas para se entender o esporte de aventura como
uma realidade no âmbito atual e que, por sua vez, apre-
senta inúmeras possibilidades de adesão e prática
(Marinho & Bruhns, 2003).
Nesse sentido, a teoria do flow-feeling (experiên-
cia do fluir, da fluidez) desenvolvida por Csikszentimihalyi
(1975) contribui para o entendimento dessas contra-
dições que permeiam a opção pela prática das dife-
rentes modalidades que compõem o esporte de aven-
tura pelo indivíduo na contemporaneidade. Origi-
nalmente, esta teoria foi desenvolvida para explicar a
popularidade de certas atividades físicas que apresen-
tam características como desgaste, risco e certo grau
de dificuldade, e que exigem do indivíduo considerável
persistência (Cater, 2006). A experiência do fluir ca-
racteriza-se pelo completo envolvimento do indivíduo
na realização de uma atividade física que, por sua vez,
tenha sido escolhida de forma espontânea; permite
detectar importantes indícios de como praticantes de
mountain bike, por exemplo, mantêm certo nível de
motivação para iniciar e manter uma prática regular
desta atividade outdoor (Cater, 2006).
Nesta abordagem, Marinho (2007) salienta que
a procura pelas práticas físicas na natureza ocorrem,
muitas vezes, pelo desejo de se experimentar o novo,
pela busca de emoções prazerosas e novas significações
na relação do indivíduo junto ao meio natural. Refor-
çando e completando esta ideia, Cid (2002) afirma que
a escolha de determinada prática física não se dá de
forma aleatória: por trás de uma escolha está algo ou
alguém que, consciente ou inconscientemente, exerceu
influências para aquela prática física.
Geralmente, o interesse pela adoção de uma
modalidade esportiva associa-se à forma como o
indivíduo ocupa o seu tempo livre ou, ainda, vem as-
sociado à saúde e ao bem-estar, em resposta às
necessidades individuais e sociais (Nunomura, 1998).
Tais necessidades podem variar de acordo com idade,
sexo, influências da mídia, além de fatores sociais,
econômicos e culturais (Machado, 2006; Nunomura,
1998; Santos & Knijnik, 2006). Somado a tudo isso,
encontram-se as necessidades subjetivas do homem,
o espírito aventureiro e o desejo de aventurar-se
(Marinho, 2007).
Como atividade esportiva outdoor, o mountain
bike caracteriza-se como uma modalidade esportiva na
qual o praticante perfaz um trajeto no meio natural em
uma bicicleta tendo que vencer obstáculos em terrenos
irregulares e acidentados. Desta forma, como as dife-
rentes modalidades que compõem o esporte de aven-
tura, o mountain bike apresenta o fator risco como uma
constante em sua prática, tanto na perspectiva da com-
petição quanto do lazer, exigindo de seus praticantes
variadas adaptações psicológicas, como a capacidade
de controlar suas emoções diante do risco eminente
frente às disposições geográficas, cenários naturais,
adversidade climática, bem como dos esforços físicos,
e a busca pela superação de limites (Cater, 2006; C.
Costa, Diniz & Pereira, 1988; V. L. M. Costa, 2006; Cratty,
1984).
Segundo Gaulrapp, Weber e Rosemeyer (2001),
dentre os principais fatores de risco na referida mo-
dalidade encontram-se as pistas escorregadias, falta de
conhecimento do trajeto a ser percorrido e velocidade
excessiva.
Procedendo a uma análise do assunto, este estu-
do buscou analisar fatores motivacionais intervenientes
à aderência e permanência no mountain bike, tendo em
vista especificidades como risco, emoção, sensação de
adrenalina e ambiente natural que permeiam a prática
de esporte de aventura e risco calculado na natureza.
Método
O estudo caracterizou-se como descritivo-explo-
ratório (Drake & Miller, 1969; Malhotra, 2000; Mattos,
Rosseto & Blecher, 2004), que tem como características
observar, registrar, analisar, descrever e correlacionar
fatos ou fenômenos sem manipulá-los, procurando
descobrir com precisão a frequência em que o fenô-
meno ocorre e sua relação com outros fatores. No pro-
cesso de construção e validação do instrumento de
coleta de dados, foi empregada a técnica Delphi
(Duffield, 1993; Thomas & Nelson, 2002) a partir de uma
sucessão de pareceres de três professores doutores
(especialistas na área), perfazendo um total de quatro
fases, obtendo-se consenso sobre as questões investi-
gativas sobre os fatores motivacionais ligados à adesão
à prática da modalidade mountain bike.
Como instrumento de coleta de dados foi utili-
zada entrevista semiestruturada, que, nas palavras de
Negrine (2004), possibilita a aquisição de informações 563
Estudos de Psicologia I Campinas I 30(4) I 561-568 I outubro - dezembro 2013
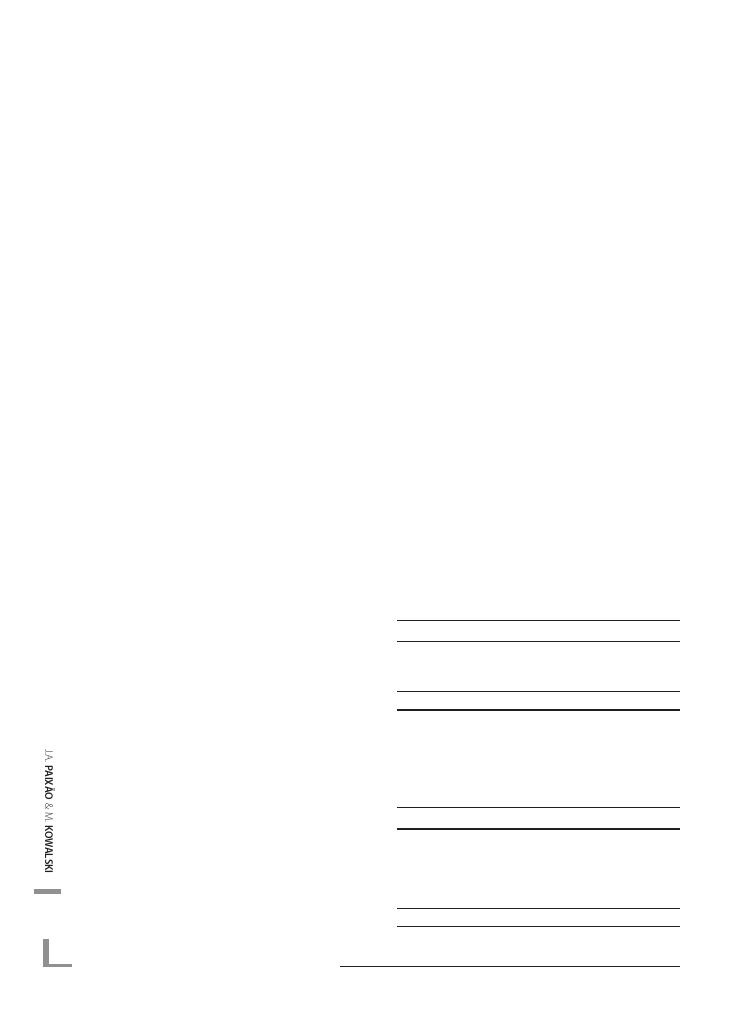
relevantes para o estudo, uma vez que permite ao
entrevistado discorrer sobre aspectos que acredita
serem importantes sobre o tema de estudo em questão.
Empregou-se a análise interpretativa nos dados
coletados que, segundo Triviños (1995), apoia-se em
três aspectos fundamentais: (1) nos resultados encon-
trados no estudo e nas respostas dos instrumentos; (2)
na fundamentação teórica e manejo dos conceitos-
-chave das teorias e de outros pontos de vista, e (3) na
experiência pessoal do investigador.
A amostra foi constituída por 29 indivíduos, que
atenderam aos critérios de inclusão a partir de um gru-
po de 38 praticantes de mountain bike, sendo 23 do
sexo masculino e seis do sexo feminino, com idade
variando entre 19 e 41 anos, na cidade de Governador
Valadares (MG). Os critérios de inclusão foram: indiví-
duos maiores de 18 anos, sexo masculino ou feminino,
que praticavam a modalidade do mountain bike em
áreas naturais da cidade de Governador Valadares, e
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido (TCLE). Os critérios de exclusão foram recusa da
assinatura do TCLE, idade inferior a 18 anos, bem como
o não interesse em participar da investigação.
Dentre os procedimentos necessários para a
realização das entrevistas junto aos sujeitos do estudo
fez-se necessária uma prévia marcação do dia e horário
dos encontros. Estes se deram de forma individual em
locais de trabalho, bem como nas residências e locais
públicos. Procurou-se explicar aos entrevistados acerca
do estudo, seu propósito, deixando-os, assim, a par da
relevância de sua contribuição para a pesquisa. Os eixos
norteadores da entrevista foram: motivo de início da
prática; motivação para a manutenção; frequência com
que pratica; dificuldades para a prática e conhecimento
dos benefícios (Nunomura, 1998; Saba, 2001; Santos &
Knijnik, 2006).
Para análise dos dados foi utilizada a técnica de
análise de conteúdo, que se refere a um conjunto de
técnicas que visa a obter, por procedimentos sistemá-
ticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensa-
gens, indicadores quantitativos ou não que permitam
a inferência de conhecimentos relativos às condições
de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas
564 mensagens(Bardin, 2006). Após a análise interpretativa
Estudos de Psicologia I Campinas I 30(4) I 561-568 I outubro - dezembro 2013
dos dados, os mesmos foram categorizados e quantifi-
cados a partir da frequência de ocorrência. As análises
estatísticas foram realizadas por meio de estatística
descritiva, utilizando-se os procedimentos de média e
desvio-padrão.
Resultados
De acordo com a Tabela 1, dentre os motivos
que mais influenciaram a adesão à modalidade do
mountain bike ressalta-se a familiaridade do praticante
com o ato de pedalar. Em seguida, em uma ordem
decrescente de frequência, tem-se a influência de
amigos e familiares que praticam a modalidade em
questão.
Dentre os fatores intervenientes à aderência da
modalidade, os resultados mostrados na Tabela 2
evidenciam uma profusão de motivos, como: sociali-
zação; preocupação com a forma física (estética); forma
de se livrar do estresse; busca de sensações, como
aquela que se sente com a liberação de adrenalina;
fluidez; fortes emoções e, ainda, o bem-estar propiciado
pelo ambiente natural.
Tabela1
Motivos de início da prática do mountain bike. Governador Valadares
(MG), 2010
Categorias
F
%
Familiaridade com bicicleta
Influência da mídia
Influência de familiares e amigos
Total
13
45
9
31
7
24
29
100
Tabela 2
Fatores de aderência ao mountain bike. Governador Valadares
(MG), 2010
Categorias
F
%
Socialização/estabelecer novas amizades
Maneira prazerosa de manter a forma física
Forma de se livrar do estresse do cotidiano
Sensação de liberdade/adrenalina/fluidez
Contato com diferentes paisagens naturais
Total
9
31
7
24
7
24
4
12
3
9
29
100
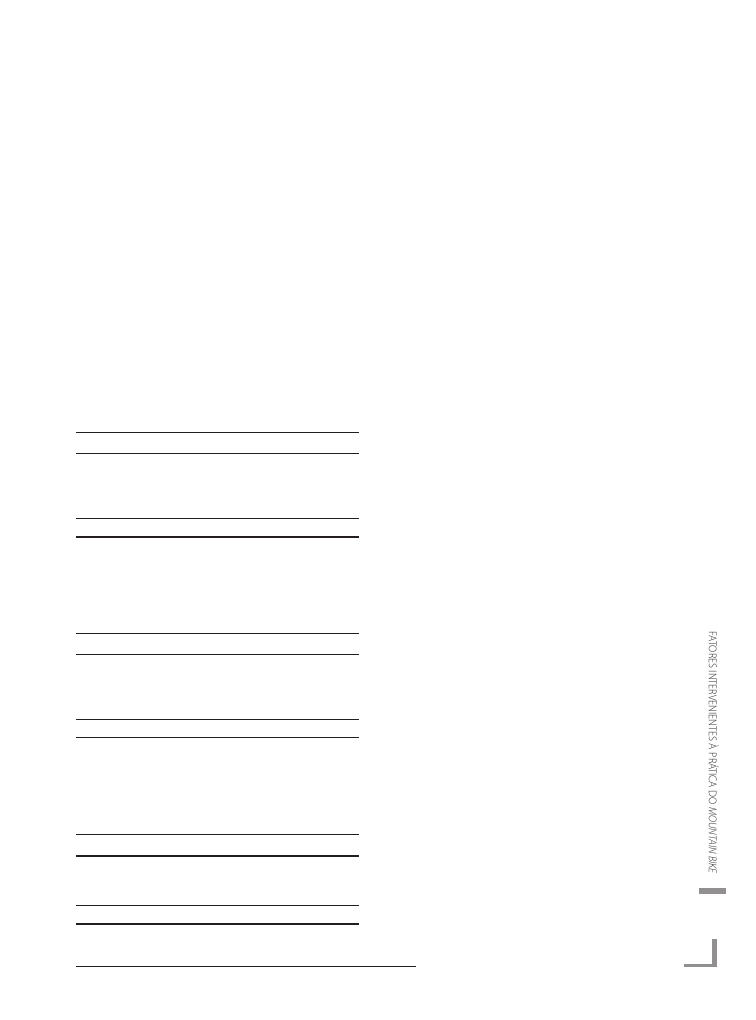
A Tabela 3 mostra os resultados referentes à
frequência com que os sujeitos entrevistados praticam
a modalidade. Observa-se que essa frequência ocorre
com certo predomínio nos finais de semana.
A Tabela 4 apresenta os resultados referentes às
maiores dificuldades enfrentadas pelos sujeitos do estu-
do para a prática do mountain bike. O desrespeito no
trânsito por parte dos motoristas surge com destaque.
Em seguida, foram apontados o descaso dos órgãos
públicos com os locais naturais de prática da modali-
dade em questão e, ainda, a aquisição dos equipa-
mentos necessários para a prática do mountain bike.
Os praticantes, devido à faixa etária e preferência,
não buscam a competitividade própria dos jogos e
modalidades esportivas no âmbito profissional ou de
Tabela 3
Frequência com que pratica o mountain bike. Governador Valadares
(MG), 2010
Categorias
F
%
Nos finais de semana
Esporadicamente
Até duas vezes por semana
Até três vezes por semana
Total
19
67
6
21
3
9
1
4
29
100
Tabela 4
Dificuldades para a prática do mountain bike. Governador Valadares
(MG), 2010
Categorias
F%
Desrespeito no trânsito
Descaso dos órgãos públicos com o meio natural
Aquisição e manutenção dos equipamentos
Dificuldade de patrocínio
Total
15 52
7 24
5 17
2
7
29 100
Tabela 5
Conhecimento dos benefícios do mountain bike. Governador
Valadares (MG), 2010
Categorias
F
%
Condicionamento físico-motor
Contato com a natureza
Aumentar o círculo de amizades
Total
16
57
9
31
4
12
29
100
rendimento. Predominam os objetivos listados na Ta-
bela 5.
Observa-se que, dentre os principais objetivos
que os praticantes buscam atingir na prática do mountain
bike, destacam-se o condicionamento físico-motor, o
contato com a natureza e as relações de amizade entre
pessoas que fazem parte do grupo de praticantes.
Discussão
A familiaridade com equipamentos, atividades
afins e, sobretudo, o domínio de habilidades motoras
específicas de uma determinada modalidade esportiva
podem configurar elementos decisivos para a aderência
e desempenho de praticantes de mountain bike nesta
atividade (Paixão, Gabriel, Tucher, Kowalski & Menezes
Costa, 2011). Aliada à familiaridade com o ato de peda-
lar, foi apontada ainda a influência midiática, que vem
contribuindo de forma decisiva para com a difusão das
mais variadas modalidades esportivas na contempo-
raneidade, como destacam Figueira e Goellner (2005).
Juntamente com as atividades físicas são agregados
outros termos, como saúde, beleza, performance, longe-
vidade, juventude, dentre outras possibilidades, cuja
combinação é promissora de felicidade, consumo e
qualidade de vida. Esta situação contribui sobrema-
neira para que as pessoas possam ter acesso a uma dada
modalidade esportiva de forma mais rápida e fácil.
Percebe-se que familiares e amigos podem exer-
cer significativa influência, do ponto de vista positivo
ou negativo, para a participação do indivíduo em espor-
tes e atividades físicas. A relevância da influência de
familiares e adultos na aderência a uma dada moda-
lidade esportiva é tanta que esta tem sido uma temá-
tica amplamente discutida pela psicologia do esporte
(Becker, 2000; De Rose, 2002; Weinberg & Gould, 2001).
O surgimento das diferentes modalidades de
esporte de aventura, ênfase aqui à modalidade do
mountain bike, dá-se em decorrência de uma série de
fatores no contexto social, como a racionalização do
tempo, configuração atual do trabalho, necessidade de
expressão e mudanças no ser humano, (re)encontro
com o meio natural, prática física, contemplação, supe-
ração dos próprios limites, lazer, possibilidade de expe-
rimentar fortes emoções, prazer, liberdade, promoção
da saúde e qualidade de vida.
565
Estudos de Psicologia I Campinas I 30(4) I 561-568 I outubro - dezembro 2013

Vive-se atualmente uma fase de complexa mu-
dança, com perdas de valores e estilos de vida, vazio
existencial e preocupações permanentes. Busca-se
“algo” desconhecido e indefinido; daí o interesse cada
vez maior pelas modalidades de esporte de aventura
(Marinho, 2007). Termos como adrenalina, fortes emo-
ções e superação passaram a fazer parte da linguagem
cotidiana daqueles que se entregam à aventura e aos
momentos em que experimentam as fortes emoções
características dessas atividades. Desta forma, os fatores
intervenientes à aderência da modalidade, apresen-
tados na Tabela 2, identificam-se com aqueles relaciona-
dos à motivação intrínseca, que são mais duradouros e
persistentes e permeiam a própria prática, bem como
os sentimentos que ela provoca nos praticantes (Cid,
2002). Trata-se de motivos internos ao praticante, como
a alegria, sensação de realização, dentre outros, que
promovem o desenvolvimento de outros tipos de ne-
cessidades, tais como a competência e a autonomia
humana (C. Costa et al., 1988).
A frequência com que é praticado o mountain
bike, em quase a totalidade do grupo analisado, fornece
pistas para pensar nesta como uma atividade que
ocorre na perspectiva do lazer. Essas informações, so-
madas à informação sobre a faixa etária dos sujeitos
que fizeram parte do estudo (19 a 41 anos de idade,
com exceção de um praticante) não denotam treina-
mento/preparação visando a competições; a motivação
para se praticar esta modalidade esportiva debruça-se
sobre três questões fundamentais: saber o que leva um
sujeito a iniciar determinada atividade, a razão porque
privilegia determinado objetivo e a causa pela qual
persiste em realizar esse objetivo (Cid, 2002; C. Costa
et al., 1988).
É preciso considerar a realidade das cidades em
que existem áreas naturais de prática de modalidades
de esporte de aventura. De acordo com a observação
e mesmo os depoimentos dos entrevistados, vê-se que
a grande maioria dos praticantes desloca-se para o am-
biente de prática em suas próprias bicicletas, perfazen-
do, assim, consideráveis trechos de rodovias, vias e ruas.
Enfim, esta situação coloca esses praticantes diante de
riscos e incertezas que permeiam o trânsito, o que po-
de incidir em stress e possibilidades de acidentes em
566 rodovias.
Estudos de Psicologia I Campinas I 30(4) I 561-568 I outubro - dezembro 2013
Quanto à dificuldade de aquisição e manuten-
ção de equipamentos para a prática do mountain bike,
assim como para outras modalidades que não sejam
aquelas ligadas aos esportes tradicionais, observa-se
que, por se tratar de cidades de pequeno porte, o acesso
aos equipamentos fica mais restrito.
É notória a estreita relação entre as modalidades
que compõem o esporte de aventura e natureza e sua
interação com o praticante. No entanto, como se per-
cebe neste estudo, o ambiente não se limita somente
a um cenário para a realização das modalidades do
referido segmento esportivo: evidenciou-se certa
preocupação por parte dos praticantes com os órgãos
públicos e sua responsabilidade para com o ambiente
natural.
Nota-se que os depoimentos dos praticantes so-
bre os objetivos e/ou benefícios proporcionados pela
prática do mountain bike - por exemplo, o contato com
a natureza, o desenvolvimento de capacidades saudá-
veis tais como o condicionamento físico-motor, mo-
mento de lazer e convivência social -, coadunam-se
com os resultados encontrados em estudo realizado
por White, Waskey, Brodehl e Foti (2006).
Há que se acrescentar que os grupos humanos
que se formam em torno da prática do mountain bike,
que buscam e compartilham vivências instigantes junto
à natureza, possibilitam, na mesma proporção, o esta-
belecimento e estreitamento de laços de amizade entre
seus pares. Maffesoli(2006) observa um movimento que
busca estabelecer resistência a esse quadro na socieda-
de pós-moderna. Para isso, o autor utiliza-se da expres-
são metafórica “tribos urbanas” para designar grupa-
mentos humanos que buscam, acima de tudo, contes-
tar o individualismo e outras implicações percebidas
nas relações sociais que se estabelecem na contem-
poraneidade.
Ao se considerar o sentido atribuído pelo refe-
rido autor à expressão“tribo urbana”na sociedade con-
temporânea, é possível estabelecer uma espécie de
analogia entre os integrantes dessas tribos e os prati-
cantes de mountain bike. Os integrantes associam-se
objetivando compartilhar riscos, fortes emoções, bene-
fícios físicos e outras sensações proporcionadas pela
referida modalidade esportiva como um meio de
expressar-se como humanos pertencentes a um dado
grupo na sociedade.
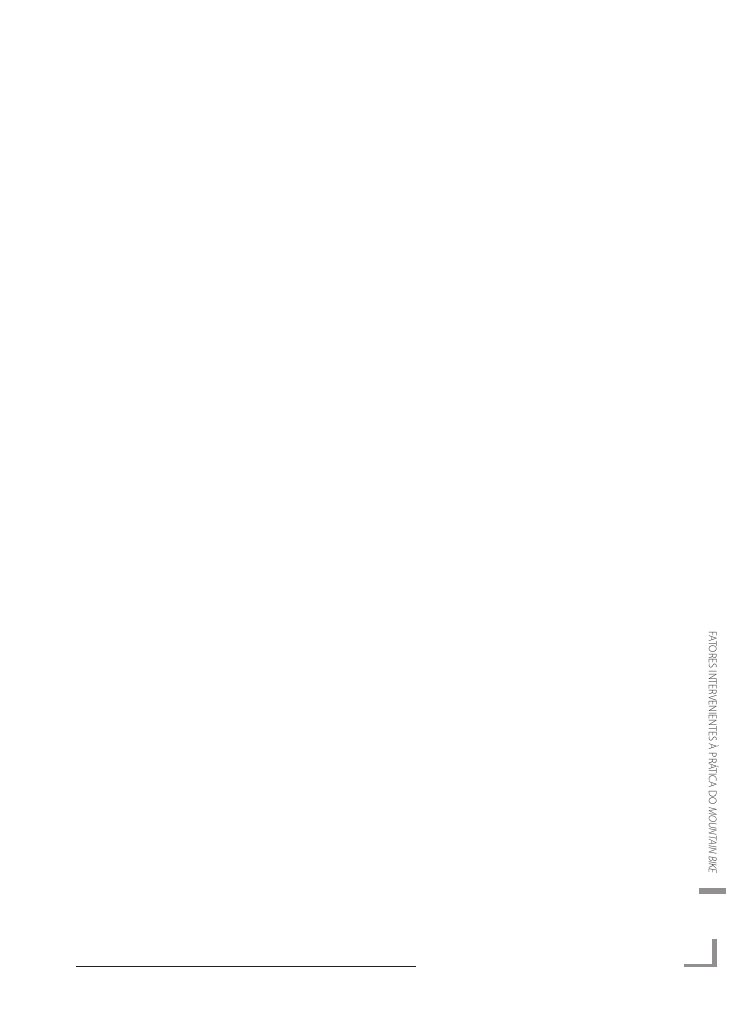
No que se refere aos motivos que influenciam a
adesão e a permanência na prática do mountain bike,
verificou-se que, independentemente da variável
gênero, sobressaíram-se aqueles intrínsecos. De acordo
com o estilo do grupo analisado, os objetivos e aspi-
rações com a modalidade em questão confirmaram o
que mostra a literatura consultada. Outro fato desta-
cado pelo estudo foi a existência de sujeitos que ade-
rem à prática de uma modalidade esportiva - no caso,
o mountain bike - priorizando aspectos diferentes da-
queles ligados à performance: buscam uma profusão
de objetivos e benefícios que permeiam a vida.
Por fim, vislumbram-se possibilidades de lançar
olhares positivos em relação à interação do homem
com a natureza por meio da prática do mountain bike;
para tanto, é desejável e aconselhável que sejam fomen-
tadas leis municipais no sentido de não somente estru-
turar, mas preservar os ambientes naturais de prática
de modalidades de esporte de aventura. Tal esforço
poderá se efetivar mediante a implementação de placas
sinalizadoras, campanhas de conscientização para a
preservação da natureza para a população local e insta-
lação de recipientes para coleta de lixo reciclável no
local de prática, tanto do mountain bike quanto de
outras modalidades de esporte de aventura que o rele-
vo da região propicie.
Referências
Atkinson, R. C. (2002). Introdução à psicologia de Hilgard (13ª
ed.). Porto Alegre: Artmed.
Bardin, L. (2006). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70.
Becker, J. (2000). Psicologia aplicada a criança no esporte.
Novo Hamburgo: Edelbra.
Cater, C. I. (2006). Playing with risk? Participant perceptions
of risk and management implications in adventure
tourism. Tourism Management, 27(2), 317-325.
Cid, L. F. (2002). Alteração dos motivos para a prática despor-
tiva das crianças e jovens. Lecturas, Educación Física y
Deportes, Revista Digital, 8(55). Recuperado en jul. 10,
2008, Disponivel en <http://www.efdeportes.com>.
Costa, C., Diniz, J., & Pereira, P. (1988). A motivação dos alu-
nos para a educação física: a sua influência no compor-
tamento nas aulas. Revista Horizonte, 86, 7-15.
Costa, V. L. M. (2006). Práticas corporais na natureza: ten-
dências da pós-modernidade (Aula inaugural não-publi-
cada). Programa de Doutorado em Ciência do Desporto,
Universidade de Trás-os-Montes e Alto D’ouro, Vila Real,
Portugal.
Cratty, B. J. (1984). Psicologia do esporte. Rio de Janeiro:
Prentice Hall.
Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyound boredom and anxiety.
San Francisco: Jossey-Bass.
De Rose, J. D. (2002). Esporte e atividade física na infância e
adolescência: uma abordagem multidisciplinar. Porto
Alegre: Artmed.
Drake, J. E., & Miller F. J. (1969). Marketing research: Intelligence
and management. Stranton, PA: International Textbooks.
Duffield, C. (1993). The Delphi Technique: A comparison of
results obtained using two expert panels. International
Journal of Nursing Studies, 30(3), 277-37.
Figueira, M. L. M., & Goellner, S. V. (2005). A promoção do
estilo atlético na revista capricho e a produção de uma
representação de corpo adolescente feminino contem-
porâneo. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 26(2),
35-48.
Gaulrapp, H., Weber, A., & Rosemeyer, B. (2001). Injuries in
mountain biking. Knee Surgery, Sports Traumatology,
Arthroscopy, 9(1), 48-53.
Horn, T. S. (2002). Advances in sport psychology. Champaign:
Human Kinetics.
Machado, F. H. (2006). Mundo emocionado e as atividades
físicas de aventura na natureza. In G. M. Schwartz (Ed.),
Aventuras na natureza: consolidando significados
(pp.103-123). Jundiaí: Fontoura.
Maffesoli, M. (2006). Os tempos das tribos: o declínio do indi-
vidualismo nas sociedades de massa (4ª ed.). Rio de Janeiro:
Forense.
Malhotra, N. K. (2000). Pesquisa de marketing: uma orientação
aplicada. Porto Alegre: Bookman.
Marinho, A. (2007). Lazer, natureza e aventura: compar-
tilhando emoções e compromissos. In A. P. C. Almeida &
L. P. Costa (Eds.), Meio ambiente, esporte, lazer e turismo
(pp.331-319). Rio de Janeiro: Gama Filho.
Marinho, A., & Bruhns, H. T. (2003). Turismo, lazer e natureza.
São Paulo: Manole.
Mattos, M. G, Rosseto, A. J. J. R., & Blecher, S. (2004). Teoria e
prática da metodologia da pesquisa em educação física:
construindo sua monografia, artigo científico e projeto de
ação. São Paulo: Phorte.
Negrine, A. (2004). Instrumentos de coleta de informações
na pesquisa qualitativa. In V. N. Molina & A. N. S. Triviños
(Eds.), A pesquisa qualitativa na educação física
(pp.196-212). Porto Alegre: Sulina.
Nunomura, M. (1998). Motivos de adesão à atividade física
em função das variáveis idade, sexo, grau de instrução e
tempo de permanência. Revista Brasileira de Atividade
Física e Saúde, 3(3), 45-58.
Paixão, J. A., Gabriel, R. E. C. D., Tucher, G., Kowalski, M., & de
Menezes Costa, V. L. (2011). Risco e aventura no esporte
na percepção do instrutor. Psicologia & Sociedade, 23(2),
415-425.
Proni, M., & Lucena, R. F. (2002). Esporte: história e sociedade.
Campinas: Editores Associados.
567
Estudos de Psicologia I Campinas I 30(4) I 561-568 I outubro - dezembro 2013

Saba, F. K. F. (2001). Aderência à prática do exercício físico em
academias. São Paulo: Manole.
Santos, S. C., & Knijnik, J. D. (2006). Motivos de adesão à
prática de atividade física na vida adulta intermediária.
Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, 5(1), 23-34.
Serpa, S. (1992). Motivação para a prática desportiva: vali-
dação preliminar do questionário de motivação para as
actividades desportivas. In F. Sobral & A. Marques (Eds.),
FACDEX: desenvolvimento somato-motor e factores de
excelência desportiva na população escolar portuguesa
(Vol.2, pp.89-97). Lisboa: Ministério da Educação.
Thomas, J. R., & Nelson, J. K. (2002). Métodos de pesquisa em
atividade física (3ª ed.). Porto Alegre: Artmed.
Tresca, R. P., & De Rose J. D. (2000). Estudo comparativo da
motivação intrínseca em escolares praticantes e não
praticantes de dança. Revista Brasileira de Ciência e Movi-
mento, 8(1), 9-13.
Triviños, A. N. S. (1995). Introdução à pesquisa em ciências
sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo:
Atlas.
Weinberg, R. S., & Gould, D. (2001). Fundamentos da psicologia
do esporte e do exercício. Porto Alegre: Artmed.
White, D. D., Waskey, M. T., Brodehl, G. P., & Foti, P. E. (2006).
A comparative study of impacts to mountain bike trails in
five common ecological regions of the southwestern US.
Journal of Park and Recreation Administration, 24(2),
21-41.
Recebido em: 5/5/2010
Versão final em: 14/3/2012
Aprovado em: 16/4/2012
568
Estudos de Psicologia I Campinas I 30(4) I 561-568 I outubro - dezembro 2013
